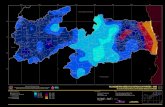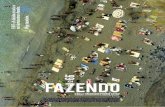33-66-1-PB
Click here to load reader
-
Upload
anonymous-cf1sgnntbj -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
description
Transcript of 33-66-1-PB

54
GUILHERME DE MELLO E A MUSICA NO BRASIL: PANORAMA IDEOLÓGICO E SISTEMAS FILOSÓFICOS SUBJACENTES*
Gustavo Frosi Benetti
[email protected] Universidade Federal da Bahia
Resumo: Guilherme de Mello, autor da primeira obra sobre a história da música no Brasil, consiste em um nome pouco pesquisado pela musicologia nacional. O mesmo ocorre com o seu livro, A musica no Brasil. Esta pesquisa tem como objetivo discutir as ideias subjacentes do período e suas relações com a obra do autor. O foco das análises concentra-se nas doutrinas deterministas da época, e também na discussão sobre a construção de uma identidade nacional. Este texto propõe-se a apresentar como as ideologias daquele tempo manifestam-se na obra, e como esta expressa determinada visão de mundo. Palavras-chave: Musicologia brasileira. Ideologia. Filosofia da música. Evolucionismo.
A obra intitulada A musica no Brasil desde os tempos coloniaes até o
primeiro decenio da Republica1, de autoria de Guilherme Theodoro Pereira de Mello (1867-1932), é considerada entre os pesquisadores da musicologia brasileira a primeira do gênero. Fora publicada em 1908, na cidade de Salvador, Bahia. Daquele ano até a atualidade vem servindo como referência para outras obras, mas também é alvo de críticas, por vezes descontextualizadas. Além disso, até o presente momento não se encontrou estudo detalhado sobre o livro e seu autor, cuja biografia é praticamente desconhecida, exceto por alguns breves parágrafos em enciclopédias e dicionários específicos.
Para um estudo criterioso da referida obra, presume-se a necessidade de entender o pensamento da época. Portanto, com base nestas constatações, coloca-se o seguinte problema: Como a obra se relaciona com as ideias subjacentes da época?
O objetivo deste artigo é analisar o livro no âmbito das ideias, verificar como ele dialoga com autores daquele contexto e como exprime uma determinada visão de mundo. Para tanto, serão observados autores, teorias e ideologias identificados direta ou indiretamente na obra de Mello, concentrando a discussão
* O presente trabalho foi realizado com apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Brasil. 1Além da primeira edição de A musica no Brasil, de 1908, há ainda outras duas, de 1922 e de 1947. A de 1922 consiste em um capítulo do Diccionario Historico, Geographico e Ethnographico do Brasil, publicação em comemoração ao primeiro centenário da Independência. A de 1947, póstuma, fora publicada como a segunda edição e conta com um prefácio escrito por Luiz Heitor Corrêa de Azevedo.

55
em dois vetores principais: de um lado a influência da filosofia idealista alemã na concepção estética da época, e de outro as doutrinas deterministas e a ideia de construção de uma identidade nacional, ambas em evidência no país nas últimas décadas do século XIX.
A primeira edição da obra estrutura-se em cinco capítulos, conforme a tabela a seguir:
Tabela 1: Estrutura de capítulos do livro A musica no Brasil.
cap. título conteúdo pp. observações
1 Influencia indígena e jesuítica
“período de formação” da música no Brasil pela interação entre os povos nativos e os jesuítas
9-28
2 Influencia portuguesa, africana e espanhola
“período de caracterização”, fusão da música dos indígenas catequizados, dos colonizadores europeus e dos escravos africanos
29-127
3 Influencia bragantina
“período de desenvolvimento” devido principalmente à presença da família real
129-271
4 Período de degradação
degradação pela marcante presença da música italiana, no final do império
273-296
suprimido somente na edição de 1922
5 Influencia republicana
“período de nativismo” com a proclamação da república e um sentimento de nacionalidade
297-366
A abordagem dos conteúdos, assim como a organização dos capítulos,
indica uma intenção do autor em identificar uma espécie de “processo evolutivo” na música do país. Na edição princeps, o único capítulo que destoa dessa visão progressista é o quarto. Na edição de 1922, no entanto, fora suprimido, uma questão que vem sendo investigada na pesquisa mas segue ainda sem uma análise conclusiva. Na edição póstuma de 1947, baseada na primeira, o editor manteve a estrutura original.
O PENSAMENTO ARTÍSTICO E MUSICAL DO SÉCULO XIX
Já nas páginas iniciais do primeiro capítulo de A musica no Brasil, Mello
observa uma filosofia que reconhece “o poder e a influência da música sobre os homens”, um dos vetores necessários para o entendimento da obra. Para ilustrar tal opinião, o autor cita Schopenhauer: “A musica nos faz penetrar até o fundo occulto do sentimento expresso pelas palavras ou da acção representada pela opera; revela a natureza propria e verdadeira; nos descobre mesmo a alma dos

56
acontecimentos e dos factos” (SCHOPENHAUER apud MELLO, 1908, p. 13). Tais ideias de Schopenhauer, expostas na sua Metafísica do belo – ou o terceiro livro de O mundo como vontade e representação – revelam uma concepção ligada ao pensamento musical do romantismo, ideia ainda presente na música no Brasil do início do século XX. Entre os filósofos românticos Schopenhauer é quem demonstra maior interesse pela música, que ocupa em sua obra lugar privilegiado:
Esta se encontra por inteiro separada de todas as demais artes. Conhecemos nela não a cópia, repetição de alguma Ideia das coisas do mundo. No entanto, é uma arte a tal ponto elevada e majestosa, que é capaz de fazer efeito mais poderoso que qualquer outra no mais íntimo do homem, sendo por inteiro e tão profundamente compreendida por ele como se fora uma linguagem universal, cuja compreensibilidade é inata e cuja clareza ultrapassa até mesmo a do mundo intuitivo (SCHOPENHAUER, 2003, p. 227-228).
O sistema filosófico de Schopenhauer parte de dois conceitos principais:
vontade e representação. Para o filósofo, o mundo é “mera representação, objeto do sujeito”. Em relação à vontade, trata-se de “aquilo que o mundo ainda é além de representação, ou seja, a coisa-em-si” (SCHOPENHAUER, 2003, p. 29). Portanto, antes de qualquer fenômeno, segundo Schopenhauer, existe a vontade, e esta é responsável pela essência do que é representado. A vontade objetivada num primeiro grau é ideia, e o conhecimento da ideia não é possível pelo conhecimento comum ligado à razão. Nesse ponto coloca-se a “intuição estética das coisas”, em que “o conhecimento se liberta da servidão da vontade”. Quanto à intuição estética, o sujeito
cessa de ser indivíduo, cessa de conhecer meras relações em conformidade com o princípio da razão, cessa de conhecer nas coisas só os motivos de sua vontade, tornando-se puro sujeito do conhecimento destituído de Vontade: como tal, ele concebe em fixa contemplação o objeto que lhe é oferecido, exterior à conexão com outros objetos, ele repousa nessa contemplação, absorve-se nela (SCHOPENHAUER, 2003, p. 45).
Para o filósofo, enquanto a ciência considera os fenômenos do mundo pelo
princípio da razão, a arte o desconsidera totalmente para que a ideia, esta destituída de razão, apareça. “A arte repete em suas obras as Ideias apreendidas por pura contemplação, o essencial e permanente de todos os fenômenos do mundo; de acordo com o material em que ela o repete, tem-se arte plástica, poesia ou música” (SCHOPENHAUER, 2003, p. 58).
Dessa forma, Schopenhauer teoriza sobre uma hierarquia das artes, classificando-as de acordo com ideia e o grau de objetidade representado. A arquitetura representaria um grau mais baixo de objetidade por ser a mais ligada

57
à matéria, elo entre a ideia e o fenômeno, não possibilitando a intuição. A seguir, deslocando-se do âmbito da matéria para o das ideias, viriam a escultura, a pintura e a poesia, esta considerada pelo autor o grau mais alto de objetidade das ideias. A música, por sua vez, encontra-se acima de todas as artes na hierarquia schopenhaueriana, pois vai além da cópia das ideias, caracteriza-se como uma cópia imediata da própria vontade.
Quanto à “pura contemplação”, de acordo com o autor referido, consiste no meio para a apreensão das ideias, e esta é uma atribuição do “gênio”. Para Schopenhauer, a genialidade mostra-se na capacidade de proceder de maneira puramente intuitiva, e “nada é senão a objetividade mais perfeita, ou seja, a orientação objetiva do espírito; em oposição à subjetiva, que vai de par com a própria pessoa, isto é, a Vontade” (SCHOPENHAUER, 2003, p. 61).
Quanto à questão do gênio, Mello compartilha dessa concepção romântica, e considera ainda a genialidade uma característica inata: “não se pode negar, o verdadeiro genio não tem precisão alguma de escolas para se desenvolver”. E o autor justifica tal afirmação: “N'estas escolas desenvolvem-se talentos, cultivam-se disposições, mas nunca se dá o genio, pois este só a natureza é quem nol-o dá. Portanto é logico que a natureza não precisando de escolas os genios tambem não precisam” (MELLO, 1908, p. 251). Contudo, Mello não descarta o valor das escolas de música, tendo ele próprio sido professor e defendido um ensino de música de qualidade. Para o autor, “sem principios de musica pode-se na verdade obter-se bravura e agilidade na execução de qualquer instrumento; mas, nunca se obtêm artistas” (MELLO, 1908, p. 277).
O conceito do gênio romântico está intimamente associado à inspiração, ao sentimento, e essa relação é explícita tanto na obra de Mello quanto na de Schopenhauer. Para este, “a invenção da melodia, o desvelamento nela de todos os mistérios mais profundos do querer e do sentir humanos, é obra do gênio, cuja atuação aqui, mais que em qualquer outra atividade, se dá longe de qualquer reflexão e intencionalidade consciente e poderia chamar-se inspiração” (SCHOPENHAUER, 2003, p. 233). Já para Guilherme de Mello a música é “a linguagem mais leal do sentimento humano” (MELLO, 1908, p. 12). Ainda exemplificando essa concepção romântica, quando se referia a um determinado compositor, Mello dissera: “Era a verdadeira expressão, era o verdadeiro sentimento musical encarnado em sua pessoa” (MELLO, 1908, p. 247).
A DIFUSÃO DO CONHECIMENTO NO NORDESTE: PRINCIPAIS CENTROS
Pode-se inferir, observando-se o estado atual desta pesquisa, que
Guilherme de Mello provavelmente não teria fixado residência em outro centro urbano até 1928, ano em que possivelmente teria se mudado de Salvador para o Rio de Janeiro. No período da publicação do livro os principais centros acadêmicos de difusão do conhecimento no nordeste do país eram a Faculdade de Direito de

58
Recife e a Faculdade de Medicina da Bahia, em Salvador (SCHWARCZ, 1993, p. 146; 195). A influência de tais contextos é explícita no livro de Mello, seja através de relações pessoais do autor, citações de obras e, principalmente, argumentos e ideias defendidas por essas escolas.
No texto inicial da obra, intitulado “Ao Leitor”, o autor presta seus agradecimentos a três sujeitos, hoje pouco conhecidos: “Drs. Americo Barreira, Julio Barbuda e Luiz Novaes a cujo auxilio muito devo os incentivos que me animaram a esta publicação e aos quaes aproveito a opportunidade de apresentar as homenagens de meu reconhecimento” (MELLO, 1908, p. 4). Em relação a estes nomes, sabe-se que Pedro Julio Barbuda e Americo Barreira eram médicos, vinculados à Faculdade de Medicina da Bahia, os quais defenderam as suas teses respectivamente em 1875 e 1894 (MEIRELLES et al, 2004, p. 27; 54). Luiz Novaes obtivera o título de bacharel pela Faculdade Livre de Direito da Bahia, possivelmente em 1909 (BRASIL, 1909). Apesar dos agradecimentos, não há em A musica no Brasil nenhuma referência direta a obras ligadas às faculdades baianas, nem mesmo a Raimundo Nina Rodrigues (1862-1906), importante teórico daquele contexto.
De Sylvio Roméro (1851-1914) – na grafia de seu tempo – nome representativo de uma geração de intelectuais ligados à Faculdade de Direito do Recife, Mello utilizou os Cantos populares do Brasil, livro constantemente citado no seu segundo capítulo. Essa obra não vai além de uma compilação de cantos de caráter folclórico – trata-se de uma edição que somente expõe os cantos em sequência, sem uma discussão sobre a temática proposta – exceto pela introdução da segunda edição, de 18972, na qual o autor justifica o texto a partir de seus argumentos recorrentes sobre raça, evolução, civilização e a formação de um tipo brasileiro europeizado:
O que se diz das raças deve-se repetir das crenças e tradições. A extincção do trafico africano, cortando-nos um grande manancial de miserias, limitou a concurrencia preta; a extincção gradual do caboclo vae tambem concentrando a fonte india; o branco deve ficar no futuro com a preponderancia no numero, como já a tem nas idéas (ROMÉRO, 1897, p. IV).
Esse desejo pelo embranquecimento da sociedade e pela “civilização” nos
moldes europeus, no entanto, vai sendo percebido como impraticável no contexto brasileiro. A partir daí inicia-se um processo de adaptação dessas ideias, na
2 Na primeira edição de Cantos populares de Brasil, de 1883, a introdução fora escrita por Theophilo Braga. Para Roméro, uma série de equívocos foram cometidos, pelas intervenções de Braga, e tal fato gerou a publicação intitulada Uma esperteza, de 1887, com críticas contundentes ao autor daquela introdução. Em 1897 Roméro publicou uma “segunda edição melhorada”, substituindo o texto de Braga por um de sua autoria.

59
tentativa de justificar a figura preponderante do mestiço. Tais procedimentos são perceptíveis na obra de Sylvio Roméro.
Tanto no meio acadêmico da Bahia quanto no de Pernambuco, a partir da década de 1870 ocorreu um processo de difusão de visões deterministas e de ideologias cientificistas europeias, como o positivismo, o darwinismo e o evolucionismo social. Dessas teorias, segundo Lilia Moritz Schwarcz, buscou-se “adaptar o que 'combinava' – da justificação de uma espécie de hierarquia natural à comprovação da inferioridade de largos setores da população – e descartar o que de alguma maneira soava estranho, principalmente quando essas mesmas teorias tomavam como tema os 'infortúnios da miscigenação'.” (SCHWARCZ, 1993, p. 41).
Todo esse debate em torno da raça e da formação da identidade do brasileiro perpassa o discurso de Mello e é explícito desde os primeiros parágrafos da obra. O “sentimento da musica”, para o autor, é “uma resultante da constituição psychica do individuo, bem como da idiosyncrasia da raça a que pertence” (MELLO, 1908, p. 5).
“UM VERDADEIRO CINEMATOGRAPHO EM ISMOS...”
Esta expressão do subtítulo, utilizada por Sylvio Roméro, refere-se aos
inúmeros movimentos ideológicos ocorridos durante o século XIX, tão imbricados entre si como representa a metáfora do cinematógrafo – um aparelho que projeta imagens em movimento a partir de uma rápida sucessão de fotografias – primeiro “no grande mundo e, depois no Brazil” (ROMÉRO, 1910, p. 36).
O positivismo, doutrina fundada por Auguste Comte (1798-1857), parte do princípio de que “cada uma de nossas concepções principais, cada ramo de nossos conhecimentos, passa sucessivamente por três estados históricos diferentes: estado teológico ou fictício, estado metafísico ou abstrato, estado científico ou positivo” (COMTE, 1978, p. 3). Para o autor, no estado teológico o espírito humano ocupa-se das causas primeiras e finais, do conhecimento absoluto, ligado ao sobrenatural; no metafísico, que seria uma variação do primeiro, uma transição, há uma substituição do sobrenatural por forças abstratas; no estado positivo, ocupa-se de leis efetivas a partir de fenômenos observáveis. Os três estados, na teoria de Comte, são considerados incompatíveis, mas necessários enquanto um processo evolutivo do espírito humano. Dessa forma, Comte propõe uma filosofia nos moldes científicos – através da observação de fenômenos reais e descartando a metafísica – a que ele também chamou de “física social” e que configurou o início da sociologia. Para Comte, a filosofia positiva consiste no “único verdadeiro meio racional de por em evidência as leis lógicas do espírito humano” (COMTE, 1978, p. 12).
Mello, imbuído do espírito positivista, pretende ao longo da obra provar através de evidencias documentais as suas percepções sobre a música brasileira, como demonstra o trecho a seguir: “o fiz com o desejo ardente de mostrar-vos com

60
provas exhuberantes, de que não somos um povo sem arte e sem literatura” (MELLO, 1908, p. 3). Além disso, a ideia evolutiva aplicada à sociedade reflete a teoria dos três estados, ilustrada pelo percurso que vai do “selvagem” ao homem “civilizado”.
A máxima do positivismo, “o Amor por princípio, a Ordem por base, e o Progresso por fim”, fora absorvida naquele Brasil marcado por grandes transformações políticas e sociais do final do século XIX, inclusive estando impressa na bandeira do país. Roméro, na defesa de sua tese, em 1875, protagonizou um embate que ilustra bem essa ideia:
- A metafísica, não existe mais, se não sabia, o saiba. - Não sabia. - Pois vá estudar e aprender que a metafísica está morta. - Foi o senhor quem a matou?, perguntou-lhe então o professor. - Foi o progresso, a civilização (apud SCHWARCZ, 1993, p. 148).
“Progresso” e “civilização” são termos compartilhados com a teoria
evolucionista, e revelam o espírito da época. A teoria de Herbert Spencer (1820-1903), em uma análise geral, consiste na aplicação do darwinismo – evolucionismo biológico – a todos os fenômenos do universo, especialmente ao âmbito social – evolucionismo social. O progresso é tratado como um processo evolutivo, e sua teoria explica desde o surgimento do universo até as manifestações artísticas. Para Spencer tudo obedece a lei do progresso: “Toda a força ativa produz mais de uma transformação: toda a causa produz mais de um efeito” (SPENCER, 2002, p. 59). Conforme a lei do progresso, os estados evolutivos procedem do simples ao complexo, do homogêneo ao heterogêneo. Tal processo, para o referido autor, “verifica-se também nos progressos da civilização” (SPENCER, 2002, p. 30).
De acordo com Spencer, o homem “selvagem”, “primitivo”, por um processo evolutivo vai se tornando “civilizado”. Na música, aponta vários aspectos supostamente relacionados à evolução, como melodia – harmonia, vocal – instrumental (SPENCER, 2002, p. 53). Roméro, concordando com esses argumentos, afirma que “na historia da musica Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven succedem-se por necessidade do desenvolvimento da arte; um é a continuação progressiva do outro” (ROMÉRO, 1878, p. 35). Essa linearidade progressista é uma característica presente no discurso historiográfico da época.
Para Roméro, todas essas teorias – positivismo, darwinismo, evolucionismo social – dialogam entre si, numa “junção harmônica” e são “sem duvida alguma, as mais fecundas que nosso seculo [XIX] viu surgir” (ROMÉRO, 1878, p. 185). Guilherme de Mello, apesar de não citar diretamente nenhum daqueles pensadores europeus, encontra em Roméro um interlocutor dessas ideologias, sendo possível notar no seu discurso um compartilhamento de diversas ideias.

61
A FORMAÇÃO DE UMA IDENTIDADE NACIONAL
Spencer acredita que a “raça humana” pode não ter uma origem comum,
mas diversos troncos principais – hipótese poligenista – e isso viria a torná-la, por consequência, cada vez mais “heterogênea”. Levando-se em conta a teoria do autor, tal fato deveria ser considerado bom, pois para ele a “evolução” tende à “heterogeneidade”. Neste ponto revela-se uma contradição, quando o autor afirma que “nas divisões e subdivisões da raça humana, há transformações que não constituem um progresso; algumas pressupõem antes um retrocesso; mas é inegável que muitas criaram tipos heterogêneos” (SPENCER, 2002, p. 86). Uma ideia evidentemente racista para os dias atuais mas aceita na época, contraditória ao seu próprio sistema, que consistirá em um paradoxo para a discussão sobre a formação da identidade brasileira.
O Brasil do final do século XIX, em profundas mudanças sociais com o fim da escravidão, precisava justificar a hierarquia das “raças” e seus diferentes critérios de cidadania. Para isso as teorias evolucionistas se adequavam. No entanto, a miscigenação era vista como um fator de degeneração, e sem uma justificativa plausível para tal seria impossível a formação de um ideal de unidade nacional. Foi a partir desse paradoxo, com uma espécie de ajuste nas teorias europeias, que se deu a valorização do tipo brasileiro miscigenado. Esse tema se apresenta de alguma forma nas obras do período, especialmente em Roméro, e aparece quase como uma necessidade para justificar a miscigenação no Brasil. Na obra de Mello, fica evidente: “o povo portuguez sob a influencia do clima americano e em contacto com o indio e o africano se transformou, constituindo o mestiço ou o brasileiro propriamente dito” (MELLO, 1908, p. 6).
A frase ilustra o pensamento de Mello, mas também o espírito da época: teorias raciais, determinismo geográfico, predomínio do europeu sobre o nativo e o africano, e numa fusão de tudo isso, a mestiçagem como questão identitária nacional.
OS ARGUMENTOS DE MELLO: RAÇA, EVOLUÇÃO, CIVILIZAÇÃO E NACIONALIDADE
Todas as teorias discutidas neste artigo manifestam-se, de alguma
maneira, no discurso de Guilherme de Mello. Na tabela a seguir (Tab. 2), há algumas amostras dessas ideias e suas relações com a tentativa de formação de uma música nacional, evidentemente ligada a uma intenção de descrever um processo evolutivo e civilizatório do brasileiro.
Tabela 2: Excertos do livro A musica no Brasil.

62
cap. excerto p. comentários
1 apreciando-se o caráter da musica dos indígenas […] vê-se quanto ela se acha impregnada de sentimentos bárbaros e selvagens
14 considerados seres pouco “evoluídos”
1 hoje mesmo se encontram vestígios d'este canibalismo hediondo e crenças supersticiosas entre o populacho creoulo que ainda não se depurou e em cujas veias corre ainda o sangue inculto do africano.
15 o argumento do evolucionismo social, recorrente na obra
1 a primeira exibição da arte musical brasileira baseada no sistema diatônico e cromático dos povos cultos.
28 jesuítas e o processo “civilizador”
2 começa do tempo em que, catechisada a maior parte das tabas indigenas […] começaram a affluir ao Brasil […] portuguezes e hespanhoes.
29 caracterização; índios já “civilizados”
2 […] os tres typos populares da arte musical brasileira: o lundú, a tyranna e a modinha: dos quaes o primeiro foi importado pelo africano, o segundo pelo hespanhol e o terceiro pelo portuguez.
29 sobre os elementos formadores de uma música nacional
2 as musicas que importadas pelos estrangeiros, se identificaram com o nosso meio, o nosso clima e o nosso genio, e que mais tarde recebendo as tintas e os traços do sentimento nacional se caracterisaram brasileiras.
33 determinismos geográfico e social
2 O populacho que só sabe se divertir sambando e que nos tempos coloniaes se achava mais em contacto com o africano do que mesmo com o europeu
36 ranchos, música de “raças inferiores”
2 Ternos são grupos de familia de boa sociedade 37 Ternos, dos ricos
3 a arte ingenita dos brasileiros, acompanhando as evoluções sociaes, centralisa-se juntamente com o commercio na nova capital do futuro Imperio
129
música, evolução e o fator sociogeográfico
3 acompanhou […] as evoluções sociaes do povo brasileiro […], humanisando os selvagens; […] com os colonos e os indigenas, socialisando-os; […], unificando-os pela compartilhação dos sentimentos patrios
130
a partir da “evolução social”, a ideia de nacionalidade
4 elevavam a musica italiana a tal ponto que baniram as nossas modinhas
273
“degradação”
4 Foi tal o esquecimento que votaram a musica nacional que as senhoras só mandavam ensinar suas filhas a cantarem o italiano
273
sobre a degradação pelo italianismo
4 Bravura, agilidade e execução sem arte, sem delicadeza e sem instrucção, regula como a bravura, destreza e musculatura de um homem do campo sem trato, sem civilidade, no meio de uma sociedade escolhida.
278
o argumento evolucionista social
5 Hoje […] o maior orgulho dos brasileiros é correr em suas veias, tingindo-lhes as faces tisnadas pelo sol dos tropicos, sangue dos nossos aborigenes
297
o mestiço e a identidade nacional

63
5 o sentimento das cousas patrias já se vae accentuando e tendo valor tudo quanto é nacional
297
uma intenção de nacionalismo
5 A symphonia do Guarany, […] sagrada como o Hymno da Arte Brasileira, e ha de ser sempre ouvida, […] convulcionando as fibras do patriotismo!
363
não discute a estética italiana; aceita-a como nacionalista
No primeiro capítulo, considerado por Mello o “período de formação”, o
autor discute as influências indígena e jesuítica, sempre deixando evidentes as suas concepções teóricas evolucionistas e raciais. Suas principais referências consistem em textos de viajantes europeus do século XVI. O autor exalta a chegada dos jesuítas como um elemento civilizador.
No “período de caracterização”, tema do segundo capítulo, definem-se três gêneros de música popular brasileira, o lundu, a tirana e a modinha. Para o autor, essas músicas seriam produto da “fusão dos costumes e do sentimento musical” dos indígenas com os africanos, espanhóis e portugueses, respectivamente. A hierarquia das “raças”, demonstrando a crença na superioridade do branco é seguidamente relembrada.
No capítulo seguinte, o terceiro, Mello discute o “período de desenvolvimento” associado à presença da família real no Brasil, a partir de 1808.
O quarto capítulo, denominado “período de degradação”, é o que destoa dessa sequência “evolutiva” da música brasileira proposta por Mello. Localiza-se no final do império, e o autor critica a presença dos “pseudo maestros italianos”, bem como o predomínio do gosto por uma música considerada de menor valor artístico.
O capítulo cinco, entendido por Mello como o “período de nativismo” é marcado politicamente pela proclamação da república e por um forte apelo nacional. Análogo à esse sentimento, o autor encontra uma justificativa para o mestiço.
O último excerto (Tab. 2) aponta uma questão contraditória, entre outras discutíveis na obra, sobre a música de Carlos Gomes. Este, considerado por Mello o ponto de “culminância” da arte nacional, compunha numa estética italianizante, a mesma que gerou seu discurso sobre a “degradação”. De acordo com Manuel Veiga, “Melo nem sempre se mostrou um crítico perspicaz, entronizando Carlos Gomes numa moldura que não tinha mais lugar para ele” (VEIGA, 2012, p. 14).
Uma análise possível, considerando a ideia “evolutiva” da obra, seria observar que o autor parte de uma “música no Brasil”, através das “influências” diversas, para gradativamente moldar uma intenção de “música brasileira”. Essa concepção sobre a música, “a arte ingênita dos brasileiros”, tão “mestiçada” quanto o povo que a produziu, evidentemente reflete a discussão daquele período em torno de uma identidade nacional.

64
REFERÊNCIAS:
BRASIL. Ministerio da Justiça e Negocios Interiores. Diario Official, Rio de Janeiro, Capital Federal, ano XLVIII, n. 280, 2 dez. 1909. Seção I, p. 2. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com/diarios/1756344/pg-2-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-02-12-1909/pdfView>. Acesso em: 02 jul. 2013. COMTE, Auguste. Curso de filosofia positiva. São Paulo: Abril Cultural, 1978. MEIRELLES, Nevolanda Sampaio et al. Teses doutorais de titulados pela Faculdade de Medicina da Bahia, de 1840 a 1928. Gazeta Médica da Bahia, Salvador, v. 1, n. 138, p. 9-101, 2004. MELLO, Guilherme Theodoro Pereira de. A musica no Brasil: desde os tempos coloniaes até o primeiro decenio da Republica. Salvador: Typographia de São Joaquim, 1908. ROMÉRO, Sylvio. A philosophia no Brasil: ensaio crítico. Porto Alegre: Typographia da Deutsche Zeitung, 1878. ______. Cantos populares do Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1897. ______. Provocações e debates: contribuições para o estudo do Brazil social. Porto: Livraria Chardron, 1910. SCHOPENHAUER, Arthur. Metafísica do belo. São Paulo: Editora UNESP, 2003. SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil – 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. SPENCER, Herbert. Do progresso: sua lei e sua causa. Lisboa: Editorial Inquérito, 1939; eBooks Brasil, 2002. Disponível em: <http://www.ebooksbrasil.org>. Acesso em: 17 mar. 2013. VEIGA, Manoel. Musicologia brasileira: revisita a Guilherme de Melo. In: I COLÓQUIO / ENCONTRO NORDESTINO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA BRASILEIRA, 2010, Salvador. Atas do I CENoMHBra. Salvador: PPGMUS-UFBA, 2012. 1-23.