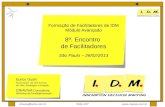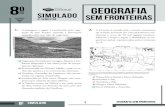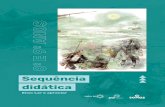8o Que é Conforto
description
Transcript of 8o Que é Conforto
-
O QUE CONFORTO
Ruskin Freitas Arquiteto, Professor /UFPE.
End. Av. Osvaldo Aranha, 340/903, Bom Fim, Porto Alegre RS, 90035-190. Tel. 51.33126886. [email protected]
RESUMO
Conceitos e exigncias quanto ao conforto apresentam especificidades no tempo e no espao, evoluindo atravs dos sculos e diferenciando-se na atualidade, de acordo com o poder aquisitivo, o estgio tecnolgico, culturas, climas e at mesmo disciplinas e reas de interesse. Enquanto na arquitetura so privilegiadas as necessidades do indivduo, sejam elas fisiolgicas, psicolgicas, sociais ou econmicas, em outras reas, que tomam o urbano como referncia, pensa-se o conforto de forma mais ampla, tendo como sujeito o indivduo coletivo, a sociedade. A pesquisa de campo, realizada no municpio de Recife, em Pernambuco, no outono de 2004, demonstrou que o conceito de conforto, apesar de ser um tanto quanto subjetivo e dar margens a inmeras possibilidades de interpretao, foi facilmente compreendido pela populao de diferentes reas, fsica e socialmente. A maioria identifica o conforto como sendo um estado de bem-estar. Porm, diversas outras referncias foram feitas ao conforto enquanto matria, espao, atividade e servios. Afinal, onde de fato o conforto encontrado na cidade? Quem tem acesso ao conforto?
ABSTRACT
Concepts and requirements relatives to comfort present specifics aspects in times and spaces, developing in the centuries and differentiating between them in the present, in accordance with the economic power, technological possibilities, cultures, climates and disciplines and subjects of investigations. In architecture the necessities of the individual are privileged, in another hand, to the urbanism the concept of comfort is wider, having like subject the society. The research placed in Recife, in the fall 2004, proved that comfort is understood easily by population from different physical and social places. The majority of the people identify the comfort like a well-being condition. However, there are many references to comfort like matter, space, activity and services too. After all, where is the comfort in the city? Who has access to comfort?
1. INTRODUO
Este texto fruto da Tese de Doutorado, intitulada: Entre mitos e limites: as possibilidades do adensamento construtivo face qualidade de vida no ambiente urbano, desenvolvida na UFRGS, sob orientao do Prof. Dr. Juan Mascar. Em meio aos estudos sobre as influncias entre formas e climas urbanos, percebemos que alguns termos como sustentabilidade ambiental, bem-estar e qualidade de vida repetem-se na literatura cientfica e no senso comum sem, no entanto, muitas vezes, ficar claro o seu significado. As legislaes, de carter mais abrangente, no conseguem abarcar diretamente, as particularidades dos lugares e algumas sutilezas dos princpios bioclimticos, porm deixam pistas de que devem ser consideradas as especificidades locais, assim como apontam no sentido de disciplinar o crescimento urbano e de evitar possveis efeitos negativos sobre o ambiente. Outras leis mais especficas, como aquelas que regulamentam o uso e ocupao do solo, atravs de seus ndices, ditam
- 726 -
-
o quanto deve ser preservado do ambiente natural. Artigos jornalsticos e publicitrios somam-se aos anteriores numa profuso de referncias qualidade de produtos e de ambientes. Desta forma, sentimo-nos instigados a refletir sobre o conceito de expresses, repetidamente, nesses textos citados, especialmente sobre o que conforto, pelo seu carter mais bsico, dentro da busca pela qualidade de vida no ambiente urbano. Onde ele encontrado na cidade? Quem tem acesso ao conforto?
2. CONFORTO: DA SUFICINCIA AO BEM-ESTAR
Conforto nos dicionrios, assim como no senso comum, visto enquanto suficincia, comodidade, apoio, consolo, alvio, bem-estar. Um conceito um tanto quanto amplo, dando margens a diferentes interpretaes e percepes, subjetivas, como nos romances e nas pinturas; objetivas, como nos livros de arquitetura e engenharia, podendo ainda ser percebido, sentido, vivenciado e at mesmo medido, classificado e normatizado.
Conforto Ato ou efeito de confortar(-se) ; Consolo, alvio ; Do ingls comfort: bem-estar material ; comodidade. (FERREIRA, Aurlio. 1986).
Conforto Experincia agradvel; sensao de prazer, plenitude; bem-estar material, comodidade fsica satisfeita; aconchego. (HOUAISS, Antnio. 2001).
Conceitos e exigncias quanto ao conforto apresentam especificidades no tempo e no espao, evoluindo atravs dos sculos e diferenciando-se na atualidade, de acordo com o poder aquisitivo, o estgio tecnolgico, culturas, climas e at mesmo disciplinas e reas de interesse.
A arte dos sculos XVII e XVIII deixou-nos vrios registros do que seriam conforto e bem-estar em tempos pretritos: amplos sales para circular; espaosas poltronas para descansar; altas janelas para fazer a iluminao chegar aos ambientes mais profundos. Esses registros transmitem a idia de conforto enquanto dimenso, forma e textura capazes de proporcionar um estado de bem-estar. RYBCZYNSKI (1996) d vrios exemplos, tais como as minuciosas descries, contidos nas pinturas holandesas do sculo XVII e tambm presentes na obra da escritora inglesa Jane Austin (1775-1817).
Bem estar (no contexto de desenho climtico) Condies em que uma pessoa pode desempenhar tarefas eficientemente e dormir satisfatoriamente, de modo que o corpo possa recuperar-se da fadiga ocasionada pelas atividades do dia precedente. (...) Limites do Bem estar Limites das condies ambientais confortveis. Esses limites so distintos segundo se trata do dia ou da noite, do inverno ou do vero, ou de climas diferentes. (ONU, 1973, apud MASCAR, L. 1991, p.132).
O filme Moa com brinco de Prola, dirigido por Peter Webber (Inglaterra, 2003), d vida obra do pintor Johannes Vermeer (Colin Firth), quando narra o perodo em que a personagem Griet (Scarlett Johansson) trabalha em sua casa. O filme mostra, como pano de fundo, o cotidiano domstico de uma famlia holandesa, na Delft de 1665. Nele, pode-se observar cada pea do mobilirio, cada abertura da edificao, cada utenslio. Todos eles tm um sentido - propiciar o conforto necessrio para as tarefas desenvolvidas, lembrando que o conforto est atrelado aos costumes de cada tempo. No sculo XVII, as necessidades e exigncias eram bem outras, diferentemente das atuais. Na poca, a despeito da forte preocupao com a limpeza no interior dos lares, transmitida atravs do esmerado cuidado com cada pea da casa, pouca importncia era dada s questes sanitrias. flagrante o momento em que se recolhe gua para os afazeres culinrios em um canal, mesmo curso dgua onde, em uma outra cena, so jogados os dejetos.
Os tempos tambm podem estar associados a diferentes espaos, ou seja, o conforto, enquanto bem-estar, depende do local vivenciado no cotidiano. Esse estado difere se estamos num ambiente rural, onde bem-estar pode ser associado ao contato com a natureza e com o ficar assistindo ao tempo passar, enquanto que numa cidade o bem-estar medido pela diversidade de recursos e pelas opes culturais e de lazer. Numa mesma cidade o conforto difere se estamos num bairro central, sendo ento associado s possibilidades que o poder aquisitivo oferece, enquanto que num bairro perifrico so mais valorizadas as relaes de vizinhana e a afetividade com o local.
- 727 -
-
3. ALGUNS DESDOBRAMENTOS DO CONCEITO DE CONFORTO
Apesar da gama de aspectos estudados e de possibilidades de classificao do conforto ambiental, h uma estreita relao de dependncia e reciprocidade entre as suas reas. O conforto ento est relacionado a questes psicolgicas de identificao e satisfao com o local, assim como a condies fsicas de temperatura, umidade, ventilao, iluminao e acstica.
Sempre que tratamos dos problemas do Conforto Ambiental na Arquitetura, uma preocupao deve, a todo momento, estar presente a relao existente entre as distintas reas que o compem, ou seja, como ocorre a interdependncia entre Iluminao, Conforto Trmico, Ventilao e Acstica, no ato de projetar. Como sabemos, o conforto composto por uma srie de variveis que mantm constantemente uma relao de causa e efeito entre si, ou seja, na totalidade dos casos, qualquer interferncia em uma delas afeta diretamente as outras. (SOLANO VIANNA e GONALVES, 2001, p.232).
Zonas de conforto so determinadas de acordo com a necessidade do ser humano manter um equilbrio higrotrmico; iluminncias so recomendadas para cada tipo de atividade humana. Recomendaes essas tambm baseadas numa certa preferncia que temos de nos inserir em certos limites entre o calor e o frio, entre a luz e a escurido, o som e o rudo, no sentido de nos distanciarmos dos extremos, que constituiriam os pontos de maior incmodo. A tolerncia a cada uma dessas faixas de conforto depende da aclimatao, de caractersticas humanas e de atividades desenvolvidas.
O conforto trmico dos usurios depende de quatro grandezas fsicas principais: a temperatura do ar, as temperaturas das superfcies, a umidade do ar e a velocidade do vento. Todas essas grandezas so interrelacionadas e diretamente influenciadas pela concepo arquitetnica: orientao, disposio, dimenses, materiais, entre outros princpios da arquitetura. A temperatura, quantidade de calor existente num corpo ou num determinado local, um dos elementos climticos melhor percebidos pela populao e dos mais influentes no seu cotidiano. A temperatura tambm est entre os assuntos mais discutidos por arquitetos e urbanistas ao projetarem espaos levando em considerao a diversidade climtica e a habitabilidade.
Um indivduo em um clima temperado ou frio pode sentir-se confortvel entre 14 e 18C. Enquanto isso, um habitante de um clima quente e mido s vai sentir a mesma sensao de bem-estar em temperaturas prximas a 25C, para desenvolver suas atividades sem maiores esforos de adequao ambiental. A adaptao ao clima, por sua vez, depende tambm do estilo de vida, condies biolgicas e avanos tecnolgicos dos quais a populao possa dispor. importante observar que a adaptao psicolgica tem limites fisiolgicos. Por exemplo, acima de determinadas temperaturas, o organismo no mais consegue realizar satisfatoriamente o seu metabolismo. Da mesma forma, a crescente poluio do ar chega a um ponto de provocar mal-estar, independentemente do estado de sade ou de debilidade em que j se encontram os indivduos mais suscetveis a incmodos e males fsicos.
O conforto ambiental est ligado produo de energia metablica. Em estado de repouso, a produo de energia, pelo organismo humano mnima (45W/m2), diferentemente daquela produzida enquanto o indivduo desenvolve atividades de lazer, de trabalho (150W/m2) ou, em casos extremos, de forte esforo fsico, no caso de atividades esportivas intensas (830 W/m2), como apresenta LEHTIHET (2003, p. 83).
As trocas trmicas entre o corpo e o ambiente se fazem por: conveco (entre a superfcie da pele, as vestimentas e o ar); por radiao (entre as superfcies citadas e aquelas presentes no entorno, assim como pelos processos de evapo-transpirao) e por conduo (quando ocorre o contato direto do indivduo com outras superfcies, por exemplo, os ps com o solo, as mos com as paredes de uma edificao). Como o ser humano precisa manter a temperatura corprea constante, em torno de 37C., o calor interno deve compensar as trocas com o meio. Do ponto de vista energtico, para o indivduo estar em conforto, necessrio que o equilbrio trmico, resultado dos fluxos de calor entre o ambiente e o corpo humano, seja nulo. Observa-se que materiais arquitetnicos e formas urbanas interferem, diretamente, sobre as trocas trmicas e, conseqentemente, sobre o conforto.
- 728 -
-
Para o equilbrio homeotrmico, o organismo interage com o meio, provocando, por exemplo, o suor, quando ele est submetido a altas temperaturas e necessita liberar calor. Quando ele est sob baixas temperaturas, a pessoa se encolha para evitar o dispndio de calor. Ao mesmo tempo, o organismo provoca tremores para produzi-lo. O conforto atingido ento, quando esses mecanismos autoreguladores do corpo esto em estado de atividade mnima. Essas condies fisiolgicas no devem ser confundidas com as atividades desempenhadas no cotidiano, caso contrrio, teramos como requisito para o bem-estar um estado de eterno repouso. Os mecanismos autoreguladores precisam estar em atividade mnima; no os indivduos.
Tambm importante o papel das vestimentas. Essas devem ser adequadas aos climas e s atividades desempenhadas. O isolamento trmico exprimido em Clo (1 Clo = 0,155 m.C.W-1) variando de acordo com a eficincia da permeabilidade da roupa passagem do vapor dgua. A exemplo da arquitetura vernacular, cada povo, sob diferentes climas, utilizam vestimentas tradicionalmente diversas, como os mantos dos tuaregues, nos climas quentes e secos e os casacos de pele dos esquims, nos climas frios, apenas para citar duas peculiaridades extremas.
As sensaes provocadas pelas diversas combinaes entre temperatura, umidade e ventilao, sobre o organismo do homem, foram associadas em um grfico denominado: Carta Bioclimtica (OLGYAY, 1963, p. 23), que permite avaliar se os mais diversos ambientes esto ou no em condies de comportar as atividades humanas. Assim, foi determinada a representao de uma zona de conforto para a identificao dos limites de temperatura e umidade e da necessidade ou no de ventos, bem como para o registro das sensaes humanas mais caractersticas, nos diversos trechos do grfico, tais como as de ansiedade, irritabilidade, abafamento, calor seco e frio mido. Neste caso, os patamares de conforto compreendem temperaturas entre 22C. e 28C., com umidade entre 20% e 70%, valores esses que ainda podem ser analisados segundo a ventilao da rea e a adaptao dos habitantes de cada determinada regio. Destaca-se a importncia dessa carta como referncia para os estudos de conforto ambiental, mas salientamos que ela j foi objeto de diversos estudos e aprimoramentos pelo prprio OLGYAY (1968) e por GIVONI (1968 e 1992), KOENIGSBERGER (1977), SZOKOLAY (1987), LAMBERTS et al. (1996), entre outros que desenvolveram mtodos e cartas, acrescentando tambm outras variveis, relacionadas s condies atmosfricas, caractersticas das edificaes, atividades e vestimentas dos indivduos e, sobretudo, aclimatao, como nos apresenta ANDRADE (1996, p.17).
A umidade absoluta representada pela massa total de gua num determinado volume de ar, sendo expressa em gramas por metro cbico de ar (g/m). A umidade relativa do ar quantidade percentual de vapor dgua contido pela atmosfera (%), em relao sua capacidade de conteno quando saturado. A umidade, de uma forma geral, exerce influncia sobre a absoro de radiao solar, sobre as precipitaes, taxas de evaporao e transpirao, sobre a temperatura e, conseqentemente, sobre o conforto humano.
Quando a umidade relativa do ar encontra-se abaixo de 30%, surgem ressecamentos e alergias, alm de colocar-se em circulao na atmosfera partculas de poeira secas, agravando os problemas anteriores. Acima de 70%, ocorrem dificuldades para a absoro, pelo ar, da transpirao, nos climas quentes e midos, chegando o suor que fica sobre a pele a causar incmodos. Quando a umidade relativa do ar ultrapassa 80% comea a tambm ocorrer a possibilidade de condensao sobre as paredes e males respiratrios.
O vento, ou a movimentao da atmosfera, influenciado pela temperatura, pela presso, pela chuva e pelos volumes naturais e construdos, interferindo tambm sobre cada um desses elementos. Os grandes movimentos horizontais e verticais das circulaes atmosfricas, em diferentes escalas temporais e espaciais, so sentidos pelos indivduos tambm a partir dos ventos locais, apresentando grande importncia absoluta e relativa para o conforto.
Como exemplificao, citamos a Escala de Beaufort, desenvolvida pelo Almirante da marinha inglesa, ainda em 1804, at hoje uma referncia obrigatria em todos os estudos de conforto ambiental. Nela observamos que o incmodo tem incio quando a velocidade do vento atinge 3,4m/s, chegando a riscos extremamente danosos para os humanos e para as construes, ao ultrapassar 20 m/s. Antes de atingir
- 729 -
-
esses valores extremos, o vento pode provocar desconforto, dependendo dos usos aos quais os ambientes se destinam e do tempo de exposio a que os indivduos so submetidos, sendo obrigados a uma permanente adaptao s instabilidades aerodinmicas. Se um indivduo est em deslocamento, num meio externo, caminhando num parque, por exemplo, ele suportar por maior tempo uma maior velocidade do vento, do que outro que se encontra num espao interno, efetuando seus afazeres cotidianos.
O conforto lumnico depende de dois quesitos bsicos: a intensidade e a qualidade da luz. A intensidade refere-se quantidade de luz que possibilitar o desenvolvimento das atividades, segundo um iluminamento recomendado, de acordo com fatores culturais, fatores pessoais e da acuidade visual necessria. Aprofundando o conforto lumnico para alm do quantitativo e do utilitrio, poderamos falar da qualidade da luz, da criao de ambincias e at mesmo da contemplao de uma paisagem idlica, o que poderia proporcionar, tambm, um conforto visual.
Atravs da observao da luz natural, pode-se chegar determinao do tempo atmosfrico, assim como hora do dia e, at mesmo, satisfao visual, quanto s necessidades de luz para realizao de suas tarefas ou construo do sentido do lugar.
Cada lugar em particular tem sua luz. A luz expressando o lugar envolve dois aspectos distintos: o lugar ele mesmo, seus aspectos fsicos e caractersticas que determinam como ele difere em algum momento de outro lugar; e a srie de mudanas que toma o lugar com o tempo, criando padres distintos de mudanas diurnas e sazonais. (MILLET, 1994, p. 06).
A variedade de climas existentes, assim como a sazonalidade em cada um deles esto diretamente relacionadas diversidade da paisagem. At mesmo ao longo de um dia, a natureza oferece uma diversificada gama de situaes, seja qual for o elemento climtico em questo. Dessa forma, o estudo das condies climticas deve participar do processo de concepo dos espaos pblicos e das edificaes, a fim de evitar a criao de ambientes desagradveis, e que necessitem obrigatoriamente de meios artificiais, levando a um maior consumo de energia, para garantir as condies de conforto.
O conforto acstico depende da qualidade do som nos ambientes e do isolamento dos rudos, que, por definio, seriam os sons no desejados. Aberturas, vedaes e revestimentos, tanto quanto as estruturas, merecem ateno, uma vez que as ondas sonoras so transmitidas no ar, assim como por conduo, no caso, os rudos de impacto. Duas atitudes so trabalhadas pelos arquitetos: o condicionamento e o isolamento. O condicionamento dos ambientes ocorre onde o som precisa de uma melhor qualidade, aproveitando-se as emisses originais e dispensando-se as reflexes desnecessrias. O isolamento ocorre, sobretudo, no caso de se ter ambientes com diversas atividades e necessidades sonoras opostas. Pode-se isolar um ambiente atravs da massa construda, tanto quanto pelo distanciamento de diferentes zonas acsticas.
Na cidade, a forma de apropriao do solo urbano, a diversidade e a concentrao de usos e de atividades expem os indivduos cada vez mais a intenso rudo. preciso estar atento s caractersticas construtivas de pavimentos e paredes externas, trfego de automveis, uso de vegetao, aberturas e barreiras, quanto a sua capacidade de isolamento sonoro e de absoro interna dos recintos, para um controle do rudo e condicionamento acstico dos recintos urbanos e ambientes internos das edificaes.
4. O CONFORTO COMO MERCADORIA
O conforto ambiental comodidade, prazer e bem-estar para alguns, enquanto que, para outros representa salubridade e sobrevivncia. esta a realidade que encontramos na maioria dos centros urbanos: produo diferenciada dos espaos urbanos; acesso desigual aos ambientes dotados de qualidade.
O conforto est presente nos subrbios-jardins, com alamedas, grandes recuos e amplas reas de lazer - qualidade de vida, garantida pela preservao legal de verdadeiras reservas ambientais - Ilhas de amenidades em meio a ilhas de calor. Nos condomnios de luxo, horizontais ou verticais, a infra-
- 730 -
-
estrutura est presente e as diretrizes para o desenvolvimento urbano, saneamento bsico e transportes urbanos so implementadas e funcionam a contento.
O conforto est presente nos ambientes condicionados, onde a temperatura, a umidade, a iluminao esto adaptadas a cada atividade a ser desempenhada, nas habitaes e nos escritrios. Nas esquadrias dos modernos edifcios, vidros reflexivos filtram a radiao solar e garantem as visuais para desfrute da paisagem - ilhas de modernidade em meio a um mar de carncia de toda sorte. A qualidade do ar garantida por sistemas que isolam os rudos urbanos e que deixam no exterior a poluio do ar, gerada pelos rejeitos dos automveis, das indstrias e das atividades humanas em geral.
Alm de produtividade e isolamento, o conforto tambm pode ser segurana, atravs do controle da acessibilidade, por meio de uma, nem sempre disfarada, seleo daqueles que podem penetrar em tais ambientes, estejam eles em sua representao mais prxima da natureza ou naquela, sinnimo de modernidade tecnolgica.
O conforto emerge como uma mercadoria; ou ser o espao urbano, a mercadoria? Podemos comprar o conforto, atravs de cotas de verde, um pouco de sol, percentuais de luz e sombra. Compramos assim um pouco de natureza, enquanto espao, mesmo que restrito a certos limites, assim como um pouco de natureza condicionada elementos naturais levados ao interior dos apartamentos urbanos. Tambm compramos um pouco de natureza, enquanto tempo, ou, pelo menos, o direito de utiliz-la, momentaneamente, no caso das segundas residncias. As casas de campo, assim como as casas de praia, vendidas sob o discurso de contato com a natureza. Essas pequenas reservas, em conjunto, h muito j constituram tambm reas urbanas, a partir da artificializao e do adensamento dessas reas ditas naturais.
Est dentro do processo histrico da formao de nossas cidades, assim como no processo de reproduo do espao urbano, a incessante necessidade de ocupao do solo urbano para suprir a demanda por habitao, mas tambm para suprir a demanda do mercado imobilirio por novas construes. Em meio a esses processos, esto inseridas a verticalizao e a expanso da mancha urbana. Processos que precisam ser reinventados, atravs dos discursos de novas formas de morar, seja quanto aos locais da moda, seja quanto aos estilos arquitetnicos para manter o mercado aquecido. Estdios, flats e lofts nas reas centrais, representam a vida urbana, das facilidades, da rapidez, da praticidade. Bairros jardins, chcaras e villes, nas reas perifricas, representam a vida rural, saudvel e tranqila. Vende-se o ambiente artificialmente climatizado tanto quanto se vende o verde e, mais ainda a necessidade de se estar inserido em um desses modelos de vida - estratgias de mercado: preciso mudar, comprar, reformar, reformar-se.
A mdia utiliza-se do termo conforto com muita freqncia, parar se referir aos mais diferentes produtos: salas domsticas de projeo de filmes; roupas macias e fceis de vestir em bebs; novas terapias para as doenas da pele; materiais e formas do calado brasileiro; espao e tecnologia de novo modelo de automvel; dimenses das aberturas de uma residncia na serra; residncia na cidade, com grandes dimenses e praticidade na limpeza dos materiais; computadores e academias de ginstica, smbolos da vida urbana, chegando ao interior do pas. Esses so alguns dos indicadores de conforto, presentes em artigos jornalsticos e publicitrios. Essas observaes so feitas a partir de leitura cotidiana do jornal porto-alegrense Zero Hora, apenas como citao, entre tantas outras representaes do termo conforto, transcritas pelos diversos meios de comunicao de massa.
Curiosamente, nas matrias ligadas ao ambiente, mantm-se a idia anteriormente apresentada de que, no espao aberto, a paisagem natural mais valorizada e, no espao fechado, so mais importantes a climatizao artificial e os recursos eltrico-eletrnicos. A ttulo de exemplificao, transcrevemos trecho de matria apresentada no Caderno Viagem, do Jornal Zero Hora:
O ambiente das pousadas geralmente despojado. Isso no significa, porm, desconforto. Pelo contrrio, o conforto est no topo da lista de prioridades desses lugares. O litoral norte de Alagoas oferece atraes para conquistar o visitante. E quem for, no se arrepender. O turista ocupar charmosas cabanas equipadas com DVD, som, frigobar, ar-condicionado,
- 731 -
-
redes, banheiras e hidromassagem. Do lado de fora, piscinas, praias desertas, trilhas e piscinas naturais. (BLUME, 2004, p.6).
A questo agrava-se quando a mercadoria conforto globalizada. Para muitos um smbolo de progresso e modernidade, mas na realidade fruto da desinformao e da negligncia para com as diferenas regionais. Quanto s construes, desde os tempos de Vitrvio, no sculo I, que j se conhecida a necessidade de adequao ambiental para se chegar com eficincia, desempenho e economia, ao melhor resultado arquitetnico e urbano no tocante qualidade do ambiente.
Com o avano das tcnicas construtivas e de produo de energia, passou-se a se promover a independncia, mais do que a adequao ao ambiente natural, como regra. A natureza representa a instabilidade e a imprevisibilidade, enquanto o condicionamento representa a segurana e o controle ambiental. Muitos so os cartes postais, os anncios imobilirios e at mesmo as matrias de revistas especializadas que focalizam edificaes modernas e plenas de referncias tecnolgicas. Olhares menos atentos no conseguem distinguir a localizao desses edifcios em estilo internacional. Nem mesmo a zona trmica da terra em que eles se encontram pode ser identificada, numa breve observao. Da mesma forma que as edificaes isoladas, tambm os traados e formas urbanas inserem-se nessa lgica globalizante. Sucedem-se, independentemente dos climas, os discursos de que determinados empreendimentos imobilirios foram exitosos num longquo local e que agora tambm chegaram sua cidade. Compre! (Mas antes, advertimos, passe os olhos sobre sua adequao ambiental).
Quem no pode adquirir uma passagem para esse mundo de bencies, fica mais perto da cidade real, sendo obrigado a conviver com o risco, a lama, a sujeira, o calor, a inundao, a poluio e com as doenas decorrentes, confirmando-se a acessibilidade ao conforto condicionada ao poder aquisitivo. O citadino excludo, contraditoriamente, participa do desmatamento dos morros, do envenenamento das guas, como algoz e como vtima, sofrendo ainda as conseqncias de viver em espaos inspitos.
A construo da sociedade e a produo do espao urbano confundem-se com a busca pelo conforto e, em oposio, com a destruio do espao natural. Agora o conforto e a qualidade de vida precisam ser objetos de legislao, sob o risco de ficarem restritos memria, aos registros histricos e vivncia de alguns poucos que por eles podem pagar.
5. DO CONFORTO QUALIDADE DE VIDA
Qualidade de vida eqidade no acesso infra-estrutura (abastecimento dgua, esgotamento sanitrio, limpeza pblica, drenagem urbana), direito moradia, trabalho, circulao e lazer, acesso aos bens, equipamentos e servios urbanos, a liberdade e capacidade de escolha entre lugares e estilos de vida, a garantia de conservao dos recursos naturais. Qualidade de vida engloba o conforto, o bem comum e o ambiente. A qualidade de vida pode ser uma apreciao esttica e funcional, independente de estudos cientficos, dados estatsticos e decises administrativas. A populao, ao perceber a harmonia entre espaos, volumes e usos, quanto legibilidade plstica e eficincia das funes moradia, trabalho, circulao e lazer, atribuiria um valor ao ambiente construdo e, por conseguinte, uma qualidade de vida aos seus usurios.
Componentes objetivos, como o estado do ar, da gua e do solo, assim como componentes subjetivos, como beleza e valor, diferenciam os espaos. Os usurios usufruem essas qualidades materiais, atravs da utilizao de servios eficientes, de transporte pblico e saneamento, por exemplo, assim como eles percebem essas caractersticas, de forma tal que as assimilam para sua prpria vivncia. Morar em determinados bairros smbolo de status, pela qualidade ambiental e construda que eles oferecem, mas, tambm, pelo simples fato de estar entre aqueles que podem adquirir e usufruir bencies por eles oferecidas tambm uma representao social, portanto.
O ndice de Desenvolvimento Humano (IDH), criado pela Organizao das Naes Unidas (ONU), no incio da dcada de 1990, um dos indicadores da qualidade de vida nas cidades. Esse ndice toma como base trs indicadores: longevidade (esperana de vida ao nascer), educao (alfabetizao e taxa de matrcula) e renda (produto interno bruto per capita). Outras pesquisas, como aquela que determina
- 732 -
-
o ndice de Condio de Vida (ICV), aprofundam-se, na avaliao das condies scio-econmicas da populao, e acrescentam outros dados, referentes infncia e habitao, na tentativa de melhor definir a qualidade de vida nas cidades.
Segundo o PNUD (2004), numa escala que vai de 0 a 1, o municpio de So Caetano do Sul, em So Paulo, o que tem ndice mais alto no Brasil, com 0,919, enquanto que Manari, em Pernambuco, aquele com menor ndice 0,467. Podemos ainda destacar Florianpolis, como a capital estadual melhor classificada - 0,881, Braslia, entre os municpios sedes de Regies Metropolitanas 0,844 e Porto Alegre, entre os municpios sedes de Regies Metropolitanas capitais estaduais 0,833.
A qualidade do ambiente um atributo para a construo da qualidade de vida. Elementos do clima urbano (temperatura, umidade, ventilao) e fenmenos a eles relacionados (ilhas de calor, inverso trmica, poluio ambiental), tanto quanto elementos da forma e da infra-estrutura urbana, representam indicadores da qualidade de vida no espao urbano.
6. ALGUMAS REPRESENTAES DO CONFORTO
Uma pesquisa de campo, com 200 entrevistados, em 4 diferentes reas do municpio do Recife (Casa Forte, Boa Viagem, Morro da Conceio e Guabiraba), foi concluda no outono de 2004. A aplicao de formulrio visou conhecer o perfil daqueles que utilizam os recintos urbanos pesquisados, quanto sua percepo sobre o significado de conforto e de qualidade de vida, como sentem o clima urbano no seu cotidiano, quais as suas expectativas quanto forma urbana, entre outras informaes. Salientamos que todas as respostas foram registradas pelo pesquisador, e que o vocabulrio e forma de abordagem deste foram flexveis, no sentido de ser mais acessvel e compreensvel para o entrevistado, que apesar de vivenciar formas e climas urbanos tem, por vezes, dificuldade de expresso.
Procurou-se aplicar os formulrios na mesma quinzena, e em horrios semelhantes, visando menor interferncia possvel da metodologia sobre os dados coletados. E, apesar de utilizarmos uma pesquisa por amostragem aleatria, buscamos um equilbrio entre o perfil dos entrevistados, quanto a sexo, idade, pessoas pertencentes a diversas classes sociais e com diferentes graus de instruo. O Clima Urbano englobou, no segundo bloco de perguntas, diversas questes sobre o conforto ambiental e sobre o recinto urbano, dando-se nfase percepo do usurio quanto aos elementos climticos. As perguntas foram feitas de forma aberta, ou seja, sem opes. Aps o registro das respostas expressas espontaneamente pelos entrevistados, seguiu-se a classificao das mesmas, feita esta, pelo pesquisador.
Os resultados demonstraram que o conceito de conforto, apesar de ser um tanto quanto subjetivo e dar margens a inmeras possibilidades de interpretao, foi facilmente compreendido pela populao. A maioria (38,5%) identificou o conforto como sendo um estado de bem-estar. Termos como tranqilidade, paz, sossego, comodidade, segurana, viver bem, foram lembrados, e, sobretudo, exatamente a expresso bem estar foi utilizada, para responder pergunta: Quando falamos conforto, em que voc pensa?.
Diversas referncias foram feitas ao conforto enquanto matria, poder aquisitivo e possibilidades de aquisio de bens materiais, vindo a constituir um segundo grupo de respostas mais verificadas (27%). Para tanto foram utilizadas expresses como: luxo, dinheiro, trabalho e emprego. O conforto foi ainda lembrado como sendo um espao, uma vez que 11% dos entrevistados fizeram referncia a formas, dimenses e locais especficos, tais como: cama, casa, praas e praia. O desejo de ter melhores condies no bairro em que moram fez com que servios pblicos fossem lembrados por 10% dos entrevistados, que se referiram segurana, sade e educao, como sinnimos de conforto. A atividade lazer foi citada por 8% dos entrevistados. Esses dois ltimos grupos citados bem que poderiam ser repostas associadas qualidade de vida.
- 733 -
-
A referncia prpria residncia necessitou de uma interpretao mais detalhada, pois casa, enquanto lar, representa um lugar seguro, no sentido psicolgico, sendo classificado como um espao, um local especfico; j a referncia a uma casa melhor, representa o desejo de ascenso econmica, ou seja, a lembrana do conforto enquanto poder aquisitivo.
O item espao foi detalhado na questo seguinte: Cite um exemplo de local confortvel, onde voc se sente bem. A prpria casa foi lembrada por 45% dos entrevistados e ambientes desta, tais como varanda, sala, quarto, cozinha, foram citados por 7%. Bairros do Recife foram citados por 9,5% dos entrevistados, na maioria das vezes o prprio bairro em que o indivduo mora.
O questionamento sobre um exemplo de local confortvel revelou uma curiosidade: a maioria da populao est satisfeita com o seu lugar, seja a residncia, seja o bairro em que mora. Esse fato pode ser comprovado a partir do cruzamento das respostas a outras questes. Os motivos, para justificar o local citado como confortvel, foram os mais diversos possveis, destacando-se aqueles ligados afetividade e experincia, ou seja, construo do conceito de lugar, pouco variando em funo da qualidade de vida, fisicamente observada nas reas pesquisadas.
Tambm algumas edificaes foram citadas por 10,5% dos entrevistados, ao que apresentaram diferentes razes para essas serem classificadas como confortveis, da paz e tranqilidade das igrejas ao status dos edifcios altos da orla ocenica. Salientamos que no Morro da Conceio e em Casa Forte, as entrevistas foram feitas em praas com igreja nas proximidades e em Boa Viagem, junto praia. Confirma-se ento que, na viso dos entrevistados, quando o conforto no est em casa, ele est ao lado.
Os recintos urbanos pesquisados foram tidos como confortveis por 81,5% dos entrevistados. Muda-se a questo, porm a resposta praticamente a mesma, confirmando que a maioria est satisfeita com o seu local de moradia ou trabalho. A justificativa para tanto foi, em 34% dos casos, a j referida afetividade pelo local e as relaes de vizinhana, sobretudo nos assentamentos populares, onde esse percentual sobe para 50% das respostas, devido maior identificao com o lugar e com os vizinhos.
No restam dvidas que a afetividade e a experincia so as principais razes para esse contentamento com o local de vivncia, sobretudo quando observamos que as reas pesquisadas apresentam enormes diferenas entre si. Em todas elas, mesmo tendo em comum a enumerao de problemas urbanos, o grau de satisfao considerado alto.
No geral, 35,5% da populao identificam as atividades humanas; as prticas espaciais cotidianas; a presena ou a ausncia de servios, rudo, trfego, como razo para se determinar o quanto agradvel o local. Dividindo a ateno de 18,5% dos entrevistados esto os aspectos relacionados natureza, sobretudo, a vegetao no caso de Casa Forte e Guabiraba, e a praia, no caso de Boa Viagem. Neste quesito, as respostas ultrapassaram os 100%, uma vez que se aceitou a indicao de mais de um aspecto como resposta.
A expectativa de que a qualidade de vida seria confundida com conforto confirmou-se em parte, uma vez que 24% dos entrevistados utilizaram termos semelhantes a conforto para responder pergunta: Quando falamos qualidade de vida em que voc pensa?. No entanto, a maioria associou qualidade de vida economia e a bens materiais (30,5%), assim como a sade e educao (25,5%). A infra-estrutura e os servios urbanos foram citados por 7%, fazendo-se referncia segurana pblica, na maioria das vezes. Essa percepo, tambm cabe aqui salientar, est muito relacionada rea de pesquisa e a outra indagao que foi formulada, referente aos problemas urbanos. Foram identificados como principais transtornos aqueles da infra-estrutura (19,5%) e dos servios urbanos (54,5%), porm com sutilezas decorrentes da realidade em que vivem.
7. CONCLUSO
Enquanto na arquitetura so privilegiadas as necessidades do indivduo, sejam elas fisiolgicas, psicolgicas, sociais ou econmicas, em outras reas, que tomam o urbano como referncia, pensa-se o conforto de forma mais ampla, tendo como sujeito o indivduo coletivo, a sociedade. A qualidade de vida vista, tanto pelos tericos quanto pela populao, como algo mais abrangente que o conforto.
- 734 -
-
Como que numa certa hierarquia, procurar-se-ia primeiramente atingir os prazeres do indivduo, incluindo a a sua famlia, para, em seguida, se pensar nas satisfaes do cidado, na conquista de um bem-estar comum e duradouro, para, s ento, se passar ao atendimento das necessidades de sobrevivncia de uma comunidade. Tanto o conforto quanto a qualidade ambiental no seguem uma lgica de distribuio espacial baseada em limites poltico-administrativos ou de zoneamento do planejamento urbano. A pesquisa emprica demonstrou que a idia de conforto quanto a esquecer a cidade a ao mesmo tempo aproveitar as bencies da urbanidade, aportes diametralmente opostos, esto presentes em todo local, ultrapassando limites geogrficos e scio-econmicos.
8. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ANDRADE, Suely Ferraz de. (1996). Estudo de estratgias bioclimticas no clima de Florianpolis.
Dissertao de Mestrado em Engenharia / UFSC. Florianpolis.
BLUME, Gilberto. (2004). Roteiros cheios de charme. Jornal Zero Hora, Caderno Viagem, p. 06. 02-11-2004. Porto Alegre.
FERREIRA, Aurlio B H. (1986). Novo dicionrio da lngua portuguesa. Nova Fronteira. Rio de Janeiro.
HOUAISS, Antnio. (2001). Dicionrio Houaiss da lngua portuguesa. Objetiva. Rio de Janeiro.
LAMBERTS, Roberto et al. (1997). Eficincia energtica na arquitetura. PW Editores. So Paulo.
LEHTIHET, Khrofa (2003). Analyse microclimatique despaces urbains mditerranens cas de la ville de Marseille. Marseille : Thse de Doctorat / Ecole dArchitecture de Marseille-Luminy.
LEI FEDERAL N 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001. ESTATUTO DA CIDADE.
MASCAR, Lcia. (1991). Energia na edificao estratgia para minimizar seu consumo. Projeto. So Paulo.
MILLET, Marietta S. (1994). Light revealing architecture. New York : Van Nostrand Reinhold.
OLGYAY, Victor. (1963). Arquitectura y clima. Gustavo Gili. Barcelona.
RYBCZYNSKI, Witold. (1996). Casa: pequena histria de uma idia. Record. Rio de Janeiro.
SOLANO VIANNA, Nlson e GONALVES, Joana Carla. (2001). Iluminao e arquitetura. Uniabc. So Paulo.
- 735 -