A CRIANÇA E SEUS DIFERENTES NOMES ADJETIVAÇ›ES … · Dia gordo de novidades. ... riso aberto,...
Transcript of A CRIANÇA E SEUS DIFERENTES NOMES ADJETIVAÇ›ES … · Dia gordo de novidades. ... riso aberto,...
Educ. foco, Juiz de Fora,v. 13, n. 2, p. 67-89, set 2008/fev 2009
A CRIANÇA E SEUS DIFERENTES NOMES: ADJETIVAÇ›ES NO DISCURSO HISTŁRICO
Ana Lucia Adriana Costa e Lopes*
ResumoEste texto pretende lançar um olhar sobre em que contexto se situa a infância, mais especificamente a infância excluída no Brasil, através das nomeações de crianças que aparecem no discurso histórico, apontando que estas crianças carregam, implícito nas diferentes adjetivações, o lugar que cada qual deve ocupar. Palavras-chave: Infância. Discurso histórico.
AbstractThis text intends to launch a look on where context if points out infancy, more specifically the infancy excluded in Brazil, through the nominations of children who appear in the historical speech, pointing that these children load, implicit in the different adjectives, the place that each one must occupy. Keywords: Infancy. Historical speech.
ResuméCe texte prétend lancer un regard sur où contexte se place l’enfance, plus spécifiquement l’enfance exclue au Brésil, à travers les nominations d’enfants qui apparaissent dans le discours historique, en indiquant que ces enfants chargent, implicite dans différents adjectifs, la place que chacun doit occuper. Mots-clés: L´enfance. Discours historique.
* Professora, Psicóloga. Mestre em Educação – UFF [email protected]
68
Ana Lúcia Adriana Costa e Lopes
Educ. foco, Juiz de Fora,
v. 13, n. 2, p. 67-89, set 2008/fev 2009
Dia gordo de novidades. Logo pela manhã apareceu Ema, filha de dona Josefina Strambi, riso aberto, ansiosa por dar-me a boa nova; descobrira, por acaso, ótimo colégio onde eu poderia prosseguir meus estudos gratuitamente. (...)“Uma escola católica, porém liberal”, explicava Ema. Ela própria estivera com as freiras no dia anterior, falara de mim, as freiras aceitaram sem reservas ou restrições a aluna pagã. Ali eu aprenderia, além de conhecimentos gerais, a falar francês e bordar. A escola não tinha nome, nem currículo. Era um anexo de famoso colégio de meninas ricas de São Paulo, o “Des Oiseaux” – ocupando todo um quarteirão – fora construí-do um modesto pavilhão onde funcionava a escola que eu freqüentaria, a das meninas pobres.Na companhia de Ema, dirigi-me à rua Caio Prado. Minha primeira surpresa foi constatar que a entrada para a minha escola era pela Rua Augusta, nos fundos do grande colégio, e não pelo portão central de Caio Prado, como eu julgara. Em meio a árvores frondosas, um pavilhão, isolado. Ema apresentou-me às duas freiras responsáveis pela clas-se: Madre Tereza e Irmã Calixta. (...)Irmã Calixta mostrou-se interessada em meus conheci-mentos na arte de bordar. “Sabe bordar?” Não, eu não sa-bia bordar. “Pois vai aprender. Tem vontade de aprender?” As alunas, debruçadas, olhos fixos sobre finas cambraias, bordavam para as freiras, que recebiam encomendas, mui-tas encomendas.(...)Voltei para casa bastante murcha, mas não disse nada a ninguém que me sentira pouco à vontade naquele am-biente. Eu não desejava desistir, não ia perder a chance de voltar a estudar.Durante um ano freqüentei a escola nos fundos do Des Oisseux. Depois cansei de bordar para as freiras.
Zélia Gattai
As palavras de Gattai (1984), presentes em seu conhecido livro “Anarquistas Graças a Deus”, remetem para a vivência das dife-rentes infâncias. Ao evidenciar a situação da infância excluída e suas interações com a educação institucionalizada, demonstram os dife-rentes lugares ocupados por essas crianças no espaço escolar. Suas palavras nos fazem refletir sobre o destino que lhes é traçado pelo mundo adulto e as representações existentes pelos diversos segmen-tos sociais em suas formações.
69
A criança e seus diferentes nomes: adjetivações no discurso histórico
Educ. foco, Juiz de Fora,v. 13, n. 2, p. 67-89, set 2008/fev 2009
Este texto pretende refletir sobre essas dimensões, num pri-meiro momento sobre as relações da Modernidade com a infância e suas implicações. Num segundo momento trazer essa reflexão para o Brasil a partir da nomeação das crianças e de seus lugares ocupados.
A separação do mundo adulto para o da criança é tida, para muitos, como uma diferenciação que está naturalizada, mas Veiga (2004) nos mostra que o processo que se nos aparenta como natural foi sendo apreendido na mudança conceitual do mundo Medieval para o Moderno que, gradativamente, modificou os conceitos existentes para depois naturalizá-los na Modernidade.
A Modernidade se institui a partir do desmoronamento da visão medieval de ser humano que tinha sua vivência predeterminada no mundo por um plano divino em uma ordem social estática, cujo objetivo era a preparação para uma vida após a morte. Para Bau-drillard (apud VEIGA, 2004) existe, não um conceito, mas uma lógi-ca da Modernidade que se realiza nos costumes, no modo de vida co-tidiano, que embora não tenha ocorrido de forma radical, ela esteve presente nas mudanças ocorridas a partir do século XVI: tais como as viagens ultramarinas, reformas religiosas, iluminismo entre outras.
Porém até o início do século XVIII, a Modernidade ainda não era um modo de vida. Sua gênese se realiza no século XIX, quando a maioria das “nações européias se auto referem como civilizadas, como também se reconhecem universalizadas na mo-dernidade”. (VEIGA, 2004, p. 36)
Esse processo de modernização, ao instituir um processo ci-vilizatório do mundo do adulto o institui também para o mundo da criança, criando um mecanismo no qual, se o fim a ser atingido é do adulto civilizado, a criança deve ser civilizada para que este fim futu-ramente se cumpra. A relação então entre modernidade e infância se estabelece através da produção de um “ser criança civilizada”. O tempo da infância é aqui compreendido como produção sociocultural, que produz o aparecimento de um tratamento distinto da criança em rela-ção ao mundo adulto e essa distinção se associa à produção de lugares destinados a ela. Produz também novas relações de autoridade e a ela-boração de novas formas de comportamento. (Ibidem, p. 37)
Tal diferenciação trouxe, consequentemente, uma distinção geracional que ultrapassa a visão de etapas da vida, concebida numa visão evolucionista e vê o tempo de infância num contexto que se relaciona com o tempo de adulto. Não perdendo de vista que o tem-po é um símbolo cultural, o modo como o concebemos varia de
70
Ana Lúcia Adriana Costa e Lopes
Educ. foco, Juiz de Fora,
v. 13, n. 2, p. 67-89, set 2008/fev 2009
acordo com o momento histórico e a forma utilizada pelo homem para perceber e relacionar os acontecimentos sob a forma deste sím-bolo. Essa percepção implica “a produção de unidades de referências temporais/culturais de maior ou menor amplitude, padronizadas e socialmente e reconhecidas para servirem de orientação no curso do tempo da vida dos indivíduos e/ou grupos da sociedade”. (Ibidem, p. 39). Desta forma percebe-se que a contribuição de Veiga para nossa discussão é a distinção entre o tempo de infância do ciclo natural da vida e o tempo social de infância em que no primeiro está o nascer, crescer, reproduzir e morrer; e fazendo parte deste tempo o ser crian-ça e o segundo, em que a infância se constitui enquanto uma categoria de tempo inventada, atravessada pelo imaginário da Modernidade.
No seu conhecido texto, Ariès (1981) afirma que o sentimento de infância foi sendo organizado a partir do século XVII, em conjunto com as mudanças sociais, econômicas e políticas por quais passavam as diversas regiões da Europa naquele momento. Para esse autor, no pe-ríodo anterior, “a duração da infância era reduzida a seu período mais frágil, enquanto o filhote do homem ainda não conseguia bastar-se; a criança então mal adquiria algum desembaraço físico, era logo mistura-da aos adultos e partilhava de seus trabalhos e jogos”. (Ibidem, p. 10).
Para ele a tríade família, educação escolar e infância im-bricam-se na emergência desse sentimento. A elaboração de um sentido de infância, a organização da família são acompanhadas por um modelo de escola que se torna, no início do mundo Moderno, “um meio de isolar cada vez mais a criança durante um período de formação tanto moral como intelectual, de adestrá-la graças a uma disciplina autoritária, e, deste modo, separá-la da sociedade dos adultos”. (ARIÈS, 1981, p. 165)
Anterior a esta visão moderna de educação escolar a aprendi-zagem se dava na convivência da criança ou do jovem com o adulto, não havendo um controle da família sobre os valores e conhecimentos a serem transmitidos ou adquiridos pelas crianças e jovens, aprendia-se ajudando o adulto. As escolas existiam, mas não havia separação de alunos por idade; velhos, jovens e crianças dividiam o mesmo espaço sem gradação de currículo. A idade para alunos iniciantes girava em torno dos 10 anos, estes geralmente moravam com o mestre em regime de pensão, cujos contratos eram uma espécie de contrato de aprendi-zagem. Como não era dada importância à idade, poder-se-ia aprender em qualquer idade; não causando estranheza a ninguém o fato de que diferentes idades e gerações estivessem num mesmo cenário escolar.
71
A criança e seus diferentes nomes: adjetivações no discurso histórico
Educ. foco, Juiz de Fora,v. 13, n. 2, p. 67-89, set 2008/fev 2009
Ariès postula ainda que o movimento de reformas e mo-ralização ligadas, tanto às instituições religiosas quanto ao Estado, só foram possíveis devido à “cumplicidade sentimental da família”, pois esta tornou-se lugar de afeição entre seus membros principal-mente dos pais pelos filhos, o que se exprimiu através da importân-cia dada à educação. Isso teve conseqüências na reprodução e em seu controle, questão já observável no século XVIII, uma vez que, para melhor cuidar da criança e de sua educação, era necessário reduzir o número de filhos. No século XIX, já não há mais resquí-cios da vida social do adulto misturada à da criança, a vida social da criança gira em torno da família e de sua educação.
A partir da publicação das teses postuladas por Ariès, mui-tos outros textos surgiram, concordando ou discordando de suas ideias. Postman (1999) compartilha da ideia de um sentido de in-fância construído no bojo da Modernidade, porém irá associar estas mudanças ao surgimento da tipografia e trará a prática da leitura e escrita como um dos divisores entre o mundo adulto e o da criança. A invenção da imprensa e a proliferação de livros marcam uma se-paração entre os que sabem ler e escrever, mundo adulto; e os que não o fazem, mundo da infância, materializando na prática mais um traço social que institui essas duas realidades.
Assim vários fatores vão estruturando um modelo ideal de infância construída na ótica da burguesia que se estruturava como força ideológica dominante. Segundo Lopes (2003), todas as crianças, que não se enquadram no modelo de infância burguês, acabam sendo rotuladas como crianças-problema e também suas famílias que, ao não se organizarem no modelo padrão, não pos-suírem residências adequadas, nem acesso à informação (livros, revistas, jornais...) e outros, são incapazes de cuidar da entrada dos seus filhos no “mundo adulto” (LOPES, 2003). E aí, entram em cena os outros atores sociais, para Perrot (apud KUHLMANN JR, 1998, p. 25), “quando a família é pobre e tida como incapaz, insinuam-se como terceiros filantropos, médicos e estadistas que pretendem proteger, educar e disciplinar seus filhos”.
Na interface dessas dimensões, acaba sendo produzido um conjunto de nomenclaturas, de nomeações, organizado por aqueles que não vivem essa realidade, nem esse segmento social, mas trazem essa infância diferenciada do projeto burguês em seus discursos, ao utilizarem expressões como: meninos de rua, menores carentes, crian-ças com difi culdades de aprendizagem e outras.
72
Ana Lúcia Adriana Costa e Lopes
Educ. foco, Juiz de Fora,
v. 13, n. 2, p. 67-89, set 2008/fev 2009
Os sujeitos se tornam uma construção da realidade, à me-dida que são nomeados por outros sujeitos através da linguagem, pois “o sujeito é social desde que nasce, constitui-se sempre em relação a outros, mediado pelas significações sociais de seu mun-do... sujeito e mundo não são entes independentes e sim se cons-tituem um ao outro.” (EDWARDS, 1998, p.14).
No Brasil, desde o início da colonização as crianças trazem nas diferentes nomeações o conceito subjacente que se faz delas ou da infância naquele período histórico. Acreditando nesses pressupostos, partiremos das nomeações para traçar um caminho de análise sobre a visão da infância no Brasil, deixando claro para o leitor que a cronolo-gia será preterida em função destas nomeações, num breve apanhado de alguns períodos históricos.
Grumetes, pagens, e órfãs do Rei: Os miúdos da expansão marítima
Os miúdos, assim eram chamadas as crianças que embarca-vam para o início do povoamento das terras do Brasil, a partir de 1530. Segundo RAMOS (1999, p. 19), as crianças subiam a bordo somente na condição de grumetes, pajens, como órfãs do Rei ou, mais raramente, como passageiros embarcados em companhia dos pais ou de algum parente. Mas quem eram esses miúdos? Por que recebiam diferentes nomeações?
Os grumetes eram crianças entre 09 e 16 anos, recrutadas entre as famílias pobres da área urbana ou eram órfãos desabriga-dos. No caso dos primeiros, a possibilidade de aumentar a renda familiar, uma vez que os pais recebiam um soldo, tornava-se uma oferta tentadora para quem não sabia se seus filhos, ficando em ter-ra, não morreriam de doenças ou inanição. Tais atitudes se justifica-vam pela realidade do momento, já que nessa época a mortalidade infantil era alta e as expectativas de vida das crianças portuguesas geralmente não passavam dos 14 anos, o que demonstrava a dura rotina das famílias e crianças menos favorecidas economicamente.
Isto fazia com que principalmente entre os estames mais baixos da sociedade as crianças fossem consideradas como pouco mais que animais, cuja força de trabalho deveria ser aproveitada enquanto durassem suas curtas vidas. (Ibidem, p. 20).
73
A criança e seus diferentes nomes: adjetivações no discurso histórico
Educ. foco, Juiz de Fora,v. 13, n. 2, p. 67-89, set 2008/fev 2009
O rapto de crianças judias também era uma forma de recru-tamento. O método cruel significava, simultaneamente, um meio de obter mão-de-obra e de manter sob controle o crescimento da população judaica em Portugal.
Os grumetes realizavam os trabalhos mais perigosos e pesados das embarcações e tinham as piores acomodações e alimentação. En-tregues a um cotidiano difícil e cheio de privações, essas crianças viam-se rapidamente obrigadas a largar o universo infantil para enfrentar a realidade da vida adulta (Ibidem, p. 27).
Os pajens, diferentemente dos grumetes, provinham de setores médios urbanos, de famílias protegidas pela nobreza ou da baixa nobreza, pois estas viam na expansão marítima a pos-sibilidade de ascensão social de seus filhos. Seus serviços eram mais leves e, geralmente, atuavam junto aos oficiais, o que lhes dava diversas vantagens, inclusive de alimentação; raramente eram castigados, o que era comum para os grumetes e ainda tinham poder sobre esses.
Se muitos meninos embarcavam por vontade de seus fa-miliares ou por vontade própria, assim como os judeus, as meni-nas órfãs e pobres eram levadas contra sua vontade e nomeadas como órfãs do Rei. Tinham entre 14 e 30 anos, porém dava-se preferência às menores de 17, que eram enviadas às colônias portuguesas para constituírem família. A travessia era difícil para os adultos, quiçá para os miúdos.
Assim as crianças que chegavam ao Brasil não eram ain-da adultos, mas eram tratadas como se fossem. Traziam já essas crianças uma herança de pobreza, conheciam a hierarquia social e não havia para com elas nenhum sentimento de proteção ou cuidado, mas sim de exploração. Sim, eles eram miúdos frente a um mundo que não se compadecia com seu sofrimento, pois combater o universo adulto desde o início seria tentar vencer uma batalha que já estava perdida. (Ibidem, p. 49)
Nesse momento já podemos perceber as diferentes adje-tivações que estão presentes nos discursos que nomearam essas crianças e figuram, não só no contexto da colônia e da metrópole, mas também se fizeram presentes nos registros e documentos de época: grumetes, pajens, miúdos. Na base de suas diferenças está a condição social e econômica de suas famílias, para cada nome um lugar nas embarcações, para cada nome uma realidade vivida na tra-vessia marítima, para cada nome um papel na empresa colonial.
74
Ana Lúcia Adriana Costa e Lopes
Educ. foco, Juiz de Fora,
v. 13, n. 2, p. 67-89, set 2008/fev 2009
Curumins e órfãos: os pequenos da colônia
A sociedade colonial instalada no Brasil tinha um modelo agroexportador, fundamentado na produção de produtos primários que eram destinados à Metrópole. A estrutura social era formada pe-los senhores latifundiários, donos de engenhos e escravos. O sistema de poder representado pela família patriarcal favoreceu a importação de formas de pensamento da cultura européia. Como nesse momen-to a escola não servia como reprodução de força de trabalho, serviu como reprodução das relações de dominação e de suas ideologias, papel que foi desempenhado pelos Jesuítas (ROMANELLI, 2003).
Os portugueses, desde o século XII, eram pioneiros na em-presa de expansão marítima e, no século XV, procuravam lugares onde não houvesse concorrência, como a costa ocidental da Áfri-ca, o Oriente. A colonização brasileira acabou fazendo parte desse contexto. O principal objetivo dessa empreitada era o lucro, e a função da população da colônia era promovê-lo para a metrópole. Segundo Ribeiro (1998), a organização escolar no Brasil não pode-ria deixar de estar estritamente ligada à política colonizada.
Em 1549, desembarcavam em Vila Velha quatro padres e dois irmãos da Companhia de Jesus sob a liderança do padre Manuel da Nóbrega. Entre as várias funções, estava as de ensinar a ler e fazer orações aos pequenos. Umas das primeiras preocupações dos Jesuítas era, além da conversão do “gentio”, o ensino das crianças. A preocu-pação era tamanha que estava expressa no regimento do Governador Tomé de Sousa, no qual o rei determinava que “aos meninos porque neles imprimirá melhor a doutrina, trabalhareis por dar ordem como se façam cristãos” (CHAMBOULEYRON, 1999, p. 53).
Havia outras ordens que também tiveram papel importante na conversão dos Curumins, como eram chamadas as crianças in-dígenas, e no ensino dos filhos dos portugueses, mas a Ordem dos Jesuítas aos poucos foi se transformando em uma ordem docente que “orientou seus esforços no sentido de se ocupar da formação”, não só dos seus próprios membros, mas também da juventude, o que correspondia “ao desejo de formar jovens nas letras e virtude, a fim de fazê-los propagar eles mesmos no mundo onde vivessem, os valores defendidos pela companhia” (Ibidem, p. 56).
Como a Companhia de Jesus se contrapunha ao avanço da Reforma Protestante, demonstrou um apego pelas formas dogmá-ticas de pensamento, revalorização da escolástica e uma educação
75
A criança e seus diferentes nomes: adjetivações no discurso histórico
Educ. foco, Juiz de Fora,v. 13, n. 2, p. 67-89, set 2008/fev 2009
literária e humanística. Assim, seu ensino era alheio à realidade da vida da Colônia, uniforme, neutro e sem qualificação para o traba-lho, servia às classes dominantes, pois não perturbava a estrutura vigente. Seu principal objetivo era a catequização da população in-dígena, papel que se estendia aos filhos dos colonos. Preparavam ainda os servidores para o sacerdócio e, nos colégios que fundaram ensinavam Letras, Ciências Humanas e Teologia.
Nessa conjuntura, podemos ver que todas as representa-ções sociais da época passavam pela religião, tendo como discur-so a conversão à fé católica e a educação humanística.
Assim, a educação era um fator importante, mas como meio de se catequizar, pois esses missionários acreditavam, como a maior parte do mundo europeu dessa época, que o cristianismo era a única religião verdadeira e que seu objetivo na colônia era civilizar os habitantes, não por meio do conhecimento em si, mas por meio de um conhecimento que os levasse a alcançar o reino dos céus.
A consolidação da Companhia Jesuítica enquanto formadora vai se estruturando na relação que se estabelece entre os jesuítas e os moradores do Novo Mundo. Conquanto essa relação tenha se estru-turado neste convívio não se pode ignorar que nesse momento estava se concebendo um novo olhar para a infância no Velho Mundo:
resultados da transformação nas relações entre indivíduo e grupo, o que ensejava o nascimento de novas formas de afetividade e a própria “afirmação do sentimento de infância” na qual Igreja e Estado tiveram um papel fun-damental. Neste sentido foi também esse movimento que fez a Companhia escolher as crianças indígenas como o papel blanco, a cera virgem em que tanto se desejava es-crever; e inscrever-se. (Ibidem, p. 59)
A educação escolarizada servia à pequena nobreza que necessitava de mão-de-obra sem custos e, consequentemente, aos interesses da metrópole. Conquanto fossem os indígenas e principalmente os curumins o alvo dos padres para essa educa-ção, foi necessário incluir os filhos dos colonos, pois os Jesuítas eram os únicos educadores de profissão e recebiam subsídios para fundar colégios, desde que formassem gratuitamente sacer-dotes para a catequese.
Padre Manuel da Nóbrega elaborou, então, um plano edu-cacional e planejou os Recolhimentos nos quais se educaria índios
76
Ana Lúcia Adriana Costa e Lopes
Educ. foco, Juiz de Fora,
v. 13, n. 2, p. 67-89, set 2008/fev 2009
mestiços e os órfãos, além dos filhos dos colonos brancos em regime de externato.
Não tinha inicialmente, de modo explícito, a intenção de fazer com que o ensino profissional atendesse à população indígena e o outro à população branca exclusivamente (pos-teriormente). Nota-se que a orientação contida na Ratium concentra sua programação nos elementos da cultura euro-péia. Evidencia desta forma um desinteresse ou a constata-ção da impossibilidade de “instruir” também o índio.Era necessário concentrar pessoal e recursos em pon-tos estratégicos, já que aqueles eram reduzidos. E tais pontos eram os filhos dos colonos em detrimento do índio, os futuros sacerdotes em detrimento do leigo, justificam os religiosos. (RIBEIRO, 1998, p. 22)
Esse último apontamento demonstra que os colégios jesuítas constituíam-se como instrumento de formação da elite colonial.
Os padres foram percebendo a dificuldade de evangelização dos nativos adultos que se convertiam mais por medo do que por acreditarem na fé cristã, e reforçava-se a ideia de que a criança se converteria mais facilmente, sendo o caminho para a evangelização e conversão do gentio. Acreditava-se que ocorreria algo que o Padre Nóbrega em suas cartas chamava de “substituição das gerações”: os meninos, ensinados na doutrina, em bons costumes, sabendo falar, ler e escrever em português terminariam “sucedendo a seus pais”.
Entretanto, a cera virgem não se mostrou tão fácil de imprimir, já que para os padres o mais difícil era manter os na-tivos nos bons costumes. O ensino dos curumins prosperava, como mostra a carta Anua de 1583, abriam-se mais escolas e aumentava o número de frequentadores. Porém os padres rece-avam que, uma vez passada a infância, o aluno esquecesse o que havia aprendido e voltasse aos costumes dos índios. Duas situ-ações que propiciavam esse acontecimento eram o nomadismo dos pais, que carregavam a criança consigo quando partiam, e a puberdade que levava os índios a terem práticas consideradas abomináveis pelos padres, como bebedeira e mulheres.
Esses problemas levavam os padres a uma evangelização pelo temor, que passava por um rígido sistema de disciplina com vigilância, delação e castigos corporais.
77
A criança e seus diferentes nomes: adjetivações no discurso histórico
Educ. foco, Juiz de Fora,v. 13, n. 2, p. 67-89, set 2008/fev 2009
Outra dificuldade de evangelização era a falta de domínio da língua falada pelos nativos. Tamanha importância tinham as estraté-gias que permitissem tanto o aprendizado dos indígenas como dos filhos dos portugueses, que os Jesuítas faziam arranjos para que toda dificuldade fosse sanada. Uma delas foi trazer jovens órfãos de Por-tugal onde juridicamente essas crianças eram consideradas desvalidas, nome que quer dizer “desprotegidas” ou “sem valor”. Pensava-se que estes seriam capazes de aprender facilmente a língua dos curumins, e assim, pudessem ensinar-lhes o latim e a doutrina da igreja católica.
Porém, como demonstram as palavras de Anchieta, ao falar da chegada, em 1550 ao Brasil de dez a doze órfãos, tal iniciativa não propiciou bons resultados que os chama de “um bando de moços perdidos, ladrões e maus, que aqui chamam de patife”. Isso porque, escreve ele, “em pouco tempo, assedia-dos pelas Índias, não resistiram à tentação, fugindo com elas”. Solicitou, enfim, na mesma carta que fossem enviados para cá jovens que tivessem “boas qualidades”, para serem irmãos e atu-arem como intérpretes do latim ajudando assim na conversão do “gentio e infiéis”. (LEITE, 2001, p. 10)
Os pedidos do padre Anchieta foram atendidos, já que nem todos os órfãos eram “patifes” e esses meninos de “boas qualidades” se transformavam em doutrinadores e catequizado-res. Junto com os padres percorriam as aldeias e faziam pregações, resolvendo o problema de falta de religiosos para dar conta de missão tão grande. Para esses órfãos foi criada uma casa com o auxílio de Tomé de Souza. Segundo Leite (2001), foi para abrigar esses meninos bonzinhos que os padres inacianos fundaram os primeiros colégios internos, construindo de imediato duas casas: uma para menina e uma para meninos.
Aqui, mais uma vez marcam-se as diferenças das crianças a partir de suas nomenclaturas: às crianças nativas dão-se o nome de curumins, essas devem ser convertidas ao catolicismo e empregados todos os esforços (inclusive físico) para que essa conversão não desapareça na medida em que se adentra na vida adulta. Aos jovens órfãos couberam duas nomenclaturas: patifes e pequenos de Jesus. Aos primeiros a infância desvalida teve o sentido de sem valor, me-ninos que não prestavam e, segundo Anchieta, caíam em qualquer tentação. E os pequenos de Jesus encarnavam os meninos de boas qualidades que eram desprotegidos, para quem foi criado um lugar para a sua proteção. Aos patifes que fugiram podemos ainda inferir
78
Ana Lúcia Adriana Costa e Lopes
Educ. foco, Juiz de Fora,
v. 13, n. 2, p. 67-89, set 2008/fev 2009
que foram os primeiros meninos de rua do Brasil, enquanto os pe-quenos de Jesus foram as primeiras crianças recolhidas, inaugurando, nas palavras de Leite (2001, p. 19) “uma política de recolhimento de menores que vigorou até 1990 - por quase cinco séculos”.
Nhonhôs, „Muleques‰ e Gente de Cor no contexto escravocrata
Segundo Scarano (1999), no século XVIII, não há interesse em se relatar como viviam os escravos e pobres na correspondência entre Lisboa e o Brasil, pois estes não acrescentavam nos assuntos políticos e econômicos e só eram citados, caso houvesse, perigo de revoltas ou problemas. Assim, a documentação oficial pouco informa sobre crianças e, se informa, é porque estão envolvidas em atitudes marginais. Porém, a falta de referências não significa que não lhe dessem valor, ela era “a continuação da família, gozavam de afeto dos seus, participavam dos acontecimentos e das festas, enfim tinha presença na vida do momento.” (Ibidem, p. 110)
Se compararmos o que nos relata Ariès (1981) sobre a vida da criança na Europa, antes do período que esse autor deli-mita para a invenção da infância, veremos as semelhanças sobre a vivência da criança entre os adultos, em que as crianças transi-tavam pelas ruas e cidades, pois não eram separadas do mundo adulto. O mesmo se dava com as crianças escravas, que circulavam tanto pela senzala como pela casa de seus donos, participando da vida dos seus filhos, muitas vezes servindo de distração para as mulheres ou de brinquedos para os filhos dos senhores. Meninos brancos recebiam amas africanas que lhes faziam todo tipo de mi-mos. Quando cresciam, recebiam um companheiro de brincadeira: o muleque que servia de brinquedo, enquanto o dono, o nhonhô, divertia-se com as brincadeiras geralmente maldosas e repetições dos castigos impostos aos escravos adultos. A nomeação atrela a idade ao trabalho, o escravo adulto deveria ter mais de quinze anos, os abaixo desta idade, o muleque, traz uma designação de um campo restrito de trabalho, tendo por isso menor valor.
As crianças que nasciam escravas não serviam de reposição para outros escravos, pois isso levava anos, maior importância era dada às suas mães, que serviam de amas de leite para os nhonhôs, atitude considerada importante tanto pela igreja como pela medici-na vigente. O filho das escravas muitas vezes era prejudicado pela
79
A criança e seus diferentes nomes: adjetivações no discurso histórico
Educ. foco, Juiz de Fora,v. 13, n. 2, p. 67-89, set 2008/fev 2009
falta do alimento e abandonado com outros membros mais idosos para servir os donos. A hierarquia se mantém: privilégio de uns em detrimento de outros.
Crianças filhas de escravos com escravos nascidos no Brasil eram chamadas de crioulos, porém, “gente de cor” era o nome com o qual se agrupavam crianças nascidas de brancos com pessoas de outra etnia (Ibidem, p. 113), que podiam ser designadas de cabra, mestiço, mulato ou pardo. Este grupo tornou-se ascendente não só em população, mas também em características culturais, e sua clas-sificação dependia da situação social da criança. Se esta fosse aceita pelos pais, podiam ser aceitas como brancas. Independente de se-rem escravas ou livres, estas crianças eram batizadas. A igreja jul-gava isso tão indispensável que o batismo ocorria independente da vontade dos pais e deles podiam ser separadas se após os sete anos de idade estes quisessem afastá-la dos preceitos da igreja católica. A igreja enxergava esta idade como o início da idade da razão.
Em contradição à visão do escravo enquanto mercadoria, dar à criança de cor um batismo significava entendê-la como al-guém que “tinha alma e capacidade para o discernimento”. Porém essa ação não avalizava só a idade da razão, ela permitia que a criança, se escrava, fosse separada de seus pais e vendida, mas nes-sa idade, como dissemos anteriormente, ela só seria vista como fonte de distração ou brinquedo ou para fazer pequenos serviços, como carregar coisas ou abanar o seu senhor.
As relações entre negras e homens brancos geraram inú-meras críticas e filhos ilegítimos. Críticas porque não se via com bons olhos o reconhecimento desses filhos, uma vez que o enten-dimento era de que um branco, ao assumir uma criança mestiça, estava lhe dando posse do que pertencia aos brancos. Além disto raramente um branco se casava oficialmente com uma negra, o que os mantinha na situação de concubinato. A outra crítica se referia à quantidade de pessoas a “integrar outra categoria populacional: não eram brancos e nem africanos ou seus descendentes. Logo foram vistos como um grupo a parte, gerando o desfavor dos habitantes das vilas (...) que se consideravam brancos e constituíam a categoria dos favorecidos” (SCARANO, 1999, p. 120).
Contudo, essa nova categoria, com ou sem recurso, não gostava de ser associada aos escravos e, sempre que possível, busca-va se associar aos brancos. Essas crianças quando já com idade para acompanhar pais, padrinhos ou outros que eram artesãos, podiam
80
Ana Lúcia Adriana Costa e Lopes
Educ. foco, Juiz de Fora,
v. 13, n. 2, p. 67-89, set 2008/fev 2009
aprender o ofício e, posteriormente, ter um lugar privilegiado nessa sociedade. Podemos perceber que entre o muleque e o nhonhô o lugar de cada um no discurso se institui a partir da hierarquia social do dominante sobre o dominado. Porém, entre pardos e mestiços, vemos surgir um outro lugar no discurso, aquele que se diferencia tanto do negro quanto do branco e estabelece uma outra hierarquia, pois o mulato pardo ou mestiço pode ora ser considerado branco, ora considerado negro ou nenhum dos dois, mas outro que desses se constitui. A criança aparece como aquela que não participa do universo crioulo, mas que também não é aceita pelo universo do homem branco. Na discursividade, ela transita, e se nomeia: nem branca, nem negra, mas gente de cor.
Crianças „anormaes‰ e „creanças difficeis‰: O foco da Higiene
Se há um lugar onde o discurso sobre a infância e as no-meações se encontram e trazem uma visão das várias áreas como a jurídica, médica, psicológica e pedagógica que convergem em um mesmo princípio: da infância enquanto profilaxia, este lugar é no cenário histórico localizado no fim do século XIX, na Repúbli-ca. Patto (1999) sinaliza que não podemos deixar de negar a exis-tência de um movimento higienista entre 1889 e 1930, movimento que não adveio apenas da necessidade de diminuir o atraso frente aos países civilizados e deles fazer parte. A República começa a atuar com um pensamento xenofóbico, racista e moralista que esconde, atrás da prevenção, uma proposta de aprimoramento e branqueamento do povo brasileiro que não vinha da crença na igualdade entre as raças, mas da necessidade de exclusão do negro como condição para o progresso social. Os pobres também esta-vam incluídos no discurso de inferioridade que era compartilhado nos meios científicos, e estes eram adjetivados como “vadios” e “incapazes” até “simiescos” e “criminosos”. (Ibidem, p. 3)
Temos aqui o que Veiga (2004) nos aponta na criança como um sujeito que deve ser civilizado, para possibilitar um de-senvolvimento. É a partir desse objetivo da visão da criança, um “pré-cidadão”, que os psiquiatras, juristas, educadores incluem a questão infantil nos seus projetos, passando a considerar crucial a necessidade de cuidados desde a mais tenra idade.
81
A criança e seus diferentes nomes: adjetivações no discurso histórico
Educ. foco, Juiz de Fora,v. 13, n. 2, p. 67-89, set 2008/fev 2009
Para estes cuidados utilizavam-se de modelos “científi-cos”, reproduzidos dos países europeus e americanos, que eram considerados exemplos de países civilizados. Esse pensamento se dava em todos os âmbitos e nas reformas educacionais também. Porém “cientifizar a educação significava principalmente psico-logizá-la, transformar os conhecimentos psicológicos em regras pedagógicas.” (NAGLE apud PATTO, 1999, p. 5)
A entrada dos princípios higienistas na escola é respal-dada por médicos que queriam a vigilância sanitária dos prédios escolares, dos professores e alunos e a identificação antecipada das “anormalidades” infantis; por juristas que viam a instituição como prevenção e cura da criminalidade infantil e pelos educado-res para quem a escola, nas palavras de Azevedo transcritas por Patto (1999), “seria um laboratório social de trabalho, disciplina patriotismo, cooperação e solidariedade organizados em bases científicas, lugar de construção do homem novo exigido pela or-dem urbano-industrial nascente.” (Ibidem, p. 5)
Tendo em vista esse panorama podemos nos concentrar em profissionais como médicos psiquiatras, médicos-pedagogis-tas, psiquiatras-escolares, médicos-escolares e no que se chamava de profilaxia mental. Destinava-se às “crianças anormaes” para dar-lhes tratamentos diferenciados que pudessem evitar o crime e, ainda dentre essas “crianças anormaes”, estariam as crianças que não respondiam aos conteúdos escolares da forma esperada que eram nomeadas de “cabeças duras” e “idiotas”. Havia ainda as “creanças difficeis” classificação da Psicologia Mórbida que vinha dos estudos franceses em que estas se distinguiam pela desatenção e pela instabilidade ou eram apáticas ou agressivas e não se porta-vam de acordo com o esperado pela família ou escola.
Cabia a esses médicos “a concretização de um olhar vigilante e minucioso, que examinaria permanentemente as crianças e as cons-tituiria como normais ou anormais corrigíveis ou incorrigíveis” (...) Validava-se um olhar médico “sobre a população escolar e punha o entendimento dos problemas de escolarização das crianças das classes populares na chave da doença física e mental. (PATTO, 1999, p. 13)
A nomeação nesse contexto recebe filiação das diversas áreas, “enjeitados”, “expostos”, “abandonados delinquentes”, “psicopatas criminosos”, “histéricos”, “tarados”, “idiotas”, “im-becis”, “apáticos”, “agressivos” e extensa classificação para crian-ças consideradas “anormaes”, “difficeis”, apoiada no compêndio médico que se contrapõe a um único termo: normal.
82
Ana Lúcia Adriana Costa e Lopes
Educ. foco, Juiz de Fora,
v. 13, n. 2, p. 67-89, set 2008/fev 2009
Criança ou Menor: uma distinção jurídica
A chegada a uma visão jurista da criança com a fundação de um juizado de menores em 1923, e posteriormente o surgimento do primeiro Código de Menores em 1927, são ações que mostram uma condensação de fatores históricos que vinham ocorrendo desde as primeiras décadas de 1800 em debates médicos em que a criança não estava dissociada dos problemas sociais mais amplos. Do pon-to de vista jurídico as questões residiam, inicialmente, na questão da responsabilidade penal aos 14 anos. Porém os problemas sociais como a pobreza, mendicância e a escravidão urbana, em meados do século XIX, trouxeram a discussão da infância para outras ins-tituições e para o legislativo que passou a encarar a criança como um problema social. Assim, menores descendentes de escravos li-bertos, estrangeiros e pobres se tornaram o foco não só de médicos e psicólogos como também de políticos, advogados e filantropos. Estes associavam as famílias dos setores populares à ignorância, ao vício e abandono, acusando-os, muitas vezes, de “incapazes” no que diz respeito à educação e a formação de suas crianças:
Como alternativa os reformadores, homens públicos e fi-lantropos propunham entre outras iniciativas, a fundação de escolas públicas, asilos, creches, escolas industriais e agríco-las de cunho profissionalizante, além da criação específica de uma legislação para menores. Buscava-se também inserir nas práticas jurídico-policiais um tratamento especial, incluindo o estabelecimento de casas de correção, Educandários e Re-formatórios para os chamados “menores, abandonados e delinqüente”. (MARTINEZ, 1997, p. 25)
Ao definir a criação de escolas, creches e asilos, ao mesmo tempo em que se fala de reformatórios e casas de correção, po-demos perceber que não serão as mesmas crianças que habitaram esses lugares. Martinez aponta que as famílias de parcos recursos eram assistidas pela medicina e pelas políticas de instrução públi-ca, enquanto ao menor abandonado e delinqüente caberia a assis-tência jurídica, questão que se legitima mais tarde com a já citada criação do Juizado de Menor.
Menor e criança deixam, então, de ter conotações sinô-nimas, como nos coloca Rezzini (1993): “Verificamos que, na
83
A criança e seus diferentes nomes: adjetivações no discurso histórico
Educ. foco, Juiz de Fora,v. 13, n. 2, p. 67-89, set 2008/fev 2009
produção teórica do juízo, os autores dirigem-se à criança e ao adolescente, entendidos como o sujeito que tem necessidades psi-cológicas, afetivas, físicas, educacionais, morais, sociais e econô-micas”. Porém, ao referir-se ao termo menor a autora nos alerta que este ultrapassa a concepção jurista do termo que seria o sujei-to inferior a 18 ou 21 anos:
menor é aquele que, proveniente de família desorgani-zada, onde imperam os maus costumes, a prostituição, a vadiagem, a frouxidão moral e mais uma infinidade de características negativas, tem sua conduta marcada pela amoralidade e pela falta de decoro, sua linguagem é de baixo calão, sua aparência é descuidada, tem muita doen-ça e pouca instrução, trabalha nas ruas para sobreviver e anda em companhias suspeitas. (Ibidem p. 96)
A criação do Código de Menores marca uma política de regulamentação da infância como forma de prevenção e recu-peração de menores considerados delinqüentes e reforça uma política de atendimentos e recolhimentos de crianças em insti-tuições onde o Juiz de Menores detém o poder. As justificativas para o internamento de crianças e jovens muitas vezes se funda-mentavam no diagnóstico médico-jurista e lhe era atribuída uma personalidade normal ou patológica.
O objetivo principal era combater o indivíduo perigoso com tratamento médico acompanhado de medidas jurídicas, para esta vertente interpretativa a personalidade do “criminoso era considerada tão importante quanto o ato criminal e por isso o infrator deveria ser internado para, no futuro, vir a ser reintegrado socialmente. (PASSETTI, 1999, p. 357)
Estas políticas de cunho repressivo se mantêm até 1940,
quando a promulgação do novo código penal trouxe à tona a dis-cussão para uma atualização do código de menores que lhe confe-risse um caráter mais social do que punitivo. Neste contexto criou-se o Serviço de Assistência ao Menor - SAM. Esse órgão recebeu críticas por sua atuação e inúmeras denúncias. Nas décadas de 1940 e 1950 vinham ocorrendo debates que visavam ao estabelecimento de um atendimento mais adequado às crianças e jovens, porém es-tes foram interrompidos pelo golpe militar de 1964.
84
Ana Lúcia Adriana Costa e Lopes
Educ. foco, Juiz de Fora,
v. 13, n. 2, p. 67-89, set 2008/fev 2009
Durante o regime militar, foi criada a Fundação Nacional do Bem Estar do Menor - FNBEM e as Fundações Estaduais do Bem Estar do Menor - FEBEMs como uma política de bem estar do me-nor (MARTINEZ, 1997). Adotou-se uma visão “biopsicossocial” para “romper com a prática repressiva anterior, criando um sistema que considerasse as condições materiais de vida dos abandonados, caren-tes e infratores, seus traços de personalidade”, além de serem observa-dos também “o desempenho escolar, as deficiências potenciais e as de crescimento”. Os menores agora tomavam um caráter de moradores de periferia, pertencentes a famílias desestruturadas, com pais desem-pregados e migrantes e que não tinham noções da vida em sociedade. “A nova política de atendimento organizada para funcionar no âmbito nacional pretendia mudar comportamentos não pela reclusão, mas pela educação em reclusão”.(PASSETTI, 1999, p. 367)
Essa “nova” concepção passa a relacionar a criança pobre à delinqüência e, em 1979, o Novo Código de Menores reafirma essa concepção, ao caracterizar uma série de situações chamadas de “risco”, que necessitaria de uma ação e intervenção do Estado pelo judiciário. O código se revela uma versão melhorada do de 1927, substitui termos como “menor exposto”, “menor infrator” e “me-nor delinqüente” por “menor carente” e “menor de conduta anti-social”, além de buscar expressar que o menor era uma vítima da sociedade e que deveria ser tratado e não punido, “assim como eles não eram presos, mas ‘internados’; não eram punidos mas ‘protegi-dos’, educados ou reeducados; não eram acusados, mas ‘encaminha-dos’ como nos coloca Silva (apud RODRIGUES, 2001, p. 39). No entanto, independente da mudança de termos, o menor continuava sendo apreendido e retirado de seu grupo para ser colocado em instituições que, sob o signo da educação na reclusão, privava estes de seu convívio na sociedade e de sua liberdade e muitas vezes, ao invés de tirá-los da marginalidade levava-os ao encontro dela:
“o mundo do prisioneiro não existe como algo separado do mundo marginal, ele se comunica com o mundo dos cidadãos livres por meio das ilegalidades, interceptações e exclusões(...)o internato em vez de corrigir, deforma.” (PASSETTI, 1999, p. 357)
Assim podemos perceber que, desde as navegações até a dé-cada 70 do século XX, há uma continuidade da difusão de discursos voltados para a prevenção e repreensão da possível criminalidade
85
A criança e seus diferentes nomes: adjetivações no discurso histórico
Educ. foco, Juiz de Fora,v. 13, n. 2, p. 67-89, set 2008/fev 2009
dos estratos excluídos da sociedade e a classificação das crianças re-lacionada a sua condição social, sua etnia, sua cultura prosseguiu se desdobrando de acordo com os feixes ideológicos que atravessam os diferentes períodos históricos.
A abertura democrática da década 1980, a contestação da estigmatização do menor, a denúncia do preconceito existen-te nas situações “de risco” e, posteriormente, a aprovação do es-tatuto da criança e do adolescente em 1990, estudos da infância e a legitimização da visão dos sujeitos da infância e adolescência como sujeitos de direito nos levam a repensar os nomes dados a seus atores sociais, mas não impedem que os sentidos que fo-ram construídos historicamente deixem de circular no universo social. Segundo Kuhlmann (2004 p. 30):
A modernidade faz da denominação infância um guarda-chuva a abrigar um conjunto de distribuições sociais, re-lacionadas a diferentes condições: classes sociais, grupos etários, os grupos culturais, a raça, o gênero: bem como diferentes situações: a deficiência, o abandono, a vida no lar, na escola (a criança e o aluno) e na rua (como espa-ço de sobrevivência e/ou de convivência/brincadeira). É nessa distribuição que as concepções de infância se amol-dam às condições específicas que resultam na inclusão e na exclusão de sentimentos, valores e direitos.
Considerações finais
Ao lançarmos um olhar sobre em que contexto se situa a infância, mais especificamente a infância excluída no Brasil, atra-vés das nomeações de crianças que aparecem no discurso histórico, podemos constatar que, estas carregam, implícito, nas diferentes denominações, o lugar que cada qual deve ocupar.
BLIKSTEIN (2003, p. 46) ao abordar a questão do discur-so produzido, fala de um “referente ilusório”, num primeiro plano, enquanto no nível mais profundo do intertexto outro referente está em questão”. O que este autor quer dizer é que, por trás de um fato ou de um discurso em questão pode estar outro implícito. Situação que pode ser percebida ao analisarmos a historiografia oficial que nos apresenta um discurso unívoco, monológico e totalitário, levando-nos a crer que esta é a única maneira de conceber os fatos e a nossa própria história, pois
86
Ana Lúcia Adriana Costa e Lopes
Educ. foco, Juiz de Fora,
v. 13, n. 2, p. 67-89, set 2008/fev 2009
“(...) este discurso é aquele que abafa as vozes dos per-cursos em conflito em que se perde a ambiguidade das múltiplas posições, em que o discurso se cristaliza e se faz discurso da verdade única absoluta e incontestável”. (BARROS, 2003, p. 6).
Porém, se este mesmo discurso constrói uma história e nos imprime um passado, nele estão presentes também em suas “dobras” e “rugosidades” situações que nos desvelam os seus reais propósitos, o que pode ser percebido ao analisarmos os diferentes nomes dados à criança.
Para as crianças portuguesas originárias de famílias pobres, o mundo do trabalho era uma das poucas saídas para sua sobrevi-vência e de seus próprios pais. Crianças de nove anos consideradas aptas para trabalho pesados e perigosos nas embarcações; meninos tratados como animais, e, na pior das hipóteses, como adultos; me-ninas de doze anos consideradas prontas para o casamento, cobi-çadas como se fossem mulheres adultas; a exploração do trabalho infantil em substituição da mão-de-obra adulta, que se tornou im-prescindível para a expansão marítima. Nestas condições, porém, sua perda não trazia qualquer sentimento de pesar, pois neste mun-do não havia ainda lugar para um sentimento de infância.
No caso da colônia o discurso oficial era catequizar e ins-truir os índios, sendo o primeiro mais importante que o segun-do, pois os instruídos seriam os descendentes dos colonizadores numa manutenção da estrutura vigente. Assim, para cada objetivo um tipo de educação, para cada criança um tipo de escola. Aqui começa o caráter dual da escola, a educação dada pelos Jesuítas, transformada em educação de classe, que atravessou o período colonial, imperial, chegando ao período republicano.
Nas nomeações referentes ao período da escravidão, a hierarquização vigente se materializa no discurso, marcando o lugar do dominador no nhonhô, e do que é dominado no mule-que e mostra a construção no entremeio dessa situação de uma nova identidade de quem se considera gente de cor. A pobreza e a doença são os lugares que marcaram a criança no período da higiene que, respaldada pelo discurso médico, defenderá um conceito de infância homogênea, padronizada e idealizada. Nes-ta perspectiva, a criança que se distancia desse padrão tem, na escola, nas instituições de atendimento e na saúde, o lugar de prevenção e de correção.
87
A criança e seus diferentes nomes: adjetivações no discurso histórico
Educ. foco, Juiz de Fora,v. 13, n. 2, p. 67-89, set 2008/fev 2009
É importante perceber que, seja no navio, seja na colô-nia, seja na escravidão, seja no discurso médico e jurista, existe um outro que nomeia. Tal nomeação delimita o lugar que esta criança deve ocupar, este lugar físico é apenas a materialização do lugar simbólico que o outro designa através do discurso. O discurso esconde atrás das várias nomeações a manutenção de uma política de exclusão dessa infância no país. Herança advinda dos grumetes, pajens, órfãs do Rei, jovens órfãos, patifes, pequenos Jesus e curumins, nhonhôs, moleques, gente de cor, anormais, di-ffi ceis e menores. Nas palavras de Monarcha (2001, p. 163) “A construção de determinada vivências e imagens da infância varia de acordo com a posição social e econômica e com os dife-rentes universos culturais que fazem parte de uma sociedade”. A existência de adjetivações diferenciadas, dentro da categoria infância, aponta para uma diferença dos lugares que as diversas crianças apresentadas ocupam no discurso histórico.
Referências bibliográficas
ABREU, Martha; MARTINEZ, Alessandra F. Olhares sobre a criança no Brasil: Perspectivas Históricas. In: RIZZINI, Irene (org.). Olhares sobre a criança no Brasil - Séculos XIX e XX. Rio de Janeiro: Petrobras - BR: Ministério da Cultura: USU Ed. Universitária: Amais, 1997. p. 19-38.
ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: LTC, 1981.
BARROS, Diana L.P. Dialogismo, polifonia e enunciação. In: BARROS, D. L. P.; FIORIN, J. L. (orgs.). Dialogismo, polifonia, intertextualidade: Em torno de Bakhtin. 2. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003. p. 1-11.
BLIKSTEIN, Izidoro. Intertextualidade e polifonia. In: BARROS, D. L.P.; FIORIN, J. L. (orgs.). Dialogismo, polifonia, intertextualidade: Em torno de Bakhtin. 2ed-São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003. p. 45-47.
88
Ana Lúcia Adriana Costa e Lopes
Educ. foco, Juiz de Fora,
v. 13, n. 2, p. 67-89, set 2008/fev 2009
CHAMBOULEYROM, Rafael. Jesuítas e as crianças no Brasil Quinhentista. In: DEL PRIORE, Mary. (org.). História das crianças no Brasil. São Paulo, São Paulo: Contexto, 1999. p. 55-83.
EDWARDS, Veronica. Os sujeitos no universo da escola: um estudo etnográfico no ensino primário. São Paulo: Ática, 1997.
FERNANDES, Rogério; KUHLMANN JR, Moysés. Sobre a história da infância. In: Faria Filho, Luciano Mendes (org). A infância e sua educação - materiais, práticas e representações (Portugal e Brasil). Belo Horizonte: Autêntica, 2004.
GATTAI, Zélia. Anarquistas, graças a Deus. Rio de Janeiro: Record, 1986.
KUHLMANN JR, Moysés. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. Porto Alegre: Mediação, 1998.
LEITE, Ligia Costa. Meninos de Rua: A infância Excluída no Brasil. São Paulo: Atual, 2001.
LOPES, Jader J. M. Então Somos „Mudantes‰: Espaço, Lugar e Território de Identidades em crianças migrantes. Tese de doutorado. Niterói : UFF. 2003.
MONARCHA, Carlos (org.). Educação da Infância Brasileira: 1875-1983. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2001.
PASSETTI, Edson. Crianças carentes e políticas públicas. In: DEL PRIORE, Mary. (org.) História das crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 1999.p. 347-374.
PATTO, Maria Helena S. A produção do Fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002.
PATTO, Maria Helena S. Ciência e política na primeira república: origens da psicologia escolar. Disponível em: http:www.2uerj.Br/%7eclipseche/site/revistaamonemose/LIVRO CLIOPARAITERNET/artigo27 p.1-35. sithtm . Acesso em: 03 set 2005.
89
A criança e seus diferentes nomes: adjetivações no discurso histórico
Educ. foco, Juiz de Fora,v. 13, n. 2, p. 67-89, set 2008/fev 2009
POSTMAN, Neil. O desaparecimento da infância. Rio de Janeiro: Graphia, 1999.
RAMOS, Fábio Pestana. A historia trágico-marítima das crianças nas embarcações portuguesas do século XVI. In: DEL PRIORE, Mary.(org.). História das Crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 1999. p. 19-54.
RIBEIRO, Maria Luiza Santos. História da Educação Brasileira: a organização escola. 15ª ed. rev. e ampl. Campinas: Autores Associados, 1998.
RIZZINE, Irene. As Bases da Nova Legislação da Infância. Brasília: INESC, 1993.
RODRIGUES, Luzania Barreto. De pivetes e meninos de rua – um estudo sobre o projeto Axé e os significados da infância. Salvador: EDUFBA, 2001.
ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2003.
SCARANO, Julita.Crianças esquecidas de Minas Gerais. In: DEL PRIORE, Mary. (org.). História das crianças no Brasil. São Paulo, São Paulo: Contexto, 1999. p. 107-136.
VEIGA, Cynthia Greive. Infância e modernidade: ações, saberes e sujeitos. In: Faria Filho, Luciano Mendes (org). A infância e sua educação - materiais, práticas e representações (Portugal e Brasil). Belo Horizonte: Autêntica, 2004. p. 35-82.




































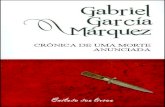



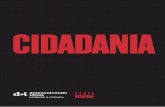
![MÚLTIPLAS TITUBAS: entre a história e a literatura · Dias, Nathália Izabela Rodrigues. Múltiplas Titubas [manuscrito] : entre a história e a literatura ... Nina Simone Descobrira](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5f2071a91767490f1f77bb48/mltiplas-titubas-entre-a-histria-e-a-literatura-dias-nathlia-izabela-rodrigues.jpg)
