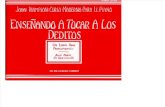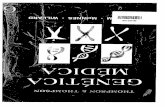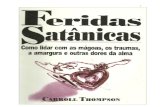A Historiografia Brasileira Sobre o Trabalho Entre Thompson e Foucault
-
Upload
luan-lima-batista -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of A Historiografia Brasileira Sobre o Trabalho Entre Thompson e Foucault

Sérgio Ricardo da Mata, Helena Miranda Mollo e Flávia Florentino Varella (orgs.). Anais do 3º. Seminário Nacional de História da Historiografia: aprender com a história? Ouro Preto: Edufop, 2009. ISBN: 978-85-288-0061-6
A historiografia brasileira sobre o trabalho: Entre Thompson e Foucault
Igor Guedes Ramos *
As mudanças teórico-metodológicas ocorridas na década de 1980 na produção
acadêmica brasileira sobre a história do trabalho, foram, há muito, notadas e diagnosticadas
por diversos intelectuais. A maioria dos diagnósticos, muitas vezes generalizantes, indica que
essa produção até o início da década de 1980, se concentrava no estudo das “macrofísicas do
poder” (estrutura econômica, Estado, sindicato e partidos); e, posteriormente, passou a se
concentrar nas “microfísicas do poder” (as formas individuais e cotidianas de dominação e
resistência). Como os próprios termos evidenciam, uma das variáveis que favoreceu essas
mudanças foi a apropriação dos pensamentos de Edward Palmer Thompson e Michel
Foucault, pelos acadêmicos brasileiros (Cf. COSTA, 1994; BATALHA, 2003; PAOLI et al.,
1984).
Segundo a perspectiva de interpretação de Thompson:
A classe acontece quando alguns homens, como resultado de experiências comuns (herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a identidade seus interesses entre si, e contra outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se opõem) dos seus. A experiência de classe é determinada, em grande medida, pelas relações de produção em que os homens nasceram – ou entram involuntariamente. A consciência de classe é a forma como essas experiências são tratadas em termos culturais: encarnadas em tradições, sistemas de valores, idéias e formas institucionais. Se a experiência aparece como determinada, o mesmo não ocorre com a consciência de classe. (THOMPSON, 1987: 10)
Portanto, a classe surge quando, por meio das relações humanas e da luta de classes 1,
um grupo de pessoas passa a se comportar repetidamente de modo classista; partilhando, não
somente a mesma posição nas relações de produção, mas também comportamentos, cultura e
instituições que condizem com seus interesses. A experiência – conhecimento apreendido
historicamente por meio das práticas reais e diretamente determinado pelas relações de
produção – ao se articular com a cultura (idéias, valores, tradições, instituições, etc.) do grupo
social, constitui a “consciência de classe” deste grupo. Destarte, em Thompson a “consciência
* Mestre em História Social pela Universidade Estadual de Londrina. E-mail: [email protected] e/ou [email protected] 1 Thompson assinala que a “luta de classe” precede a própria “classe”, tendo o primeiro conceito caráter mais universal que o segundo. (Cf. THOMPSON, 1989: 37)
1

Sérgio Ricardo da Mata, Helena Miranda Mollo e Flávia Florentino Varella (orgs.). Anais do 3º. Seminário Nacional de História da Historiografia: aprender com a história? Ouro Preto: Edufop, 2009. ISBN: 978-85-288-0061-6
de classe” tem caráter temporal e geográfico, é constituída pela articulação histórica entre
experiência e cultura de um determinado grupo social, não pode ser imputada ao grupo social
por um partido, seita e/ou intelectual portadores da consciência “verdadeira” e,
conseqüentemente, não deve ser julgada ou avaliada como mais ou menos verdadeira, mais ou
menos revolucionária.
Para Thompson, a “classe é definida pelos homens enquanto vivem sua própria história
e, ao final, esta é sua única definição” (THOMPSON, 1987: 12). Por isso, a classe deve ser
compreendida por meio de evidências históricas tratadas, isto é, o historiador deve iniciar sua
análise pelos dados empíricos e, posteriormente, organizá-los por meio da teoria. Desta
maneira, a classe é expressa como uma “categoria histórica”, em oposição à parte da tradição
marxista (especialmente leninista), que muitas vezes define classe por meio de um modelo
ideal – que precede as evidências históricas – e medidas quantitativas, produzindo uma noção
de classe como “categoria estática” (Cf. THOMPSON, 1989: 33-39).
Essa perspectiva de interpretação está presente na obra A formação da classe operária
inglesa (The Making of the English Working Class); na qual Thompson vasculha os becos
sem saída, as causa perdidas e a história dos perdedores, “tentando resgatar o pobre tecelão de
malhas, o meeiro luddita, o tecelão do ‘obsoleto’ tear manual, o artesão ‘utópico’ e mesmo o
iludido seguidor de Joanna Southcott, dos imensos ares superiores de condescendência da
posteridade” (THOMPSON, 1987: 13). Destarte, produz uma história que se preocupa com o
“fazer-se da classe operária”, em oposição às histórias que obscurecem a atuação dos
trabalhadores e/ou se fundamentam na evolução posterior para criticar o passado (Cf.
THOMPSON, 1987: 9-14).
A perspectiva de interpretação de Foucault é bastante distinta a de Thompson e
apresenta dificuldades quando apropriada pelos historiadores. Segundo André Luiz Joanilho,
apesar da perspectiva de análise foucaultiana e a pesquisa histórica não serem incompatíveis,
existem duas dificuldades sérias nessa relação:
A primeira, diz respeito à forma como Foucault trata as fontes históricas, pois seu
trabalho “não privilegia a pesquisa exaustiva sobre determinado assunto, prisões ou
sexualidade, por exemplo, deixando lacunas na sua explicação” (JOANILHO, 2003: 16). Isto
é, enquanto o historiador busca exaurir as fontes históricas em busca de confirmação de suas
hipóteses; “Foucault, de modo algum, buscou exaurir as fontes em relação aos objetos sobre
os quais se debruçava, ou pelo menos, sequer tentou confirmação sistemática dos dados que
utilizava no sentido tradicional” (JOANILHO, 2003: 16).
2

Sérgio Ricardo da Mata, Helena Miranda Mollo e Flávia Florentino Varella (orgs.). Anais do 3º. Seminário Nacional de História da Historiografia: aprender com a história? Ouro Preto: Edufop, 2009. ISBN: 978-85-288-0061-6
A segunda, diz respeito ao sujeito; pois diferente de Foucault, para o historiador “é
fundamental o sujeito produtor de determinado documento [...]. A não existência de uma
autoria ou de um autor não faz parte do horizonte do pesquisador e do que almejamos
enquanto explicação histórica” (JOANILHO, 2003: 16-17). Isto é, para dar coerência à
narrativa historiográfica é necessária a existência de um sujeito responsável pelos
acontecimentos.
Superada essas dificuldades, como assinala Paul Veyne (1998: 251), Foucault não fala
de um mundo diferente do qual fala o historiador. Apenas busca descrever todo o “relevo”,
todos os contornos, por mais pontiagudos que sejam, desse mesmo mundo descrito pelos
historiadores, de forma “plana”, completamente coerente e, algumas vezes, com sentido
único:
Contudo, compreende-se facilmente por que essa filosofia [foucaultiana] é difícil para nós: ela não se assemelha nem a Marx nem a Freud. A prática [ou o discurso] não é uma instância (como o id freudiano) nem um primeiro motor (como a relação de produção), e, aliás, não há em Foucault nem instância nem primeiro motor [...]. É por isso que não há inconveniente grave em denominar provisoriamente essa prática [ou discurso] de ‘parte oculta do iceberg’, para dizer que ela só se apresenta à nossa visão espontânea sob amplos drapeados e que é grandemente preconceptual; pois a parte escondida de um iceberg não é uma instância diferente da parte emersa: é de gelo, como esta, também não é o motor que faz movimentar-se o iceberg; está abaixo da linha de visibilidade, e isto é tudo. (VEYNE,1998: 251).
Em relação à produção acadêmica sobre o trabalho, Edgar Salvadori de Decca
diferencia e define as contribuições de Thompson e Foucault, da seguinte forma:
As diferenças de abordagens em se tratando de Thompson e Foucault são significativas. Para o primeiro, as classes trabalhadoras são sujeitos de sua própria história, e por isso, a ênfase dada à questão da experiência de classe e do fazer (making) de uma cultura de classe. Com os seguidores de Foucault desloca-se significativamente o eixo da experiência e/ou da cultura das classes trabalhadoras, acentuando-se o significado da ação disciplinar de inúmeros agentes sociais na produção do cotidiano e da identidade dos trabalhadores, através da criação das instituições basilares da sociedade, tais como a família nuclear, a escola e a fábrica. (DECCA, 1987: III)
Desta forma, com a apropriação das reflexões de Foucault, a respeito dos múltiplos
locais de conflito existentes na sociedade; e de Thompson, a respeito do “fazer-se” da classe
operária, os acadêmicos brasileiros da década de 1980, adquiriram outras “ferramentas”
3

Sérgio Ricardo da Mata, Helena Miranda Mollo e Flávia Florentino Varella (orgs.). Anais do 3º. Seminário Nacional de História da Historiografia: aprender com a história? Ouro Preto: Edufop, 2009. ISBN: 978-85-288-0061-6
(temáticas, teorias, metodologias, etc.) para pensarem as formas de dominação e resistência,
presentes na história do trabalho.
Entretanto, alguns intelectuais viram com preocupação o deslocamento da atenção das
“macrofísicas do poder” para as “microfísicas do poder”, como explica Emília Viotti da
Costa:
O resultado foi que apesar da extraordinária expansão das fronteiras da história e do enriquecimento inegável da nossa compreensão da multiplicidade da experiência humana através dos tempos, a macro-física do poder permaneceu na sombra. Quando o poder está em toda a parte, acaba por não estar em lugar algum. Além de que, o método de análise derivado de uma leitura simplificada e seletiva da obra de Foucault embora tenha contribuído para esclarecer e ampliar a compreensão dos vários locais onde o poder se exerce, recusa-se a explicar como e porque ele se constitui, se reproduz e se transforma. (COSTA, 1994: 15)
Essa relação conflituosa entre as perspectivas de interpretação da história do trabalho,
não é apenas “bipolares” e não se restringe a diferenças teórico-metodológicas, mas também a
representações de mundo e práticas distintas. Nas palavras de Emilia Viotti da Costa: “o que
está em questão não é apenas qual a melhor interpretação do passado, mas também qual a
melhor estratégia no presente” (COSTA, 1994: 20).
No decorrer da década de 1970, diferente do que ocorria anteriormente na produção
acadêmica brasileira sobre o trabalho, as práticas operárias ganham importância em relação às
determinações estruturais. Isto é, os acadêmicos brasileiros descobrem que os operários
possuem alguma consciência, constroem suas próprias práticas políticas e exercem alguma
resistência em relação à dominação burguesa e possuem alguma mobilidade em relação à
estrutura socioeconômica do país. Contudo, é uma classe desarticulada, dividida, e ainda
incapaz de compreender a realidade do Brasil, conhecida apenas pelos intelectuais, único
grupo sociocultural capaz de transcender os limites da sociedade brasileira e capaz de julgá-la
a partir de critérios científicos, racionais e universais (Cf. BATALHA, 2003; PAOLI et al.,
1984; PÉCAUT, 1990).
Ainda, é importante notar, que a produção acadêmica desse período, estabeleceu como
indispensáveis práticas de pesquisa de caráter “empirista”, até então pouco seguidas. Isto é, as
interpretações são ampla e rigorosamente fundamentadas em fontes jornalísticas, relatórios de
empresas, arquivos de militantes, etc. Dois exemplos dessa produção acadêmica são as obras
História da indústria e do trabalho no Brasil: das origens aos anos vinte (1982) de Francisco
Foot Hardman e Victor Leonardi e Trabalho urbano e conflito social (1976) de Boris Fausto.
4

Sérgio Ricardo da Mata, Helena Miranda Mollo e Flávia Florentino Varella (orgs.). Anais do 3º. Seminário Nacional de História da Historiografia: aprender com a história? Ouro Preto: Edufop, 2009. ISBN: 978-85-288-0061-6
Nessas obras surgem as algumas referências a Thompson e Foucault. Contudo, a
apropriação do pensamento de Thompson não gera uma mudança significativa no modelo
interpretativo; certamente fortalece a postura “empirista” e leva a uma maior preocupação
com a descrição e a análise das práticas e da cultura operária, mas os autores não adotam as
noções de cultura, experiência ou consciência de classe presentes no pensamento de
Thompson. Uma vez que fazem críticas à consciência de classe e ao movimento operário
brasileiro do início do século XX, fundamentados em critérios de outro tempo e lugar (Cf.
HARDMAN & LEONARDI, 1981: 351; FAUSTO, 1976: 247-248); o que se opõe a noção de
consciência de classe presente nas reflexões de Thompson.
Ainda, em sua obra, Fausto dedica apenas uma breve seção denominada A subcultura
para analisar a cultura operária e a crítica da cultura e das instituições vigentes (sistema
educativo, Igreja, família burguesa, etc.) feita pelos libertários; conforme já assinalou Sílvia
Pertesen, desde o título, essa seção destoa do modelo interpretativo de Thompson (Cf.
PETERSEN, 2008: 62).
Em relação a Foucault, a referência mais profunda aparece em Fausto; que, em um
breve parágrafo, aponta a importância do estudo dos micropoderes (desvendados por
Foucault) para compreensão da relação de dominação (Cf. FAUSTO, 1976: 81), mas não
analisa o tema em sua obra.
Em suma, a produção acadêmica brasileira, da década de 1970, sobre o trabalho está
intimamente ligada à produção acadêmica anterior, herdando algumas de suas representações
e práticas, como a “tendência de julgar negativamente o movimento operário do início do
século” (BATALHA, 2003: 151). Destarte, impossibilitando uma apropriação mais profunda
das reflexões de Thompson e Foucault.
É na década de 1980, que ocorreu uma grande mudança (ou ruptura) na produção
historiográfica brasileira sobre o trabalho. Foi uma época de contestar e sonhar, os
acadêmicos (discentes e docentes) estavam deslumbrados pelas inúmeras alternativas de
compreender a sociedade e estratégias de luta política. Nessa época ocorreu a re-significação
do político e a percepção da heterogeneidade sociocultural existente no Brasil, elementos de
outra representação de mundo, que possibilitou o surgimento de outro modelo acadêmico de
interpretação do trabalhador; que procura dar conta dos múltiplos grupos socioculturais,
formas de organização e resistência e lugares de conflito, presentes na sociedade brasileira.
5

Sérgio Ricardo da Mata, Helena Miranda Mollo e Flávia Florentino Varella (orgs.). Anais do 3º. Seminário Nacional de História da Historiografia: aprender com a história? Ouro Preto: Edufop, 2009. ISBN: 978-85-288-0061-6
A postura dos acadêmicos da década de 1980 em relação à sociedade e,
especificamente, em relação ao trabalhador brasileiro, pode ser entendida a partir da
explicação de Michel Foucault sobre os intelectuais em geral:
[...] o que os intelectuais descobriram desde o avanço recente [desde 1968] é que as massas não têm necessidade deles para saber; e elas o dizem bem. Mas existe um sistema de poder que barra, proíbe, invalida este discurso e este saber [...]. Eles próprios, os intelectuais, fazem parte deste sistema de poder; a idéia de que eles são agentes da ‘consciência’ e do discurso, ela própria, faz parte deste sistema. FOUCAULT & DELEUZE, 1974: 140-141)
Um pensamento que surge em 1968, na Europa, deslumbra os acadêmicos por volta de
1980, no Brasil. Destarte, os acadêmicos brasileiros – grande parte deles – descobrem que
não são os organizadores da sociedade, os porta-vozes do povo, a vanguarda esclarecida ou os
portadores da ciência e da compreensão universal. Descobrem, também, que a “massa”, o
“povo” ou a classe operária possuem práticas e saberes independentes, tão “verdadeiros”
quanto os possuídos pelos acadêmicos. E, possivelmente a mais dolorosa das descobertas, que
eles (acadêmicos) são também repressores desses saberes e práticas. Para esses “novos”
acadêmicos brasileiros, restou o “resgate” dos saberes e das práticas operárias, aniquilados
durante séculos de tirania intelectual. Entre os exemplos da historiografia da década de 1980,
citamos: Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar: Brasil 1890-1930 (1985) de Luzia
Margareth Rago e O sonhar libertário: movimento operário nos anos de 1917 a 1921 (1988)
de Cristina Hebling Campos.
Segundo Rago, a luta pela transformação/manutenção da sociedade não passa
necessariamente pela instância política formal, pela luta político-partidária, como quer a
produção acadêmica anterior. Em sua obra, não existe sequer a dicotomia entre instância
política formal e informal, existem múltiplas formas políticas, que não se hierarquizam ou se
centralizam em uma única “instância verdadeira ou superior”. A dominação e a resistência
políticas estão em todos os espaços e todos os momentos da vida operária. Daí, não é difícil
imaginar, que entre as referências teóricas da autora estejam Foucault e Thompson:
Embora situados em campos teóricos e metodológicos diferenciados, Thompson e Foucault chamam a atenção para outros momentos do exercício da dominação burguesa, possibilitando recuperar as práticas políticas ‘não-organizadas’ do proletariado e desfazer o generalizado mito do atraso e do apoliticismo dos libertários. (Cf. RAGO, 1985: 14)
6

Sérgio Ricardo da Mata, Helena Miranda Mollo e Flávia Florentino Varella (orgs.). Anais do 3º. Seminário Nacional de História da Historiografia: aprender com a história? Ouro Preto: Edufop, 2009. ISBN: 978-85-288-0061-6
Destarte, é restituído às “práticas políticas não-organizadas” da classe operária – até
então consideradas banais, economicistas ou inconscientes –, sua exata capacidade de
transformação social, econômica e política. Rago, nesta obra, se propõe a estudar todas essas
manifestações de resistência cotidiana e a cultura produzidas pelos trabalhadores brasileiros,
entre 1890 e 1930; bem como, as normas disciplinares a eles impostas pela fábrica, pelas
várias agências do poder público ou privado regulando a sua maneira de morar, a sua saúde, a
sua educação, a sua sexualidade, etc. (Cf. RAGO, 1985: 11-14).
Acompanhando a tendência da década de 1980, na obra de Rago predomina a descrição
e a interpretação das práticas operárias e da cultura operária e os diversos mecanismos de
dominação do capital. Seu modelo interpretativo é muito semelhante ao de Foucault, suas
referências a Thompson parecem ter, maiormente, a função de legitimar o texto dentro do
campo de produção sobre o trabalho, onde predominava (ou predomina) as concepções
marxistas da história.
Na perspectiva de Campos, entre os anos de 1917 e 1921, o trabalhador brasileiro
sonhou com a liberdade, se organizou e lutou para tentar conquistá-la. Esse momento só pode
ser compreendido por meio de um estudo aprofundado das diversas formas de dominação,
exercidas pelo patronato e pelo Estado; e das diversas formas de resistência, empregadas
pelos operários (Cf. CAMPOS, 1988: 17-22). Para sua análise, a autora se fundamentada nos
pressupostos de Thompson e Foucault:
Pois, tanto para Thompson quanto para Campos, “a classe só se constitui no processo de
luta, quando, ao criarem-se laços de solidariedade entre indivíduos, enfrenta o patronato e o
Estado. A consciência que é produzida nesse momento é registrável, às vezes comparável,
mas não existem ‘desajustes’ na história, nem atrasos, nem falsa consciência” (CAMPOS,
1988: 12).
Ainda, para compreender principalmente o fenômeno de descenso do movimento
operário do período, Campos se utiliza das reflexões de Michel Foucault sobre as relações de
poder, buscando pensar as múltiplos locais de dominação e resistência, desde a fábrica e o
processo de produção até a vida privada e os sentimentos conjugais, parentais e filias (Cf.
CAMPOS, 1988: 17-21). Contudo, as reflexões de Foucault parecem estar mais presentes
onde não existe referência direta a ele; quando a autora define sua concepção de história:
A tentativa revolucionária dos anos de 1917 a 1920, além de ter sido esquecida pela historiografia oficial, foi ‘malvista’ pela historiografia marxista (leninista).
7

Sérgio Ricardo da Mata, Helena Miranda Mollo e Flávia Florentino Varella (orgs.). Anais do 3º. Seminário Nacional de História da Historiografia: aprender com a história? Ouro Preto: Edufop, 2009. ISBN: 978-85-288-0061-6
Esta postura ligou-se essencialmente ao fato dos libertários terem se negado a criar o partido revolucionário e por não participarem do processo político-eleitoral, estabelecendo alianças com outras camadas sociais. Teoricamente isto é insustentável, a tarefa do historiador é a de fazer da história um uso que a liberte para sempre de qualquer absoluto. Não se pode permitir que a história se deixe levar por nenhuma obstinação e tampouco que se deixe obstinar pela idéia de continuidade. [...] Não existe nada imortal no homem, nada escapa a ter uma história. A história não é um continuum, com um sentido estabelecido, as forças que se encontram em jogo obedecem ao acaso da luta. (CAMPOS, 1988: 23)
Portanto, entendemos que a perspectiva de análise de Campos está muito próxima à de
Thompson. Já que a autora se propõe a resgatar as formas organizativas e de resistência do
movimento operário, lhes restituindo o significado que tinham em sua época, por meio da
descrição detalhada da constituição das classes em luta, evitando julgamentos fundamentos
em saberes posteriores. As referências a Foucault feitas pela autora, parecem funcionar muito
mais como formar de marcar um lugar distinto, isto é, uma oposição à produção acadêmica
anterior, por meio da constituição de outra concepção de história; do que como modelo
teórico-metodológico, salvo parcela da análise a respeito do “descenso”.
Logo, é possível notar, que em vez de uma apropriação homogênea das formas de
interpretação de Thompson e Foucault, pela historiografia brasileira da década de 1980;
ocorreram distintas apropriações das representações de mundo (de história, de classe operária,
etc.) que emergem no pensamento daqueles autores, favorecendo mudanças na produção
historiográfica sobre o trabalho. Essas apropriações não ocorreram de forma imediata,
homogenia ou irrepreensível; não existiu unanimidade entre os intelectuais, muitos rejeitaram
e criticaram os historiadores (e acadêmicos em geral) que enveredaram por este outro
caminho.
BIBLIOGRAFIA
BATALHA, Cláudio. A historiografia da classe operária no Brasil: Trajetória e Tendências. In FREITAS, Marcos Cezar de (org.). Historiografia brasileira em perspectiva. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2003.
CAMPOS, Cristina Hebling. O sonhar libertário: movimento operário nos anos de 1917 a 1921. Campinas: Pontes, 1988.
COSTA, Emília Viotti da. A dialética invertida: 1960-1990. Revista Brasileira de História, São Paulo: Marco Zero, v.14, n.27, p.9-26, 1994.
8

Sérgio Ricardo da Mata, Helena Miranda Mollo e Flávia Florentino Varella (orgs.). Anais do 3º. Seminário Nacional de História da Historiografia: aprender com a história? Ouro Preto: Edufop, 2009. ISBN: 978-85-288-0061-6
DECCA, Edgar Salvadori de. Apresentação. In RAGO, Luzia Margareth. Do cabaré ao lar: A utopia da cidade disciplinar: Brasil 1890-1930. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
FAUSTO, Boris. Trabalho urbano e conflito social: (1890-1920). São Paulo: Difel, 1976.
FOUCAULT, Michel Foucault; DELEUZE, Gilles. Psicanálise e ciência da História. Rio de Janeiro: Eldorado Tijuca, 1974.
HARDMAN, Francisco Foot; LEONARDI, Victor. História da indústria e do trabalho no Brasil: das origens aos anos vinte. São Paulo: Global, 1982.
JOANILHO, André Luiz. Michel Foucault e a pesquisa histórica: Questões de método. In DENIPOTI, Cláudio; JOANILHO, André Luiz (orgs.). Leituras em História. Curitiba: Aos quatro ventos, 2003, p.15-25.
PAOLI, Maria Célia Pinheiro Machado; SADER, Eder; TELLES, Vera da Silva. Pensando a Classe Operária: Os Trabalhadores Sujeitos ao Imaginário Acadêmico. Revista Brasileira de História. São Paulo: Marco Zero, v.3, n.6, p.129-149, set. 1984.
PÉCAUT, Daniel. Os intelectuais e a política no Brasil: Entre o povo e a nação. São Paulo: Ática, 1990.
PETERSEN, Sílvia Regina Ferraz. Trabalho urbano e conflito social (1890-1920) Economia e Estado nas origens do movimento operário brasileiro. In GOMES, Ângela de Castro (org.). Leituras críticas sobre Boris Fausto. Belo Horizonte: UFMG, 2008.
RAGO, Luzia Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar: Brasil 1890-1930. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.
THOMPSON, Edward Palmer. A formação da classe operária inglesa: A árvore da liberdade. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, v.1.
THOMPSON, Edward Palmer. Tradición, revuelta y consciência de clase: estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial. 3. ed. Barcelona: Crítica, 1989.
VEYNE, Paul Marie. Como se escreve a história: Foucault revoluciona a história. 4. ed. Brasília: Editora da UNB, 1998.
9