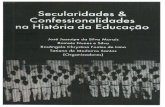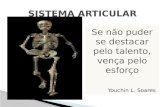A TRAJETÓRIA DO ENSINO AGRÍCOLA NO BRASIL NO · PDF fileÀ minha...
Transcript of A TRAJETÓRIA DO ENSINO AGRÍCOLA NO BRASIL NO · PDF fileÀ minha...

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE FACULDADE DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
A TRAJETÓRIA DO ENSINO AGRÍCOLA NO BRASIL NO CONTEXTO DO CAPITALISMO DEPENDENTE
Por: André Elias Fidelis Feitosa
Sob a orientação da Profª Drª Eunice Schilling Trein
Niterói Julho de 2006

II
ANDRÉ ELIAS FIDELIS FEITOSA
A TRAJETÓRIA DO ENSINO AGRÍCOLA NO BRASIL NO CONTEXTO DO CAPITALISMO DEPENDENTE
Dissertação apresentada ao programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense como requisito parcial para a obtenção do Grau de Mestre em Educação, Campo de Confluência: Trabalho e Educação.
Orientadora: Profª Drª Eunice Schilling Trein
Niterói 2006

III
À memória de Paulo Alves Feitosa, meu pai.

IV
AGRADECIMENTOS
Talvez essa seja a parte mais difícil na construção de um trabalho como este. Muitas
pessoas foram e são importantes na minha vida. Todas, de alguma forma participaram de minha formação. Portanto, este trabalho reflete essa complexidade de contribuições, ao mesmo tempo em que reflete minhas próprias construções a partir dessas relações dialéticas.
Ao tentar relacionar meus agradecimentos serei forçado a apresentar alguns primeiros que outros, o que não significa que essa maneira de expressar represente algum tipo de preferência. Será simplesmente uma ordem morta, livre de uma suposta importância dada pela seqüência.
Assim sendo, dividirei meus agradecimentos em três ramos: Familiar, Acadêmico, Profissional e Político.
AGRADECIMENTOS DE ORDEM FAMILIAR: À minha mãe e ao meu pai (em memória) pela criação que me foi dada, pelo
cuidado e pelo esforço em garantir a conclusão de meus estudos no nível chamado “superior”. Minha mãe, Lêda, em especial, pois recentemente encontro em mim alguns de seus traços no enfrentamento de questões vinculadas a luta de classes.
À Ana Lúcia, minha companheira e esposa, meu porto seguro, que habilmente
soube compreender meus momentos de inquietação e nervosismo. Eu te amo! Aos meus irmãos biológicos, Paulo Henrique, juntamente com Sissy, e Ruth, pela
amizade e o amor que a todo o momento disfarçamos, mas que, tenho certeza, é forte e duradouro.
À outra família em que fui inserido após casar-me com Ana. João, Maria Lêda,
Leila, Cláudio, Márcio, Maria Olímpia, Enéas, Maria Claudia, Amandinha e Ana Laura. Vocês também fazem parte da minha vida.
Aos meus vinte tios(as) e mais de noventa primos(as), os quais não teria condições
de nominar, mas que estão guardados em meu coração. Aos amigos que ao longo da vida fui encontrando e que foram me aceitando. Muito
obrigado a todos.

V
AGRADECIMENTOS DE ORDEM ACADÊMICA:
À Eunice, que aceitou o desafio de me orientar neste trabalho. Sem a tua ajuda não
sei como conseguiria. Antes mesmo de me candidatar a uma vaga no mestrado, já tinha por ti uma grande admiração, tanto pelas tuas posições políticas, quanto pela coerência apresentada nos espaços de debate sindical. Obrigado!
Ao Professor José Rodrigues, de quem aos poucos fui me tornando amigo. Muito
obrigado Zé por tuas contribuições e pela firmeza com que apresenta tuas convicções. Enxergo em ti um verdadeiro intelectual orgânico da classe trabalhadora.
À Ana Dantas, que tão gentilmente aceitou participar de minha banca de defesa.
Mais que isso, de quem tive o prazer de ser aluno em outros momentos de minha formação. O teu conhecimento e tua trajetória na área do ensino agrícola servem de estímulo àqueles que, como eu, pretendem trilhar nos caminhos deste ramo da pesquisa. Estendo, portanto, estes agradecimentos a Lia e Tarci, docentes que, juntamente com Ana, trabalham na formação de novos professores de ciências agrícolas, através da faculdade de educação da UFRRJ.
A Gaudêncio Frigotto, pela generosidade intelectual que demonstrou na apreciação
deste trabalho. Gaudêncio, por tudo o que representas no campo Trabalho e Educação, obrigado.
Aos grandes amigos e amigas que comigo trilharam boa parte desse caminho, e
cujas contribuições foram fundamentais para construção deste trabalho. Adriana, Lorene, Jorge, Marcelo, Graziani, Ozias, Marisa Brandão, Luciana Requião, Maria Inês, Lobo, Laura, Jaqueline, Jane, Mônica, Sandra, Pina, Zuleide, Antônio, a “panelinha de 2003” (Kênia, Marcelo, Sérgio,...), e outros que não consigo lembrar os nomes, mas que guardo na memória suas contribuições. Muito obrigado a todos vocês.
Aos Professores do campo Trabalho Educação: Ronaldo Rosas, Lia, Sônia, Maria
Ciavatta e Ângela Siqueira, esta última pelo seu trabalho de mestrado, que serviu como fonte para esta dissertação. Nos espaços de construção do conhecimento abertos por cada um de vocês tive a oportunidade de ampliar minha bagagem teórica e de, portanto, realizar este trabalho.
Às funcionárias da secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação, que
gentilmente atendiam nossas solicitações. À Fátima, pela manutenção e limpeza das salas de aula e pelo cafezinho, sempre na
hora certa.

VI
AGRADECIMENTOS DE ORDEM PROFISSIONAL E POLÍTICA
Aos colegas do Colégio Agrícola Nilo Peçanha/UFF, que coletivamente
concederam-me a licença para capacitação e cujo convívio estimularam em mim as inquietações necessárias para o desenvolvimento deste trabalho.
À Universidade Federal Fluminense, que através de seu programa interno de
capacitação docente, concedeu-me seu auxílio. Aos companheiros e companheiras de luta sindical, que militam na ADUFF-SSind.
Em especial aos que comigo compõem a atual diretoria. Obrigado pela generosidade ao reconhecerem a necessidade de meu afastamento, para dedicar-me exclusivamente a conclusão desta dissertação. A convivência com cada um de vocês e com o movimento docente organizado posicionaram-me na luta de classes. A luta, portanto, se configurou na necessidade de ampliação teórica, que tentei buscar através deste mestrado. Muito obrigado!

VII
A grande propriedade fundiária reduz a população agrícola a um mínimo sempre declinante e a confronta com uma sempre crescente população industrial amontoada nas grandes cidades; deste modo, ela produz condições que provocam uma falha irreparável no processo interdependente do metabolismo social, um metabolismo prescrito pelas leis naturais da própria vida. Isso resulta num esbulho da vitalidade do solo, que o comércio transporta muitíssimo além das fronteiras de um único país. A indústria de larga escala e a agricultura de larga escala feita industrialmente têm o mesmo efeito. Se originalmente elas se distinguem pelo fato de que a primeira deixa resíduos e arruína o poder do trabalho e portanto o poder natural do homem, ao passo que a última faz o mesmo com o poder natural do solo, elas se unem mais adiante no seu desenvolvimento, já que o sistema industrial aplicado à agricultura também debilita ali os trabalhadores, ao passo que, por seu lado, a indústria e o comércio oferecem à agricultura os meios para exaurir o solo. (MARX)

VIII
RESUMO
Este estudo teve por objetivo central, compreender o desenvolvimento do ensino agrícola no Brasil, e suas vinculações/relações com o sistema capitalista aqui desenvolvido. Nessa perspectiva, o trabalho, ora apresentado, ficou dividido em três capítulos, que se apresentam da seguinte forma:
No capítulo 1, faço uma abordagem do processo histórico do ensino agrícola no Brasil, tomando como base para essa análise o conceito de capitalismo dependente de Florestan Fernandes. Tal tentativa usa como instrumentos: a caracterização das diferentes formas de organização da produção agrícola no Brasil, suas demandas e subordinações, desde a ocupação de nosso solo por forças lusitanas.
No capítulo 2, procuro demonstrar que, a partir das recentes reestruturações do capitalismo, há uma aproximação entre a lógica de produção rural e urbana, ou seja, fica mais difícil identificar com clareza quais são os setores primário, secundário e terciário, dada a unidade dos processos produtivos, em conseqüência do capital financeiro. Com base nesse entendimento, procuro explicitar a última mudança ocorrida na estrutura do ensino agrícola no Brasil, que foi a extinção da Coordenação do Ensino Agropecuário (COAGRI) do âmbito do MEC, passando esta modalidade de ensino a ser tratada juntamente com todas as outras de formação profissional.
Por fim, no capítulo 3, apresento, como conseqüência dessa reestruturação, as reformas vividas pela educação, prioritariamente de formação profissional, a partir da década de 1990, até as contradições expressas no Decreto 5.154/04. Palavras-chave: ensino agrícola, organização da produção agrícola, reforma do ensino profissional.

IX
ABSTRACT
This study has for central objective, to understand the development of agricultural education in Brazil, and its entailings/relations with the capitalist system developed here. In this perspective, the work, as presented, was divided in three chapters, presenting of the following form:
In chapter 1, I make a boarding of the historical process of agricultural education in Brazil, taking as base for this analysis the concept of dependent capitalism of Florestan Fernandes. Such attempt, uses as instruments: the characterization in the ways of agricultural production in Brazil, its demands and subordinations, since the occupation of our ground for portuguese forces.
In chapter 2, I intend demonstrate that, from the recent reorganizations of the capitalism, it has an approach enters the logic of agricultural and urban production, or either, it is more difficult to identify with clarity which are the sectors primary, secondary and tertiary, given the unit of the productive processes, in consequence of the financial capital. With base in this agreement, I intend to show the last occured change in the structure of agricultural education in Brazil, that was the extinguishing of the Coordenação do Ensino Agropecuário (COAGRI) of the scope of the MEC (Brazilian Ministry of the Education), passing this category of education to be dealt with all the others professional formation.
Finally, in chapter 3, I present, as consequence of this reorganization, the reforms lived for the education, mainly of professional formation, from the decade of 1990, until the express contradictions in Decree 5.154/04.
Word-key: agricultural education, organizations of agricultural production, reform of professional education.

X
APRESENTAÇÃO DA DISSERTAÇÃO.
A Trajetória do Ensino Agrícola no Brasil no contexto do Capitalismo Dependente.
Caro Leitor, Começo a apresentação de minha dissertação fazendo alguns destaques
a uma questão que, embora esteja presente neste trabalho, não se tornou
aparente. Assim, entendo ser importante tal apreciação, para que todos tenham
uma pequena noção da dimensão das transformações que se fizeram necessárias
nesse curto e intenso percurso trilhado neste programa de pós-graduação. Falo,
portanto, de minha própria trajetória; dos motivos que me levaram a me candidatar
a um curso em nível de mestrado, o projeto inicial e o amadurecimento do objeto
durante o processo de pesquisa.
O fato de ser um professor e ex-aluno do ensino técnico agropecuário é,
com certeza, um dos principais motivos que me conduziram até o tema desta
dissertação. Porém, com que olhar eu trataria o meu objeto? O lado que eu já
havia escolhido ficar na luta de classes, antes mesmo da entrada neste programa,
me indicava e estimulava a conhecer um pouco mais a respeito do marxismo e de
seu referencial teórico e metodológico.
Foi assim, portanto, que ingressei no campo Trabalho e Educação: com
muitas inquietações e pouca bagagem teórica para enfrentar o todo caótico que se
apresentava no cotidiano de minhas atividades docentes.
Dessa forma, meu primeiro projeto pretendia analisar as transformações
vividas pelas escolas agrícolas a partir da aplicação do Decreto 2.208/97,
provavelmente por ser esta a questão que me incomodava de maneira mais
imediata, e que de certa forma eu não a tinha resolvido, visto que suas
conseqüências se apresentavam a mim de maneira muito desastrosa.
Porém, no decorrer do curso, os debates, as aulas, as leituras, a
orientação de Eunice e até os espaços informais de discussão, foram me
apresentando uma forma - até então - nova de investigar a realidade. As
categorias mais simples do pensamento marxista foram tomando forma –

XI
TRABALHO; CONTRADIÇÃO; MAIS-VALIA; MODOS DE PRODUÇÃO;
CAPITALISMO; FORÇAS PRODUTIVAS; ESTRUTURA; SUPERESTRUTURA – e
tantas outras passaram a fazer parte do meu vocabulário, mais que isso,
passaram a fazer parte de minhas análises. O materialismo histórico e dialético
vem, portanto, se tornando – usando as palavras de Mario Duayer - uma
“plataforma” para a observação da realidade.
Dessa forma entendi que o Decreto 2.208 se mostrava como uma das
expressões das disputas geradas no seio do próprio sistema capitalista - diga-se
de passagem, expressão efêmera, visto que logo foi substituída por outra. Era
necessário, portanto, entender o ensino agrícola brasileiro no seu processo
histórico, e não somente na aparência mais recente. Era necessário investigar as
relações dessa modalidade de ensino com o modo de produção que se
desenvolveu no Brasil. Só assim eu poderia observar o objeto de pesquisa na sua
totalidade histórica, e isso se tornou inevitável. Fazia-se necessário entender em
que condições foram fincadas as raízes do problema.
Assim, o primeiro passo dado foi no sentido de entender o modo de
produção que se desenvolveu no Brasil. Esse, portanto, não foi um passo simples,
visto que esta ainda é uma questão em aberto no interior da intelectualidade
brasileira. Diversas são as formas de ver e de qualificar esse processo. Porém as
analises de Florestan Fernandes me ajudaram, ou melhor, balizaram minha forma
de enxergar sobre tal assunto. O processo histórico vivido pelo Brasil permite-nos
enxergar aspectos de diferentes modelos de desenvolvimento. É, portanto, nessas
diferentes formas de apropriação dos modelos onde, para mim residem às
disputas infindáveis. Nesse ponto entendo que o trabalho de Florestan traz muitos
avanços, principalmente por tentar descrever um processo de desenvolvimento
próprio, centrado na teoria da dependência, e que leva em consideração nossas
especificidades.
Citando o próprio Florestan:
“É preciso colocar em seu lugar o modelo concreto de capitalismo que
irrompeu e vingou na América Latina, o qual lança suas raízes na crise do antigo sistema colonial e extrai seus dinamismos organizatórios e

XII
evolutivos, simultaneamente, da incorporação econômica, tecnológica e
institucional a sucessivas nações capitalistas hegemônicas e do crescimento
interno de uma economia de mercado capitalista”.
Foi com esse espírito, portanto, e com a ajuda de outros autores que
tentei (re)descobrir o processo de produção agrícola no Brasil, para compreender
as diferentes necessidades de formação de mão-de-obra especializada para o
campo, em diferentes momentos da história.
Dois eventos da história do ensino agrícola no Brasil, no entanto,
aguçavam mais minha curiosidade, provavelmente por terem sido tratados
somente como eventos. Um deles era o considerado marco do ensino agrícola no
Brasil, a Carta Régia de D.João VI, ao Conde dos Arcos, de 1812. O outro era a
inauguração do primeiro estabelecimento de ensino agrícola público, em 1859, na
Bahia. Assim, a perspectiva de compreensão do cenário político e econômico
dessa época se deu como forma de entender sobre que aspectos fundou-se tal
modalidade de ensino. Para tanto, as descrições feitas por Celso Furtado e Caio
Prado Júnior sobre a formação econômica do Brasil foram fundamentais para esse
entendimento.
A maior ênfase a estes dois eventos não nos impossibilitou de
continuarmos, ainda no primeiro capítulo, nossa investigação acerca da trajetória
de nosso objeto de pesquisa. Nesse sentido procuramos compreender as
diferentes fases desse processo e suas relações com a estrutura econômica
brasileira nos diferentes momentos de nossa história. Para tanto, o trabalho de
Boris Fausto, sobre a história do Brasil nos permitiu (re)aprender acerca de tantos
outros eventos históricos necessários para conseguirmos entender outras etapas
complexas de nosso desenvolvimento.
Ainda nesse processo de investigação, foi de fundamental importância o
trabalho de Ângela Siqueira, intitulado: Propostas, Conteúdos e Metodologias do
Ensino Agrotécnico: Que Interesses Articulam e Reforçam?, orientado por Frigotto,
em 1987. Foi o trabalho de Ângela que nos deu diversos suportes para nossa
dissertação, não só com seus apontamentos históricos, mas também com as
análises apresentadas.

XIII
Portanto, o processo de produção no Brasil e sua relação dialética de
dependência de uma estrutura que extrapolava suas fronteiras, tiveram
necessariamente que ser alvo de nossas investigações. Assim, por tratarmos de
questões históricas complexas, provavelmente, existem lacunas neste trabalho
que só se completarão com uma pesquisa mais ampla que trate dos assuntos de
forma verticalizada, ou seja, com o aprofundamento investigativo, de caráter
historiográfico, para cada evento citado. Porém, a perspectiva de totalidade para
este momento, requeria uma pesquisa que tratasse das diversas questões ligadas
à trajetória do ensino agrícola no Brasil de forma ampla; foi com essa intenção que
se deu a escolha de fontes que balizaram o entendimento da formação econômica
do Brasil.
Quando iniciei minhas atividades como docente do ensino técnico
agrícola, em 1996, dez anos após a extinção da Coordenação do Ensino
Agropecuário (COAGRI), órgão autônomo do Ministério da Educação, responsável
pelas políticas dessa modalidade de ensino, observava em grande parte dos
colegas mais velhos um sentimento de nostalgia em relação àquela época. Um
lugar específico na administração do Estado parecia conferir ao ensino agrícola
um lugar de destaque, e a extinção desse lugar parecia demonstrar – isso de
maneira mais aparente – um a falta de compromisso do Estado brasileiro com a
agricultura e com os profissionais que nela atuavam. Fato é, que para muitos
colegas a história do ensino agrícola se divide em antes e depois da COAGRI.
Não poderíamos, porém, tratar dessa questão nesse nível de superficialidade, e
foi justamente por descobrirmos a representatividade desse órgão na história mais
recente do ensino agrícola que nos empenhamos em descortinarmos o cenário de
sua extinção. Afinal, nos propusemos a compreender a trajetória do ensino
agrícola, e a extinção da COAGRI era um marco que não poderia ser desprezado.
Assim o segundo capítulo pretendeu demonstrar como a estrutura
econômica interfere diretamente nas questões superestruturais, e essa fase do
ensino agrícola expressa claramente uma determinação dessa interferência.
A partir de meados da década de 1960, a agricultura no Brasil passa por
uma transformação, principalmente naquilo que diz respeito a sua organização

XIV
produtiva, que segundo Delgado, surge do aprofundamento das relações do setor
agrícola com a economia urbano-industrial.
Nesse sentido, afirma Mazzali:
Tratava-se da reformulação da inserção da agricultura no
padrão de acumulação, por meio de um processo de
modernização, com ênfase:
• na diversificação e aumento da produção, visando
enfrentar os desafios da industrialização e da
urbanização aceleradas e a necessária elevação das
exportações primárias e agroindustriais;
• na transformação da base técnica da agricultura
brasileira, com a consolidação do complexo
agroindustrial
Dessa forma, o processo de industrialização da agricultura, também
apelidado de revolução verde, guardou algumas características específicas, ou
seja, o desenvolvimento das forças produtivas no campo, ocorrido a partir da
década de 1960, inseriram no processo de produção agropecuária novas
exigências de aumento da produtividade, calcada na incorporação de insumos
industrializados.
O forte papel do Estado, característica mais geral de todo sistema
capitalista desse período, se fez presente nas relações de produção agrícola, no
Brasil, tanto nas políticas de crédito agrícola, como também em toda uma
correlação de atividades voltadas à assistência e extensão rural, “elemento
fundamental na estratégia de transferência para o setor agrícola de tecnologia
gerada na indústria situada a montante da agricultura”.
De acordo com Delgado:
A partir desse conjunto de políticas, o Estado executou planejamento indicativo, engendrando novas formas de desenvolvimento capitalista na agricultura. De um lado, moldou e aprofundou as relações de integração técnica entre agricultura e indústria, a montante e a jusante. De outro, estimulou a integração de capitais ‘mediante a fusão de capitais multisetoriais operando conglomeradamente, processo que é decididamente apoiado pelas políticas de

XV
corte multisetorial (comércio exterior, tabelamento de preços, incentivos fiscais etc) e de fomento direto...(crédito rural, política fundiária, tecnologia e desenvolvimento rural integrado).
E completa Mazzali,
Em outras palavras, foi o Estado enquanto financiador e articulador dos diferentes interesses que garantia e gerenciava um padrão no direcionamento das relações entre os agentes, conferindo, dessa forma, um dado ‘estilo’ ao processo de modernização.
Essa presença/utilização do Estado no processo de construção dos
Complexos Agro Industriais pôde também ser identificada nas políticas voltadas à
formação de técnicos agrícolas de novo tipo. Por isso, tanto “empreendimento” do
Estado, requereria, simultaneamente, profissionais capacitados para as demandas
advindas do setor que rapidamente se reestruturava. É nesse cenário que surge
então a COAGRI.
Sua extinção, portanto, ocorre como resultado de um novo processo de
reestruturação. Reestruturação de cunho neoliberal, que acontece na forma de
organização da produção, em todos os níveis, e que também atingem a área da
educação, e no caso do objetivo do trabalho apresentado, especificamente o
ensino agrícola de 2º grau.
No bojo de uma série de extinções de instituições vinculadas ao Estado,
é que em 21 de novembro de 1986, o governo de José Sarney, emite o Decreto
93.613, eliminando de uma só vez quatro órgãos que integravam a estrutura do
Ministério da Educação:
I- o Conselho Nacional de Serviço Social;
II- a Comissão Nacional de Moral e Cívica;
III- a Coordenação de Ensino Agropecuário – COAGRI; e
IV- a Delegacia Regional do Distrito Federal.
Na seqüência são editadas as Portarias 821 e 833, do Gabinete do
Ministro da Educação, Jorge Bornhausen, atribuindo a Secretaria de 2º Grau
(SESG) o exercício das funções da extinta COAGRI e vinculando as escolas
agrotécnicas federais a nova estrutura.

XVI
Notamos, portanto, que a extinção da COAGRI vem certificar que não há
um descolamento entre as reestruturações de ordem econômica e as políticas de
formação profissional. No caso do ensino agrícola, o que tento reforçar é que as
mudanças na organização da produção, que em um momento não prescindiam
das funções mais diretas do Estado, e que reforçaram uma maior unidade entre a
lógica capitalista no campo e na cidade, ao se reestruturar não precisariam mais
de um órgão específico para a elaboração de políticas voltadas à formação de
técnicos agrícolas, já que depois dessa “unidade estrutural” o mais “adequado”
seria tratar tal modalidade de ensino na totalidade dos cursos de formação
profissional, sejam eles ligados à indústria, ao comércio ou a agricultura.
Entendemos, através deste trabalho, que esta reestruturação vem
acontecendo de maneira contínua, ou seja, ela ainda se encontra em processo, e
que sua expressão mais atual seja a recente transformação de Escolas
Agrotécnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs).
A chamada Cefetização.
A inquietação inicial que me motivou aos estudos em nível de mestrado
ainda se mantinha, só que de forma diferenciada. O incômodo gerado pelas
reformas educacionais da década de 1990, embora não pudesse ser resolvido
com este trabalho, precisaria ser entendido de forma mais aprofundada. Por isso
dediquei o terceiro capítulo de minha dissertação a este assunto.
Estimulado pela provocação de José Rodrigues, ao perguntar: “As idéias
neoliberais estão vivas na política educacional brasileira? Mas, o que são essas
idéias neoliberais?” Direcionei meus esforços a entender o neoliberalismo a partir
de seus principais intelectuais.
Tomando como base os clássicos dessa teoria: “O Caminho da Servidão”,
de Friedrich Hayek, e “Capitalismo & Liberdade”, de Milton Friedman, tentei
demonstrar, minimamente, a influência/intervenção de tais ideais nas políticas
educacionais brasileiras, com um enfoque nas políticas de formação profissional
de nível médio no Brasil a partir da década de 1990.
Impossível agora seria não tratar do Decreto 2.208, inserido, porém, em
conjunto mais amplo, ou seja, tratado na totalidade das recentes reformas

XVII
educacionais. Impossível também seria não tratar da mais recente transformação
vivida pelo ensino profissionalizante, através do Decreto 5.154, de 2004, editado
pelo atual governo.
Embora este último represente uma mudança ainda difícil de perceber
seus efeitos, dada a proximidade histórica, fui instigado, pela própria condição de
pesquisador em que me encontrava, a expor minhas análises e, por que não,
previsões dos seus desdobramentos. Só que agora, pautado por uma condição de
totalidade construída durante a elaboração deste trabalho.
Toda esta dissertação, e principalmente este último capítulo, trouxe-me
uma grande inquietação acerca dos limites impostos pelo capital a luta da classe
trabalhadora No processo de desenvolvimento do capitalismo (isto visto de uma
forma mais ampla, ou seja, nas suas transformações globais), a classe
trabalhadora, em uma relação dialética com a burguesia, conseguiu conquistar
vários avanços, na forma de garantias e direitos, em um período denominado de
welfare state (ou, estado de bem-estar social). Porém, não devemos nos
esquecer, que mesmo no Estado de Bem-estar, a hegemonia era do capital. Pois
bem, no decorrer do processo histórico esses direitos e garantias vêm sendo
sumariamente retirados dos trabalhadores, que nas suas posições de resistência
lutam para não perdê-los. Eis, portanto, a minha inquietação: São esses os limites
da luta? Ou, não serão estes os limites do capital, dados para nossa luta?
Contudo, ainda se mostra bastante atual o debate acerca de uma
superação desses limites que são impostos pela democracia burguesa. Ficaremos
nos desgastando nas disputas, em um quadro de “democracia restrita”? Ou
buscaremos as (im)possibilidades de uma verdadeira superação da dualidade
estrutural, que é na verdade a superação dessa sociedade de classes?
André Elias Fidelis Feitosa.

XVIII
SUMÁRIO Introdução-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 Capítulo 1- CAPITALISMO DEPENDENTE E A HISTÓRIA DO ENSINO AGRÍCOLA NO BRASIL--------------------------------------------------------09 1.1- O conceito ampliado de capitalismo dependente----------------------------------------------------11 1.2 – A história do ensino agrícola no Brasil e sua relação com os padrões de dominação externa-----------------------------------------------------16 1.2.1 – A crise do padrão de dominação colônia e a intenção da fundação do ensino agrícola no Brasil-----------------------------------16 1.2.1.1 – Início da Produção Agrícola no Brasil--------------------------------------17 1.2.1.2 - A produção de cana nas Antilhas--------------------------------------------20 1.2.1.3 - Produção de cana: decadência e breve ascensão--------------------------23 1.2.1.4 - A intenção de criação de uma escola agrícola no Brasil-----------------26 1.2.2 - O neocolonialismo e a primeira escola agrícola no Brasil----------------------------31 1.2.2.1 - A predominância da cultura do café contribuindo para o adiamento do projeto---------------------------------33 1.2.2.2 – A crise no modelo de produção escravista---------------------------------37 1.2.2.3 – O cenário do interstício entre a intenção da instalação de uma escola agrícola no Brasil e sua efetivação----------39 1.2.2.4 – A estabilidade no Segundo Império e a Lei de Terras-------------------44 1.2.2.5 - Finalmente, a criação da primeira escola agrícola no Brasil-----------47 1.2.3 - Imperialismo restrito e o ensino agrícola no Brasil-----------------------------------49 1.2.3.1 - O processo histórico do ensino agrícola em tempos de imperialismo restrito-----------------------------------------51 1.2.3.1.1 - As mudanças ocorridas no ensino agrícola brasileiro nas primeiras décadas do séc. XX-------------------53 1.2.3.1.2 - A configuração do ensino agrícola a partir do Estado Getulista------------------------------------56 1.2.3.1.3 - A tendência à conciliação de classes no campo---------------62 1.2.3.1.4 - A escola agrícola como instrumento de contenção de conflitos-------------------------------------65 1.2.4 - Imperialismo total e o ensino agrícola brasileiro--------------------------------------68

XIX
1.2.4.1 - As transformações do ensino agrícola em tempos de imperialismo total--------------------------------------------74 Capítulo 2 - AS MUDANÇAS ESTRUTURAIS NO PLANO DO CAPITALISMO RURAL E SUAS IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM AGROPECUÁRIA-------------------------------------79 2.1 - Conceitos usados para qualificação das mudanças dos processos de produção da agricultura brasileira------------------------------------------------80 2.2 - Revolução Verde e os Complexos Agroindustriais (CAIs)----------------------------------------82 2.2.1 - O cenário de criação da COAGRI--------------------------------------------------------88 2.3 - A recente mudança na organização agroindustrial no contexto da extinção da COAGRI-------------------------------------------------------------92 Capítulo 3 - NEOLIBERALISMO: UM PROJETO AINDA EM CONSTRUÇÃO NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO--------------------------------------------100 3.1 - A base teórica do neoliberalismo---------------------------------------------------------------------100 3.1.2 - Características principais das obras de Hayek e Friedman------------------------101 3.1.2.1 - Alguns aspectos da obra de Hayek-----------------------------------------103 3.1.2.2 - Alguns aspectos da obra de Friedman-------------------------------------108 3.1.2.2.1 - O papel do Estado na educação, segundo Friedman-------111 3.1.3 - O Neoliberalismo: principais aspectos-------------------------------------------------113 3.1.3.1 - A função do Estado no projeto neoliberal--------------------------------115 3.1.3.2 - O consenso de Washington---------------------------------------------------116 3.2 - A educação brasileira de formação profissional de nível médio a partir da década de 1990---------------------------------------------------------117 3.2.1 - A construção das recomendações dos organismos internacionais----------------119 3.2.2 - Os aspectos neoliberais na educação profissional e algumas de suas contradições------------------------------------------122 3.2.3 – O Decreto 5.154/04 em questão----------------------------------------------------------127 3.2.3.1 Um decreto flexível--------------------------------------------------------------131 3.2.3.2 O avanço paralisante------------------------------------------------------------134 Considerações finais-----------------------------------------------------------------------------------------------------137 Referências Bibliográficas----------------------------------------------------------------------------------------------140 Anexo – Textos legais que marcam a história do ensino agrícola no Brasil----------------------------------147

XX
INTRODUÇÃO
I.1 - Apresentação:
O estudo, ora apresentado na forma de dissertação, representa um
esforço para melhor compreensão do ensino agrícola no Brasil. Em minha
trajetória de vida como docente e ex-aluno dessa modalidade de ensino, muitas
foram as indagações construídas a respeito dos problemas que se apresentavam
no cotidiano das relações de um colégio de formação de técnicos em
agropecuária; indagações essas, que por várias vezes, não encontravam
respostas nesse mesmo cotidiano. Era necessário ir mais fundo, entender em que
bases vem sendo construída essa modalidade de ensino, quais suas relações
com a materialidade histórica da produção agrícola no Brasil, e a percepção disto
através da legislação, não só naquela dedicada exclusivamente ao ensino
agrícola, mas também nas de caráter mais amplo, ou seja, aquelas dedicadas à
educação de maneira geral.
Nessa perspectiva, o aprofundamento nos estudos de diversas questões
conceituais e históricas, vinculadas a um referencial metodológico - que, no
passado, em função das condições objetivas não fui capaz de realizar - se tornou
necessário.
Já os primeiros estudos levaram-me a elencar o materialismo histórico
como o referencial metodológico que balizaria esta dissertação. Assim, é que
apresento este trabalho, que representa a tentativa de apreensão, conjunta e
dialética, do objeto de estudo e de seu referencial.

XXI
I.2 - Justificativa:
Esta dissertação se justifica na medida em que, tanto na área Trabalho e
Educação, quanto em outras áreas de pesquisa em educação, poucas são as
obras dedicadas ao estudo do ensino técnico em agropecuária. Porém, esta
justificativa não se limita à superação da escassez de trabalhos, mas apresenta-se
na perspectiva de uma nítida necessidade de se analisar tal objeto à luz de um
referencial teórico, que busque maior e melhor apreensão possível da realidade
(historicamente construída e delimitada), e que não se estabeleça por uma ótica
coorporativa, ou celebratória, do ensino técnico agrícola no Brasil.
Assim, a preocupação expressa neste trabalho, de analisar as
transformações ocorridas nas formas de organização da produção no Brasil, como
mediações para entender as mudanças ocorridas nas políticas públicas para o
ensino agrícola, apresenta-se na perspectiva de contribuir para o debate mais
amplo do papel da formação do técnico em agropecuária.
I.3 – O Problema:
Para entender o ensino agrícola no Brasil, é necessário também entender
como se organiza - e se organizou - a produção na agricultura, para analisar quais
foram - e são - os interesses envolvidos na formação dos técnicos em
agropecuária.
Assim, notou-se que há um movimento da economia para as políticas
educacionais. Movimento este que, não se caracteriza somente nesse novo
padrão de acumulação, mas que se adequa de forma regressiva e contraditória,
mediatamente, a cada mudança do capitalismo.

XXII
Como prova mais visível desse movimento recente temos a LDB 9394/96,
o Decreto 2208/97 (agora revogado), e o Decreto 5154/04.
Assim é que, regidas pela racionalidade financeira, as políticas educacionais vigentes repousam, não mais no reconhecimento da universalidade do direito à educação em todos os níveis, gratuita nos estabelecimentos oficiais, mas no princípio da equidade, cujo significado é o tratamento diferenciado segundo as demandas da economia.
Em consonância com a progressiva redução do emprego formal e com a crescente exclusão, o investimento em educação passa a ser definido a partir da compreensão de que o Estado só pode arcar com as despesas que resultem em retorno econômico.(KUENZER, 1998; p.133).
Por isso, para este trabalho, procurei descobrir quais foram - e são - as
mediações necessárias, para entender as interferências do capital na formação
dos profissionais técnicos que atuaram - e atuarão - nessa área.
I.4 - Metodologia de pesquisa:
A iniciação ao mestrado, no campo de confluência Trabalho e Educação,
apresentou-me diversas leituras, até então desconhecidas por mim, entre elas a
“Introdução [à Crítica da Economia Política]”, de Karl Marx, escrita em 1857, que
traz apontamentos iniciais aos seus estudos sobre a economia. Nesse texto
deparei-me com uma nova forma de enxergar a realidade, a partir daquilo que não
se explica de forma positivista, que não se resolve através de respostas simples e
imediatas, como simples conseqüências de outros eventos. Deparei-me então
com a dialética marxista.
“A dialética é o pensamento crítico que se propõe a compreender a ‘coisa em si’ e sistematicamente se pergunta

XXIII
como é possível chegar à compreensão da realidade” (KOSIK, 1976, p.15)
Marx, ao discorrer sobre as relações entre produção, consumo,
distribuição e troca traz, não só apontamentos para uma nova forma de análise
econômica, mas, também, estabelece novos parâmetros para analisar o mundo.
Estabelece, portanto, um novo método de pesquisa.
À forma aparente, (...), em contraste com a relação essencial que ela dissimula, (...), podemos aplicar o que é válido para todas as formas aparentes e seu fundo oculto. As primeiras aparecem direta e espontaneamente como formas correntes de pensamento; o segundo só é descoberto pela ciência. A economia política clássica avizinhou-se da essência do fenômeno, sem, entretanto, formulá-la conscientemente. (MARX, 2003, p.622)
No método da economia política, ao enxergar o empírico, observa-se um
todo, mesmo que com alguma abstração, mas um todo ainda caótico, onde
descobrir suas múltiplas determinações é fundamental, porém não é o suficiente.
Por isso, para compreender um todo é necessário, depois de dissecá-lo e situá-lo
(análise), estabelecer a articulação entre as partes através de mediações que nos
conduzam a uma síntese, uma totalidade. Isto, no entanto, não extingue o
processo, dessa forma uma totalidade pode constituir-se em mais um passo em
direção a outras análises e investigações. Parte-se, então, de uma unidade para
as especificidades, investigando rigorosamente aquilo que se construiu
historicamente.
Marx, também destaca que para entender aquilo que se coloca como
simples é necessário conhecer o complexo, senão, como saber que o simples é

XXIV
simples sem que se tenha como comparação o complexo? Ou seja, o simples só
se revela simples frente ao complexo e vice-versa.
A anatomia do homem é a chave da anatomia do macaco. O que nas espécies animais inferiores indica uma forma superior não pode, ao contrário, ser compreendido senão quando se conhece a forma superior. A Economia burguesa fornece a chave da Economia da Antiguidade etc. Porém, não conforme o método dos economistas que fazem desaparecer todas as diferenças históricas e vêem a forma burguesa em todas as formas de sociedade. (s/d, p.17)
Fugir da aparência, daquilo que se mostra na “pseudoconcreticidade”,
lembra-nos Kosik (1976), faz-se à medida que se investiga a essência dos
eventos, que não se limita à explicação fenomênica, ou seja, de uma aparência
superficial da realidade, mas faz suas mediações com o todo estruturado.
O Pensamento que quer conhecer adequadamente a realidade, que não se contenta com os esquemas abstratos da própria realidade, nem com suas simples e também abstratas representações, tem de destruir a aparente independência do mundo dos contactos imediatos de cada dia. O pensamento que destrói a pseudoconcreticidade para atingir a concreticidade é ao mesmo tempo um processo no curso do qual sob o mundo da aparência se desvenda o mundo real; por trás da aparência externa do fenômeno se desvenda a lei do fenômeno; por trás do movimento visível, o movimento real interno; por trás do fenômeno, a essência. O que confere a estes fenômenos o caráter de pseudoconcreticidade – que o pensamento dialético tem de efetuar – não nega a existência ou a objetividade daqueles fenômenos, mas destrói a sua pretensa independência, demonstrando o seu caráter mediato e apresentando, contra a sua pretensa independência, prova de seu caráter derivado. (p.16)

XXV
Uma categoria fundamental do materialismo histórico é a contradição; que
permite-nos enxergar com mais clareza a dimensão de um fenômeno. Cada
fenômeno traz consigo um aspecto contrário, que ao mesmo tempo o enfrenta e
lhe confere identidade. Sem a perseguição da contradição dos fenômenos, nossas
análises permanecerão no campo da especulação e da aparência. Pois o contrário
é que consegue dar vida ao seu oposto.
Na guerra, a ofensiva e a defensiva, o avanço e a retirada, a vitória e a derrota, são (...) pares de contrários em que o um não pode existir sem o outro. Os dois aspectos estão simultaneamente em luta e em interdependência, o que constitui o todo que é a guerra, dá lugar ao desenvolvimento desta e resolve os respectivos problemas.(MAO TSE TUNG, 1979, p.37).
Segundo o ponto de vista da dialética materialista, as
modificações da Natureza são devidas fundamentalmente ao desenvolvimento das contradições internas desta. Na sociedade, as mudanças são devidas principalmente ao desenvolvimento das contradições que existem no seu seio, (...); é o desenvolvimento destas contradições que faz avançar a sociedade e determina a substituição da velha sociedade por uma nova. Mas será que a dialética materialista exclui as causas externas? De maneira nenhuma. Ela considera que as causas externas constituem a condição das modificações, que as causas internas são a base dessas modificações e que as causas externas operam por intermédio das causas internas. O ovo que recebe uma quantidade adequada de calor transforma-se em pinto, enquanto que o calor não pode transformar uma pedra em pinto, já que as respectivas bases são diferentes. (...) A dialética marxista reflete cientificamente a identidade nas transformações reais. Por que razão o ovo pode transformar-se em pinto e a pedra não? Por que razão existe uma identidade entre a guerra e a paz,(...)? Por que razão o homem pode engendrar o homem e não qualquer outra coisa? A única razão consiste no fato de a identidade dos contrários existir apenas em condições determinadas, indispensáveis. Sem essas condições

XXVI
determinadas, indispensáveis, não pode haver qualquer identidade. (Ibid, p.33 e 34, negrito nosso).
Outra categoria, também fundamental, do materialismo histórico é a
mediação. As determinações de um fenômeno mediadas por outras
determinações, expressam com mais clareza sua essência (realidade). Se
entendemos que os fatos ou eventos não ocorrem de forma isolada, ou seja, há
sempre uma ligação entre eles, então é necessário descobrir que ligações são
essas, para termos a verdadeira, ou, a mais completa noção possível da
realidade.
Marx indicou o trabalho (ou ‘diligência’) como mediador entre o homem e a natureza, identificando assim na atividade produtiva do ‘ser natural auto-mediado’ a condição vital da autoconstituição humana.(...) ‘o segredo do fetichismo da mercadoria’ era explicado pelo fato de que a produção de valor de uso tinha de ser mediada pela produção do valor de troca, e a ela estava subordinada de acordo com as exigências de um determinado conjunto de relações sociais.
Lênin ressaltou especificamente a função transicional dinâmica da mediação: Tudo é vermittelt (= mediado), fundido em um, ligado pelas transições (...) Não só a unidade dos contrários, mas a transição de cada determinação, qualidade, aspecto, lado, propriedade, em cada uma das outras’. (Dicionário do Pensamento Marxista, 2001, p.264).
Negar o caráter de uma verdade absoluta, também é fundamental, pois
este restringe a possibilidade de investigação mais profunda. E era assim que os
economistas entendiam a economia burguesa; perene, dada como que por
destino, e que lhes cabiam somente sua interpretação. Dessa forma como atuar,
na mudança da realidade? Mudar o que é imutável? Marx enxergava que era

XXVII
necessário fugir dessa continuidade, ou melhor, dessa naturalização, para que
qualquer atuação de transformação pudesse acontecer.
Dessa forma, compreendo que o método é dialético e aquilo que parece
uma etapa definida pode ser o concreto real de uma nova etapa, ou parte da
abstração de outra, enfim, essa processualidade é fruto da dialética da própria
realidade.
Dar um passo à frente, na procura de um referencial para interpretar
melhor o mundo, os seus acontecimentos e a intervenção do homem nele, levou-
me, conseqüentemente, ao materialismo histórico.
O todo caótico que se apresentava a mim, e que me conduziu aos
estudos em nível de mestrado, foi o complicado processo de implementação do
Decreto 2.208/97, que interveio diretamente no cotidiano da instituição onde
trabalho (Colégio Agrícola Nilo Peçanha, instituição vinculada à Universidade
Federal Fluminense). Dessa forma, ao iniciar os meus estudos, percebi1 que era
necessário ir além desse fenômeno - que, inclusive, sofreria modificações com a
publicação do Decreto 5.154/04. Portanto, para compreender o processo de
desenvolvimento do ensino agrícola era necessário compreender a totalidade em
que ele esta(va) inserido, ou seja, era necessário entender o desenvolvimento do
próprio sistema capitalista no Brasil. Assim, o trabalho que agora apresento é a
materialização desse esforço de apreensão do objeto nas suas múltiplas
determinações, e também, como determinação de uma totalidade ainda maior.
1 Essa percepção se deveu às contribuições obtidas durante as diversas aulas, nos debates entre nós, alunos e professores do campo Trabalho e Educação, na interação com outros campos e nas leituras que nos foram propostas.

XXVIII
CAPÍTULO I.
Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. (MARX, 1997)
1- CAPITALISMO DEPENDENTE E A HISTÓRIA DO ENSINO AGRÍCOLA NO
BRASIL.

XXIX
Ao ler algum trabalho de análise a respeito da caracterização do modo de
produção no Brasil, em sua fase colonial, tendo a ser convencido pelos seus
autores, pois, na maioria das vezes, tais obras trazem dados e investigações
bastante esclarecedores, embora cada um deles apresente em si discordâncias
quanto à qualificação de tal modo de produção. As disputas, que inclusive se
deram no seio do Partido Comunista no Brasil, podem ser resumidas na
discordância central em qualificar tal modo de produção em Capitalista ou Feudal,
embora também houvesse, e haja, outras formas de ver tais modos de produção
(cito aqui o modo de ver de Jacob Gorender que qualifica o Brasil dessa época em
Escravista)2. Em tais disputas intelectuais estavam inseridas, também, disputas de
cunho político. Por exemplo: a perspectiva de negar o feudalismo no Brasil, por
parte de comunistas, ao meu ver, tinha o objetivo de demonstrar que no processo
histórico o capitalismo, desde o início da ocupação portuguesa, era o responsável
pela situação em que se encontrava nosso país; provavelmente uma estratégia
para o convencimento da classe trabalhadora brasileira, demonstrando que as
conseqüências da ação capitalista são longamente datadas.
Entender o modo de produção no Brasil colonial, portanto, foi minha
primeira inquietação, pois necessário era compreender em que condições
inaugurou-se o ensino agrícola aqui; quais eram as demandas produtivas e quais
eram os interesses na formação de trabalhadores especializados na produção
agrícola brasileira. Por isso, iniciei minha trajetória de pesquisa nesses debates.
2 Ver FIGUEIREDO (2004). Esse é um debate longo e que se mantém até hoje, o que torna impossível demonstrá-lo aqui com toda sua riqueza e detalhes. Por não ser este o tema do trabalho ora apresentado, e caso haja maior interesse no assunto, fica a sugestão desta obra que tem o objetivo de apresentar os diferentes Modos de Ver a Produção do Brasil.

XXX
Um posicionamento não é fácil der ser tomado, pois em todos os trabalhos que
tive acesso, seja através da leitura da obra do próprio autor ou através de fontes
secundárias, há sempre questões a serem consideradas e que não podem ser
desprezadas em tais caracterizações3. Dessa forma identifiquei na obra de
Florestan Fernandes (1973) a posição que mais se aproximava daquilo que eu já
vinha avaliando a respeito do assunto.
Antes, entendo que é necessário expor a visão que construí a respeito:
Acredito que, do ponto de vista das relações de trabalho, o Brasil colonial
não foi, de forma alguma, capitalista. A produção a base de trabalho escravo, de
nativos e africanos, remete-nos a uma condição de retrocesso histórico anterior ao
feudalismo na Europa. Tal forma de se apoderar do trabalho alheio retoma
claramente um processo de produção escravista. Porém, essa situação produtiva,
que na América Latina encontra condições favoráveis, estava inserida e dependia
(da mesma forma que era necessária) de um sistema econômico mais amplo de
capitalismo comercial, já em desenvolvimento na Europa. Por isso, entendo que a
qualificação de tal modo de produção deve levar em consideração, tanto as
relações sociais de produção quanto as formas de troca e distribuição dessa
produção, e tais características aqui no Brasil e na América Latina, são
encaixáveis em diferentes modelos, ou seja, nosso modelo é próprio, mas não é
independente, e por isso mesmo deve ser entendido através de sua totalidade.
3 Cabe lembrar que, do meu ponto de vista, este é um debate que ainda permanece com validade acadêmica, pois no que concerne às atuais lutas da classe trabalhadora importa que o Brasil é capitalista e é este sistema atual, com suas contradições e relações, que se deve enfrentar.

XXXI
Assim é que acolho, como base para minha análise, o conceito de
capitalismo dependente de Fernandes, que me ajudará no processo de
investigação do percurso histórico do ensino agrícola brasileiro.
1.1 - O conceito ampliado de capitalismo dependente.
Sobre a obra de Florestan, reporto-me a análise feita por Mirian Limoeiro
Cardoso (2005):
... encontro em Florestan o formulador de uma problemática nova para pensar a sociedade em que vivemos, na especificidade que a caracteriza como parte do mundo capitalista, ou seja, nos termos da sua teorização e do seu conceito de capitalismo dependente. Penso que essa problemática, tal como elaborada por ele, constitui uma contribuição original e importante à teoria do capitalismo e do desenvolvimento capitalista.(p.08). “A importante descoberta que Florestan faz é a de que a particularidade Brasil pertence à generalidade capitalismo por meio da especificidade capitalismo dependente.” (Ibid., p.11).
Dessa forma, entendo que o autor ora citado apresenta-nos uma análise
de desenvolvimento do capitalismo na América Latina bastante criteriosa, que
condiz com as especificidades do padrão de produção desenvolvido e estimulado
em nosso território. Contrapondo-se aos modelos de análises estruturais,
aplicáveis ao desenvolvimento das sociedades européia e norte-americana, o
trabalho de Fernandes mostra-nos com clareza o processo de dependência do
capitalismo desenvolvido na América Latina a uma economia central, detentora
não só do poder de financiamento (que do ponto de vista do capital é necessário
ao desenvolvimento das forças de produção), mas também das condições para o

XXXII
desenvolvimento de novos conhecimentos e tecnologias, aplicáveis diretamente à
produção.
Por isso, entendo que “É preciso colocar em seu lugar o modelo concreto
de capitalismo que irrompeu e vingou na América Latina, o qual lança suas
raízes na crise do antigo sistema colonial e extrai seus dinamismos
organizatórios e evolutivos, simultaneamente, da incorporação econômica,
tecnológica e institucional a sucessivas nações capitalistas hegemônicas e do
crescimento interno de uma economia de mercado capitalista.” (FERNANDES,
1973, p.45; negrito nosso).
Há, no entanto, uma questão a ser esclarecida: mesmo que para Cardoso
(2005), o conceito de capitalismo dependente defina-se “(...); como parte desse
sistema (capitalista) num determinado momento de seu desenvolvimento na
história (capitalismo monopolista)” 4. (p.15; grifo nosso), eu tento tratar tal conceito
4 Periodização do capitalismo. Como teoria da história, o marxismo é mais do que uma aplicação da dialética à transição de um modo de produção para o outro: abrange igualmente as transformações históricas que ocorrem dentro do período de vigência de cada um desses modos de produção. O capitalismo, como outros modos de produção, atravessa fases distintas; em vez de avançar ao longo de uma curva contínua à medida que amadurecem suas contradições internas, ele segue um caminho descontínuo, marcado por segmentos distintos. Assim, a etapa que o capitalismo havia alcançado no terceiro quartel deste século (XX) é considerada como significativamente diferente do capitalismo concorrencial do paradigma de O Capital e diversamente designada como CAPITALISMO MONOPOLISTA (Baran e Sweezy, 1966), CAPITALISMO MONOPOLISTA DE ESTADO (Boccara, 1969), ou capitalismo tardio (Mandel, 1975). (...), embora a construção interna dos modos de produção seja, em princípio, uma necessidade teórica, na prática a análise das etapas, fases ou estágios do capitalismo tem sido orientada pela pressão da realidade, pela observação empírica e pela descrição das modificações históricas ocorridas. Lênin desenvolveu sua teoria do imperialismo e Paul Baran e Paul Sweezy produziram seu conceito do capitalismo monopolista como conseqüência da necessidade política de compreender as transformações ocorridas no sistema, que precisam ser enfrentadas na prática pelo movimento socialista, e de reexaminar os prognósticos sobre o fim do capitalismo. Alguns autores periodizam o capitalismo em três etapas sucessivas, o capitalismo concorrencial, o capitalismo monopolista e o capitalismo monopolista de Estado, (...). No capitalismo concorrencial , a mais-valia é apropriada principalmente sob a forma de lucro, e a divisão do trabalho é coordenada ou orientada pelos mercados nos quais as mercadorias são vendidas. Em nível internacional, o capital se expande por meio de exportações e importações de mercadorias. No capitalismo monopolista , o sistema de crédito passa a dominar e a operar com os mercados de mercadorias de modo a orientar a divisão social do trabalho na medida em que aloca o crédito, transferindo-o dos setores não-lucrativos para os lucrativos. O juro torna-se a forma predominante sob a qual a mais-valia é apropriada,

XXXIII
de Florestan de forma mais ampla5, com a intenção de usá-lo como base para o
entendimento do processo de desenvolvimento capitalista no Brasil agrário.
Porém, o que importa para este momento não é criar um debate acerca
da temporalidade do uso do conceito de capitalismo dependente, mas transportar
a análise histórica feita por Fernandes para designar essa fase do capitalismo
mundial para a América Latina, ou seja, mesmo que analisado na fase do
capitalismo monopolista, o conceito de capitalismo dependente só pode ser
tratado a partir da trajetória histórica de desenvolvimento da produção na América
Latina, por isso mesmo tal conceito só se materializa como parte de um processo,
que é, essencialmente, o que nos interessa.
forçando uma divisão de lucro em juro e lucro empresarial e, como Marx observa, todo lucro adquire a aparência de juro. (...) Quando o capital, nessa etapa, asume a forma de domínio específica e característica do CAPITAL FINANCEIRO, uma nova e adicional forma de apropriação, o lucro do financista, torna-se significativa. E em nível internacional, a divisão social do trabalho se faz, nessa etapa, pela exportação do capital enquanto capital finaceiro, identificada por Hilferding, Bukhain e Lênin como a característica do imperialismo. De fato o imperialismo foi identificado como uma etapa do capitalismo coetânea ao capital monopolista. (DICIONÁRIO DO PENSAMENTO MARXISTA, 2001, p. 284-286) Capitalismo monopolista. A idéia de que os monopólios são característicos de uma nova fase do capitalismo que se teria iniciado no final do séc. XIX foi introduzida no marxismo por Lênin e pelos teóricos do CAPITALISMO FINANCEIRO. Mas a expressão ‘capitalismo monopolista’ adquiriu um sentido diferente e novo destaque com o livro de Paul Baran e Paul Sweezy (1966), que teve um significativo papel na renovação do interesse pela teoria econômica marxista em meados da década de 1960. (...). Diante do que parecia ser um capitalismo estável e afluente de pós-guerra, Baran e Sweezy argumentaram que as contradições descobertas por Marx haviam sido substituídas por outras e que o capitalismo havia desenvolvido novos métodos para submetê-las ao seu controle. A principal transformação no caráter do capitalismo, segundo Baran e Sweezy, teria sido a substituição da concorrência entre capitais industriais pelos monopólios; em outras palavras, o peso de cada empresa nos mercados em que eram vendidas as suas mercadorias aumentara e havia sofrido uma transformação qualitativa. (Ibidem, p.54) 5 Essa ampliação se dá na perspectiva da temporalidade, por entender que o Brasil, a partir de sua condição de Colônia de Portugal, já se inaugurava como dependente. Porém, entendo que esta condição deva ser analisada de forma dialética: essa dependência não se estabelecia em um formato unilateral, ou seja, a produção agrícola no Brasil além de depender do mercado europeu foi também necessária para o desenvolvimento do capitalismo na Europa, o qual não se estabeleceria se não fossem as formas de produção e de expropriação implementadas em toda a América Latina.

XXXIV
Os motivos pelos quais entendo ser possível tal ampliação temporal do
conceito de capitalismo dependente de Fernandes, se devem, entre outras coisas,
aos aspectos que seguem:
Citando o próprio Fernandes (1973):
À semelhança de outras nações das Américas, as nações latino-americanas são produtos da ‘expansão da civilização ocidental’, isto é, de um tipo moderno de colonialismo organizado e sistemático. Esse colonialismo teve seu início com a ‘conquista’ – espanhola e portuguesa – e adquiriu uma forma mais complexa após a emancipação nacional daqueles países. A razão dessa persistência é a evolução do capitalismo e a incapacidade dos países latino-americanos de impedir sua incorporação dependente ao espaço econômico, cultural e político das sucessivas nações capitalistas hegemônicas. (p.11; negrito nosso).
Como forma de exemplificar tal dependência estrutural, entre a maneira
de produzir no Brasil colônia e a formatação de um imaturo capitalismo comercial,
desenvolvido a partir de meados do séc. XVI, é que cito a seguir, trechos da
descrição feita por Celso Furtado (1968):
A partir da metade do século XVI a produção portuguêsa de açúcar passa a ser mais e mais uma emprêsa em comum com os flamengos, (...). Os flamengos recolhiam o produto bruto em Lisboa, refinavam-no e faziam a distribuição por tôda a Europa, particularmente o Báltico, a França e a Inglaterra.(p.11; negrito nosso)
A contribuição dos flamengos – particularmente dos holandeses – para a grande expansão do mercado do açúcar, na segunda metade do século XVI, constitui um fator fundamental do êxito da colonização do Brasil. Especializados no comércio intra-europeu, grande parte do qual financiavam, os holandeses eram nessa época o único povo que dispunha de suficiente organização comercial para criar um mercado de grandes dimensões para um produto pràticamente novo, como era o açúcar.(...).

XXXV
E não sòmente com sua experiência comercial contribuíram os holandeses. Parte substancial dos capitais requeridos pela êmpresa açucareira viera dos Países Baixos. Existem indícios abundantes de que os capitalistas holandeses não se limitaram a financiar a refinação e comercialização do produto. Tudo indica que capitais flamengos participaram no financiamento das instalações produtivas no Brasil bem como no da importação de mão-de-obra escrava. O menos que se pode admitir é que, uma vez demonstrada a viabilidade da êmpresa e comprovada sua alta rentabilidade, a tarefa de financiar-lhe a expansão não haja apresentado maiores dificuldades.(p.12; negrito nosso).
Se se tem em conta que os holandeses controlavam o transporte (inclusive parte do transporte entre o Brasil e Portugal), a refinação e a comercialização do produto depreende-se que o negócio do açúcar era na realidade mais dêles do que dos portuguêses. Sòmente os lucros da refinação alcançavam aproximadamente a têrça parte do valor do açúcar bruto.(p.12 – nota de roda pé 8)
A descrição apresentada retrata a condição dependente em que o
processo de produção agrícola no Brasil foi constituído. Por vezes uma
dependência sobreposta, dado que por ser colônia, por simples condição, já era
dependente de sua Corte. Especificamente na colônia Brasil essa sobre-
dependência se realizava no pagamento de tributos a corte e na dependência do
comércio europeu para escoamento da produção agrícola - o que, mesmo assim,
não impediu o enriquecimento estrondoso de grande parte dos proprietários
locais6.
As intervenções da Coroa portuguesa não se aplicavam às formas de se
produzir e nem na comercialização dos produtos (para estas atividades havia uma 6 Segundo Furtado (1968), o montante de renda gerado pela economia açucareira era excepcional para os proprietários de engenho, a renda per capita da população de origem européia era superior a qualquer outro período da história, maior até que no auge da produção de ouro. Para melhores esclarecimentos, recomendo a leitura do capítulo VIII da obra desse autor: “Formação Econômica do Brasil”.

XXXVI
grande autonomia por parte dos proprietários), mas sim na arrecadação de
tributos, o que na fase inicial foi inclusive desprezado, pois segundo Fausto
(2004), “A sesmaria foi conceituada no Brasil como uma extensão de terra virgem
cuja propriedade era doada a um sesmeiro, com a obrigação – raramente
cumprida – de cultivá-la no prazo de cinco anos e de pagar o tributo devido à
Coroa”.(p.45; negrito nosso).
Embora, o objetivo inicial da produção agrícola no Brasil, apresentado por
Furtado (1968), fosse o de ocupação das terras e de sua conseqüente defesa, a
“empresa agrícola” se constituiu em uma fonte altamente rentável. Assim a
dependência mútua aqui desenvolvida, ainda na fase de um capitalismo comercial
7, era favorável ao acúmulo de riquezas, tanto dos proprietários de terras quanto
dos comerciantes internacionais, e da Coroa, que além da intenção precursora
(ocupação para defesa do território) obteve uma nova fonte de alimentação de
seus cofres. Portanto, entre estes três tipos de agentes estabeleceu-se uma forte
relação de dependência, que, mesmo com suas contradições8, marcou todo
período do padrão de dominação colonial.
1.2 – A história do ensino agrícola no Brasil e sua relação com os padrões de dominação externa.
Em seu trabalho, Capitalismo Dependente e Classes Sociais na América
Latina, Florestan Fernandes, expõe em seu primeiro capítulo, os padrões de
7 Essa é a forma usada por Furtado para denominar esta fase do capitalismo. 8 Uma dessas contradições, destacada por alguns trabalhos (Furtado, Prado Jr., Fausto), é que no processo de distribuição da produção, se faziam intensas as formas ilícitas de comercialização (um mercado informal, livre das taxações da Coroa – ao meu ver, uma contradição constante do capitalismo), que, mesmo assim, não impediam o grande acúmulo de riquezas por parte de Portugal.

XXXVII
dominação externa que ocorreram na América Latina. E é com base nesses
padrões, que procurarei demonstrar a trajetória histórica do ensino agrícola no
Brasil, usando como mediação as demandas do setor de produção agrícola.
1.2.1 – A crise do padrão de dominação colonial e a intenção da fundação do ensino agrícola no Brasil.
O padrão de dominação colonial que, segundo Fernandes (1973), se
estende por mais de três séculos (XVI, XVII e XVIII) na América Latina, tem como
característica uma forma complexa de relações entre as diferentes dependências
que se estabeleceram nas colônias, tanto do ponto de vista social quanto
econômico.
Havia, especificamente no Brasil, a vontade de uma “independência”, por
parte dos que, enviados d’além mar, ocupavam essas terras, principalmente em
relação às interferências econômicas exercidas por agentes externos (Coroa e
paises que comercializavam os produtos agrícolas). Porém, essa vontade de
independência convivia, contraditoriamente, com a necessidade de manutenção
das relações sociais que se estabeleceram a partir desse padrão de dominação
colonial.
Assim, segundo Fernandes (1973), essa contradição marcou e configurou-
se na crise do padrão de dominação colonial, e é justamente na configuração da
crise desse padrão que surge a intenção, por parte da Coroa portuguesa, da
criação de uma escola de formação de profissionais para atuarem na produção
agrícola, materializada na Carta Régia de D. João VI, ao Conde dos Arcos, de

XXXVIII
1812 9. Dessa forma, no texto que segue, tentarei descortinar o cenário dessa
crise, na perspectiva de elucidar quais elementos dariam sentido a essa intenção.
1.2.1.1 – Início da Produção Agrícola no Brasil Segundo a análise de Celso Furtado (1968), a colônia portuguesa (Brasil)
era, do ponto de vista da defesa das terras, muito onerosa à coroa. A América
passava por um período de invasões européias, na tentativa de cada nação,
ampliar seus limites de exploração de metais, por isso “prevalecia o princípio de
que espanhóis e portugueses não tinham direito senão àquelas terras que
houvessem efetivamente ocupado” (p.6). Somente o ouro extraído do solo
brasileiro não seria suficiente para cobrir os gastos com a defesa, dado que o
resultado da exploração de metais destinado à coroa, se mantinha na própria
aristocracia portuguesa.
Contudo, tornava-se cada dia mais claro que se perderiam as terras americanas a menos que fôsse realizado um esfôrço de monta para ocupá-las permanentemente. (...). Êsse esfôrço significava desviar recursos de emprêsas muito mais produtivas no oriente. A miragem do ouro que existia no interior das terras Brasil – à qual não era estranha a pressão crescente dos franceses – pesou seguramente na decisão tomada de realizar um esforço relativamente grande para conservar as terras americanas. Sem embargo, os recursos de que dispunha Portugal para colocar improdutivamente no Brasil eram limitados e dificilmente teriam sido suficientes para defender as novas terras por muito tempo.(Ibid., p.7).
Coube a Portugal a tarefa de encontrar uma forma
de utilização econômica das terras americanas que não fôsse a fácil extração de metais preciosos. Sòmente assim seria possível cobrir os gastos de defesa dessas terras. Êste
9 Publicada na íntegra em Moacyr (1936). (ANEXO).

XXXIX
problema foi discutido amplamente e a alto nível, com a interferência de gente – como Damião de Góis – que via o desenvolvimento da Europa contemporânea com uma ampla perspectiva. Das medidas políticas que então foram tomadas resultou o início da exploração agrícola das terras brasileiras, acontecimento de enorme importância na história americana. De simples êmpresa espoliativa e extrativa – idêntica à que na mesma época estava sendo empreendida na costa da África e nas Índias Orientais - a América passa a constituir parte integrante da economia reprodutiva européia, cuja técnica e capitais nela se aplicam para criar de forma permanente um fluxo de bens destinados ao mercado europeu. (Ibidem, p. 8).
A experiência da produção de açúcar, por Portugal, nas ilhas do Atlântico,
estimulou o desenvolvimento das forças produtivas (equipamentos e máquinas de
engenho) na corte. Dessa forma estabeleceu-se entre Portugal e sua colônia
(Brasil) a perspectiva de uma divisão “internacional”10 do trabalho: Portugal, como
centro de desenvolvimento técnico, e o Brasil, como local de operacionalização,
ou seja, de produção, propriamente dita.
Porém o próprio processo de ocupação das terras brasileiras, como nos
lembra Caio Prado Júnior (1997), não foi de fácil aceitação. Poucos eram aqueles
portugueses que se dispunham transferir-se para a nova colônia, com o intuito de
produção agrícola – já que o grande interesse se concentrava no tráfico de
madeira -, apenas doze “indivíduos de pequena expressão social e econômica”
(p.31) aceitaram o “desafio”. Sendo que não foi esse “desafio” que os motivou, em
contrapartida receberam do Rei de Portugal “vantagens consideráveis: nada
menos que poderes soberanos” (p.31), dos quais o próprio Rei abria mão.
10 Entre aspas, pois do ponto de vista jurídico, a internacionalização ainda não existia pelo simples fato de o Brasil ser colônia de Portugal, ou seja, uma mesma nação.

XL
Somas relativamente grandes foram despendidas nestas primeiras empresas colonizadoras do Brasil. Os donatários, que em regra não dispunham de grandes recursos próprios, levantaram fundos tanto de Portugal como na Holanda, tendo contribuído em boa parte banqueiros e negociantes judeus. A perspectiva principal do negócio está na cana-de-açúcar. Tratava-se de um produto de grande valor comercial na Europa. Forneciam-no, mas em pequena quantidade, a Sicília, as ilhas do Atlântico ocupadas e exploradas pelos portugueses desde o século anterior (Madeira, Cabo Verde), e o Oriente de onde chegava por intermédio dos árabes e dos traficantes italianos do Mediterrâneo. O volume deste fornecimento era contudo tão reduzido que o açúcar se vendia em boticas, pesado aos gramas.(Ibid., p.32).
Sabedores de que o Brasil assemelhava-se as ilhas do Atlântico, no
tocante a suas características climáticas e solo aparentemente fértil, os
portugueses investem seus esforços na produção daquele que era um dos mais
escassos, e por isso mais caro, produto de origem agrícola vendido no comércio
europeu. O Brasil é então colonizado, principalmente seu litoral, através da
atividade agrícola de caráter exportador, extensivo e monoculturista.
Durante muito tempo essa atividade foi extremamente rentável, já que a
produção era realizada através do uso de mão-de-obra escrava e em grandes
extensões de terra, por isso mesmo não existia, de modo geral, grandes
preocupações em aplicação de técnicas que visassem o aumento de
produtividade e melhores condições de trabalho, serão essas características que
posteriormente contribuirão para o declínio econômico da produção de cana-de-
açúcar no Brasil.

XLI
Se, por acaso, o pequeno reino de Portugal não utilizasse o artifício da
produção agrícola para ocupação de sua parte na América, provavelmente não
manteria tal extensão territorial.
O êxito da grande emprêsa agrícola do século XVI – única na época – constituiu portanto a razão de ser da continuidade da presença dos portuguêses em uma grande extensão das terras americanas. No século seguinte, quando se modifica a relação de forças na Europa com o predomínio das nações excluídas da América pelo Tratado de Tordesilhas, Portugal, já havia avançado enormemente na ocupação efetiva da parte que lhe coubera.(FURTADO, 1968, p.14).
1.2.1.2 - A produção de cana nas Antilhas. Dada a extraordinária produção de cana no Brasil, e a consolidada
comercialização do açúcar na Europa, desenvolveu-se, praticamente, um
monopólio brasileiro na produção canavieira; mesmo havendo outras áreas de
colonização nas Américas, com características bem parecidas com as nossas
(solo, clima, fotoperíodo, etc.). Essas mesmas áreas de colonização espanhola,
inglesa e francesa, dedicavam-se a outros cultivares, como, por exemplo, o fumo.
Havia também, uma outra diferenciação quanto à forma de ocupação: as Antilhas
viveram um processo diferente, e foram ocupadas com o objetivo de reunir “fortes
núcleos de população européia” (FURTADO, 1968, p.28). Assim as propriedades
rurais antilhanas eram menores e a mão-de-obra oriunda da própria colonização
européia (na maioria das vezes).
Porém os altos lucros conseguidos pela produção e comercialização do
açúcar, até então, de origem brasileira, estimulou a concorrência. Mas como
competir com o formato de produção brasileiro?

XLII
Foi um fator externo que estimulou o avanço da produção de cana nas
Antilhas: no final da primeira metade do séc. XVII, ocorreu a expulsão definitiva
dos holandeses do nordeste brasileiro (Ibid., p.28). Ao invés de tentarem
conquistar outras terras, eles se deslocaram para as Antilhas, e com o
conhecimento adquirido com a experiência na produção brasileira, alavacaram a
produção de açúcar naquela região.
Êstes não sòmente deram a necessária ajuda
técnica, como também propiciaram crédito fácil para comprar equipamentos, escravos e terra. Em pouco tempo se constituíram nas ilhas poderosos grupos financeiros que controlavam grandes quantidades de terras e possuíam engenhos açucareiros de grandes proporções. Dessa forma, menos de um decênio depois da expulsão dos holandeses do Brasil, operava nas Antilhas uma economia açucareira de consideráveis proporções, cujos equipamentos eram totalmente novos, e que se beneficiava de mais favorável posição geográfica. (Ibidem, p.29).
Essas rápidas transformações acarretaram, para a região das Antilhas,
uma diminuição considerável do número de brancos – que se transferiram para
outras colônias, do norte - e um grande aumento de população de origem africana
(escravos), tão necessários àquela forma de produção.
Tais mudanças foram fundamentais para o estabelecimento de um novo
centro produtor de açúcar, que concorria diretamente com os preços brasileiros.
Cabe destacar que no processo histórico, os produtores antilhanos,
também se preocuparam com o aperfeiçoamento das técnicas de produção, pois
esse seria o fator capaz de superar as grandes extensões de terra que o Brasil
possuía.

XLIII
Essa preocupação cunhou a necessidade da criação de escolas que se
preocupassem com a formação agrícola da população antilhana. De acordo com
Manoel A. dos Santos Dias Filho, em 1908, em seu discurso 11, no Segundo
Congresso da Associação Nacional de Agricultura:
Em Barbados, em Cuba, em Porto Rico, nos Estados Unidos, onde influe no Governo o gênio Inglês, admirei o interesse que desperta o ensino primário e o ensino agrícola.
Em todas as numerosas escolas publicas em Barbados há carreiras puramente de agricultura que acompanham o alumno desde as primeiras lettras ate o fim do curso. Os alumnos que mais se distiguem têm jus a continuar seus estudos na Inglaterra ás expensas do Governo Inglês.
Quando os americanos tomaram posse de Porto Rico o seu primeiro cuidado foi reformar e desenvolver a instrucção primária, seguida do ensino agrícola, já tendo cerca de 1.000 escolas com uma frequencia de mais de 45.000 alumnos.
Nas ruas a cada passo se deparava (era em fevereiro) com a seguinte advertencia escripta em Inglês:
- ‘É tempo de mandar os vossos filhos á escola’ Criem-se, pois, Escolas de Agricultura destinadas
ao preparo agrícola-industrial theorico e pratico, que não póde ser supprido pelas nossas academias de direito, de engenharia, de medicina e de pharmacia. (DIAS FILHO, 1908, p.54).
Embora esta visita, que resultou em um relatório, tenha sido feita somente
no início do séc. XX, ela nos mostra a grande preocupação de parte dos
produtores brasileiros em investigarem as causas do sucesso da produção
canavieira nas Antilhas. Ao lê-lo observei que a tal comissão se preocupou, não só
11 Discurso de apresentação do relatório de visita de uma comissão as Antilhas, liderada por Manoel A. dos Santos Filho, inicialmente designada pela Associação dos Produtores de Cana, e respaldada pela Associação Nacional da Agricultura.

XLIV
em conhecer as técnicas aplicadas a produção, mas também em entender como
se deu o desenvolvimento desse setor produtivo nas Antilhas, e como essa região,
a época, se colocava como centro de referência na produção de “canna e de
assucar”. D’onde observamos que essa “referência” na produção, resultava do
processo histórico vivido pelos antilhanos, culminando no início do séc. XX, em
uma superação na aplicação técnico/cientifica na produção agrícola, em relação
às propriedades brasileiras.
1.2.1.3 - Produção de cana: decadência e breve ascensão.
A gradual e lenta inanição do trabalho pela deficiencia de braços productores aggravou-se ultimamente por effeito das circunstancias anormaes em que se encontra o paiz: e a quem, lance olhar prescrutador para estado geral da propriedade agrícola, entre nós, não póde deixar de impressionar a sua precaria condição.
Eu não sei se seria exagerado considerando a lavoura do Brasil em estado de liquidação forçada, salvas algumas poucas excepções. Esse estado de liquidação bem póde chegar a transformar-se em estado de dissolução, se por ventura á intelligencia e á sollicitude patriotica dos poderes publicos nacionaes e adequadas que provoquem uma reacção salutar. (BOCAYUVA, 1868, p.6)
A citação acima, embora trace um quadro caótico da agricultura brasileira,
na segunda metade do séc. XIX, é reflexo, em parte, do processo de
enfraquecimento vivido pela agricultura brasileira no final do séc. XVIII e início do
séc. XIX.
Um dos fatores, destacado por Celso Furtado (1968) para esse
enfraquecimento, foi a diminuição gradual da mão-de-obra escrava (fator
fundamental que mantinha os baixos preços do açúcar no mercado, possibilitando

XLV
uma certa concorrência ao produzido nas Antilhas). Essa diminuição não se deveu
somente a repressão implementada pela Inglaterra ao tráfico negreiro. No Brasil,
diferentemente dos Estados Unidos, a população de escravos não crescia, muito
pelo contrário; houve uma diminuição nesse segmento da população, dada
exploração extrema a que eram submetidos.
O fato de que a população escrava brasileira haja tido uma taxa de mortalidade bem superior à de natalidade indica que as condições de vida da mesma deveriam ser extremamente precárias. O regime alimentar da massa escrava ocupada nas plantações açucareiras era particularmente deficiente. Ao crescer a procura de escravos no sul para as plantações de café intensifica-se o tráfico interno em prejuízo das regiões que já estavam operando com rentabilidade reduzida. (...). Demais, é provável que a redução do abastecimento de africanos e a elevação do preço dêstes hajam provocado uma intensificação na utilização da mão-de-obra e portanto um desgaste ainda maior da população escrava.(p.127)
No caso brasileiro, o crescimento era puramente em extensão. Consistia em ampliar a utilização do fator disponível – a terra – mediante a incorporação de mais mão-de-obra. A chave de todo problema econômico estava, portanto, na oferta de mão-de-obra. (p.128).
A produção de cana, no Brasil, que dependia exclusivamente da mão-de-
obra escrava, vive seus dias de declínio. Houve, obviamente, outros fatores que
concorreram para tal situação. Destaco entre eles, a condição política por qual
passava Portugal , primeiro de dominado pelo reinado espanhol, e depois de
preso a acordos de proteção, basicamente militar com a Inglaterra. O que forçou-
no a transferir grande parte dos seus esforços ao minério de metais preciosos
(ouro), com os quais manteve uma situação de certo equilíbrio político na Europa.

XLVI
Sendo assim, “A contrapartida da fulgurante ascensão das minas foi a decadência
da agricultura” (PRADO JÚNIOR, 1997, p.79).
Desta forma o foco para a produção agrícola foi secundarizado, embora,
devido as grandes extensões territoriais, e ao acúmulo gerado pelos tempos
áureos da produção, este setor foi se mantendo, mesmo que deficiente.
Em especial, a produção de cana de açúcar foi vítima dos mesmos
fatores que lhe deram destaque durante os séculos XVI e XVII: grandes faixas de
terras e utilização de mão-de-obra escrava. Sendo então estabelecida por esses
moldes, que se configuraram em padrão de produção, a produção de cana no
Brasil não se preocupou em desenvolver técnicas para o aumento da
produtividade, pois o crescimento da produção se dava, basicamente, com a
ampliação da extensão de terras (e, realmente, havia muita disponibilidade) e
aumento da mão-de-obra escrava. Quando pelo menos um desses fatores se
tornou deficiente, originou-se o declínio de tal atividade, somado ao fato, que aqui
já foi mencionado, da forte concorrência antilhana.
Já no final do séc. XVIII, com a agora decadente mineração, a produção
de cana ganha novo fôlego, junto com a produção de algodão, e outras culturas
(arroz e anil), todas de caráter exportador, serão o centro da economia brasileira,
nessa época, havendo um deslocamento progressivo da produção do norte para o
sul.
Em especial, a produção de algodão tem, nessa época, um crescimento
espetacular por conta da demanda originária da industria têxtil européia.

XLVII
A cultura do algodão disseminar-se-á largamente pelo território brasileiro. Sua área de difusão estende-se desde o Extremo- Norte (até o Pará tem sua pequena exportação), até o planalto dos Campos-Gerais (atual estado do Paraná); e avança na base da Serra, mais para o sul, (...), nas proximidades de Porto Alegre. Para o interior, até Goiás produzia e exportava algodão. O país inteiro será atingido pelo boom, e alinhar-se-á entre os grandes produtores mundiais de fibra. Mas não será mais que um momentâneo acesso. Com o declínio dos preços, que se verificará ininterruptamente desde o começo do séc.XIX, conseqüência sobretudo do considerável aumento da produção norte-americana e do aperfeiçoamento da técnica que o Brasil não acompanhou, a nossa área algodoeira vai-se restringindo; e estabilizar-se-á com índices muito baixos, em dois ou três pontos apenas. (Ibid., p.82, negrito nosso)
A breve ascensão da cana encontra nova barreira com a concorrência do
açúcar oriundo da beterraba. “Os paises europeus, e também os Estados Unidos,
que são os grandes consumidores de açúcar e principais mercados para a
produção dos trópicos americanos, tornam-se, com a utilização da beterraba, de
consumidores em produtores; e não somente para suas necessidades próprias,
mas ainda com excessos exportáveis”. (Ibid., p.158).
A crise dos países produtores de cana é geral. As colônias ainda gozarão de certas regalias nos mercados de suas metrópoles respectivas. Mas os produtores independentes não contarão com outra coisa que suas próprias forças. O Brasil, entre eles, será particularmente atingido. Desvantajava-o uma posição geográfica excêntrica; mas sobre tudo o nível rudimentar de sua técnica de produção, (...). A sua contribuição ao mercado irá assim, em termos relativos, em declínio: já em meados do século estará colocado em quinto lugar entre os produtores mundiais de cana-de-açúcar, com menos de 8% da produção total. O declínio em termos absolutos virá pelos fins do século. (Ibidem, p. 158, negrito nosso).

XLVIII
O café, que alguns podem estranhar por não fazer parte desse elenco de
culturas, ainda no início do século XIX tem uma participação muito modesta na
economia brasileira e não se configura como atividade principal, o que acontecerá
tempos depois, a partir da década de 1830.
1.2.1.4 - A intenção de criação de uma escola agrícola no Brasil. Primeiramente, vejamos os aspectos apontados nas considerações
iniciais feitas por D. João VI na carta de 1812:
Conde de Arcos. Sendo o principal objéto dos meus vigilantes cuidados o elevar ao maior gráu da opulencia e prosperidade, de que forem suscetiveis pela sua extensão, fertilidade e vantajosa posição, os meus vastos Estados do Brasil; atendendo que a agricultura, quando bem entendida e praticada, é sem duvida a primeira e a amis inexhaurivel fonte de abundancia, e da riqueza nacional; constando na minha real presença que por falta de conhecimentos proprios deste importante ramo das ciencias naturais não tem prosperado no Brasil algumas culturas já tentadas, são desconhecidas ou desprezadas outras, de que se poderia colher consideravel proveito, e se não tira toda a possivel vantagem ainda mesmo daquelas que se reputam estabelecidas, e por serem muitas delas inferiores na qualidade, e superiores em preço ás homogeneas dos paises estrangeiros, já por falta dos bons principios agronômicos, já por ignorancia dos processos e maquinas rurais, que tanto servem para brevidade e facilidade de mão de obra, e para a toda multiplicação de variedades das produções da natureza, não podendo por taes motivos sustentar a concurrencia nos mercados da Europa; tendo resolvido franquear e facilitar a todos os meus vassalos os meios de adquirirem os bons princípios de agricultura, que sendo uma das artes que exige maior numero de conhecimentos diversos, não tem sido até agora ensinada publica e geralmente; mas antes aprendida por simples rotina, do que provem o seu tão vagaroso progresso e melhoramento. Portanto, principiando a por em pratica estas

XLIX
minhas paternais disposições: hei por bem que debaixo de vossas inspeção, e segundo as disposições provisorias que com esta baixam assinadas pelo Conde de Arcos se estabeleça imediatamente um Curso de Agricultura na Cidade da Bahia para instrução publica dos habitantes dessa Capitania, e que servirá de norma aos que me proponho estabelecer em todas as outras Capitanias dos meus Estados. (MOACYR, 1936, p.52 e 53, negrito nosso)
Mesmo com tantas recomendações, considerações e a ordem de um
cumprimento imediato, a primeira escola agrícola do país só irá surgir em 1859.
(trataremos desta questão mais a frente).
Assim, com o breve cenário econômico e político apresentado até aqui
tentaremos entender quais seriam as razões para a criação de uma escola, no
Brasil, que tratasse de técnicas agrícolas.
Nota-se que a colônia brasileira se estabelece e se mantém,
principalmente, através das atividades agrícolas destinadas ao mercado externo, o
que demonstra uma dependência fundamental às exigências e demandas desse
mercado.
Inicialmente a grande extensão de terras e a necessidade de ocupá-las,
por parte de Portugal, aliado a dificuldade em encontrar possíveis colonizadores
que apostassem na produção agrícola, estimulou a distribuição de enormes faixas
de terras e concentrou-as nas mãos de poucos proprietários. Terra era o que não
faltava. Assim todo o aumento de produção se pautava no aumento da extensão
territorial, e por conseguinte, no aumento da mão-de-obra escrava.
Enquanto Portugal mantinha o monopólio da produção de cana, parecia
que tudo ia bem. Crescia a demanda, aumentavam-se então as extensões de

L
terras produtoras, que aliás se concentravam na região litorânea, ficando os
interiores por conta de produções de subsistência, como no caso a pecuária
(grande responsável pela ampliação do território brasileiro)12 .
Esse modelo de produção tem seu limite na concorrência pelo mercado
internacional. Como, durante um tempo, a colônia desviara seu foco para o
minério, o adormecimento da produção agrícola foi compensado pelo ouro
extraído de nosso solo, e assim, a preocupação da corte com a inovação da
produção agrícola também adormeceu.
Assim, o modelo de produção agrícola no Brasil se mantinha nos mesmos
moldes que o originou, enquanto que outras colônias, movidas pela vontade de
inserção no mercado, tomaram um outro rumo, na perspectiva de se
estabelecerem na competição.
Segundo Ellen Wood (2001), as relações capitalistas nasceram das
relações que se estabeleceram no campo inglês, ainda no século XVI, e essas
relações foram as propulsoras da preocupação pelo aumento da produtividade
(mais produção por área plantada), e vice-versa13. Mesmo que hoje aquelas
técnicas pareçam rudimentares, essas novas formas de produzir, requeriam
menos pessoas nos campos, dispensando um contingente de trabalhadores que
se deslocavam para as cidades (no caso, Londres), ou iam para as colônias
Inglesas. Assim, aqueles que se deslocavam para as colônias, por serem de
origem inglesa, já traziam na sua formação uma noção diferente de trabalho com a
12 Para entender melhor esse processo, recomendo a leitura de Celso Furtado (1968) e Caio Prado Júnior (1997). Nos dois trabalhos há análises da interiorização vinculada a pecuária. 13 Para melhor compreensão da gênese destas relações capitalistas, recomendo o trabalho de Wood; “A origem do capitalismo”.

LI
terra , de otimização dos espaços e de extração dos recursos naturais, ou seja,
eles eram a expressão do resultado das mudanças historicamente construídas no
campo inglês, por isso mesmo originários de novas relações, tanto com a terra,
quanto sociais 14.
Como as colônias Inglesas, inicialmente se estabeleceram com
ocupação majoritariamente européia, onde a mão-de-obra era basicamente
familiar e as terras mais limitadas, e mesmo com uma cultura de otimização do
espaço plantado, não era possível competir com os preços auferidos pela colônia
Brasil aos produtos agrícolas, justamente por conta dos fatores mencionados
anteriormente neste trabalho.
Quando essas colônias adotaram o trabalho escravo em larga escala na
produção, aliado a preocupação do uso mais intenso do solo; e mais, o
posicionamento geográfico privilegiado (mais próximo da Europa, ou seja,
menores gastos com transporte), conseguiram superar o Brasil, no fornecimento
de açúcar para o mercado europeu, havendo uma conseqüente diminuição na
produção desse produto aqui. E esta não é uma questão menor, mesmo que no
14 Como forma de perceber o resultado dessa maneira de utilização da terra, vejamos o que relata Foster (2005): “Durante o século XIX, a principal preocupação ambiental da sociedade capitalista em toda a Europa e América do Norte era o esgotamento da fertilidade do solo, só comparável às preocupações com a crescente poluição das cidades, o desflorestamento de continentes inteiros e os temores malthusianos de superpopulação. A natureza crítica deste problema da relação com o solo pode ser vista com bastante clareza nas décadas de 1820 e 1830, durante o período de franca crise que engendrou a segunda revolução agrícola. Mas o problema não acabou simplesmente com a ciência da química de solo. Em vez disso, houve um reconhecimento cada vez maior de até onde os novos métodos haviam servido apenas para racionalizar um processo de destruição ecológica. Nas décadas de 1820 e 1830, na Grã-Bretanha, e logo depois nas outras economias capitalistas em desenvolvimento da Europa e da América do Norte, preocupações difusas com a ‘exaustão do solo’ levaram a um pânico virtual e a um aumento fenomenal da demanda por fertilizante. Os agricultores europeus da época invadiram os campos de batalha napoleônicos de Waterloo e Austerlitz e cavavam catacumbas, de tão desesperados que estavam por ossos para espalhar sobre seus campos. O valor das importações de osso da Grã-Bretanha subiu vertiginosamente de 14.400 libras em 1823 para 254.600 libras em 1837. O primeiro barco carregado de guano peruano (esterco de aves marinhas) chegou a Liverpool em 1835; em 1841, haviam sido importadas 1.700 toneladas e, em 1847, 222.000 toneladas.” (p.212)

LII
Brasil já não se produzisse somente cana, foi esta a cultura utilizada para o início
da ocupação do território e que, através das relações de produção, configurou
uma classe dominante, com seus hábitos e costumes, que viu seus prestígios e
privilégios (ou melhor, sua condição de acumulação) decaírem junto com ela15.
Sendo assim, junto com as inovações criadas em virtude da vinda da
família real portuguesa ao Brasil há a intenção da criação de uma escola de
ensino agrícola, onde a preocupação explicitada é o incentivo ao aprimoramento
das técnicas de produção. Tal intenção tem o nítido objetivo de demonstrar uma
“suposta”16preocupação da Coroa, na superação da defasagem17 produtiva do
setor agrícola brasileiro. Efetivamente essa condição, resultado do processo de
produção aqui desenvolvido, e que ficou evidenciado historicamente, precisava no
mínimo de uma demonstração de preocupação por parte Del Rei. O que se
materializava através da Carta de 1812. Nesse caso um aspecto do
comportamento político brasileiro ficou evidenciado: nem sempre o que é
propalado por uma via legal se concretiza em ações, ou seja, as vezes a
divulgação de determinadas intenções não passam de uma farsa: é a letra morta
15 Ou seja, a forma de se produzir estabelece a estrutura da sociedade e vice-versa. 16 “Suposta”, pois, a intenção só foi efetivada durante o segundo Império. Embora a primeira escola tivesse sido fundada nos moldes da carta de 1812, por que somente em 1859 ela se concretiza? É esse questionamento que tento responder adiante. 17 Segundo Fausto (2004): “Quanto à tecnologia, a posição de Cuba também era melhor: em torno de 1860, 70% dos engenhos cubanos usavam máquinas a vapor, em comparação com apenas 2% dos engenhos pernambucanos.” (p.238). Embora o dado apresentado esteja relacionado a um período posterior ao investigado, entendo que ele demonstra o resultado de um processo histórico que tem sua origem no final da primeira metade do séc. XVII.

LIII
para enganar os vivos. Fato é, que a primeira escola agrícola a ser fundada sob
influencia da carta só se materializou em 1859, durante o segundo reinado18.
1.2.2 - O neocolonialismo e a primeira escola agrícola no Brasil.
De acordo com Fernandes (1973), o neocolonialismo, como padrão de
dominação externa, tem um curto período na história da América Latina,
permanecendo durante quase cem anos (entre as metades dos séc. XVIII e XIX)19,
surgindo “como produto de desagregação do antigo sistema colonial” (p.14) e
onde “a dominação externa tornou-se largamente indireta” (p.15).
A expansão das agências comerciais e bancárias na região envolvia um número pequeno de pessoal qualificado, a difusão em escala reduzida de novas instituições econômicas e de novas técnicas sociais, e várias modalidades de associação com agentes e interesses locais e nacionais. A monopolização dos mercados latino-americanos foi mais um produto do acaso que de imposição, pois a s ex-colônias não possuíam os recursos necessários para produzir os bens importados e seus setores sociais dominantes tinham grande interesse na continuidade da exportação. De fato, os ‘produtores’ de bens primários podiam absorver pelo menos parte do quantum que antes lhes era tirado através do antigo padrão de exploração colonial, e suas ‘economias coloniais’ recebiam o primeiro impulso para a internalização de um mercado capitalista moderno. Entretanto, a dominação externa era uma realidade concreta e permanente, a
18 Como hipótese, e somente como hipótese, sou levado a crer que a carta que expõe a vontade da criação da escola agrícola na Bahia traz consigo a intenção imediata de conter o descontentamento dos produtores de cana do Nordeste, devido a visível defasagem na produção que se materializava na perda de uma grande fatia do mercado internacional, ou seja, ela aparece como uma resposta rápida para mascarar uma crise. 19Como Fernandes trata dessa análise levando em consideração a América Latina, ou seja, uma análise de caráter mais amplo, entendo que, especificamente no Brasil a periodização deste padrão tenha pequenas alterações, já que o evento da vinda da família Real para o Brasil, e suas conseqüências mais imediatas, servem como marco identificador do início desse período (embora saiba que a história não deva ser entendida de forma mecânica e eventual, mas como processo, cuja tentativa de identificação de marcos pode nos induzir a erros), ou melhor, onde suas características se configuram mais aparentes. Estendendo-se até o segundo império, mais precisamente no período das ações mais contundentes em relação à abolição da escravatura.

LIV
despeito do seu caráter como processo puramente econômico. Os efeitos estruturais e históricos dessa dominação foram agravados pelo fato de que novos controles desempenhavam uma função reconhecida: a manutenção do status quo ante da economia, com o apoio e a cumplicidade das ‘classes exportadoras’ (os produtores rurais) e os seus agentes ou os comerciantes urbanos. O esforço necessário para alterar toda a infra-estrutura da economia parecia tão difícil e caro que esses setores sociais e suas elites no poder preferiram escolher um papel econômico secundário e dependente, aceitando como vantajosa a perpetuação das estruturas econômicas construídas sob o antigo sistema colonial. (Ibidem, p.16, negrito nosso)
Nesse período a Inglaterra inicia uma política de dominação dos comércios
dos centros urbanos que surgiam nas colônias e ex-colônias, pois nelas se
estabelecia um mercado consumidor “relativamente amplo”, tornando “mais
atraente o controle de posições estratégicas” (Ibid. p. 15).
Por isso, um dos principais atos de D. João VI, que consolidou tal
dominação foi à abertura dos portos brasileiros às “Nações Amigas” (Inglaterra),
em 28 de janeiro de 1808, mesmo que a dependência de Portugal em relação à
Inglaterra já houvesse se materializado em acordos de comércio e “proteção” do
território luso20.
Dessa forma:
A abertura dos portos foi um ato historicamente previsível, mas ao mesmo tempo impulsionado pelas circunstâncias do momento. Portugal estava ocupado por tropas francesas, e o comércio não podia ser feito através dele. Para a Coroa, era preferível legalizar o extenso
20 Sobre tal questão Lenine (1975) afirma: “Portugal é um Estado independente, soberano, mas na realidade há mais de duzentos anos, desde a Guerra da Sucessão da Espanha (1701-1714), que está sob o protectorado da Inglaterra. A Inglaterra defendeu-o, e defendeu as possessões coloniais portuguesas, para reforçar as suas próprias posições na luta contra seus adversários : a Espanha e a França. A Inglaterra obteve em troca vantagens comerciais, melhores condições para exportação de mercadorias e, sobretudo, condições para a exportação de capitais para Portugal e suas colônias, pôde utilizar os portos e as ilhas de Portugal, os seus cabos telegráficos, etc.”(p.104 e 105).

LV
contrabando existente entre a Colônia e a Inglaterra e receber os tributos devidos. (Fausto, 2004, p.122)
Mesmo com essa visível dominação que se estabeleceu no campo
comercial, a maneira de se produzir na agricultura manteve-se nos mesmos
moldes (trabalho escravo). Modelo que, contraditoriamente, levou à decadência a
produção de açúcar e que contribuiu para o impulso da cultura do café. E este é
um dos fatores que considero fundamental para entender o adiamento do projeto
de criação de uma escola agrícola na Brasil.
1.2.2.1 - A predominância da cultura do café contribuindo para o
adiamento do projeto.
Conforme afirmei anteriormente, a cultura do café passou a ter
predominância no cenário econômico brasileiro a partir da segunda metade do
séc. XIX, mas já na década de 1830 ele tornou-se o produto mais exportado. Isso
fica mais claro quando observamos a tabela a seguir.
Brasil – Exportações de Mercadorias
(% do valor dos oito produtos principais sobre o valor total da exportação)
Decênio Total Café Açúcar
Cacau
Erva-Mate Fumo
Algodão
Borracha
Couros e Peles
1821-1830 85,8 18,4 30,1 0,5 - 2,5 20,6 0,1 13,6 1831-1840 89,8 43,8 24,0 0,6 0,5 1,9 10,8 0,3 7,9 1841-1850 88,2 41,4 26,7 1,0 0,9 1,8 7,5 0,4 8,5 1851-1860 90,9 48,8 21,2 1,0 1,6 2,6 6,2 2,3 7,2 1861-1870 90,3 45,5 12,3 0,9 1,2 3,0 18,3 3,1 6,0 1871-1880 95,1 56,6 11,8 1,2 1,5 3,4 9,5 5,5 5,6 1881-1890 92,3 61,5 9,9 1,6 1,2 2,7 4,2 8,0 3,2 1891-1900 95,6 64,5 6,6 1,5 1,3 2,2 2,7 15,0 2,4
Fonte: Comércio Exterior do Brasil, nº 1, C. E., e nº 12-A, do Serviço de Estatística Econômica e Financeira do Ministério da Fazenda, em Hélio Schlittler Silva, “Tendências e Características Gerais do Comércio Exterior no Século XIX”, Revista da História da Economia Brasileira, ano 1, jun. 1953; apud Fausto, 2004, p.200, negrito nosso.

LVI
O modelo de implantação da cultura do café diferenciou-se muito pouco
daquele que já era desenvolvido em outras lavouras na Colônia, tais diferenças
eram basicamente: a) a localização dessa nova monocultura; b) a origem desses
novos proprietários; c) e os tratos exigidos pela cultura.
a) O posicionamento na região do Vale do Paraíba tinha em conta duas
características importantes, como demonstra Fausto (2004): uma delas é que a
região era cortada por caminhos e trilhas que ligavam o Rio de Janeiro a Minas
Gerais (o que facilitava o escoamento de qualquer produção), e nesses percursos
havia muita terra disponível que apresentavam, então, a segunda característica,
que era a das condições climáticas e de solo “favoráveis” à produção21.
b) Quanto à origem, lembra-nos o mesmo autor, que essa nova classe de
proprietários de terras “não tinham ascendentes muito privilegiados”(p.186).
Em seu estudo sobre Vassouras, o historiador Stanley Stein observa que muitas das famílias dominantes no município provinham de antepassados comerciantes, pequenos proprietários e, em alguns casos, militares de alta patente. De qualquer forma, famílias importantes, como os Werneck e os Ribeiro de Avelar, já no início do século XIX estavam estrategicamente situadas, pois já eram proprietárias de extensas sesmarias. (p.187 e 187)
21 Foi favorável ao grande proprietário enquanto a produção era mantida a base de mão-de-obra escrava. Um dos aspectos – entendo assim - que contribuiu para a decadência dessa atividade no Vale do Paraíba foi justamente a conformação da topografia local. Essa região se caracteriza por suas difíceis condições de trabalho, dada grande declividade dos terrenos: é o que os geógrafos chamam de “mar de morros”. Regiões como a do Oeste Paulista, apresentam características topográficas bem mais favoráveis. Enquanto a produção era tocada por mãos escravas, o vale do Paraíba mantinha-se na predominância da produção de café, porém trabalhadores “livres” dificilmente se sujeitariam às condições que eram exigidas pela topografia local. Há outros fatores históricos que efetivamente não podem ser deixados de lado ao fazermos esta análise, e nem é intenção minha desprezá-los, porém este é um dado pouco abordado, e que merece também consideração a respeito.

LVII
Entendo, portanto, que a origem dessa nova parcela da classe dominante já
era reflexo desse novo padrão dominação externa (neocolonialismo) descrito por
Fernandes. Parte desses novos proprietários se originaram daqueles que
acumularam capital, com o comércio, com o contrabando e com o tráfico de
escravos, do antigo sistema, e tinham como objetivo galgar uma posição de
prestígio no quadro da aristocracia.
O deslocamento da hegemonia para esta nova fração da classe dominante,
gerou alguns conflitos. Não é por acaso que os grandes focos de resistência e
revoltas, no período do vice-reinado, passando pelo primeiro império, regência e
segundo império, se deram no Nordeste (Provavelmente com a existência dessa
nova fração surgiram, também, disputas intraclasse, que nesse trabalho não terei
condições de investigar).
c) Simplesmente por ser o café uma espécie perene, por si só já exigia
tratos diferenciados da cana.
Sendo assim, importa destacar as características semelhantes no processo
de produção da cana e do café (pois elas apontam para o entendimento do
adiamento do projeto de instalação de uma escola de técnicas agrícolas na Brasil).
Tais características dizem respeito principalmente à forma de exploração do
trabalho e a não preocupação do uso de técnicas aplicáveis ao aumento e/ou
manutenção da produtividade.
As citações a seguir tentarão demonstrar essa semelhança a que me refiro.
Durante quase todo período monárquico, o cultivo do café foi feito com o emprego de técnicas bastante simples. Algumas dessas técnicas de uso do solo, ou, em certos aspectos de depredação do solo existem até hoje. A produção era extensiva, isto é, não havia interesse ou preocupação com

LVIII
a produtividade da terra. Esgotado o solo, pela ausência de adubos e outros cuidados, estendia-se o cultivo a novas áreas, ficando a antiga em abandono, ou destinada a roças de alimentos.
O trato dos cafezais consistia essencialmente apenas em carpir a terra à sua volta para extirpá-la de ervas daninhas. Quando o arbusto começava a produzir, os escravos faziam manualmente a colheita anual. Calcula-se que, em média, nas lavouras fluminenses um escravo tratava de 4 mil até 7 mil pés de café, uma proporção indicativa de poucos cuidados. (Fausto, 2004, p.187 e 188).
Para Prado Jr. (1994), a baixa produtividade brasileira era uma
conseqüência da forma aqui desenvolvida de utilização do solo, porém, conclui:
...que o baixo nível técnico das nossas atividades agrárias e as conseqüências que teria, não se devem atribuir unicamente à incapacidade do colono. Em muitos casos, nos mais importantes mesmo, ele não podia fazer melhor. Poderia, é certo, acompanhar os seus concorrentes de outras colônias, atingir o seu padrão bastante superior. Mas seria pouco ainda. O mal era mais profundo. Estava no próprio sistema, um sistema de agricultura extensiva que desbaratava com mãos pródigas uma riqueza que não podia repor.(p.92, negrito nosso).
Manteve-se no espírito dos novos produtores de café do Vale do Paraíba a
falta de preocupação com as técnicas de produção. Com isso, boa parte dos
trabalhadores escravos das grandes propriedades de cana do Nordeste foram
comercializados para a região, embora ainda estivesse ativo o tráfico negreiro
(pois aqui no Brasil a exploração desse trabalho se da(va)22 até a exaustão do ser
humano, por isso mesmo, como já citamos, o número de escravos diminuía),
22 Coloco desta forma, pois ainda hoje (2006), aqui no Brasil, trabalhadores rurais trabalham até a exaustão total (morte). Recentemente noticiou-se a morte de dois trabalhadores rurais que trabalhavam no corte da cana, no interior de São Paulo. Um deles morreu depois de cortar 19 toneladas de cana, em apenas um dia de trabalho, havendo registro de outras mortes, onde um trabalhador chegou a cortar 23 toneladas. Há, portanto, aqui no Brasil, resquícios desse padrão de produção que se originou da produção agrícola colonial.

LIX
necessário, do ponto de vista dos proprietários, para ampliação e reposição de
mão-de-obra.
Assim, a decadência da produção do café no Vale do Paraíba, que
simbolizava a decadência do processo de produção escravista, pode ser vista
como um fator que estimulou a retomada do projeto de 1812, por parte de D.
Pedro II. (afinal ela também representou a decadência de grande parte da
aristocracia brasileira, já que era nessa região que se concentrava o maior número
de títulos de nobrezas emitidos pela corte).
1.2.2.2 – A crise no modelo de produção escravista.
A condenação do tráfico negreiro, estabelecida pelo avanço capitalista no mundo, é assinalada nas áreas coloniais americanas desde o processo da independência. Continuaria de pé e tenderia a efetivar-se pela força, qualquer que fosse a resistência oposta pela classe senhorial ligada ao trabalho servil. (SODRÉ, 2005, p.115)
A partir da Independência do Brasil, a Inglaterra pressionou o governo local
a abolir o trabalho escravo em suas terras, sendo essa, uma condição para o seu
reconhecimento formal. Embora, informalmente, a própria Inglaterra já admitisse o
fato, pois foi ela que mediou o reconhecimento dos Estados Unidos e Portugal,
inclusive, concedendo empréstimo ao Brasil para um acordo indenizatório com o
segundo.
Porém o modelo de produção agrícola, conforme já descrito, não prescindia
do trabalho escravo. E durante alguns decênios o número de novos africanos que
entravam no Brasil aumentava, por conta da demanda das novas lavouras de
café.

LX
A pressão inglesa continuava, e o Brasil, por depender tanto das
intervenções britânicas, aos poucos foi dando a impressão de que estava
cedendo. Tanto que em 1826, “a Inglaterra arrancou do Brasil um tratado pelo
qual, três anos após sua ratificação, seria declarado ilegal o tráfico de escravos
para o Brasil, de qualquer proveniência. A Inglaterra se reservou ainda o direito de
inspecionar, em alto-mar, navios suspeitos de comércio ilegal.”(FAUSTO, 2004,
p.192)
Já, em 1831 foi criada uma lei pelo poder Regencial, que declarava crime o
tráfico de escravos, prevendo punições severas aos que a transgredisse. Mesmo
assim,
Os traficantes ainda não eram malvistos nas camadas dominantes e se beneficiavam também das reformas descentralizadoras, realizadas pela Regência. Os júris locais, controlados pelos grandes proprietários, absolviam os poucos acusados que iam a julgamento. A lei de 1831 foi considerada uma lei “para inglês ver”. Daí em diante, essa expressão, hoje fora de moda, se tornou comum para indicar alguma atitude que só tem aparência e não é para valer. (Ibid, p.194).
A Inglaterra foi fechando o cerco e continuou a perseguição aos navios
negreiros, chegando a inspecionar as embarcações, inclusive em águas
brasileiras, julgando e condenando os acusados em tribunais ingleses. O Brasil foi
forçado a ceder as pressões, até que em 1850, promulga uma nova lei, não mais
severa que a de 1831, mas que passou a ser cumprida.
“Em 1850, com a Lei Eusébio de Queirós, o Brasil sanciona o fato
consumado da suspensão. No ano anterior haviam entrado 54.000 escravos em
nosso país. Em 1850, esse número caiu a menos da metade. Em 1851, para
3.000. Em 1852, para 700. O tráfico estava liquidado.”(SODRÉ, 2005, p.116)

LXI
Tal extinção do tráfico não eliminou de imediato as bases da produção
agrícola no Brasil, porém seria inevitável que ocorresse uma mudança mediata, já
que a partir desse momento havia se iniciado um processo de reestruturação na
base da produção agrícola brasileira, mesmo que ainda restasse a
comercialização interna de escravos (o que, inclusive, já era uma prática que
vinha sendo adotada).
Assim, antes do início do processo gradual de abolição que se deu no
Brasil, a crise de mão-de-obra já estava instalada, e a partir do momento que se
eliminou a principal fonte de abastecimento de mão-de-obra – o tráfico negreiro –
o problema se agravara.
Por aí se percebe como a extinção do tráfico africano
veio bruscamente acentuar e aprofundar as contradições do regime escravista. A escassez de braços e o desequilíbrio demográfico entre as diferentes regiões do país acrescentavam-se aos problemas que antes já derivavam dele. Aliás, a transferência de escravos do nordeste para o sul, se prejudicava grandemente aquele, não resolvia senão muito precariamente as dificuldades do último. Era preciso uma solução mais ampla.(PRADO JR.,1994, p.174 e 175).
Tenho consciência que esta solução mais ampla, a qual se refere Caio
Prado Júnior, não adviria com a criação de uma escola profissional de formação
agrícola, tanto, que a opção que logo vigorou foi a da imigração de europeus,
principalmente para os campos de plantação de café no Oeste Paulista. Mas, a
necessidade de aperfeiçoamento do processo de produção, com a aplicação de
técnicas voltadas para o aumento da produtividade e manutenção dos solos, era
premente.

LXII
1.2.2.3 – O cenário do interstício entre a intenção da instalação de uma escola agrícola no Brasil e sua efetivação.
Durante 1812 e 1859, o Brasil sofreu vários momentos de tensão, tanto de
origem interna quanto externa, que culminaram em mudanças na estrutura política
e econômica. Como resultado dessas tensões, destaco, o retorno de D. João VI a
Portugal, a proclamação da Independência do Brasil, o retorno de D. Pedro I a
Europa, o período de Regência, e a efetivação do segundo Império, com D. Pedro
II.
Esse período, de complexos desdobramentos, reflete o processo de
reestruturação de um sistema mais amplo, ou seja, são reflexos da própria
reestruturação do capitalismo em nível mundial, que teve seus desdobramentos
locais, e que exigiram, também, uma modificação na base da produção agrícola
brasileira.
No Brasil, vivia-se o reflexo das transformações que já tinham se iniciado
na Europa e na América do Norte, influenciadas principalmente pelo Pensamento
Ilustrado e pelo Liberalismo23. Entre elas podemos citar: a independência dos
23 “Os pensadores ilustrados, homens como Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rosseau, apesar de divergirem muito entre si, tinham como ponto comum o princípio da razão. Segundo eles, pela razão atingem-se os conhecimentos úteis ao homem e através dela podemos chegar às leis naturais que regem a sociedade. A missão dos governantes consiste em procurar a realização do bem-estar dos povos, pelo respeito às leis naturais e aos direitos naturais de que os homens são portadores. O não cumprimento desses deveres básicos dá aos governados o direito à insurreição.
As concepções ilustradas deram origem no campo sociológico ao pensamento liberal, em seus diferentes matizes. Um fundo comum às várias correntes do liberalismo se encontra na noção de que a história humana tende ao progresso, ao aperfeiçoamento do indivíduo e da sociedade, a partir de critérios propostos pela razão. A felicidade – uma idéia nova no século XVIII – constitui o objetivo supremo de cada indivíduo, e a maior felicidade do maior número de pessoas é o verdadeiro desígnio da sociedade. Esse ideal deve ser alcançado através da liberdade individual, criando-se condições para o amplo desenvolvimento das aptidões do indivíduo e para sua participação na vida política.
No plano econômico, em sua versão extremada, o liberalismo sustenta o ponto de vista de que o Estado não deve interferir na iniciativa individual, limitando-se a garantir a segurança e a educação dos cidadãos. A concorrência e as aptidões pessoais se encarregariam de harmonizar, como uma mão invisível, a vida em sociedade.

LXIII
Estados Unidos em 1776, a Revolução Francesa de 1789 e a Revolução
Industrial, que teve início na Inglaterra.
A utilização de novas fontes de energia, a invenção
de máquinas, principalmente para a indústria têxtil, o desenvolvimento agrícola, o controle do comércio internacional são fatores que iriam transformar a Inglaterra na maior potência mundial da época. Na busca pela ampliação dos mercados, os ingleses impõem ao mundo o livre comércio e o abandono dos princípios mercantilistas, ao mesmo tempo que tratam de proteger seu próprio mercado e o de suas colônias com tarifas protecionistas. Em suas relações com a América espanhola e portuguesa, abrem brechas cada vez maior no sistema colonial, por meio de acordos comerciais, contrabando e aliança com os comerciantes locais. (FAUSTO, 2004, p.108).
Portanto, apoiado em Boris Fausto (2004), cito tais eventos, sem a
preocupação de aprofundamento em cada um deles, pois, neste caso, a intenção
é a de apresentar a dimensão desse complexo cenário.
Mesmo que alguns dos eventos, que iremos apresentar, aparentemente
tenham motivações religiosas e regionais (que ao meu ver não devem ser
desprezadas), na essência representam, com todas as suas contradições, uma
No plano político, a doutrina liberal defende o direito de representação dos indivíduos, sustentando que
neles, e não no poder dos reis, se encontra a soberania. Esta é entendida como o direito de organizar a nação a partir de uma lei básica – a Constituição. O alcance da representação traçou uma linha divisória entre liberalismo e democracia ao longo do século XIX. As correntes democráticas defendiam o sufrágio universal, ou seja, o direito de representação conferido a todos os cidadãos de um país, independentemente de condição social, sexo, cor ou religião, ou mesmo a democracia direta, isto é, o direito de participar da vida política sem conferir mandato a alguém. Os liberais trataram em regra de restringir a representação, segundo critérios, sobretudo econômicos: para eles só mos proprietários, com um certo nível de renda, poderiam votar ou ser votados, pois às demais pessoas faltava independência para o exercício desses direitos.
Na Europa ocidental, o liberalismo deu base ideológica aos movimentos pela queda do Antigo Regime, caracterizado por privilégios corporativos e pela monarquia absoluta. Nas colônias americanas, justificou as tentativas de reforma e o ‘direito dos povos à insurreição’. É importante observar que na obra que se tornou a bíblia do liberalismo econômico –A Riqueza das Nações, escrita por Adam Smith em 1776 – há uma crítica ao sistema colonial, acusado de distorcer os fatores de produção e o desenvolvimento do comércio como promotor da riqueza. A escravidão parece a Adam Smith uma instituição anacrônica, incapaz de competir com a mão-de-obra livre”. (FAUSTO, 2004, p. 107 e 108).

LXIV
ruptura do modelo de econômico e de produção que se formatou no Brasil,
juntamente com suas relações sociais:
- No período de permanência de D. João VI no Brasil ocorreram:
a) As intervenções militares a partir de 1816, pela incorporação da Banda
Oriental do Prata ao Brasil. O que ocorreu em 1821, com a criação da
Província Cisplatina;
b) A Revolução Pernambucana de 1817, conhecida como “revolução dos
padres”, que declarou a independência de Pernambuco e estabeleceu
um governo provisório. Porém neste mesmo ano as tropas portuguesas
ocuparam Recife e restabeleceram o poder da Corte.
c) A Revolução liberal de 1820, em Portugal, que exigia o retorno do Rei a
metrópole, já que a derrota de Napoleão tinha se dado em 1814 e D.
João decidira permanecer no Brasil. Os revolucionários estabeleceram
uma junta provisória para governar em nome do rei e convocaram as
Cortes, que seriam eleitas em todo mundo português, para redigirem e
aprovarem uma nova constituição, cabendo ao Brasil a participação de
70 a 75 deputados.
d) O retorno do Rei a Portugal, em abril de 1821. Temendo perder o trono
D.João retorna a metrópole, acompanhado de 4mil portugueses.
- Durante o período de D. Pedro I, no poder:
a) Em 1822, da decisão de permanência de D. Pedro I e a proclamação da
Independência.

LXV
b) A lutas internas pelo reconhecimento da independência, que ocorreram
em 1823, na Bahia e na Província de Cisplatina.
c) O processo de reconhecimento externo da independência, que começou
em 1824 pelos Estados Unidos, culminando em agosto de 1825 com o
reconhecimento de Portugal, mediado pela Inglaterra.
d) A constituinte de 1823, dissolvida pelo imperador em 1824, que neste
mesmo ano, em 25 de março, promulgou sua Constituição.
e) A Confederação do Equador, em julho de 1824, movimento de rebelião
que previa reunir sob forma federativa e republicana, Pernambuco, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Piauí e Pará.
f) A morte de D. João VI, em 1826, que abriu a possibilidade de D. Pedro I
assumir o reinado, como filho mais velho, despertando a suspeita de
uma nova reunificação entre Brasil, Portugal e Algarves.
g) Em 7 de abril de 1831, D. Pedro é forçado a abdicar, em favor de D.
Pedro II, que tinha apenas cinco anos de idade.
- Durante a regência:
a) As reformas institucionais: em 1832 entra em vigor o Código de
Processo Criminal; em agosto de 1834, o Ato Adicional, que determinou
que o poder Moderador não poderia ser exercido durante a Regência;
agosto de 1831, criação da Guarda Nacional.
b) As revoltas provinciais: entre 1831 e 1832, houve cinco levantes no Rio
de Janeiro; entre 1832 e 1835 a guerra dos Cabanos, em Pernambuco;
Cabanagem, no Pará (1835-1840); Sabinada, na Bahia (1837-1838);

LXVI
Balaiada, no Maranhão (1838-1840); e a Farroupilha, no Rio Grande do
Sul (1836-1845).
c) A renúncia de Padre Feijó, em setembro de 1837, ao cargo de Regente,
e a eleição de Araújo Lima, que dá início ao “regresso”. “A palavra indica
a atuação da corrente conservadora desejosa de ‘regressar’ à
centralização política e ao reforço da autoridade.”(FAUSTO, 2004,
p.171)
- Durante o segundo Império:
a) Em 1840, o jovem D. Pedro II, aos quatorze anos, após ter sua
maioridade antecipada, assumiu o trono do Brasil.
b) Revoltas liberais, em maio e junho de 1842, nas províncias de São Paulo
e Minas Gerais, com ramificações no Rio de Janeiro.
c) Em 1848, Revolução Praieira, em Pernambuco, porém a luta em forma
de guerrilha prosseguiu até 1850. Tal luta “sustentava um programa favorável ao
federalismo, à abolição do poder Moderador, à expulsão dos portugueses e à
nacionalização do comércio a varejo, (...). Como novidade, aparece a defesa do
sufrágio universal, ou seja, o direito de voto para todos os brasileiros, admitidas
algumas restrições, como idade mínima para votar e ser votado, mas sem a
exigência de um mínimo de renda.” (Fausto, 2004, p.179)
Embora os eventos apresentados não impedissem, qualquer que fosse o
governo, a implantação de uma escola agrícola no Brasil, eles apresentam um
complexo processo de reestruturação que sofreu a sociedade brasileira, e que
teve seus efeitos tanto nos processos produção, quanto político, econômico e

LXVII
social, ou seja, uma modificação ampla no sistema de organização da produção e
conseqüentemente da sociedade (e vice-versa).
1.2.2.4 – A estabilidade no Segundo Império e a Lei de Terras.
Nem tudo se decidiu na época regencial. Podemos prolongar a periodização por dez anos e dizer que só por volta de 1850 a Monarquia centralizada se consolidou, quando as últimas rebeliões provinciais cessaram.(FAUSTO, 2004, p.161).
É neste momento, de aparente estabilidade, que a Lei de Terras é
promulgada por D. Pedro II, semanas após a decretação da Lei Eusébio de
Queiroz.
Todo este quadro retrata o estabelecimento das bases, que permitirá a
infiltração das relações de produção capitalista no campo brasileiro (digo “início”,
pois este é um processo que levará décadas, e só se fortalecerá com a efetiva
abolição do trabalho escravo)24.
Antes, vejamos como Wood (2001), percebe a penetração das relações
capitalistas nas sociedades, para então entendermos melhor o significado da Lei
de Terras de 1850, juntamente com o início do processo que culminaria com a
abolição da escravatura no Brasil :
Durante milênios, os seres humanos proveram suas necessidades materiais trabalhando a terra. E, provavelmente por quase tanto tempo quanto se dedicaram à agricultura, dividiram-se em classes, entre os que trabalhavam a terra e os que se apropriavam do trabalho alheio. Essa divisão entre
24 Mesmo com o fortalecimento do processo de infiltração das relações capitalistas no campo brasileiro a partir da abolição do trabalho escravo, em 1888, ainda hoje, no Brasil, encontram-se regiões onde o trabalho escravo é a base da produção rural. Por isso entendo que as relações capitalistas, já estabelecidas, não descartam a possibilidade da superexploração do trabalho através da forma de escravidão, ou seja, apropriam-se de estruturas que seriam características de outros modelos, na perspectiva da maior extração da mais-valia.

LXVIII
apropriadores e produtores assumiu muitas formas, porém uma característica comum foi que, tipicamente, os produtores diretos eram camponeses. Esses camponeses produtores permaneciam de posse dos meios de produção, particularmente da terra. Como em todas as sociedades pré-capitalistas, esses produtores tinham acesso direto aos meios de sua reprodução. Significa que, quando seu trabalho excedente era apropriado por exploradores, isto era feito através do que Marx chamou de meios ‘extra-econômicos’ – ou seja, através da coerção direta, exercida por grandes proprietários ou Estados que empregavam sua força superior, seu acesso privilegiado ao poder militar, jurídico e político.
Essa é, portanto, a diferença básica entre todas as sociedades pré-capitalistas e o capitalismo. Ela nada tem a ver com o fato de a produção ser urbana ou rural, e tem tudo a ver com as relações particulares de propriedade entre produtores e apropriadores, seja na indústria ou na agricultura. Somente no capitalismo é que o modo de apropriação dominante baseia-se na desapropriação dos produtores diretos legalmente livres, cujo trabalho excedente é apropriado por meios puramente ‘econômicos’. Como os produtores diretos no capitalismo plenamente desenvolvido, são desprovidos de propriedade, e como seu único acesso aos meios de produção, aos requisitos de sua própria reprodução e até aos meios de seu próprio trabalho é a venda de sua capacidade de trabalho excedente dos trabalhadores sem uma coação direta.
Essa relação singular entre produtores e apropriadores é mediada, obviamente, pelo ‘mercado’. Houve vários tipos de mercado ao longo de toda a história escrita da humanidade, e sem dúvida antes dela, já que as pessoas trocam e vendem seus excedentes de muitas maneiras diferentes e para vários fins diferentes. No capitalismo, entretanto, o mercado tem uma função distintiva e sem precedentes. Praticamente tudo, numa sociedade capitalista, é mercadoria produzida para o mercado. E, o que á ainda mais fundamental, o capital e o trabalho são profundamente dependentes do mercado para obter as condições mais elementares de sua reprodução. Assim como os trabalhadores dependem do mercado para vender sua mão-de-obra como mercadoria, os capitalistas dependem dele para comprar a força de trabalho e os meios de produção, bem como para realizar seus lucros, vendendo os produtos ou serviços produzidos pelos trabalhadores. Essa dependência do mercado confere a este um papel sem precedentes nas sociedades capitalistas, não apenas como um simples mecanismo de troca ou distribuição, mas como o determinante e regulador principal da reprodução social. A

LXIX
emergência do mercado como determinante da reprodução social pressupôs sua penetração na produção da necessidade mais básica da vida: o alimento. (p.77 e 78, negrito nosso)
Assim, farei uma breve apreciação da Lei de Terras (Lei 601, de 1850),
tentando destacar suas principais características, entendendo que esse marco é a
base de uma mudança estrutural na produção agrícola brasileira.
Esta lei “ao mesmo tempo que normatizava o domínio do capital sobre o
bem da natureza, impedia os pobres, futuros ex-trabalhadores escravizados, de se
transformarem em camponeses, ou seja, pequenos proprietários de terra. A lei é
claríssima. As terras públicas poderiam ser privatizadas desde que o comprador
tivesse dinheiro, que pagasse à coroa” (STEDILE, 2005, p.284).
Como o fim da escravidão dava sinais mais próximos, a classe dominante
tratou de estabelecer a proteção de seu bem maior na forma de mercadoria: a
terra. A limitação do acesso a terra então se deu por condições econômicas.
Importa também lembrar que a propriedade no Brasil já era privada e de grandes
extensões, mas não podia ser comercializada. E este, para mim, é mais um
elemento de percepção da fixação da lógica capitalista no processo de produção
agrícola brasileira.
Assim, como aos ex-escravos, a Lei também impedia o acesso a terra por
parte de recém imigrantes que tivessem sua vinda financiada, ou seja, aqueles
que eram trazidos com o objetivo de substituir o trabalho escravo nas
propriedades rurais.
Embora a lógica do capital tivesse penetrado o sistema de produção
agrícola no Brasil, resquícios do sistema em crise permaneciam, e um deles foi a

LXX
manutenção da grande propriedade, o que não era a característica dominante nos
países centrais do capitalismo. Tal característica perdura até hoje em muitas
regiões do país, cujas atividades de produção são monoculturistas e de
exportação25.
1.2.2.5 - Finalmente, a criação da primeira escola agrícola no Brasil.
Conforme já afirmei anteriormente, entendo que o Brasil, desde o seu
período colonial esteve inserido, de forma dependente, em um sistema mais
amplo de um capitalismo que começava a dar seus primeiros passos na Europa.
Porém as relações de produção no campo tinham uma estrutura escravista. Com
a pressão externa de internacionalização das relações de produção capitalista, o
Brasil foi aos poucos se adequando a elas, ou melhor, necessário era se adequar,
dada a dependência construída. Por isso a extinção do tráfico e a Lei de Terras
foram a confirmação concreta dessas mudanças estruturais.
Mudanças de uma modernização capitalista exigiam também, mudanças
nos métodos e técnicas de produção local. E tais mudanças foram ocorrendo: com
a substituição gradual da mão-de-obra escrava pelo trabalhador “livre”, e com a
legitimação da propriedade privada nas mãos de poucos. Seria, portanto,
necessário uma readequação nas técnicas de produção agrícola, até então, muito
rudimentares.
25 Em 1995/1996, 86% das propriedades agrícolas, no Brasil, foram classificadas pelo IBGE como sendo propriedades familiares, ocupando 30% da área de produção agrícola e contribuindo com 38% da produção bruta do setor. Enquanto que, 11% das propriedades foram classificadas como sendo de tipo patronal, ocupando 68% da área de produção agrícola e contribuindo com 61% da produção bruta do setor. (LEITE, 2004).

LXXI
O modelo de produção agrícola que já se desenvolvia na Inglaterra (país
que se tornou o centro do capitalismo até o séc. XIX), desde o séc. XVI tinha como
preocupação o melhor aproveitamento das áreas, resultando em um aumento da
produtividade, tendo como conseqüência a diminuição de trabalhadores no
campo26. E para o processo de desenvolvimento das forças produtivas no Brasil,
de caráter geral eminentemente agrícola, se fazia necessário a preparação, tanto
de trabalhadores quanto da burguesia rural, ou de seus agentes, para as novas
demandas produtivas do modelo capitalista, que começava a tomar forma no
processo interno de produção. Enquanto a primeira crise, que originou a Carta de
1812, não foi capaz de mudar a base de produção agrícola no Brasil, a segunda
crise surge da mudança desse processo, que internaliza, pelas questões históricas
apresentadas, a lógica da produção capitalista no campo brasileiro, ou seja, o
Brasil vai se tornando capitalista, também do ponto de vista de sua base produtiva.
Por isso, no início dessas transformações, surge, como exigência tácita, a
primeira escola agrícola no país, e em 1859, inaugura-se o Instituto Baiano de
26“Apesar da diminuição de seus cultivadores, o solo proporcionava a mesma quantidade de produção ou maior, porque a revolução no regime de propriedade territorial corria paralela com a melhoria dos métodos de cultura, com maior cooperação, concentração dos meios de produção, etc., e porque os assalariados tinham de trabalhar mais intensivamente, dispondo de uma área cada vez menor em que podiam trabalhar para si mesmos. Parte dos habitantes rurais se torna disponível e se desvincula dos meios de subsistência com que se abastecia”. (MARX, 2003, p.859). “No fim do volume 1 do Capital, a parte 8 do livro, foi dedicada por Marx à descrição da ‘Assim Chamada Acumulação Primitiva’, em que ele descreveu o demorado processo histórico, iniciado já no século XIV, no qual a grande massa da população era retirada, freqüentemente à força, do solo e ‘atirada no mercado de trabalho como proletários livres, desprotegidos e desprovidos de direitos’. Ademais, este processo histórico da ‘expropriação do produtor agrícola, o camponês’, caminhava de mãos dadas com a gênese do agricultor capitalista e do capitalista industrial.
Na Inglaterra, onde este processo havia alcançado o seu maior desenvolvimento na época em que Marx estava em atividade, e que ele, portanto, tomou como forma clássica de acumulação primitiva, a nobreza, que logo se havia metamorfoseado numa nobreza endinheirada, fez da ‘transformação da terra arável em pasto para carneiros...o seu slogan’. O processo de destituição do campesinato tomou a forma do cercamento (enclosures) das terras comuns, separando assim os trabalhadores agrícolas livres dos seus meios de produção, transformando-os em miseráveis e proletários que só podiam sobreviver vendendo sua força de trabalho nas cidades.” (FOSTER, 2005, p.238 e 239)

LXXII
Agricultura, seguido do Instituto Pernambucano de Agricultura (1861) e da Imperial
Escola Agrícola da Bahia (1877). (VELEDA, 1970; apud SIQUEIRA, 1987, p.23).
Resta mencionar que, além dos Institutos citados, foram criados outros no Rio Grande do Sul (em Pelotas) e em São Paulo (em Campinas e no Vale do Piracicaba, sendo este último mantido pelo governo de Minas), tendo havido ainda aqueles que fracassaram, como o de Pernambuco, o de Sergipe e o do Rio Grande do Sul.(Ibid., p.24).
As próximas mudanças na estrutura do ensino agrícola no Brasil irão surgir
nos governos republicanos, onde o padrão de dominação externa na América
Latina será de caráter imperialista.27
1.2.3 - Imperialismo restrito e o ensino agrícola no Brasil.
Este gênero de relações entre grandes e pequenos Estados sempre existiu, mas na época do imperialismo capitalista tornam-se sistema geral, entram como um elemento entre tantos outros, na formação do conjunto de relações que regem a ‘partilha do mundo’, passam a ser elos da cadeia de operações do capital financeiro mundial. (LÉNINE, 1975, p.105)
27 Este trabalho, de maneira geral pretendeu tratar do desenvolvimento do ensino agrícola no Brasil, levando em consideração, principalmente, as mudanças estruturais no processo de produção agrícola. Porém,cabe ressaltar como indicação, os apontamentos feitos por Soares (2003) em sua tese de doutorado, os quais apresento de forma resumida a seguir: Em seu trabalho, Soares, apresenta o caráter corretivo e assistencialista que caracterizou o surgimento das primeiras escolas agrícolas, desde a Fazenda Normal de Agricultura, em 1836, em São Paulo, destinada a órfãos e rapazes pobres; o Asilo Agrícola, fundado pelo Imperial Instituto Fluminense de Agricultura, em 1864, passando pelo Congresso Agrícola, de 1878, que tratou de se ocupar com o debate sobre o aproveitamento dos filhos dos ex-escravos, dos ‘ingênuos’, para os quais o Estado deveria oferecer um ensino agrícola. De acordo com a autora, essa visão persistiu em toda a primeira república, onde o trabalho manual seria capaz de conter a ‘malandragem’ e a ‘vagabundagem’. Ainda em 1918, os Patronatos Agrícolas tinham também essa destinação corretiva e assistencialista. E essa é uma visão que persiste e marca profundamente a formação de técnicos em agropecuária. Nota-se, portanto, que no processo histórico, o ensino técnico no Brasil, em geral, e em particular o ensino agrícola, foram utilizados como forma de ‘domesticação’ para os chamados ‘excluídos’ ou ‘desfavorecidos da sorte’.

LXXIII
O terceiro tipo de dominação externa, descrita por Fernandes (1973), é a do
Imperialismo Restrito (os outros foram: padrão de dominação colonial e padrão de
dominação neocolonial), que nasce da reorganização da economia mundial, em
função da revolução industrial na Europa. Lembra-nos também, que tal revolução
se dinamizou como resultado dos capitais acumulados nos países europeus,
através do comércio triangular desenvolvido nos períodos do colonialismo e
neocolonialismo.
As influencias externas atingiram todas as esferas da economia, da sociedade e da cultura, não apenas através de mecanismos indiretos do mercado mundial, mas também através de incorporação maciça e direta de algumas fases dos processos básicos de crescimento econômico e de desenvolvimento sociocultural. Assim a dominação externa tornou-se imperialista, e o capitalismo dependente surgiu como uma realidade histórica na América Latina.(p.16)
O controle financeiro das emergentes economias
satélites tornou-se tão complexo e profundo que o esquema exportação-importação foi refundido para incluir a ‘integração’ do comércio interno, a ‘proteção’ dos interesses rurais ou da modernização da produção rural, a ‘introdução’ das industrias de bens de consumo, a ‘intensificação’ das operações bancárias, etc. Em síntese, as economias dependentes foram transformadas em mercadoria, negociáveis à distância, sob condições seguras e ultralucrativas. (p.17)
Assim, a condição, já existente, de dependência, no Brasil e na América
Latina, adquire uma nova forma, extrapolando o campo comercial e atingindo as
relações de produção interna, que não se modificam inteiramente, operando com
resquícios do velho sistema, amalgamados à nova condição produtiva.
No Brasil, mesmo com essas mudanças e a introdução de novas escolas
agrícolas, o processo de produção agrícola não vivenciou um significativo avanço
na maneira de se produzir, embora as relações sociais de produção tenham se

LXXIV
alterado bastante. Será somente a partir das décadas de 1960 e 1970, que,
também, por influencia externa, o processo de produção se reestrutura
completamente, com a chamada “Revolução Verde”.(retomarei esta questão no
ponto em que tratarei do imperialismo total e o ensino agrícola no Brasil).
1.2.3.1 - O processo histórico do ensino agrícola em tempos de imperialismo restrito.
Conquistaram o campo para a agricultura capitalista, incorporaram as terras ao capital e proporcionaram à indústria das cidades a oferta necessária de proletários sem direitos. (MARX, 2003, p.847)
A produção agrícola no Brasil, já na Primeira República, diferencia-se do
modelo anterior, basicamente por conta da utilização de mão-de-obra de
trabalhadores “livres”, majoritariamente imigrantes europeus, que se deslocam em
grande parte para as lavouras de café do Estado de São Paulo. Essas vindas
foram, na maioria das vezes, subsidiadas pelos próprios fazendeiros, que
dependiam de tais braços para manterem suas plantações.
Como já demonstramos anteriormente, tais imigrações de europeus não se
deram de forma repentina após a abolição do trabalho escravo em 1888, elas já
vinham sendo realizadas, já que o modelo escravista dava seus sinais de crise.
Porém, há que se admitir, que tal fluxo de imigrantes ampliou-se
consideravelmente nas primeiras décadas do século passado, não só pelos
fatores das crises internacionais, que impulsionavam o deslocamento de europeus

LXXV
para os trópicos, mas também pela incapacidade de incorporação pelo novo
sistema de seus antigos escravos e descendentes.
Embora o café tenha sido, desde meados do séc. XIX, o produto agrícola
mais exportado, as novas demandas do sistema capitalista que se inseriam no
cotidiano brasileiro, requeriam uma ampliação das atividades agrícolas aqui
desenvolvidas, principalmente no que se referia a subsistência (alimentação da
população que crescia nos centros urbanos – arroz , feijão, milho, carne, charque,
etc.) e ao fornecimento de matérias primas, tanto para o conhecido mercado
europeu e norte-americano, como também para a incipiente indústria nacional
(neste caso o algodão era o principal elemento, visto que tais indústrias eram
majoritariamente do setor têxtil).
Tais demandas originaram o “aparecimento” de pequenas e médias
propriedades, em sua grande maioria mantidas pelos imigrantes, que trouxeram
para o Brasil novos costumes e hábitos alimentares, o que reforçava ainda mais
as demandas para uma produção de subsistência.
Um dos fatores que possibilitou esse “aparecimento” foi o processo de
descentralização do poder iniciado após a proclamação da Republica, que gerou
dois efeitos contraditórios. Primeiro: as terras devolutas passam a ser de
responsabilidade dos estados, o que poderia favorecer a compra de pequenas e
médias propriedades. Segundo: tal descentralização fortaleceu a figura do chefe
político local – o coronel – grande proprietário de terras, que para expandir seu
poder necessitava, também, expandir suas terras, expulsando assim posseiros e
pequenos proprietários, através da força.

LXXVI
A tentativa de solução dessa contradição, ocorreu principalmente nas
regiões de produção de café, com a existência dos colonatos: onde os grandes
proprietários cediam suas terras para implantação da cultura (café), e durante o
período de desenvolvimento da planta (quatro a cinco anos), os colonos utilizavam
os espaços entre linhas de plantio e mais alguma pequena área para a produção
de outros cultivares de subsistência.
Mas, tais tentativas não foram suficientes para impedir o surgimento dos
movimentos de resistência camponesa. Entre eles, apoiado em Fausto (2004),
destaco:
- A Guerra dos Canudos, em 1896;
- O Movimento do Contestado, de 1911 a 1915;
- A Greve por melhores salários e condições de trabalho, que ocorreu em
Ribeirão Preto, em 1913, que reuniu milhares de colonos.
Esses processos de resistências denotam a instabilidade que se instalou
nas relações sociais de produção no campo, devido à mudança no processo de
produção agrícola iniciado ao final do séc. XIX. Não como mera conseqüência,
mas como parte dessas mudanças históricas o ensino agrícola no Brasil passa
também por transformações, seja como resposta as novas demandas produtivas,
como formador dos filhos de uma classe dirigente, ou como conformador de novos
braços para as lavouras.
1.2.3.1.1 - As mudanças ocorridas no ensino agrícola brasileiro nas
primeiras décadas do séc. XX.

LXXVII
Em 1906, surge como fruto da descentralização e modernização do Estado,
por parte da recém criada República, o Ministério da Agricultura, Indústria e
Comércio, vinculando-se a ele o ensino agrícola. (SIQUEIRA, 1987, p.26).
Já, em 1910, surge a primeira modificação na estrutura do ensino agrícola,
pelo Decreto 8319, de 20 de outubro, no governo Nilo Peçanha - elaborador de um
amplo planejamento para este ramo do ensino - criando novos cursos, graus de
ensino, e trazendo a proposta de vinculação de uma fazenda experimental às
escolas médias e às escolas superiores.
Os cursos e graus propostos por este Decreto foram:
ensino superior; ensino médio ou teórico-prático; ensino prático; aprendizados agrícolas; ensino primário agrícola; escolas especiais de agricultura; escolas domésticas agrícolas; cursos ambulantes; cursos conexos com o ensino agrícola; consultas agrícolas e conferências agrícolas.(Decreto 8319/1910)
Mesmo que, o Decreto acima mencionado, não tenha sido implantado na
íntegra; surge, a época, como iniciativa para a formação de uma classe dirigente
para o campo brasileiro, duas escolas: a Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz (ESALQ) em Piracicaba-SP e a Escola Superior de Agricultura e Medicina
Veterinária (ESAMV), no Rio de Janeiro, na época, Distrito Federal.
Embora, cada uma com projetos diferentes, como demonstra Mendonça
(1993), serão elas as referências na formação de uma classe dominante para o

LXXVIII
campo brasileiro, originando a base para as disputas de projetos que se darão no
âmbito das políticas de Estado para a agricultura28.
A preocupação para a formação de sujeitos que iriam atuar na agricultura
brasileira, não se deu apenas no âmbito de uma elite agrária. Para as novas
demandas produtivas haveria, também, a necessidade de formação de
trabalhadores rurais e de agentes intermediários (técnicos que supervisionariam e
controlariam a produção).
Dessa forma, são criados, em 1918, os patronatos agrícolas
que tinham por objetivo principal o aproveitamento de menores abandonados ou sem meio de subsistência, aos quais seriam dados o curso primário e o profissional. Porém, a criação destes patronatos encontra-se intimamente ligada ao regime de colonato, já que no decreto de sua criação, Dec. 12.893 de 20/02/1918, estava prevista ‘a posse de um lote de terras, em determinado núcleo colonial, livre de despesas e mais a quantia de duzentos mil réis’ para os alunos que concluíssem o curso profissional com aproveitamento. Assim sendo, o ensino agrícola cumpria algumas funções importantes, como a de fornecer mão-de-obra especializada e barata para os grandes fazendeiros; a de aumentar a oferta de gêneros de alimentação básica; a de evitar a migração do campo para a cidade; e a de servir como um meio correcional para seus alunos internos, que executavam serviços no campo, como castigo, dentro de uma linha rígida de conduta. (SIQUEIRA, 1987, p.29)
Pois, necessário era para a classe dominante do setor de produção agrário,
Agir sobre a população ignorante, ministrando-lhe conhecimentos práticos a respeito do trato com a agricultura, capazes de produzirem um trabalhador tido por adequado aos padrões de eficiência definida na conjuntura pós-abolicionista, eis o sentido mais amplo da chamada instrução elementar
28 Sobre estas escolas recomendo o trabalho realizado por MENDONÇA (1993), intitulado “Agronomia e Poder no Brasil” que trava uma comparação entre os projetos de civilização do campo, defendidos por cada uma dessas escolas, e os reflexos disso nas políticas para o setor.

LXXIX
agrícola no período. Voltada para a construção de uma ‘ética do trabalho’ regeneradora e disciplinadora de homens inferiores, elas distanciavam-se em muito do movimento engrossado por inúmeras organizações da época, que pregavam a promoção do ensino primário junto à massa analfabeta como elemento promotor da democracia, culminando no ‘otimismo pedagógico’ da década de 1920. (MENDONÇA, 1993, p. 41, utilizando-se em grande medida de NAGLE, 1976).
Neste ponto entendo necessário retomar um fato relatado anteriormente
(item 1.2.1.2), que foi a apresentação do relatório de Manoel Dias Filho, no
segundo Congresso da Associação Nacional de Agricultura, em 1908. Nele se
expressa a necessidade de criação de escolas de agricultura, haja vista o avanço
obtido na produção agrícola, detectado nas Antilhas, vinculado ao sistema de
ensino. “Criem-se, pois, Escolas de Agricultura destinadas ao preparo agrícola-
industrial theorico e pratico, que não póde ser supprido pelas nossas academias
de direito, de engenharia, de medicina e de pharmacia”, com estas palavras
fechou-se o discurso, que não se configurou como mera retórica, pois expressava
a real necessidade do setor produtivo agrícola brasileiro no início do século
passado.
Assim, entendo que as transformações vividas pelo ensino agrícola
brasileiro nesse período de Primeira República são frutos de demandas que se
originaram do processo produtivo, na perspectiva de garantir o desenvolvimento e,
ao mesmo tempo, a manutenção de uma classe dominante no setor agrário.
O avanço vivido pela agricultura brasileira após tais transformações
configurou-se em uma posterior contradição característica do sistema capitalista
(embora o evento que irei citar não tenha somente um aspecto determinante). A

LXXX
crise de 1929, de dimensões mundiais, afetou o Brasil principalmente em sua
produção agrícola, pois
Ela apanhou a cafeicultura em uma situação complicada. A defesa permanente do café gerara a expectativa de lucros certos, garantidos pelo Estado. Em conseqüência, as plantações se estenderam no Estado de São Paulo. Muita gente tomou empréstimo a juros mensais de 2% - uma taxa na época muito alta – para plantar café. A safra de 1927-1928 chegou a quase 30 milhões de sacas, sendo quase duas vezes superior à média das últimas três. Esperava-se que 1929 fosse um ano de produção reduzida, dada a alternância de boas e más safras. Mas provavelmente as boas condições climáticas e a melhora do trato dos cafezais fizeram com que isso não acontecesse. Com a crise, os preços internacionais caíram bruscamente. Como houve retração do consumo, tornou-se impossível compensar a queda de preços com a ampliação do volume de vendas. Os fazendeiros que tinham se endividado, contando com a realização de lucros futuros, ficaram sem saída. (FAUSTO, 2004, p.320, negrito nosso).
A crise de superprodução também afetara a agricultura brasileira, e tal
aumento na produção também se deu – e essa não é uma hipótese a ser
desprezada - como resultado da formação de trabalhadores de novo tipo, através
de escolas agrícolas.
1.2.3.1.2 - A configuração do ensino agrícola a partir do Estado
Getulista.
Podemos sintetizar o Estado Novo sob o aspecto socioeconômico, dizendo que representou uma aliança da burocracia civil e militar e da burguesia industrial, cujo objetivo comum imediato era o de promover a industrialização do país sem grandes abalos sociais. A burocracia civil defendia o programa de industrialização por considerar que era o caminho para a verdadeira independência do país; os militares porque acreditam que a instalação de uma indústria de base fortaleceria a economia – um componente importante

LXXXI
de segurança nacional; os industriais porque acabaram se convencendo de que o incentivo à industrialização dependia de uma ativa intervenção do Estado. (FAUSTO, 2004, p.367).
Efetivamente o governo Vargas não abandonou de imediato o interesse
pelo setor rural, e o autor acima citado também não faz esta síntese em seu
trabalho. Porém no decorrer dos quinze anos em que governou ininterruptamente,
primeiro como chefe de um governo provisório (1930-1934), depois como
presidente eleito constitucionalmente (1934-1937), depois como ditador (1937-
1945), Getúlio e seu governo, foram deixando claro qual seria a prioridade nas
suas ações; qual seja, a de incentivar e fortalecer um programa de industrialização
para o país29.
Essa percepção, usando como mediação para análise o ensino agrícola, se
dá claramente em dois momentos:
Primeiro, na criação do Ministério da Educação e Saúde, em 1930, onde o
ensino agrícola não foi vinculado, permanecendo sob a tutela do Ministério da
Agricultura, Indústria e Comércio.
Segundo, ao instituir o Decreto da Lei Orgânica do Ensino Industrial, em
1942, excluindo o ensino agrícola dessa reforma, que só ocorreu em 1946,
durante o governo Dutra, com a instituição da Lei Orgânica do Ensino Agrícola.
Um outro aspecto que clareia ainda mais a hegemonia industrial neste
governo, e que não estava diretamente ligado ao ensino agrícola, foi a
promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943, que excluía
de seu conteúdo os trabalhadores rurais.
29 Para entender melhor estas mudanças; recomendo outro trabalho de Celso Furtado (1972): Análise do ‘modelo’ brasileiro.

LXXXII
Contudo seria leviandade afirmar que os governos de Getúlio Vargas
tenham abandonado por completo as questões rurais, pois a base da economia
brasileira ainda era de agro-exportação. Getúlio equilibrava-se entre as frações da
classe dominante, principalmente entre 1930 e 1945, dos diferentes setores
(agrícola e industrial). Basta lembrar as ações de centralização efetuadas no
controle de mercado do café30, para ressaltar os cuidados que se tinha para
acalmar os ânimos desta parcela da classe.
Como marca aparente da centralização getulista, inclusive no ensino
agrícola, surgiu no âmbito do Ministério da Agricultura, Industria e Comércio, em
1940, a Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário (SEAV)31, “órgão
diretamente ligado ao Ministro da Agricultura e visava exercer maior controle sobre
os estabelecimentos que ministravam o ensino agrícola.”(SIQUEIRA, 1987, p.34).
Há, portanto, alguns fatos a serem destacados ainda para este período;
durante a segunda guerra mundial o preço do açúcar elevou-se muito no mercado
internacional, e este aumento- cerca de 140%(FURTADO, 1968, p.199)- estimulou
a retomada dos engenhos no nordeste, por parte de seus donos, que em função
das crises anteriores haviam abandonado tais terras, enquanto que o preço do
30 Cito aqui, apoiado em Fausto(2004), primeiramente a criação do Conselho Nacional do Café, em 1931, depois transformado em Departamento Nacional do Café, em 1933, que tinham como principal ênfase a centralização da política para o setor. Depois, pela própria pressão dos grandes proprietários do café, em resposta a crise de 1929, “o governo compraria o café com a receita derivada do imposto de exportação, e do confisco cambial, ou seja, de uma parte da receita das exportações, e destruiria fisicamente uma parcela do produto. Tratava assim de reduzir a oferta e sustentar os preços. Essa opção era semelhante às opções que levaram à eliminação da uva, na Argentina, ou à morte de rebanhos de carneiros, na Austrália. O esquema brasileiro teve longa duração, embora alguns de seus aspectos tenham sido alterados no correr dos anos. A destruição de café só terminou em julho de 1944. Em treze anos, foram eliminados 78,2 milhões de sacas, ou seja, uma quantidade equivalente ao consumo mundial de três anos. (p. 334, negrito nosso). 31 Antes da SEAV, existiram a Diretoria do Ensino Agronômico (1933); a Diretoria do Ensino Agrícola (1934), esta criada por influência da Constituição de 1934, mas que mantinha as mesmas atribuições da anterior; e a Superintendência de Ensino Agrícola (1938). Todas vinculadas ao Ministério da Agricultura.

LXXXIII
café se estabilizou depois da crise de 1929, ou seja, manteve-se muito baixo,
levando muitos produtores a abandonarem a atividade.
No primeiro caso o abandono que se havia concretizado estimulou o
processo de ocupação dessas terras por posseiros e pequenos produtores,
forçados a abandonarem suas pequenas lavouras pelo uso da força da velha e
revigorada oligarquia.
O segundo caso, originava, também, uma instabilidade por parte dos
trabalhadores rurais dessas áreas, mesmo que durante esta mesma época
houvesse um crescimento produtivo em outras atividades, como foi o caso do
algodão32, porém insuficiente para absorver os trabalhadores
dispensados.(absorção que também não ocorria por parte da incipiente indústria
nacional)
Esta instabilidade, de origem do modo de produção capitalista gerou, como
conseqüência, muitos conflitos no campo, e um dos instrumentos encontrados
para conter a luta de classes foi a tentativa de conciliação. (como tentarei
demonstrar no próximo ponto).
Seguiu-se como característica do período getulista a utilização da educação
como instrumento de lapidação humana, no sentido de preparar homens e
mulheres para as novas demandas do processo produtivo, seja ele industrial ou
agrícola, embora o primeiro com maior ênfase. Nesse sentido, para a classe
trabalhadora, ficavam as exigências de uma formação moral e higienista, que
32 Entre 1929 e 1940, a participação do Brasil na área plantada, em todo mundo, aumentou de 2% para 8,7%. (FAUSTO, 2004, p.392)

LXXXIV
marcou as políticas educacionais da época33, na perspectiva de moldar um
espírito nacionalista de desenvolvimento capitalista.
Trazendo conseqüências para a conformação do campo brasileiro uma
questão ainda deve ser considerada: as restrições à imigração a partir da
constituição de 1934, ocasionaram um aumento visível na migração interna34.
Segundo Azevedo (2005),
33 Embora esta formação moral e higienista tenha marcado profundamente este período da história brasileira, cabe ressaltar o movimento contra-hegemônico que surge no âmbito das disputas acerca das políticas públicas para a educação da época. Sendo assim, utilizarei os apontamentos feitos por Soares (2003), apoiada em Romanelli, que de forma resumida demonstra tal movimento: “É fundamental destacar que o período de 1930 a 1937 é configurado, no campo educacional, por lutas ideológicas entre os chamados ‘pioneiros’ da educação e os conservadores. A criação, em 1924, da Associação Brasileira de Educação - ABE, por um grupo de educadores que possuíam idéias renovadoras sobre o ensino, oriundas do Movimento da Escola Nova, vigente nos Estados Unidos e na Europa, e que aqui ganha corpo a partir da divulgação de um livro de Emanuel Carneiro Leão, denominado A Educação, inaugura um movimento que reivindica medidas urgentes para resolver os principais problemas do ensino brasileiro. De outro lado destaque-se também que, a partir de 1922, foram empreendidas várias reformas estaduais de ensino, capitaneadas por grandes educadores da época, dentre os quais, Lourenço Filho, Carneiro Leão, Francisco Campos, Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira. As reformas e as publicações divulgadas pela ABE vão culminar com a publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nacional, em 1932, que tem seu texto embasado nos debates ocorridos nas Conferências Nacionais de Educação, realizadas a partir de 1927. As temáticas que mais acirravam os debates eram as do ensino laico, a da gratuidade e obrigatoriedade do ensino, a da co-educação e do Plano Nacional de Educação. Pregava o Manifesto a necessidade de se extinguir o sistema dual de ensino, considerando a educação um direito individual e que, portanto, deve ser assegurado a todos, sem distinções, como dever do Estado. Demonstra, por outro lado, a defasagem existente entre a educação e o desenvolvimento da época e a necessidade de superação dessa defasagem. A educação é tratada como um problema social, o que é um avanço para a época, representando, uma tomada de consciência, por parte dos educadores, até então inexistente, da necessidade de se adequar a educação ao tipo de sociedade e à forma assumida pelo desenvolvimento brasileiro da época, além de traçar novas diretrizes para o estudo da educação no Brasil. No entanto não se questionava a ordem social, política e econômica instalada. A Constituição de 1934 é em muito inspirada pelo ideário explicitado pelo Manifesto”(p.40 e 41). 34 “A crise mundial (1929) e o dispositivo da Constituição de 1934, em que estabeleciam quotas para o ingresso de imigrantes, concorreram para a redução do fluxo externo, com a exceção dos japoneses. Os deslocamentos internos da população tiveram um sentido diferente conforme a região. O Norte apresentou uma elevada taxa negativa de migração interna (-13,72%), como resultado da crise da borracha. Foi, em grande medida, um movimento de retorno de nordestinos para sua região de origem. O Sul e o Centro-Sul como um todo apresentou, ao contrário, altas taxas positivas (11,73%). É significativo lembrar que até 1940 os migrantes para o Sul provinham principalmente de Minas e não do Nordeste. Considerando-se as unidades da federação, o núcleo de maior atração era o Distrito Federal. A migração para São Paulo só se tornou relevante a partir de 1933, contribuindo para ela a retomada do surto industrial e as restrições impostas à imigração estrangeira”.( FAUSTO, 2004, p. 390)

LXXXV
Diante desse novo cenário político, (também) permaneceu a preocupação do poder público em conter e reverter o processo de êxodo rural, com o intuito de atenuar a questão social, que se tornava cada vez mais complexa, com o crescimento progressivo e desordenado dos maiores centros urbanos do país. Para modificar essa situação, ao menos em termos discursivos, a educação continuará tendo um papel de destaque durante praticamente toda a chamada Era Vargas (1930-1945), como um meio de incutir valores cívicos, patrióticos, desportivos e higienistas, servindo ao intento de (re)povoar e sanear o interior, utilizando-se do lema ‘instruir para sanear’ pregado por muitos sanitaristas e educadores ao longo do período em tela.(p. 45, entre parênteses nosso).
Assim, a escola, independente do nível e ramo a que se propunha ensinar,
é apropriada pelo Estado como instrumento de conformação de sujeitos de novo
tipo, tanto trabalhadores quanto dos agentes de uma classe dominante, que
também se renovava.
Os objetivos pedagógicos que vão sendo delineados ao longo do governo Vargas, fundamentados na instrução moral e cívica, na disciplina física e mental, no patriotismo e higienismo, atingem todos os ramos e graus do ensino, independente do órgão ou da esfera administrativa ao qual estava vinculado cada estabelecimento, de modo compulsório, com uma obrigatoriedade inflexível e com rígida hierarquização de propósitos e inspeção do seu cumprimento. Esta centralização administrativa e de fiscalização que vai sendo edificada nas diversas instituições da sociedade é justificada, sobretudo, em virtude da ameaça representada pelo perigo do comunismo, cujo conteúdo doutrinário vinha sendo sub-repticiamente pregado nas escolas.
(...) Assim, as escolas em seus diversos ramos e níveis
de ensino constituir-se-ão num importante aparelho ideológico e instrumento de ação a serviço do Estado, inculcando e preparando as novas gerações para o ‘bom caminho’ do patriotismo, dos conceitos cívicos e morais, do treinamento físico. Definidos e determinados pelas autoridades constituídas no poder para construir e servir à Nação, nos seus aspectos materiais e espirituais, deveriam

LXXXVI
estar em consonância com as diretrizes ideológicas traçadas pelo Estado Novo para forjar o homem completo, ou seja, para que o indivíduo se realizasse plenamente como pessoa no plano moral, político e econômico, contribuindo, conseqüentemente, para o progresso da vida nacional. (Ibidem, p. 47 e 48)
Esses aspectos, levantados por Azevedo, fortalecem a percepção de um
projeto de desenvolvimento nacional, cujo Estado centralizador era o grande
regente. Embora esse tenha sido um período bastante complexo, do ponto de
vista político, social e econômico, fica aparentemente claro que o ensino agrícola
tinha a desempenhar o papel que o conjunto da educação brasileira
desempenhava na conformação desse homem de novo tipo. Um novo homem
também era necessário ao campo; um campo que precisava atender as
demandas, tanto de subsistência quanto de fornecimento de matéria-prima e mão-
de-obra para industria nacional. Equacionar essas demandas a favor do capital,
era então a grande tarefa desempenhada pelo Estado getulista, somada as
demandas de interesses internacionais35 que complexificavam ainda mais o
cenário.
35 Como forma de exemplificar tais demandas cito os acordos comerciais feitos, primeiramente com os Estados Unidos, em 1935, e em 1936, com a Alemanha, que consistia na exportação de algodão, café, cítricos, couros, tabaco e carnes. “O período 1934-1940 caracterizou-se pela crescente participação da Alemanha no comércio exterior do Brasil. Ela se tornou a principal compradora de algodão brasileiro e o segundo mercado para o café. Foi, sobretudo no setor de importações que a influência alemã cresceu. Em 1929, 12,7% das importações brasileiras vinham da Alemanha e 30,1% dos Estados Unidos; em 1938, os alemãs chegaram a superar ligeiramente os americanos, com 25% das importações contra 24,2%. Naquele mesmo ano de 1938, iam para os Estados Unidos 34,3% e para a Alemanha 19,1% das exportações brasileiras. As transações com a Alemanha eram atraentes não só para certos grupos exportadores como também para aqueles que defendiam a necessidade de modernizar e industrializar o país. Os alemãs acenaram sempre com a possibilidade de romper a linha tradicional do comércio exterior das grandes nações, oferecendo material ferroviário, bens de capital, etc.” (FAUSTO, 2004, p.380) Acrescentando o fato de que a Alemanha, que disputava este espaço aqui no Brasil, com os Estados Unidos, era a Alemanha nazista; fato que complicou ainda mais as relações externas brasileiras devido a grande

LXXXVII
1.2.3.1.3 - A tendência à conciliação de classes no campo.
Na medida em que milhões de famílias camponesas vivem em condições econômicas que as separam uma das outras, e opõem o seu modo de vida, os seus interesses e sua cultura aos das outras classes da sociedade, estes milhões constituem uma classe. Mas na medida em que existe entre os pequenos camponeses apenas uma ligação local e que a similitude de seus interesses não cria entre eles comunidade alguma, ligação nacional alguma, nem organização política, nessa exata medida não constituem uma classe.(MARX, 1997, p.127 e 128)
Em sua tese de doutorado, Leonilde Medeiros (1995), demonstra como
se deu o processo histórico de constituição das classes no campo brasileiro e
quais foram seus atores.
Observamos então, que o processo de substituição da mão-de-obra no
meio rural, principalmente no setor de cafeicultura, no final do séc. XIX e início do
séc. XX, apresentou uma situação inusitada: trabalhadores “livres”, prestando
serviços a produtores que foram construídos em um momento histórico cuja
produção era a base de mão-de-obra escrava. A relação conturbada entre
latifundiários e trabalhadores, em sua grande maioria, imigrantes, é forçosamente
levada a uma mudança, seja por pressão direta dos trabalhadores (submetidos a
regimes de trabalho quase escravo36) seja por intervenção dos consulados que os
pressão norte-americana, culminando na participação da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na segunda guerra mundial. 36 Segundo Dean, citado por Medeiros (1995), no final do séc. XIX “é provável que o simples abandono fosse mais comum que greves. Quando os trabalhadores se viam muito endividados, surgia a tentação de desaparecer na noite e firmar um contrato em outro município. O paralelo com a escravidão, pelo menos nos últimos anos, é claro. Os capangas continuavam, portanto, úteis para dificultar as fugas, pela força se necessário, e os fazendeiros eram obrigados a enviar cartas ameaçadoras aos seus competidores, pedindo pagamento de dividas de antigos empregados”(p.51 e 52, negrito nosso).

LXXXVIII
representavam (no caso da produção cafeeira, grande parte da massa de
trabalhadores eram italianos, o que forçavam a intervenção de representantes
desse consulado)37.
Como pude observar, foram várias as tentativas de regulação, na forma
de lei, das atividades no campo nesse período, porém todas eram muito mais
favoráveis aos grandes proprietários, fosse pela aplicação direta da lei ou pela via
de sua interpretação (Quando chegavam às vias de um tribunal!). Até mesmo as
tentativas de regulação dos contratos de trabalho, pelo poder público, através de
uma “Agência de Colocação”, no início do séc. XX, não surtiram muito efeito, pois
“não havia, nem por parte dos trabalhadores, nem por parte dos fazendeiros
qualquer organização coletiva no sentido de estabelecer uma certa unidade com
respeito a aspectos fundamentais e principalmente com relação ao preço do
trabalho. Deste modo devia haver grande variação nos termos dos contratos, e
principalmente do preço do trabalho, de fazenda para fazenda, e mesmo no
interior de uma mesma fazenda. A própria Agência de Colocação indica uma
grande variação nos salários oferecidos através desta, com relação ao mesmo tipo
de trabalho”.(ROCHA, 1982, p. 313 e 314, apud MEDEIROS, p.55)
37 De acordo com Medeiros (1995), apoiada em Dean (1977), na fazenda se estabelecia um poder paralelo ao do estado, onde o próprio fazendeiro se tornava juiz, por isso “na medida em que havia regras explicitadas, a possibilidade de recurso estava colocada. Se isso era pouco viável através do judiciário, não por acaso os consulados (em especial o italiano) tornaram-se o eixo das disputas: os imigrantes, em diversas situações, dirigiram-se a eles para dar queixas contra os maus tratos, por vezes transformando a questão do trabalho em uma questão diplomática”(p.52). Infelizmente, para esse trabalho não terei como investigar a influência desses trabalhadores europeus na organização da classe no meio rural brasileiro, mas há que se considerar que tal fato não tem pouco peso nesse processo, visto que, a realidade européia com suas lutas de classes, de alguma forma, marcaram a construção desses trabalhadores.

LXXXIX
A continuidade desse processo histórico, apresentado por Medeiros (Ibid),
retrata a grande tentativa de apaziguar as lutas entre classes no campo brasileiro
através da conciliação, embora esse não tenha sido um processo tranqüilo.
Observemos essa tentativa nos argumentos apresentados por Péricles Madureira
Pinho, teórico da organização rural, na apresentação do DL 1402, de 1939 :
Enquanto nos centros urbanos as profissões constituem unidades distintas, na agricultura a uniformidade do trabalho não permite tal diferenciação. As mesmas pessoas se encontram diariamente nas horas de serviço, confundindo a ‘atividade profissional’ com a ‘familial’ e religiosa...A natural harmonização nas tarefas agrícolas, em que o proprietário se identifica com o trabalhador e, em muitos casos é seu companheiro de trabalho, não poderia assim favorecer nem incentivar a formação de grupos profissionais. Apesar das diversidades no tempo e no espaço, a agricultura é de todos os labores humanos o conservador por excelência, aquele que se não desfigurou com os modernos milagres da técnica e da mecanização... Não estamos entre os que repelem o sindicato de classe como perturbador da harmonia social. Quer nos parecer que a associação mista, em certos meios vai de encontro à realidade social. Onde a atividade agrícola seja exercida sob regime de economia patriarcal, só o empregador poderá centralizar um tipo de associação espontânea, em que os interesses de todos se confundem. A própria assistência ao trabalhador é uma responsabilidade que o empresário agrícola assume tacitamente. Em meios assim – como o nosso, por exemplo – não há antagonismos que justifiquem a bipartição em sindicatos de categorias. Outro fator de real importância para preferência do sindicato misto é a pequena propriedade. Seus lucros insignificantes não distanciam o proprietário do trabalhador, senão moralmente. Eles são de fato companheiros das tarefas, vão para o campo com os mesmos instrumentos e nem pelas roupas, nem pelos costumes se distinguem. (PINHO, 1939, p.58 e 59, apud MEDEIROS, 1995, p.68 e 69, negrito nosso).
Essa posição de sindicato misto, à época, é a mesma assumida pelo
Ministério da Agricultura e pela Sociedade Nacional de Agricultura, por isso
“institucionalizava-se, em forma de lei, uma concepção ampla de ‘classe rural’,

XC
ligada por interesses comuns” onde, previa-se “a unidade dos interesses agrários
e não o reconhecimento do trabalhador como portador de interesses diferenciados
e próprios.” (MEDEIROS, 1995, p. 73).38
Estes instrumentos de associação, aqui apresentados, demonstram que
no processo histórico de organização de homens e mulheres do campo brasileiro,
a utilização do instrumento de conciliação de classes se dá na perspectiva de
dominação pelo capital. Entendo, portanto, que tais tentativas de unidade entre
classes preconizam que, na disputa interna dessas organizações, a dominação do
capital se dará pela hegemonia conquistada, não só pela repressão direta, mas
prioritariamente pela construção de convencimento e de consenso.
1.2.3.1.4 - A escola agrícola como instrumento de contenção de
conflitos.
Conforme afirma Siqueira (1987):
A fim de minorar a insatisfação das classes dominadas, tanto no campo como na cidade, decorrente da adoção de uma política econômica que só beneficiava as classes dominantes, o governo continuou a intervir na área da educação, principalmente no ensino de nível médio. No período anterior (1943) já havia sido criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, tendo sido também promulgadas as Leis Orgânicas do Ensino Industrial e Comercial. Dando continuidade a esse projeto, o Governo criou outros órgãos, como o SENAC, além de promulgar a Lei Orgânica do Ensino Agrícola, (...). (p.38, entre parênteses nosso).
38 A leitura, principalmente do capitulo 2, da tese de Medeiros explicitará melhor a dimensão desse processo.

XCI
O intervalo de período entre um governo getulista centralizador e um
outro, também com Getúlio como chefe do Executivo, dito democrático (1945-
1950), foi ocupado pelo governo de Dutra. Juntamente com Dutra há um
redirecionamento da hegemonia governamental para a parcela da classe
dominante que teve seu prestígio relativamente diminuído no período anterior.
Nesse primeiro período do governo Dutra, o ministro da Fazenda Correia e Castro chegou a fazer uma afirmação que parecia um eco da época anterior a 1930, ao descrever o Brasil como um país essencialmente agrícola. (FAUSTO, 2004, p.403)
As políticas públicas para o ensino agrícola são retomadas, inclusive,
como conseqüência dessa mudança na composição do novo governo.
Uma das questões que afligia essa fração, novamente hegemônica, da
classe dominante era a instabilidade no campo, que precisava ser refreada.
Os setores esquecidos do campo – verdadeiros órfãos da política populista – começaram a se mobilizar.(FAUSTO, 2004, p.444).
Surge então a Lei Orgânica do Ensino Agrícola, Decreto-Lei nº 9613, em
20 de agosto de 1946, também como resposta a outras questões que aqui serão
apresentadas por Soares (2001):
Seu texto, em que pese a preocupação com os valores humanos e o reconhecimento da importância da cultura geral e da informação científica, bem como o esforço para estabelecer a equivalência do ensino agrícola com as demais modalidades, traduzia as restrições impostas aos que optavam por cursos profissionais destinados aos mais pobres.
Isto é particularmente presente no capítulo que trata das possibilidades de acesso aos estabelecimentos de ensino superior, admitidas para os concluintes do curso técnico-agrícola.

XCII
Art. 14. A articulação do ensino agrícola e dêste com outras modalidades de ensino far-se-á nos termos seguintes:
III - É assegurado ao portador de diploma conferido em
virtude da conclusão de um curso agrícola técnico, a possibilidade de ingressar em estabelecimentos de ensino superior para a matrícula em curso diretamente relacionado com o curso agrícola técnico concluído, uma vez verificada a satisfação das condições de admissão determinadas pela legislação Competente.
Além disso, o Decreto reafirmava a educação sexista,
mascarada pela declaração de que o direito de ingressar nos cursos de ensino agrícola era igual para homens e mulheres.
Art. 51. O direito de ingressar nos cursos de ensino
agrícola é igual para homens e mulheres. Art. 52. No ensino agrícola feminino serão observadas as
seguintes prescrições especiais: 1. É recomendável que os cursos de ensino agrícola para
mulheres sejam dados em estabelecimentos de ensino de exclusiva freqüência feminina.
2. Às mulheres não se permitirá, nos estabelecimentos de ensino agrícola, trabalho que, sob o ponto de vista da saúde, não lhes seja adequado.
3. Na execução de programas, em todos os cursos, ter-se-á em mira a natureza da personalidade feminina e o papel da mulher na vida do lar.
4. Nos dois cursos de formação do primeiro ciclo, incluir-se-á o ensino de economia rural doméstica.
Com isso, o mencionado Decreto incorporou na legislação
específica, o papel da escola na constituição de identidades hierarquizadas a partir do gênero. (p.08 e 09)
Especificamente, no que se refere à característica mencionada no título
desse item, a função da escola agrícola como instrumento para conter os conflitos
no campo, ao meu ver fica explícita nos artigos que ora seguem:
Art. 40. § 2º Os estabelecimentos de ensino agrícola velarão pelo desenvolvimento, entre os alunos, de instituições sociais delas, com um regime de autonomia, de caráter educativo, criando na vida as condições favoráveis à formação do gênio desportivo, dos bons

XCIII
sentimentos de camaradagem e sociabilidade, dos hábitos econômicos, do espírito de iniciativa, e de amor à profissão. Merecem especial atenção, entre essas instituições, as cooperativas, as quais deverão ser constituídas em todos os estabelecimentos de ensino agrícola.
Art. 44. Os estabelecimentos de ensino agrícola tomarão cuidado especial e constante com a educação moral e cívica de seus alunos. Essa educação não será dada em tempo limitado, mediante a execução de um programa específico, mas resultará da execução de todos os programas que dêem ensejo a êsse objetivo, e, de um modo geral, do próprio processo da vida escolar, que em tôdas as atividades e circunstâncias, deverá transcorrer em têrmos de elevada dignidade e fervor patriótico.
Art. 71. Os estabelecimentos de ensino agrícola
buscarão estender a sua influência educativa sôbre as propriedades agrícolas circunvizinhas, quer levando-lhes ensinamentos relativos aos seus trabalhos agrícolas habituais ou de matéria de economia rural doméstica, quer despertando entre a população rural interêsse pelo ensino agrícola e compreensão de seus objetivos e feitos. (negrito nosso)
A instabilidade no campo já era uma conseqüência da introdução da
lógica capitalista no processo de produção agrícola brasileiro, e que vinha
tomando força à medida que as condições objetivas forçavam um processo de
consciência de classe39.
As demandas do setor de produção agrícola, portanto, não tratavam
simplesmente do desenvolvimento das forças produtivas no campo - importante
para a maior acumulação capitalista - mas também das relações sociais de
produção, visto que uma é produto da outra e vice-versa.
39 As Ligas Camponesas, por exemplo, já tinham aparecido no cenário histórico nos fins
de 1955.

XCIV
1.2.4 - Imperialismo total e o ensino agrícola brasileiro.
O quarto padrão de dominação externa surgiu recentemente, em conjunção com a expansão das grandes empresas corporativas nos países latino-americanos – (...). Essas empresas trouxeram à região um novo estilo de organização, de produção e de marketing, com novos padrões de planejamento, propaganda de massa, concorrência e controle interno das economias dependentes pelos interesses externos. Elas representam o capitalismo corporativo ou monopolista, e se apoderaram das posições de liderança – através de mecanismos financeiros, por associação com sócios locais, por corrupção, pressão ou outros meios – ocupadas anteriormente pelas empresas nativas e por seus ‘policy-makers’. (FERNANDES, 1973, p. 18).
Essa fase de dominação externa descrita acima por Fernandes tem seu
marco na agricultura brasileira, ao meu ver, com a chamada Revolução Verde,
que ocorreu aqui no Brasil durante as décadas de 1960 e 1970, havendo dessa
forma, um processo de reestruturação produtiva em boa parte das propriedades
rurais brasileiras, principalmente aquelas com acesso à créditos bancários. O que
significa dizer que tal revolução não ocorreu com os pequenos proprietários,
camponeses, trabalhadores rurais e posseiros; ao contrário, a eles couberam as
conseqüências desastrosas de um mercado mais competidor, dado o aumento na
produtividade40.
40 “Com dinheiro fácil e altamente subsidiado, o agricultor passou a adotar novas tecnologias, para que as variedades de alta produtividade atingissem os objetivos da “Revolução Verde”. Essas variedades, além da necessidade dos fertilizantes químicos e agrotóxicos, são extremamente dependentes da irrigação. Na verdade, esta tecnologia torna-se muito caro para os pequenos agricultores, vindo a beneficiar somente o grande proprietário de terras que, dispondo de capital e conseguindo subsídios governamentais, investem em sistemas de irrigação. E o resultado hoje, é que se vê um quadro desolador. Frustrados com os crescentes custos de produção, cada vez mais descapitalizados e sem uma política agrícola planejada em longo prazo, os pequenos agricultores vêem-se levados a abandonar suas atividades para tentar a sorte junto às cidades e grandes centros. (FAUTH, 1990, p.10)

XCV
Porém antes da Revolução Verde, trataremos do processo de penetração
da influência externa, que se deu de forma direta e que contribuiu para a
modificação do processo de produção agrícola no Brasil.
Citando Siqueira (1987), destacaremos algumas dessas penetrações para
esse período:
Ainda, em 1945, chegou ao Brasil uma comitiva americana, denominada ‘Missão Rockfeller’, que apresentando um discurso extremamente assistencialista, propunha-se beneficiar as populações pobres das favelas, na sua maioria migrantes do meio rural. Segundo os integrantes dessa Missão, o problema do país estava situado na área rural e, por isso, seria preciso criar organizações voltadas para o desenvolvimento social e cientifico da comunidade agrícola brasileira.
Na realidade, contudo, a preocupação da missão americana com o desenvolvimento do campo restringia-se à necessidade de haver um aumento na produção de alimentos a custos reduzidos, e de esvaziar os movimentos reivindicatórios dos trabalhadores dói campo, que poderiam desestabilizar o governo e dificultar a instalação de indústrias dependentes do capital norte-americano. (p.38 e 39)
Sob influência da Missão Rockfeller, surge no Brasil, em 1948, a
Associação de Crédito e Assistência Rural (ACAR), que, segundo Siqueira (1987),
atuava tanto na área de pesquisas agropecuárias, com o intuito de aplicação de
técnicas de ampliação da produtividade, quanto na área de crédito rural,
amarrados a utilização de determinados padrões técnicos, ou seja, emprestava os
recursos desde que os proprietários rurais cumprissem com as exigências que
modificariam enormemente o processo de produção.

XCVI
Fortalecidas, as ACARs, que eram de atuação nos estados, dão origem a
Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural (ABCAR)41, em 1956.
A Associação Brasileira de crédito e Assistência Rural foi extremamente centralizadora, mantendo uma administração bastente hierarquizada e dependente das decisões de poder central. As ACARs regionais e os escritórios locais ficaram reduzidas à execução dos pacotes elaborados pela direção geral, vinculados aos interesses norte-americanos, perdendo toda sua autonomia administrativa. Com o surgimento da ABCAR, a atuação dos extensionistas foi modificada, deixando de atuar diretamente com os produtores rurais e objetivando o treinamento de líderes rurais – geralmente os médios proprietários – que deveriam retransmitir os ensinamentos recebidos nos escritórios e campos de pesquisa desses órgãos extensionistas à comunidade rural, servindo assim de ponte.(Ibidem, p.45)
Ainda nesse ano, o Brasil firma um acordo com os Estados Unidos para o
desenvolvimento de um Programa de Agricultura e Recursos Naturais, que previa
41 Segundo Soares (2003), apoiada em Lima et al e Mayhew et al: “No campo da educação não formal, um dado interessante é o que diz respeito ao reforço dado pelo Ministério da Agricultura, através do Serviço de Informação Agrícola - SIA, à instalação de Clubes Agrícolas nas escolas públicas e particulares, especialmente nas escolas rurais. Desde 1940, o SIA desenvolveu campanha para a instalação desses clubes e em 1949 divulgou folheto informativo, no qual apresenta os objetivos, a organização, as experiências já desenvolvidas e, sobretudo, explicita a forte inspiração americana, advinda dos chamados Clubes 4-H, desenvolvidos pelo Serviço de Extensão Agrícola do Departamento de Agricultura dos EUA. Numa linha que enaltece a ‘profissão de fé patriótica’ dos professores e a importância do amor à terra e ao seu cultivo e à preocupação com as culturas e as criações, o documento propugna uma atuação integrada dos clubes com os programas oficiais das escolas. Enfatiza a importância de um ensino prático, objetivo, eliminando as ‘abstrações vazias de sentido’. Há um forte apelo patriótico e uma preocupação com a formação dos jovens do interior numa perspectiva de racionalização das atividades agrícolas. Os 4-H significavam: head (cabeça), heart (coração), hands (mãos) e health (saúde). Foram criados em 1937, com os seguintes princípios: ‘Minha cabeça para pensamentos claros. Meu coração para a lealdade. Minhas mãos para grandes obras. Minha saúde para uma vida melhor em prol do meu clube e minha pátria’. Em 1959, seguindo esse modelo, são implantados os Clubes 4-S (Saber, sentir, servir e saúde), ligados à Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural - ABCAR e contando com o apoio financeiro dos Serviços Estaduais de Extensão Rural e do Rotary e Lions Club, instituições privadas. O apoio internacional era proveniente da Fundação Ford, da Associação Americana Internacional, do Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas - IICA e do International Farm Youth Exchange. Interessante é notar que o mote utilizado à época: aprendemos fazendo, é quase o mesmo que vai ser incorporado pelo Sistema Escola-Fazenda, implementado pelo MEC, nas Escolas Agrotécnicas, a partir de 1967”.(p.54 e 55, negrito nosso)

XCVII
a expansão e melhoria do ensino agrícola.(essas modificações serão tratadas no
próximo ponto).
Em 1961, surge no cenário da América Latina a Aliança para o Progresso,
que tinha como objetivo a promoção de atividades dos ideais liberais, na
perspectiva da ampliação das atividades privadas em uma América Latina, ainda
marcada pelo peso da centralização estatal nos meios produtivos.
A Aliança para o Progresso estabeleceu programas em todos os setores – administrativo, educacional, econômico, social e militar – o que significaria uma grande intervenção no modo de desenvolvimento dos países aliados, beneficiando a expansão do capitalismo monopolista. Dentre seus objetivos, podemos destacar o aumento da produtividade e da produção agrícola, bem como a melhoria dos serviços de armazenamento, transporte e distribuição, através de empresas multinacionais.
No setor educacional, a Aliança para o Progresso destacou a necessidade de ‘prover pessoal habilitado requerido pelas sociedades em rápido desenvolvimento’, no que tange ao desenvolvimento econômico e social, a Carta de Punta Del Este estabeleceu que os países latino-americanos deveriam formular programas de desenvolvimento a longo prazo, bem como promover condições que estimulassem a entrada de capital estrangeiro. Também para que estes países pudessem acelerar seu desenvolvimento, algumas medidas foram propostas, (...): a) a execução de projetos que visassem concentrar esforços nas zonas menos desenvolvidas ou de maior depressão, onde existissem problemas sociais particularmente graves no país; b) o treinamento de mestres, técnicos e especialistas, assim como de operários e camponeses, para que se facilitasse a preparação ou execução dos programas de longo prazo. (Ibidem, p.50 e 51).
Já no período do governo militar, como forma de demonstração dessa
inserção norte-americana, que garantia a condição de dependência brasileira junto
ao sistema capitalista mundial, destaco as resoluções oriundas dos acordos MEC-
USAID. Especificamente cito dois, diretamente ligados ao ensino agrícola:

XCVIII
a) O Acordo do Ministério da Agricultura-Contap-USAID, para
treinamento de técnicos rurais, em 5 de maio de 1966;
b) O Acordo MEC-Contap-USAID, de cooperação para a
continuidade do primeiro acordo relativo à orientação
vocacional e treinamento de técnicos rurais. (ROMANELLI
apud GÓES, 2002, p. 32 e 33).
Essas intervenções internacionais não só abriram caminho, mas foram
fundamentais para o processo da chamada Revolução Verde no Brasil. Esse
processo de transformação que ocorreu na agricultura brasileira tinha como base
de convencimento um discurso de aumento da produtividade para saciar a fome
no mundo. Caracterizou-se, principalmente pelo crescente uso de fertilizantes
químicos na lavoura; recomposição de nutrientes nos solos empobrecidos pela
exploração; calagem; uso de herbicidas e agrotóxicos para a eliminação de pragas
e doenças; uso de máquinas e implementos agrícolas necessários a essa nova
forma de produzir; uso de sementes “melhoradas” e selecionadas42; sistemas de
irrigação; e créditos rurais, que tornavam possível a aquisição de pacotes para a
42 “Durante as últimas décadas diminuiu a implicação governamental na produção de variedades de plantas, e gigantescas companhias petroquímicas e farmacêuticas preocupam-se em adquirir em todo mundo, centenas de empresas familiares de sementes. Uma das principais companhias mundiais atualmente é a Shell. Outros produtores de variedades de plantas são hoje a Ciba-Geigy e a Sandoz, da Suíça; a Atlantic Richfield, a Upjohn, a Ocidental Petroleum, a Pfizer e a ITT, dos EUA; a Lafarge Coppe, a Elf Aquitaine e a Rhôde Poulenc, da França; a Volvo e a Kema Nobel, da Suécia; e, a Dalgetty e a British Petroleum, da Grã-Bretanha. Essas corporações imiscuem-se no negócio das sementes por várias razões. O negócio é muito rentável. Os canais de distribuição são os mesmos que de produtos agro-químicos (agrotóxicos, fertilizantes, etc.). E, segundo o atual diretor da Pioneer Hi-Bred, existe a possibilidade de vincular o desenvolvimento e a comercialização dos produtos químicos, com os das sementes. A Ciba-Geigy, por exemplo, comercializa sua própria marca de semente de sorgo, empacotada junto com três produtos químicos, um dos quais serve para proteger a semente de sorgo da Ciba-Geigy contra os efeitos do principal herbicida da mesma Ciba-Geigy. A integração destas tecnologias em um só conjunto de comercialização permite à companhia vender mais sementes e mais produtos químicos. Graças ao seu tamanho e ao seu poder econômico, as transnacionais lograram dominar o mercado comercial de sementes”. (HOBBELINK, 1990, p.31, negrito nosso).

XCIX
implantação de tais inovações. Tudo isso aumentou consideravelmente a
dependência entre agricultura brasileira e setores de fornecimento dessa nova
biotecnologia, de origem amplamente americana. O que implicou na instalação de
indústrias multinacionais vinculadas a esse setor (montadoras de tratores,
indústrias químicas e farmacêuticas, de biofertilizantes, de distribuição de
sementes e animais geneticamente “melhorados”, etc.)43.
A então chamada Revolução Verde, apresentou um outro nível de
dependência, não tão amplo e nem observado do ponto de vista da
macroeconomia. No processo de produção rural brasileiro, tal desenvolvimento
das forças produtivas descarnou um outro tipo dependência: a dependência direta
dos produtores rurais ao fornecimento das condições de produção por parte da
agroindústria, com requinte de crueldade aos pequenos produtores quando
amarrados à necessidade de empréstimos bancários, aplicados em uma incerta
produção e comercialização, vítimas, portanto, de uma certa obrigação de
restituição, acrescida de correção e juros.
1.2.4.1 - As transformações do ensino agrícola em tempos de
imperialismo total.
Ainda como resultado do acordo firmado entre os Estados Unidos e o
Brasil, em 1956 (citado acima), surge, como conseqüência, novas Diretrizes para
43 Essas transformações deram os subsídios para o crescimento de uma cultura que a partir do sul do país foi avançando para a região central, sudeste e invadiu a região norte. A soja começou a ter um grande avanço nas exportações brasileiras a partir da década de 1970, e hoje é uma das principais culturas no quadro de exportação brasileiro.

C
o ensino agrícola, afim de torná-lo mais adequado às novas demandas que se
inseriam no processo de produção brasileiro.
Por essas novas diretrizes a SEAV se propunha a incentivar:
a) os programas de extensão educativa, visando atingir a ‘população rural que ultrapassou a idade escolar e necessita de assistência educativa apropriada’; b) os cursos de economia rural e doméstica, pois a mulher ‘é o núcleo das atividades (...) e sem o seu concurso não será possível obter-se a transformação rápida e eficiente do meio rural para uma vida melhor’; c) a adoção de ‘processo científico para a seleção dos candidatos, isto é, a aplicação de testes de inteligência e vocacional, além das provas de conhecimento geral; d) a implantação de cursos ‘vocacionais’, baseados na modalidade de educação profissional adotada nos EUA, que ‘consiste numa educação complementar às escolas secundárias’, onde não haveria despesas extras com a parte de cultura geral, com o sistema de internato e nem mesmo com as práticas, que deveriam ser realizadas em ‘regime de cooperação com os proprietários agrícolas da circunvizinhança, pelo método de projetos’. Estes cursos vocacionais deveriam ser implantados no nível ginasial e também no primário e, para isto, haveria a ‘colaboração de educadores norte-americanos’, que já havia sido solicitada ao Escritório Técnico de Agricultura (ETA)44. e) além de introduzir a idéia de ser indispensável haver produção agrícola nos estabelecimentos de ensino agrícola, como instrumento de formação profissional (BELLEZA, 1956 apud SIQUEIRA, 1987, p.46).
Embora tais transformações no ensino agrícola aconteçam um pouco
antes do período da Revolução Verde, entendo que elas vieram com a intenção de
preparar o terreno para as novas demandas da classe dominante do setor agrícola
brasileiro.
44 Este escritório foi um órgão criado em 1953 “vinculado a Americam International Association (AIA), responsável pela presença dos técnicos americanos que forneceriam treinamento aos brasileiros e desenvolveriam trabalhos destinados a aumentar o volume da produção”(SIQUEIRA, 1987, p.44)

CI
Em 1961, entra em vigor a primeira Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei 4.024/61), que estabelece o ensino em três fases:
primário, médio e superior. Sendo que o ensino médio era composto de dois
ciclos: ginasial e colegial, como anteriormente. As escolas de iniciação agrícola e
mestria agrícola se agruparam sendo chamadas de Ginásio Agrícola mantendo a
emissão do certificado de Mestria Agrícola, e as escolas agrícolas do segundo
ciclo passaram a ser chamadas de Colégios Agrícolas, emitindo, somente, o título
de Técnico em Agricultura.
Com um novo modelo “modernizador”45, do regime militar, a “Revolução
Verde” e os acordos de “cooperação” Brasil-Estados Unidos da América, nas
décadas de 60 e 70, essas escolas passaram a se preocupar com a formação de
um profissional técnico que atendesse as demandas das inovações trazidas por
essa nova forma de se produzir.
No plano educacional, o governo militar, seguindo o lema ‘Segurança e Desenvolvimento’, norteou os planejamentos tendo como meta alcançar o desenvolvimento através da educação. A base teórica foi dada pela Teoria do Capital Humano, que trouxe todo discurso da educação como investimento, incentivando a qualificação profissional e vinculando a educação à formação de mão-de-obra. Neste sentido, o saber técnico foi-se desvinculando do político e do social, esvaziando-se e diluindo-se os conteúdos educacionais. (SIQUEIRA, 1987, p.61).
Há nesse momento uma necessidade, por parte desse modelo de
produção, de crescimento na oferta de profissionais para atuarem como
45 “Sem condições políticas para se transformar no popular, o populismo, em 1964, deixou a cena para o novo Estado tecnocrático-civil-militar. Os novos tempos serão comandados pela internacionalização do capital, que se aprofundará, e dirigidos pela tradicional classe dominante, agora com mais uma proposta de modernização.”(CUNHA e GÓES, 2002, p. 10; negrito nosso)

CII
extensionistas rurais, ou melhor dizendo, “vendedores” dessa nova tecnologia
(adubação química, mecanização agrícola motorizada, implementos e máquinas
agrícolas, inseminação artificial, entre outras). Dessa forma, os técnicos de nível
médio, por terem uma formação rápida, em relação aos de nível superior, e
direcionada à aplicação e execução de novas tecnologias advindas da
modernidade agrícola, eram os imediatamente necessários para o projeto de
desenvolvimento agrícola no Brasil, a época. Dessa maneira, ao crescer a
necessidade de técnicos, cresce também a demanda, por parte do setor
agroindustrial e de financiamento agrícola, por novas instituições que tratem dessa
modalidade de ensino e, conseqüentemente, de docentes para os mesmos.
Como conseqüência dessa demanda, é criado o curso de formação de
professores da educação agrícola na Escola de Educação Técnica, junto às
Escolas Nacionais de Agronomia e Veterinária (onde hoje funciona a Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro), impulsionado pelo art 59 da LDB de 1961, que
previa a criação de cursos especiais de Educação Técnica, visando a formação de
docentes para o quadro das escolas técnicas.
Com as reformas do ensino em 1968 (Lei 5540) e em 1971 (Lei 5692) a
Escola Técnica passa a se chamar Curso de Licenciatura em Ciências Agrícolas,
e segundo OLIVEIRA (1998):
A institucionalização do Curso de Licenciatura em Ciências Agrícolas na década de 70, está articulado ao processo associado de expansão e revitalização do ensino técnico agrícola e de profissionalização do magistério em todos os níveis e ramos do ensino, pelos Cursos de Licenciatura. No processo de revitalização do ensino técnico agrícola, esse curso da UFRRJ, baliza seu processo formativo aos

CIII
proclames do modelo pedagógico do Sistema Escola-Fazenda, cuja concepção de educação técnica firma-se na relação produtivista e unidirecional do mercado e da produção agropecuária de finalidades empresariais.(p. 2)
Em 1967, em atendimento à LDB de 1961, que só considerava o ensino
militar como sendo de regime especial, a SEAV é transferida para o MEC46 e
recebe o nome de Diretoria de Ensino Agrícola (DEA). Em 1970, é extinta após a
criação do Departamento de Ensino Médio (DEM), que reuniu as diretorias do
ensino agrícola, comercial, industrial e secundário.
Durante esse período, o MEC implantou a metodologia da Escola-
Fazenda, baseada no princípio “aprender a fazer fazendo” (MEC-COAGRI, 1980,
p.9), principalmente naquelas administradas pelo governo federal.
A partir da Lei 5692/71, que transformou o ensino de segundo grau em
ensino profissionalizante, definiu-se, em 1973, no Plano de Desenvolvimento do
Ensino Agrícola de Segundo Grau, duas funções principais para o técnico
agrícola: “agente de produção”, destinado a trabalhar como autônomo na
administração da propriedade de terceiros, e “agente de serviços”, prestando
serviços para um profissional de nível superior ou trabalhando como extensionista,
servindo como ponte de apoio entre pesquisadores e produtor rural.(SIQUEIRA,
1987, p. 71 e 72).
Em 1975, é criada a Coordenadoria Nacional do Ensino Agropecuário
(COAGRI), órgão autônomo do Ministério da Educação e Cultura, com a finalidade
46 Essa mudança do ensino agrícola do Ministério da Agricultura para o Ministério da Educação pode ser, ao meu ver, explicada, em parte, pela predominância da base teórica da Teoria do Capital Humano, já que a partir dela o conhecimento técnico passa a ser fruto do conhecimento escolar, capaz de qualificar profissionalmente o homem, inserindo-o como força de trabalho no setor produtivo.

CIV
de coordenar a educação agropecuária, em nível de segundo grau, no Sistema
Federal de Ensino, mantendo como princípio de funcionamento o sistema Escola-
Fazenda.
O sistema escola-fazenda, tal como vem sendo desenvolvido, é concebido como metodologia de ensino que busca a formação integral do jovem, à medida que se desenvolve o conhecimento técnico e humanístico, familiarizando-o, ao mesmo tempo, com as atividades que encontrará no exercício profissional. Desta forma, a escola-fazenda deverá funcionar como um laboratório de prática e produção, com a finalidade didática de auto-manutenção do estabelecimento, cujo processo de ensino-aprendizagem baseia-se no princípio do ‘aprender a fazer e fazer para aprender’. (MEC-COAGRI, 1980, p.10).
A COAGRI é extinta no ano de 1986, ficando o ensino técnico agrícola
subordinado a Secretaria de Ensino de 2o grau (SESG) - sua equivalente atual é a
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec). Desde então o ensino
agrícola de nível médio é tratado no conjunto dos demais cursos técnicos, sem
que haja algum espaço específico e formal de coordenação dessa modalidade de
ensino, na estrutura de Estado.
Este, portanto, será o ponto de partida para o próximo capítulo, que
tratará como hipótese explicativa da extinção da COAGRI, a modificação no
padrão de acumulação capitalista, que uniformiza os processos de produção, seja
no campo ou na cidade, utilizando uma mesma lógica. Por isso, no campo
educacional, essa hipótese se materializa no tratamento dado a todas as
modalidades de formação profissional, centralizadas agora em um único órgão do
Ministério da Educação.

CV
CAPÍTULO II.
2- AS MUDANÇAS ESTRUTURAIS NO PLANO DO CAPITALISMO RURAL E SUAS IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM AGROPECUÁRIA.
“As transformações atuais que ocorrem na agricultura brasileira podem ser entendidas a partir da subordinação crescente das atividades agrícolas às exigências da reprodução e acumulação de capital na Economia” (BESKOW, 1980).
Este capítulo da dissertação se preocupará em explicitar que com a
denominada “Revolução Verde”, que ocorreu no Brasil por volta da década de
1960, a lógica de produção capitalista industrial invadiu também o campo. O
grande processo de “modernização” da agricultura brasileira retrata de forma
inequívoca a ampliação da lógica do processo de produção capitalista, tanto para
o campo quanto para a cidade, ficando, a partir dessa transformação, difícil
verificar especificidades de um capitalismo urbano e um rural, principalmente do
ponto de vista dos processos de produção.
O resultado, portanto, dessa modernização foi o modelo de complexos
agroindustriais, que tinha como característica mais aparente uma forte intervenção
do Estado, fosse diretamente nas políticas para o setor, fosse nos programas de
financiamento da produção. Assim, na área da Educação, tal intervenção também

CVI
se expressou na política de formação profissional de nível médio, comandada pela
Coordenação do Ensino Agropecuário (COAGRI), órgão inserido na estrutura de
Estado, mais especificamente vinculado ao MEC.
Com a superação desse modelo pelo próprio capitalismo, naquilo que
Mazzali (2000) denominou de “o processo recente de reorganização
agroindustrial”, o papel do Estado também se modifica e a necessidade de uma
política específica para a formação de técnicos em agropecuária passa a inexistir.
Portanto, a extinção da COAGRI, assim tentarei demonstrar, é a expressão de um
processo de transformação na própria estrutura do capital; expressão esta que se
fortalece na recente transformação de Escolas Agrotécnicas Federais em Centros
Federais de Ensino (CEFETs).
2.1 - Conceitos usados para qualificação das mudanças dos
processos de produção da agricultura brasileira.
Para esta parte, usarei como base para a descrição do processo de
modernização47 vivido pela agricultura brasileira a partir da segunda metade do
séc. passado, o trabalho de Ângela Kageyama et. alii.(1990).
É interessante, portanto, que se façam as mesmas advertências
levantadas por esses autores, logo no início do trabalho:
47 Nunca é demais lembrar que o processo de modernização não alcançou grande parte da agricultura brasileira, portanto, ainda hoje há um abismo muito grande entre as diversas formas de se produzir; convivem em um mesmo período histórico o “atrasado” e o “moderno”, afinal as diferenças de classe também se materializam no campo. Mas por que neste trabalho trato somente de uma parte deste processo excludente de “modernização”? Por entender que ele é quem estabelece as demandas por profissionais para a agricultura, materializando-as nas políticas de Estado.

CVII
Segundo eles, conceitos como “modernização da agricultura,
industrialização da agricultura48 e formação de complexos agroindustriais”, são
tratados equivocadamente como sinônimos. No que pese a extensa citação,
entendo que ela, nesse momento, se torna necessária na perspectiva de expor
com maior clareza tais diferenças.
Por modernização da agricultura se entende basicamente a mudança na base técnica da produção agrícola. É um processo que ganha dimensão nacional no pós-guerra com a introdução de máquinas na agricultura (tratores importados), de elementos químicos (fertilizantes, defensivos, etc.), mudanças de ferramentas e mudanças de culturas ou novas variedades. É uma mudança na base técnica da produção que transforma a produção artesanal do camponês, à base da enxada, numa agricultura moderna, intensiva, mecanizada, enfim numa nova maneira de produzir. A modernização da agricultura no Brasil é, pois, um processo ‘antigo’. (...).
A ‘industrialização da agricultura’ envolve a idéia de que a agricultura acaba se transformando num ramo de produção semelhante a uma indústria, como uma ‘fábrica’ que compra determinados insumos e produz matérias-primas para outros ramos da produção.O camponês produzia em ‘interação coma natureza’ como se esta fosse seu ‘laboratório natural’. Trabalhava com a terra com os insumos e ferramentas que tinha a seu alcance, quase sempre produzidos na própria propriedade. A agricultura industrializada, ao contrário, está conectada com outros ramos da produção; para produzir ela depende dos insumos que recebe de determinadas indústrias; e não produz mais apenas bens de consumo final, mas basicamente bens intermediários ou matérias-primas para outras indústrias de transformação. A industrialização da agricultura brasileira é um processo (...), pós-65. (...). A partir do momento em que a agricultura se industrializa, a base técnica não pode regredir mais: se regredir a base técnica, também regride a produção agrícola.
48 Embora os trabalhos de José Eli da Veiga (1990, 2004, 2006a e 2006b), contestem o conceito de industrialização da agricultura, usarei tal conceito neste trabalho por entender que o referido autor trata basicamente de questões ligadas ao ambiente rural. Como nesta dissertação a perspectiva de análise está centrada nos processos de produção, entendo que, assim como os autores que serão citados, este conceito se aplica como forma de demonstrar a penetração da lógica capitalista industrial na produção agrícola brasileira, principalmente do ponto de vista da organização da produção.

CVIII
O longo processo de transformação da base técnica – chamado de modernização – culmina na própria industrialização da agricultura. Esse processo representa a subordinação da Natureza ao capital que, gradativamente, liberta o processo de produção agropecuária das condições naturais dadas, passando a fabricá-las sempre que se fizerem necessárias.
(...). (...), no período pós-75 temos a constituição do que vem
se chamando de complexos agroindustriais. São vários complexos que se constituem, ao mesmo tempo em que a atividade agrícola se especializa continuamente.(...).
(...). Esse processo envolve a substituição da economia
natural por atividades agrícolas integradas à indústria, a intensificação da divisão do trabalho e das trocas intersetoriais, a especialização das exportações pelo mercado interno como elemento central da alocação dos recursos produtivos no setor agropecuário.(p.113-116; negrito nosso).
Enfatizadas as diferenças, cabe aqui explicitar que o próprio modelo do
complexo agroindustrial, no processo histórico, viveu seu momento de
estrangulamento, devido às reestruturações últimas vividas pelo capitalismo em
nível mundial. A flexibilização também chegou ao campo, o papel do Estado,
portanto, se modificou; conseqüentemente as demandas pela formação de
profissionais de nível médio para a agricultura tornaram-se outras. Assim estes
serão os aspectos levantados nesse capítulo, na perspectiva de descortinar o
cenário do processo que culmina na extinção da COAGRI e seus recentes
desdobramentos.
2.2 - Revolução Verde e os Complexos Agroindustriais (CAIs).
Alicerçada no que foi genericamente intitulado de ‘revolução verde’, materializou-se de fato sob um padrão

CIX
tecnológico o qual, onde foi implantado de forma significativa, rompeu radicalmente com o passado por integrar fortemente as famílias rurais a novas formas de racionalidade produtiva, mercantilizando gradualmente a vida social e, em lento processo histórico, quebrando a relativa autonomia setorial que em outros tempos a agricultura teria experimentado. Com a disseminação de tal padrão na agricultura, desde então chamado de ‘moderno’, o mundo rural passou a subordinar-se, como mera peça dependente, a novos interesses, classes e formas de vida e de consumo, majoritariamente urbanas, que a expansão econômica do período ensejou, em graus variados, nos diferentes países. Esse período, que coincide com a impressionante expansão capitalista dos ‘anos dourados’ (1950-1975), é assim um divisor de águas também para as atividades agrícolas, e o mundo rural (re)nasceria fortemente transformado, tão logo os efeitos desta época de transformações tornaram-se completos.(NAVARRO, 2001, p.84).
A partir de meados da década de 1960, a agricultura no Brasil passa por
uma transformação, principalmente naquilo que diz respeito a sua organização
produtiva, que segundo Delgado(1985) apud Mazzali (2000), surge do
aprofundamento das relações do setor agrícola com a economia urbano-industrial.
Tratava-se da reformulação da inserção da agricultura no padrão de acumulação, por meio de um processo de modernização, com ênfase:
• na diversificação e aumento da produção, visando enfrentar os desafios da industrialização e da urbanização aceleradas e a necessária elevação das exportações primárias e agroindustriais; • na transformação da base técnica da agricultura brasileira, com a consolidação do complexo agroindustrial.(MAZZALI, 2000, p.19).
Dessa forma, o processo de industrialização da agricultura, também
apelidado de revolução verde49, guardou algumas características específicas. O
49 A mudança da base técnica da agricultura assentou-se em um conjunto de inovações mecânicas, físico-químicas e biológicas, que tinham por referência os princípios técnicos da chamada ‘Revolução Verde’, ‘que

CX
primeiro ponto a ser destacado é que o desenvolvimento das forças produtivas no
campo, ocorrido a partir da década de 1960, inseriram no processo de produção
agropecuária novas exigências de aumento da produtividade, calcada na
incorporação de insumos industrializados, como por exemplo:
• Da indústria química: adubos, fertilizantes, corretivos, inseticidas,
germicidas, fungicidas, herbicidas, etc;
• Da indústria Mecânica: máquinas e implementos agrícolas, tratores,
peças de reposição e de manutenção;
• Da indústria de ração: suplementos alimentares, rações
especializadas e componentes para formulação de novas rações;
• Da indústria farmacêutica: vermicidas, vacinas, soros, anestésicos e
medicamentos em geral para tratamentos veterinários;
• Da indústria de limpeza: material para desinfecção de ambientes
coletivos.
Todas ligadas ao ramo das indústrias “a montante” do processo de
produção agrícola. Porém, o processo de industrialização da agricultura não se
caracterizava pela incorporação dessa industria a montante, o processo de
escoamento e de processamento da produção também resultou no crescimento,
mesmo que pequeno, de uma indústria já instalada e especializada, chamada de
indústria “a jusante” (DELGADO, 1985, p. 39 e 40):
• Indústria de produtos alimentares: beneficiamento, moagem,
torrefação, conservas, abate de animais frigoríficos, preparação de
combina inovações físico-químicas e mecânicas com a criação de variedades vegetais altamente exigentes em adubação química e irrigação...’(Delgado, 1985, apud. Mazzali, 2000, p.20)

CXI
pescado, resfriamento e preparação de leite e derivados (laticínios),
fabricação e refino de açúcar, doces em geral, produtos de padaria,
massas alimentares, etc;
• Indústria química: destilação de álcool, óleos vegetais e essências;
• Indústria do fumo;
• Indústria madeireira;
• Indústria de beneficiamento de couros e peles;
• Indústria de bebidas;
• Indústria têxtil: nas etapas de beneficiamento de fibras vegetais e
fiação de fibras de origem animal;
• Indústria de celulose.
Assim, “a definição de um perfil industrial do CAI, compondo os seus
principais ramos a jusante e a montante da agricultura, é um indicador relevante
para que se possa, senão medir, pelo menos estimar uma ordem de magnitude
desse complexo industrial”. (Ibidem, p.38).
No levantamento apresentado por Delgado (1985), o crescimento da
indústria a montante, avaliada no conjunto das indústrias de transformações, tem
suas participações elevadas de 2,4% para 4,0%, no período de 1970 a 1975. O
que demonstrava uma forte elevação na demanda por esses produtos resultantes
dessa indústria por parte do processo de produção agrícola brasileiro, ou seja,
essa é uma expressão da modificação que ocorreu na base técnica da produção
agrícola durante este período.

CXII
Cabe ressaltar, que o crescimento das atividades da indústria a jusante não
foi muito expressivo50, já que as mesmas não se constituíram em novos ramos
durante e após o processo de modernização, porém, como lembra Mazzali (2000)
“embora estas não se constituíssem em ramos novos, passaram a ter um novo
perfil e ficaram sujeitas a uma nova dinâmica, a partir da transformação da
tecnologia industrial, somada à conversão de mercados regionais em mercado
nacional, com especial referência à ampliação da concorrência oligopolista”.
Em essência, tratava-se, no momento, de tornar a agricultura menos dependente da dotação de recursos naturais, atrelando as suas condições de reprodução à incorporação de insumos e bens de capital gerados em um setor específico da indústria, implicando o estabelecimento de ligações estreitas, concomitantemente à edificação e reorganização das relações com a indústria processadora de produtos agrícolas. (Ibidem, p.20).
A constituição do CAI resultaram, portanto, na
conformação de uma nova categoria de agregação, que incorporou interesses situados no âmbito da agricultura propriamente dita, dos setores industriais produtores de insumos e equipamentos para a agricultura e da indústria processadora de produtos agrícolas. (Ibidem, p.21).
Outro fator importante na conformação do modelo de organização agrícola
denominado de Complexo Agroindustrial (CAI), foi o forte aparato do Estado na
área do financiamento e das políticas de crédito.
Uma das características que marcou esse processo de modernização da
agricultura foi o oferecimento pela rede bancária de créditos para o financiamento
da compra de pacotes tecnológicos, na perspectiva da ampliação, principalmente
50 Como expõe Delgado (1985), em tabela demonstrativa. (p.40)

CXIII
da indústria a montante, que a partir desse processo começou a fixar suas
atividades no território brasileiro51.
Assim, em 1965, é criado o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), no
bojo da Reforma do Sistema Financeiro, que estabelecia que parte dos recursos
captados pelos bancos fossem destinadas ao setor agrícola52. (KAGEYAMA et.
alii., 1990)
Duas resoluções do Banco Central estabeleciam que 10% dos depósitos à vista dos bancos comerciais deveriam ser emprestados à agricultura. Os bancos que não conseguissem efetuar esta aplicação deveriam repassar estes recursos, a uma remuneração menor, ao Banco Central, na conta da FUNAGRI. A expansão do montante de recursos dependeria, fundamentalmente, do crescimento da economia como um todo e da capacidade do Sistema Financeiro de aumentar seu poder de captação sobre a massa monetária em circulação, transformando-a em depósito à vista. Além da aplicação dos bancos as autoridades monetárias completavam os recursos segundo as necessidades da demanda por crédito. Essa forma de captação permitiu não só a rápida expansão do volume de crédito até meados da década de 70, mas também uma flexibilidade na determinação das condições de remuneração por parte do setor agrícola, uma vez que até mesmo para os bancos comerciais, os depósitos à vista têm custo baixo, determinado pelo custo operacional diluído pelo conjunto das operações dos bancos. (Ibidem, p.159).
51 Para melhor compreensão desse processo, recomendo Delgado (1985 e 2001) e Kageyama et. alii (1990). Plínio Sampaio (1980), apresenta um outro aspecto importante desse processo de reestruturação da agricultura brasileira, que é o deslocamento de capital estrangeiro já nas décadas de 1960 e 1970, para a aquisição de grandes propriedades rurais por empresas que aparentemente não eram especializadas no setor, como por exemplo: grandes bancos, montadoras de automóveis, seguradoras, etc. “A produção de mercadorias agrícolas sempre foi uma das principais bases da economia internacional, mas a nova internacionalização do capital, na segunda metade do século XX, moveu-se sobre a economia rural a partir de alterações da produção industrial, que procurou controlar o mercado de insumos e de equipamentos agrícolas, bem como o mercado de consumo da população rural. A nova internacionalização do capital moveu-se de determinados modos específicos na economia rural, ampliando a participação do capital mercantil internacional, ...” (PEDRÃO, 2004, p.820) 52 Segundo Kageyama et. alii (1990), entre 1970 e 1979, a disponibilidade de crédito cresceu 329% em termos reais (p.161).

CXIV
O forte papel do Estado, característica mais geral de todo sistema
capitalista desse período (Fordismo-Keynesianismo), se fez presente nas relações
de produção agrícola, no Brasil, não somente nas políticas de crédito agrícola,
mas também em toda uma correlação de atividades voltadas à assistência e
extensão rural, “elemento fundamental na estratégia de transferência para o setor
agrícola de tecnologia gerada na indústria situada a montante da
agricultura”.(MAZZALI, 2000, p.24).
A partir desse conjunto de políticas, o Estado executou planejamento indicativo, engendrando novas formas de desenvolvimento capitalista na agricultura. De um lado, moldou e aprofundou as relações de integração técnica entre agricultura e indústria, a montante e a jusante. De outro, estimulou a integração de capitais ‘mediante a fusão de capitais multisetoriais operando conglomeradamente, processo que é decididamente apoiado pelas políticas de corte multisetorial (comércio exterior, tabelamento de preços, incentivos fiscais etc) e de fomento direto...(crédito rural, política fundiária, tecnologia e desenvolvimento rural integrado)’. (DELGADO, 1985 apud MAZZALI, 2000, p.24).
Em outras palavras, foi o Estado enquanto financiador e
articulador dos diferentes interesses que garantia e gerenciava um padrão no direcionamento das relações entre os agentes, conferindo, dessa forma, um dado ‘estilo’ ao processo de modernização.(MAZZALI, 2000, p.24).
Essa presença/utilização do Estado no processo de construção dos CAIs,
pôde também ser identificada nas políticas voltadas à formação de técnicos
agrícolas de novo tipo. Por isso, tanto “empreendimento” do Estado, requereria,
simultaneamente, profissionais capacitados para as demandas advindas do setor
que rapidamente se reestruturava.
2.2.1 - O cenário de criação da COAGRI.

CXV
A criação da COAGRI ocorreu definitivamente em 1975, ano que segundo
Kageyama et. alii.(1990, p.188) “marca o início da consolidação dos CAIs”. Para
que não se tenha a idéia de que tais datas possam apenas representar uma
grande coincidência; nesta parte do trabalho tentaremos demonstrar como a
interação entre as políticas agrícolas e as educacionais de formação profissional
se complementam, num objetivo maior, ou seja, que estão inseridas no amplo
projeto de industrialização da agricultura.
Depois de delineado o cenário de modernização da agricultura pelo qual
passou o Brasil, a partir da década de 1960, resta para este momento, esclarecer
como as políticas para a formação de “novos” técnicos em Agropecuária
articulavam com esta nova demanda.
Com o intuito de compatibilizar o ensino agrícola de 2º grau com a Lei
5692/71 e com as propostas de modernização da agricultura brasileira, diz
Siqueira (1987), “técnicos do Departamento do Ensino Médio (DEM) e
especialistas do Departamento de Ensino Agrícola da Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo elaboraram o Plano de Desenvolvimento do Ensino Agrícola
de 2º grau” (p.91), segundo o qual
(...) a prioridade de formação de mão-de-obra para atender à conjuntura atual do País recai na formação de um técnico que possa colaborar na solução dos problemas de abastecimento, produzindo gêneros de primeira necessidade e matéria-prima de melhor qualidade e de maneira mais econômica para a indústria, procedendo assim como agente de produção. Simultaneamente o mesmo profissional poderá atuar como agente de serviço para atender ao mercado de trabalho junto às empresas que prestam serviços aos agricultores. (Plano Nacional de Desenvolvimento do Ensino Agrícola de 2º grau, 1973, apud SIQUEIRA, 1987, p.92, negrito nosso).

CXVI
Ainda no mesmo documento:
Através de cursos profissionalizantes, as escolas de 2º grau deverão preparar pessoal qualificado a fim de contribuir para:
- melhorar os níveis de produtividade; - promover especialistas para melhorar a distribuição de
renda no meio rural; - propiciar o eficiente suprimento de produtos agrícolas
para um crescente mercado interno; - garantir o aumento de capital e mão-de-obra para o
desenvolvimento econômico geral; - promover a integração econômica e social pela
ampliação da capacidade de absorção de produtos não-agrícolas. (Ibidem)
Este Plano de Desenvolvimento do Ensino Agrícola de 2º grau, foi o que
também estabeleceu a proposta do sistema Escola-Fazenda em nível nacional, e,
entre seus objetivos destacarei apenas dois, na perspectiva de demonstrar como a
ação do Estado cumpria os objetivos de um projeto maior do capital para a
agricultura:
3º) dar ao estudante recursos para compreender que a agropecuária é uma indústria de produção. 7º) integrar o técnico agrícola ao processo de desenvolvimento do País, levando-o a perceber a importância de seu trabalho.(Ibidem, p.94, negrito nosso).
Mantendo o mesmo foco, agora no trabalho de Frigotto (1986), podemos
perceber a amplitude das ações do Estado nesta fase histórica do
desenvolvimento capitalista, “onde a oligopolização do mercado se radicaliza e
imprime uma nova forma às relações capitalistas de produção e impele o Estado a
tornar-se , forçosamente, um Estado intervencionista, um proprietário particular,

CXVII
como mecanismo de sustentação dos interesses intercapitalistas, dos interesses
do capital no seu conjunto”. (p.107).
O Estado intervencionista, em suma, vai-se caracterizar como o patamar por onde passam os interesses intercapitalistas, e cumpre a um tempo e de modo inter-relacionado: uma função econômica enquanto cada vez mais se torna ele mesmo produtor de mais-valia, ou garantindo por diferentes mecanismos (subsídios, absorção de perdas), ao grande capital privado esta produção; uma função política, enquanto intervém politicamente para gerar as condições favoráveis ao lucro; e uma função ideológica enquanto se apresenta como um mediador do bem comum, uma força acima de qualquer suspeita e acima do antagonismo de classes. (Ibidem, p.118)
É nesse cenário de grande reestruturação, com o Estado desempenhando
o seu papel de interventor, tanto dos processos de produção na agricultura
brasileira, quanto nas políticas de formação profissional para a área53, que é
criada na sua estrutura a COAGRI.
Considerando a magnitude da proposta Escola-Fazenda – que coaduna com os projetos governamentais deste período para outras áreas (...), todos embasados no pressuposto do ‘Brasil Grande Potência’ – o Departamento de Ensino Médio (órgão até então responsável pelo ensino agrícola no país) não possuía uma estrutura administrativa capacitada para implementar o Plano de Desenvolvimento do Ensino Agrícola de 2º grau, com base nesta proposta ‘pedagógica’ intitulada de Escola-Fazenda. Assim sendo, em 1974, foi criada a Coordenação Nacional do Ensino Agrícola, que no ano seguinte tornou-se um órgão autônomo do MEC,
53 Eficácia, eficiência e efetividade eram as noções predominantes à época, muito próximas dos princípios da Teoria do Capital Humano, quais sejam, racionalidade, eficiência e produtividade, sendo o pressuposto básico da tendência tecnicista o da neutralidade científica. Falava-se em instrumentalizar os alunos para a realização de operações e buscava-se uniformizar as experiências pedagógicas, com modelos curriculares produzidos por especialistas a partir de seus laboratórios. A lógica do mercado passa a fundamentar o direcionamento escolar, o que exige uma articulação do sistema educativo com o sistema produtivo, onde o primeiro deve responder às demandas do segundo. Esse enfoque tecnicista vai influenciar profundamente a Reforma educacional implementada com a Lei 5.692/71, que propugnava a profissionalização compulsória em nível de 2º grau, voltada para atender às necessidades do desenvolvimento econômico daquele período histórico.(SOARES, p.2, 2004).

CXVIII
passando a denominar-se Coordenação Nacional do Ensino Agropecuário (COAGRI).(SIQUEIRA, 1987, p.98).
Portanto, o caráter intervencionista do Estado se irradiava para ações que
garantissem a base de sustentação do projeto de “modernização” para agricultura
brasileira (modernização capitalista); no caso: na formação de profissionais
habilitados a desempenharem as funções necessárias a este projeto. “Naquele
momento, (...), o capital atribuía ao poder público o papel de protagonista das
ações educacionais formais” (SANTOS, 2004, p.1). Novas bases técnicas de
produção, novos agentes dessa produção.
Na continuação do trabalho de Siqueira, veremos que as intenções
expostas no Plano de Desenvolvimento para o Ensino Agrícola de 2º grau, na
prática, deparou-se com uma série de contradições. O mesmo Estado (que é
resultado das disputas de classes, por isso representante da fração hegemônica
da burguesia) que propunha tais transformações, também foi o que não proveu
financeiramente as escolas, impedindo que as mesmas adquirissem as condições
necessárias para alcançarem os objetivos propostos. Porém o que consideramos
para este momento do trabalho, é que a criação da COAGRI se deu em meio a um
cenário de mudança na estrutura da produção agrícola brasileira, e por isso tal
criação representa um reflexo dessas transformações mais amplas de um projeto
de “desenvolvimentismo”.
No entanto, o modelo de desenvolvimento agrícola através dos CAIs, no
processo histórico sofre seu estrangulamento. Como havia dito no início deste
capítulo: a flexibilização chega ao campo, e o reflexo desta mudança se
materializa no campo educacional com a extinção da COAGRI, eliminando, a partir

CXIX
desse fenômeno, na estrutura de Estado, um órgão que tratava das
especificidades do ensino agrícola. Até porque tais especificidades no processo
produtivo também tendem a desaparecer, ficando mais difíceis de serem
identificadas.
2.3 - A recente mudança na organização agroindustrial no contexto da
extinção da COAGRI.
Porque o mais interessante na atual situação é a maneira como o capitalismo está se tornando cada vez mais organizado através da dispersão, da mobilidade geográfica e das respostas flexíveis nos mercados de trabalho, nos processos de trabalho e nos mercados de consumo, tudo isso acompanhado por pesadas doses de inovação tecnológica, de produto e institucional. (HARVEY, 2004, p.150 e 151)
Segundo Mazzali (2000), é a partir da segunda metade da década de 1980,
que se é capaz de notar um redirecionamento no comportamento dos agentes
envolvidos nas atividades agroindustriais; redirecionamento que também será
dado, não só na política de formação de técnicos agrícolas, mas que se notará
em todos os setores da economia e social, visto que tal movimento é tão somente
uma exigência da reestruturação mais ampla do próprio capitalismo em nível
mundial.
Porém, interessa-nos entender quais foram esses movimentos no interior
das atividades agrícolas e comprovar que o compasso de espera para as
mudanças no setor rural de grande porte não se dão de forma atrasada.

CXX
A flexibilidade também chega ao setor que foi denominado por vários
autores de complexo agroindustrial, e esta mudança ainda vem ocorrendo de
maneira quase que imediata às mudanças ocorridas no sistema industrial, afinal,
as transformações já citadas dão conta de comprovar a unificação da lógica
capitalista, tanto para o campo quanto para cidade. A penetração de capitais de
grandes corporações aproximou os setores, antes muito bem definidos por suas
atividades fins.
Afinal, como identificar o setor-fim de grandes capitalistas, já que seus
capitais estão investidos/distribuídos nos diversos setores da economia? Grandes
corporações financeiras e de produção de bens industrializados também estão
ligadas aos setores da agroindústria, e o que se tem observado é que na verdade
todos estes setores, no recente processo histórico, vão ficando cada vez mais
subsumidos a um grande setor: o financeiro54.
Assim,
A partir dos anos 80, a noção de complexo agroindustrial foi colocada em xeque enquanto aparato conceitual para a apreensão da dinâmica do setor, uma vez que os elementos básicos que lhe deram sustentação – um padrão de desenvolvimento tecnológico, que tem por referência os princípios da ‘Revolução Verde’; um estilo de inserção da agricultura no mercado internacional e um determinado perfil de intervenção do Estado – sofreram profundas alterações. (MAZZALI, 200, p.35)
54 Se tomarmos como base o trabalho de Lénine (1975), veremos que a perspectiva do domínio de um mercado financeiro não é nada recente, mas dadas às condições construídas historicamente, ou, se avaliarmos o próprio processo do capitalismo, tendo como uma de suas fases o modo de acumulação fordista aliado ao Welfare State, poderemos então reforçar a análise de que o setor financeiro nunca foi tão hegemônico como tem sido nas duas últimas décadas.

CXXI
Dessa forma, apoiado em Mazzali (2000), destacarei três aspectos que
dialeticamente se complementam na perspectiva de descortinar tais mudanças.
Usando as mesmas expressões do autor, são eles:
a) As transformações de ordem econômica internacional;
b) As transformações no âmbito tecnológico;
c) Crise fiscal e a desarticulação do aparato de regulação estatal.
Tentarei, portanto, desenvolver minimamente cada um desses aspectos
que se articulam entre si.
a) A crise de acumulação do capitalismo mundial na década de 1970,
requereu dele próprio, ou seja, de seus agentes uma forma de superação.
Superação do horizonte de estagnação, visando sua ampliação, através da
transferência de atividades desempenhadas pelo Estado diretamente para as
mãos da iniciativa privada. Estado que, mesmo dominado pela burguesia, ao
mesmo tempo, dada a sua própria conformação de classes em disputa,
apresentava obstáculos/contradições que impediam ou atrasavam os projetos de
ampliação de acumulação. Setores conquistados, via luta dos trabalhadores, no
período de Estado de Bem Estar Social, como saúde, educação, previdência, e no
próprio setor produtivo, detentor de vários monopólios, foram tomados como
grandes atrasos ao desenvolvimento das forças produtivas.
Nesse processo ganham forças as políticas de cunho neoliberal, na
perspectiva de um falso, mas aparente “Estado mínimo”. Assim,
Estiveram apoiadas em dois pilares que trouxeram
importantes conseqüências para a evolução do sistema econômico mundial: o tratamento de choque monetário para reduzir a inflação e a desregulamentação dos mercados,

CXXII
compreendendo medidas destinadas à redução/eliminação de barreiras comerciais e de capitais, flexibilização do mercado e das relações de trabalho e a defesa do ‘Estado mínimo’. (Ibidem, p.28)
Destaca ainda o autor:
A competição econômica tomou o lugar do conflito militar no centro da nova ordem internacional; mais especificamente, a concorrência passou a se constituir em uma questão crescentemente politizada. A competição ideológica entre capitalismo e socialismo passou a ser substituída pela competição entre várias formas de capitalismo, especialmente as formas de capitalismo americana e japonesa. Segundo Gilpin (1992), a primeira enfatiza a importância do livre mercado, a segunda apóia-se na forte parceria Estado e o setor privado.(Ibidem, p.29).
b) Inovações biotecnológicas, microeletrônicas e nas áreas de informação
e organização de sistemas , originaram mudanças profundas nos processos de
produção agropecuária.
Na área de produção de alimentos vegetais, o cruzamento genético e o
desenvolvimento de novas espécies (transgênicos) produzem impactos diretos no
processo produtivo, principalmente na relação de interdependência dos setores a
montante e a jusante da agricultura, haja vista que a produção de tais alimentos
requer, e se dá, sobre novas bases tecnológicas.
No campo da produção pecuária, mais precisamente da bovinocultura, os
avanços como a transferência de embriões e a fertilização in vitro (FIV), superam
as possibilidades já dadas anteriormente pela inseminação artificial na perspectiva
de “melhoria genética” do rebanho brasileiro55.
55 No campo da produção de Zebuínos, por exemplo, o Brasil se coloca como expoente mundial e referência nas técnicas de melhoramento genético dessa área específica da bovinocultura. Tendo como resultado animais

CXXIII
Especificamente em áreas que já lecionei: a topografia realizada através
de geoprocessamento, utilizando tecnologia via satélite (GPS), aliada a
mecanização agrícola motorizada, dá origem a uma nova forma de produção
denominada de “plantio de precisão”, cada vez mais difundido e utilizado por
latifundiários, para produção de monoculturas de exportação, contribuindo,
portanto, para um aumento na produtividade, destacado como diferencial
tecnológico para superação concorrencial.
Por isso,
À maior flexibilidade da oferta – capacidade relativa de produzir uma gama muito mais ampla de produtos em uma única planta, obtida por técnicas que põem em xeque os padrões fordistas – associou-se uma maior capacidade de inovação. Ao possibilitar e incentivar a estreita integração das atividades de projeto e desenvolvimento entre uma gama de empresas da cadeia produtiva e ao quebrar a rígida separação entre a concepção e a execução, por meio da descentralização e da ênfase no conhecimento e na polivalência, implantou-se novo padrão de organização.(Ibidem, p.33, negrito nosso)
c) O discurso neoliberal que se apresentou no sentido de dar solução a
crise fiscal que se tornou mais aparente, aqui no Brasil, a partir da década de
1980, se calçava em dois aspectos materiais da economia: “dívida pública (interna
e externa) elevada e uma poupança pública (diferença entre receita e despesa
corrente) persistentemente negativa”. (BRESSER PEREIRA, 1992, apud
MAZZOLI, 2000, p.33).
Assim, o discurso do “Estado mínimo” se mostrava como solução de uma
crise gerada pelo próprio capitalismo. Nesse discurso: o engessamento causado
que superam, em muito, nos aspectos de conversão alimentar e conformação de carcaça, os próprios indianos, de onde originam-se essas raças.

CXXIV
pela estrutura de Estado impedia a ampliação de novos mercados, de novas
iniciativas de investimento, em suma, impediam o crescimento da iniciativa
privada. Desta forma o Estado, armazém de inúmeras contradições, deveria, para
se tornar mais “eficiente”, desobrigar-se de inúmeras responsabilidades e se
desfazer de instituições que “atrapalhavam o funcionamento da máquina, devido
ao grande peso que causavam”.
Considerando que o Estado situava-se no centro do padrão de desenvolvimento agroindustrial, inaugurado em meados dos anos 60, como patrocinador, legitimador e financiador das articulações entre os diferentes agentes econômicos, a desarticulação do seu aparato de regulação, sem que se defina um novo papel, representou uma desorganização dos interesses rurais e, mais significativamente, uma quebra na orientação e sentido do comportamento desses agentes.56 (MAZZALI, 2000, p.34)
É nesse contexto que se inicia uma ampla e continua reforma de Estado,
como na imagem de um balão que perde altitude ou de uma embarcação prestes
a afundar, o Estado vai descartando aquilo que a ideologia (neo)liberal
considerava que o tornava “pesado”. Ao final da década de 1980, instituições
como o Instituto de Álcool e Açúcar (IAA), Instituto Brasileiro do Café (IBC), “foram
extintas e seus sistemas de regulação comercial e produtiva foram transferidos a
outros organismos ou simplesmente extintas” (Ibidem, p.34)
Assim, a coincidência do arrefecimento da atuação do Estado com a emergência de um processo de ‘reestruturação’, que atinge a indústria como um todo, conduziram forçosamente a um quadro de maior
56 No decorrer de seu trabalho, Mazzali irá demonstrar como ocorreu, portanto, uma reorientação na organização e no sentido do comportamento dos agentes ligados a agroindústria, por isso, defende que o conceito de complexo agroindustrial não é mais capaz de explicar essa reorganização que ele denomina de “organização em rede”, reflexo, portanto, do processo de flexibilização na agroindústria. Assim, para demonstrar sua tese, ele usa como objeto empírico a organização na cadeia soja/óleos/carnes e na agroindústria citrícola.

CXXV
flexibilidade, elevando o grau de autonomia dos agentes econômicos.
O aspecto central do novo cenário é a ampliação considerável do campo de ações por parte dos diferentes capitais com interesses na atividade agroindustrial. A redução considerável da intervenção do Estado potencializou a possibilidade de formulação de estratégias alternativas e autônomas, assentadas na diversidade de oportunidades advindas da implementação das novas tecnologias.
Com a redução do grau de indução, pelo Estado, e no contexto de profundas transformações nos mercados e na concorrência, enfraqueceram-se as bases que sustentavam as articulações entre os agentes, deixando ‘em aberto’ o campo de opções estratégicas e propiciando assim, o ambiente para a reestruturação das relações. A partir daí, as articulações intra e intersetores ficaram por conta das estratégias do setor privado.(Ibidem, p.36)
Essa reestruturação que acontece na forma de organização da produção,
em todos os níveis, também atingem a área da educação, e no caso do objetivo
deste trabalho, especificamente o ensino agrícola de 2º grau. Não quero, portanto,
analisar que a extinção da COAGRI advenha dessa transformação como simples
resultado, mas sim como uma determinação, que ajuda a compreender a extensão
da própria reestruturação do capitalismo.
No bojo de uma série de extinções de instituições vinculadas ao Estado,
é que em 21 de novembro de 1986, o governo de José Sarney, emite o Decreto
93.613, eliminando de uma só vez quatro órgãos que integravam a estrutura do
Ministério da Educação:
V- o Conselho Nacional de Serviço Social;
VI- a Comissão Nacional de Moral e Cívica;
VII- a Coordenação de Ensino Agropecuário – COAGRI; e
VIII- a Delegacia Regional do Distrito Federal.

CXXVI
Na seqüência, são editadas as Portarias 821 e 833, do Gabinete do
Ministro da Educação, Jorge Bornhausen, atribuindo a Secretaria de 2º Grau
(SESG) o exercício das funções da extinta COAGRI e vinculando as escolas
agrotécnicas federais a nova estrutura, respectivamente.
É interessante notar ainda, que essa extinção da COAGRI, em conjunto
com a Comissão Nacional de Moral e Cívica, demonstra nitidamente a intenção de
respaldar a ação, vinculando tais órgãos ao “atraso” da “máquina” que era movida
pelos governos militares. Não quero, contudo resgatar neste trabalho o papel da
COAGRI no desenvolvimento do ensino agrícola no país, mas certificar que não
há um descolamento entre as reestruturações de ordem econômica e as políticas
de formação profissional. No caso do ensino agrícola, o que tento reforçar é que
as mudanças na organização da produção, que em um momento não prescindiam
das funções mais diretas do Estado, e que reforçaram uma maior unidade entre a
lógica capitalista no campo e na cidade, ao se reestruturar não precisariam mais
de um órgão específico para a elaboração de políticas voltadas à formação de
técnicos agrícolas, já que depois dessa “unidade estrutural” o mais “adequado”
seria tratar tal modalidade de ensino na totalidade dos cursos de formação
profissional, fossem eles ligados à indústria, ao comércio ou a agricultura.
Entendo, portanto, que esta reestruturação venha se dando de forma
contínua, ou seja, ela ainda se encontra em processo, e que sua expressão mais
atual seja a recente transformação de Escolas Agrotécnicas Federais em Centros
Federais de Educação Tecnológica (CEFETs). A chamada “Cefetização”.57
57 Maneira como se denominou nos ambientes escolares a transformação de escolas técnicas federais em CEFETs. Nos levantamentos que fiz, observei que, pelo menos, dez escolas agrotécnicas federais foram

CXXVII
CAPÍTULO III.
3 - NEOLIBERALISMO: UM PROJETO AINDA EM CONSTRUÇÃO NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO.
transformadas em CEFETs, entre 1999 e 2002. Foram elas: Escola Agrotécnica Federal de Rio Verde-GO, Escola Agrotécnica Federal de Urutaí-GO, Escola Agrotécnica Federal de Morrinhos-GO, Escola Agrotécnica Federal de Bambuí-MG, Escola Agrotécnica Federal de Januária-MG, Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba-MG, Escola Agrotécnica Federal de Uberaba-MG, Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá-MT, Escola Agrotécnica Federal de Petrolina-PE e Escola Agrotécnica Federal J.K. (Bento Gonçalves-RS)

CXXVIII
Para este terceiro capítulo cabe uma ressalva, para que o leitor não
tenha a sensação de uma aparente desconexão entre os capítulos que compõem
a totalidade deste trabalho: o ensino agrícola, aqui, não será tratado em suas
especificidades, dada as questões já expostas no final do primeiro capítulo e
desenvolvidas no segundo. Entendendo que neste recente processo histórico o
ensino agrícola de nível médio compõe uma totalidade ainda maior, qual seja: a do
conjunto da educação profissional de nível médio; trataremos assim, das reformas
educacionais que ocorreram a partir da década de 1990, de forma mais ampla e
geral. Neste caso o ensino agrícola estará presente nas análises que faço, mesmo
que de forma não aparente, pois grande parte dessa construção se deu a partir de
minha atuação como docente dessa modalidade de ensino, na convivência
cotidiana de uma escola agrícola.
3.1 - A base teórica do neoliberalismo.
O capítulo que ora apresento, tem como objetivo principal responder as
seguintes questões:
“As idéias neoliberais estão vivas, hoje, na política educacional brasileira? Mas,
o que são idéias neoliberais?”58
Tomando como base os clássicos da teoria neoliberal: “O Caminho da
Servidão”, de Friedrich Hayek, e “Capitalismo & Liberdade”, de Milton Friedman,
tentarei demonstrar, minimamente, a influência/intervenção de tais ideais nas
58 Estas perguntas foram originadas do Professor José Rodrigues, por ocasião de uma de suas aulas de Economia Política da Educação, do PPG em Educação da UFF, durante o segundo semestre de 2004.

CXXIX
políticas educacionais brasileiras, com um enfoque nas políticas de formação
profissional de nível médio no Brasil a partir da década de 1990.
Desta forma iniciarei destacando, o que para mim se apresentou como
os principais aspectos do neoliberalismo, vislumbrados nos trabalhos de Haeyk e
Friedman; o que entendo ser fundamental para a elaboração de uma base para
sua desconstrução.
Posteriormente apontarei tais características neoliberais na educação
brasileira, tomando como mote as políticas de formação profissional de nível
médio, dos últimos anos.
3.1.2 - Características principais das obras de Hayek e Friedman.
Premiados com os NOBELs de Economia de 1974 e 1976,
respectivamente, Hayek e Friedman, apresentam críticas aos regimes socialistas
- que tratam como sinônimo de totalitarismo - e apontam como solução a liberdade
de mercado e o individualismo, como forma de controle e manutenção das
relações sociais.
Essencialmente, a teoria apresentada por Hayek, tenta demonstrar que
o desenvolvimento é freado por uma intervenção forte do Estado, que regula não
só a economia como também impõem o comportamento da sociedade.
Antes mesmo de destacar alguns pontos apresentados por esses
intelectuais, entendo que seja importante descrever minha impressão geral acerca
do que se apresenta para além da aparência da exposição desses autores:
Embora os ataques estejam diretamente apontados para os regimes
“socialistas” (ou, de acordo com suas análises, aos que têm essa origem), ou para

CXXX
o comunismo, noto que a disputa não tem caráter tão polarizado. Mesmo
apontando os canhões para a “grande ameaça mundial” o alvo estava dentro do
próprio campo capitalista. O neoliberalismo surge como uma forma de superação
capitalista do formato Fordismo-keynesianismo. Surge da disputa interna de
dominação e expansão do próprio capital. O objetivo principal estava em
demonstrar a ineficiência de um capitalismo regulado pelo Estado, dominado pelas
relações que se estabeleceram com o Welfare State (Estado de Bem-Estar
Social), que impediam a expansão da iniciativa privada e o surgimento de novas
frações da burguesia.
Como o comunismo/socialismo sempre se apresentou como projeto de
ameaça direta ao capitalismo, nada mais estratégico que comparar, mesmo que
linearmente, os inimigos internos com os potencialmente capazes de superá-lo.
Haverá maior tragédia imaginável do que, no esforço de modelar conscientemente o nosso futuro de acordo com elevados ideais, estarmos de fato e involuntariamente produzindo oposto daquilo por que vimos lutando?(HAYEK, 1977, p.7)
Essa visão se reforça a medida em que nas leituras observa-se uma
crítica a democracia vigente, a estrutura do Estado, as empresas estatais, aos
sindicatos, ao cerceamento da “liberdade”, etc. Embora isto esteja mais visível na
obra de Friedman, o trabalho de Hayek, mesmo tendo sido escrito em um período
conturbado da história mundial (1944), é posteriormente apropriado,
principalmente pelos intelectuais orgânicos ao capitalismo dos países centrais,
para ser usado como aquele que apontava, previamente, a crise de acumulação
que o capitalismo mundial enfrentaria na década de 1970; fato é que sua obra
ficou adormecida e oportunamente foi “(re)descoberta” a época.

CXXXI
3.1.2.1 - Alguns aspectos da obra de Hayek:
Em “O Caminho da Servidão”, um dos primeiros aspectos que me
chamou a atenção foi o fato de Hayek tratar de forma quase que idêntica
socialismo59 e totalitarismo. Durante o percurso do trabalho ele trata os dois
conceitos como sinônimos, querendo provar que a origem dos regimes totalitários
está na regulação do Estado, característica principal, do que ele chama de
socialismo.
Poucos estão prontos a admitir que a ascensão do nazismo e do fascismo não tenha sido uma reação contra as tendências socialistas do período precedente, mas um resultado necessário destas mesmas tendências. Esta é uma verdade que muitos se recusam a aceitar, mesmo quando reconhecem amplamente as semelhanças de muitos aspectos detestáveis dos regimes internos da Rússia comunista e da Alemanha nacional-socialista. Em conseqüência muitos dos que se julgam infinitamente superiores às aberrações do nazismo, e detestam sinceramente todas as suas manifestações, trabalham ao mesmo tempo em prol de ideais cuja realização levaria diretamente à tirania que odeiam. (HAYEK, 1977 p.5, 6) Mas seria um erro acreditar que foi o elemento especificamente alemão, e não o elemento socialista,
59 Para melhor compreensão prefiro aqui citar o que o próprio Hayek (1977) entende por socialismo: “Cumpre esclarecer uma confusão, à qual se deve em grande parte a maneira por que estamos sendo levados a coisas que ninguém deseja. Esta confusão diz respeito a nada menos que o próprio conceito de socialismo. Este pode significar (e é muitas vezes usado nesse sentido) simplesmente ideais de justiça social, maior igualdade e segurança, que são os fins últimos do socialismo. Mas significa também o método particular pelo qual a maior parte dos socialistas espera alcançar esses fins, e que muitas pessoas competentes consideram como os únicos métodos pelos quais esses fins podem ser plena e rapidamente alcançados. Nesse sentido o socialismo significa a extinção da iniciativa particular, da propriedade particular dos meios de produção, e a criação de um sistema de ‘economia planejada’ no qual o empreendedor que trabalha visando o lucro é substituído por um órgão central de planejamento”.(p.31, grifo nosso)

CXXXII
que produziu o totalitarismo. Era, com efeito, a preponderância das idéias socialistas, e não o prussianismo, o que a Alemanha tinha em comum com a Itália e a Rússia – e foi das massas e não das classes imbuídas da tradição prussiana, e auxiliado pelas massas, que surgiu o nacional-socialismo. (ibidem, p. 10)
Os apontamentos desse autor têm uma característica de análise
bastante linear da realidade. Se o socialismo alemão originou o nazismo, segundo
o que ele aponta, logo, este será o destino de todas as sociedades erigidas sob a
égide do socialismo. Mesmo que ele estivesse correto a respeito da origem do
nazismo ou do fascismo, transpor tal lógica ao futuro, seria o mesmo que
considerar que a história se dá por mera repetição dos fatos, seria não saber
trabalhar com a materialidade dos diferentes momentos da história. E é com esta
lógica cartesiana que Hayek conduz, praticamente, toda a sua análise, em alguns
momentos de forma sutil, em outros, completamente irônico.
Para defender sua tese contra o intervencionismo estatal - uma das
principais características do modo de acumulação fordisda, que ele insiste em
afirmar que levará ao destino do totalitarismo - Hayek apresenta suas análises, ao
meu ver, equivocadas a respeito do que seria o socialismo, planejamento e
comunismo.
A citação que segue, considero que retrata claramente a tentativa de
convencimento apresentada por Hayek, pautada por uma lógica linear, de causas
e efeitos que se repetem.
Quando a marcha da civilização toma um rumo inesperado – quando, ao invés do progresso contínuo que nos habituamos a esperar, vemo-nos ameaçados por males que nos parecem próprios das passadas épocas de barbarismo – naturalmente pomos a culpa

CXXXIII
em tudo exceto em nós mesmos. Acaso não nos temos todos esforçado tanto quanto permitem as nossas luzes, e muitos dos nossos espíritos mais esclarecidos não têm trabalhado incansavelmente para tornar este mundo melhor? Porventura todos os nossos esforços e esperanças não estiveram voltados para a maior liberdade, justiça e prosperidade? Se o resultado é tão diverso dos nossos objetivos – se ao invés da liberdade e prosperidade, é miséria e servidão o que temos pela frente – não se torna claro que forças funestas devem ter frustrado as nossas intenções, e que somos vítimas de algum poder maligno que deve ser dominado antes de retomarmos o caminho para uma melhor ordem de coisas? Por muito que possamos divergir na indicação do culpado – seja o capitalista perverso ou o espírito desviado desta ou daquela nação, seja a estupidez de nossos pais ou um sistema social ainda não completamente derrubado, embora tenhamos lutado contra ele durante meio século – todos estamos, ou pelo menos até recentemente estávamos, certos de uma coisa: as idéias mestras que durante a última geração se tornaram comuns à maioria das pessoas de boa vontade e determinaram grandes mudanças em nossa vida social não podiam estar erradas. Estamos dispostos a aceitar quase todas as explicações para a presente crise de nossa civilização, exceto uma: que a presente situação do mundo possa ser o resultado de um verdadeiro erro de nossa parte (liberais) e que a tentativa para realizar alguns de nossos mais caros ideais tenha produzido, ao que parece, resultados inteiramente diversos daquele que esperávamos. (Ibidem, p. 11, 12; grifos nossos)
Já que Hayek aponta como fator principal da crise mundial, que culmina
com a guerra, a aplicação das teorias de origem socialista, o mesmo indica como
saída um retorno ao individualismo, que foi sendo progressivamente abandonado,
segundo ele, a partir da evolução da civilização oriental, “e a extensão deste
rompimento se torna clara se o considerarmos não só em face do século XIX, mas
numa perspectiva histórica mais longa” (p.14). Essa “perspectiva histórica mais

CXXXIV
longa”, segundo Hayek, tem seu ponto áureo na Renascença “e desde então
evoluiu e penetrou o que chamamos de civilização ocidental” (p.15).
..., são o respeito pelo homem individual na sua qualidade de homem, isto é, a aceitação de seus gostos e opiniões como sendo supremos dentro de sua esfera, por mais estreitamente que isso possa circunscrever, e a convicção de que é desejável o desenvolvimento dos dotes e inclinações individuais por parte de cada um. ‘Liberdade’ e ‘Independência’ são agora palavras tão gastas pelo uso do e abuso, que devemos hesitar em empregá-las para expressar os ideais por elas representados durante aquele período. ‘Tolerância ‘ é talvez a única palavra que ainda mantém a plena significação do princípio que, em ascensão durante todo esse período, apenas em tempos recentes entrou em declínio, para desaparecer de todo com o advento do Estado totalitário. (Ibidem, p 15)
Usando as palavras de Marx e Engels, em “O Manifesto Comunista”,
sou tentado, neste momento, a contrapor tais idéias.
A burguesia, em todas as vezes que chegou ao poder, pôs termo a todas as relações feudais, patriarcais e idílicas. Desapiedadamente, rompeu os laços feudais heterogêneos que ligavam o homem aos seus ‘superiores naturais’ e não deixou restar vínculo algum entre um homem e outro além do interesse pessoal estéril, além do ‘pagamento em dinheiro’ desprovido de qualquer sentimento. Afogou os êxtases mais celestiais do fervor religioso, do entusiasmo cavalheiresco, do sentimentalismo filisteu, nas águas geladas do calculismo egoísta. Converteu mérito pessoal em valor de troca. E no lugar das incontáveis liberdades reconhecidas e adquiridas, implantou a liberdade única e sem caráter do mercado. Em uma palavra, substituiu a exploração velada por ilusões religiosas e políticas, pela exploração aberta, impudente direta e brutal. (2002, p.12, 13; grifo nosso)
Parece-me fácil falar em liberdade quando se faz parte do lado
dominante. Para a burguesia tal individualismo e liberdade são fundamentais para

CXXXV
a manutenção do status quo, da dominação e da opressão da classe
trabalhadora.
Um outro aspecto notado em “O Caminho da Servidão” é a
conceituação de Hayek sobre planejamento. Durante o seu trabalho ele trata tal
conceito como sendo específico dos regimes onde o Estado é o controlador, ou
melhor, todo regime totalitário tem como característica principal o controle
“planejado” do Estado. O que para ele é um grande entrave para a livre
concorrência, uma barreira ao desenvolvimento, pois impede que homens “bem
intencionados” prossigam através de suas ambições.
Daí concluem os individualistas que se deve permitir ao indivíduo, dentro de certos limites (??), seguir os seus próprios valores e preferências em vez dos alheios; e , dentro destas esferas, o conjunto de finalidades individuais deve ser soberano e não estar sujeito aos ditames alheios. São esses reconhecimentos do indivíduo como juiz supremo dos seus próprios objetivos, e a crença de que suas idéias deveriam governar-lhe tanto quanto possível à conduta, que forma a essência da atitude individualista. (HAYEK, 1977, p.56; interrogações nossas). Com efeito, um dos principais argumentos em favor da concorrência é que ela dispensa a necessidade de um ‘controle social consciente’ e dá aos indivíduos oportunidade para decidir se as perspectivas de determinada atividade são suficientes para compensar as desvantagens e riscos que dela podem resultar. (ibidem, p.35)
Mantendo-me ainda na posição de confronto, novamente cito Marx e
Engels, entendendo que:
Em resumo, você condena nossa intenção de acabar com a sua propriedade. Precisamente isso. É essa, exatamente a nossa intenção. A partir do momento em que o trabalho não pode mais ser transformado em capital, dinheiro, ou aluguel;

CXXXVI
em um poder social capaz de ser monopolizado, ou seja, a partir do momento em que a propriedade individual não pode mais ser transformada em propriedade burguesa, em capital, a partir deste momento, afirmam vocês, a individualidade desaparece. Vocês devem, portanto, confessar que por ‘indivíduo’ refere-se simplesmente ao burguês, ao proprietário de classe média. Esta pessoa deve, sem dúvida, ser afastada do caminho e inviabilizada. O comunismo não priva homem algum do poder de se apropriar de produtos da sociedade. Tudo o que ele faz é privá-lo do poder de subjugar o trabalho de outros através de tal apropriação.(2002, p.34 e 35)
Assim, na perspectiva de tentar resumir o pensamento de Hayek, e por
conseqüência os princípios neoliberias, é que apresento a análise de Melo:
(Para Hayek),O valor se realiza na mercadoria, em relação com a utilidade final que esta apresenta para o indivíduo. Vale o quanto o indivíduo estiver disposto a pagar por ela. Segundo Hayek, a mercadoria não expressa um valor que nela se realiza. Ela mesma é valor, mas especificamente em sua relação com o indivíduo. Esta é uma das razões centrais da importância do indivíduo, de seus desejos, vontades e escolhas, para a realização do próprio capitalismo.(MELO, 2004, p.43 e 44)
O seu argumento principal contra o coletivismo e que o distinguiria do individualismo e do liberalismo, seria o de que os gêneros de coletivismo pretenderiam ‘(...) organizar a sociedade inteira e todos os seus recursos visando a essa finalidade única e por se negarem a reconhecer esferas autônomas em que os objetivos individuais são soberanos’ (HAYEK, 1990: 74). Assim, ‘a autoridade que dirigisse todo o sistema econômico seria o mais poderoso monopolista que se possa conceber’ (HAYEK, 1990:101) e, para conseguir este convencimento das massas, a autoridade centralizadora buscaria convencer o povo de que seus valores são comuns, uma vez que já existiriam como aceitos pelo próprio povo. Seria uma forma de consenso totalitário, já que tenderia a impor aos indivíduos valores que não seriam os seus e, para exemplificar esta tendência, Hayek formula um capítulo

CXXXVII
sobre ‘as raízes do nazismo’, mostrando o quão perversos e corruptos podem ser os coletivismos.
Este argumento de ‘uma direção única para a sociedade’, no entanto, não coloca o novo liberalismo contra o planejamento, nem contra o Estado, mas contra o planejamento e o Estado que não estejam voltados para a concorrência.(MELO, 2004, p.45 e 46)
3.1.2.2 - Alguns aspectos da obra de Friedman:
O Trabalho de Friedman diferencia-se do de Hayek, não só pelo
momento em que foi escrito, mas sua obra tem um caráter mais propositivo, um
pouco mais inescrupuloso. Ele traça com objetividade os passos para se chegar a
uma sociedade individualista, onde a livre concorrência e a propriedade privada
serão à base das relações, tanto econômicas quanto sociais.
Nesta perspectiva Friedman já começa o seu trabalho dando a
indicação de como deve se comportar um governo para que se alcance os fins
acima citados. Para ele o primeiro grande objetivo de um governo é ser “limitado”
(1977, p.15), um governo que garanta a “liberdade” de iniciativas, reduzindo-se a
principal função de segurança (neste caso, segurança militar), contra inimigos
externos e contra os próprios compatriotas que se oponham a esse modelo. O
segundo grande objetivo exposto é o de que este mesmo governo seja
“distribuído” (1977, p.15), ou seja, que a descentralização aconteça no nível de
condado, o que para nós seria o equivalente a município, e assim argumenta: “Se
não gostar do que a minha comunidade faz em termos de organização escolar ou
habitacional, possa mudar para outra e, embora muito poucos possam tomar esta
iniciativa, a possibilidade como tal já constitui um controle. Se não gostar do que
faz meu estado, posso mudar-me para outro. Se não gostar do que Washington

CXXXVIII
faz, tenho muito poucas alternativas neste mundo de nações ciumentas.” (1977,
p.16).
Só que em sua análise, Friedman omite que esta “liberdade” é limitada
pelo próprio capital. Será que a burguesia vai querer abandonar o seu campo de
exploração só porque não concorda com a política educacional do lugar? Ou
tentará transformá-la, no campo de disputa da sociedade civil e política, de acordo
com suas demandas?
Já na relação entre política e economia Friedman (1977) destaca:
Vista como um meio para obtenção da liberdade política, a organização econômica é importante devido ao seu efeito na concentração ou dispersão do poder. O tipo de organização econômica que promove diretamente a liberdade econômica, isto é, o capitalismo competitivo, também promove a liberdade política porque separa o poder econômico do poder político e desse modo, permite que um controle o outro. (p.19)
O que até aqui aponto como absurdo é que tais teóricos, (Hayek e
Friedman) consideram, ou pelo menos tentam nos convencer, que, como forma de
organização societária, é possível uma “cooperação voluntária dos indivíduos”
tendo como base a “técnica de mercado” (FRIEDMAN, 1977, p.22). E argumenta:
A possibilidade da coordenação, por meio da cooperação voluntária está baseada na proposição elementar – no entanto freqüentemente negada – de que ambas as partes de uma transação econômica se beneficiam dela, desde que a transação seja bilateralmente organizada e voluntária (??).
A troca pode, portanto, tornar possível a coordenação sem a coerção. Um modelo funcional de uma sociedade organizada sobre uma base de troca voluntária é a economia livre da empresa privada – que denominamos, até aqui, de capitalismo competitivo. (p.22; interrogações nossas)

CXXXIX
Como concretizar esta tal “transação bilateral voluntária”, em uma
sociedade onde uma classe existe em função da expropriação do valor do trabalho
embutido nos bens produzidos por uma outra classe? Somente com a ampliação
dessa expropriação.
A contraposição a um Estado “paternalista e normativo” é, portanto, o
centro da crítica apresentada por Friedman. Mas que Estado paternalista é este?
O Estado ao qual Friedman se refere, é o Estado capitalista construído no pós-
guerra, dotado de uma série de mecanismos de controle da produção, produto
também, das disputas, lutas e conquistas da classe trabalhadora (o que se tornou
muito mais evidente nos países que se constituíram como centro do capitalismo
mundial).
3.1.2.2.1 - O papel do Estado na educação, segundo Friedman.
Embora existam outras considerações a serem abordadas na obra de
Friedman, me deterei, em apenas uma de suas intervenções, por entender que
este trabalho tem como principal objetivo provar a influência/intervenção das
idéias neoliberais na educação brasileira. Nessa obra, Friedman, reserva um
capítulo específico para, o que ele entende que deva ser, papel do governo na
educação.
Inicialmente Friedman destaca que, “Uma sociedade democrática e
estável é impossível sem um grau mínimo de alfabetização e conhecimento por
parte da maioria dos cidadãos e sem a ampla aceitação de um conjunto comum
de valores.” Porém o mesmo faz duras críticas ao oferecimento desta educação

CXL
por instituições mantidas pelo Estado, o que fere os princípios de livre escolha do
cidadão. Friedman defende que o papel do Estado, neste campo, deve se limitar
às exigências destes conhecimentos mínimos nos estabelecimentos de ensino, e
que as instituições por livre concorrência, ligadas, ou não, a determinados grupos
sociais, se estabeleçam e se mantenham através do julgamento de seus clientes.
Ele defende abertamente a aplicação da lei da oferta e da demanda na área da
educação.
O governo poderia exigir um nível mínimo de instrução financiada dando aos pais uma determinada soma máxima anual por filho, a ser utilizada em serviços educacionais ‘aprovados’. Os pais poderiam usar esta soma e qualquer outra adicional acrescentada por eles próprios na compra de serviços educacionais numa instituição ‘aprovada’ de sua própria escolha. Os serviços educacionais poderiam ser fornecidos por empresas privadas operando com fins lucrativos ou por instituições sem finalidade lucrativa. O papel do governo estaria limitado a garantir que as escolas mantivessem padrões mínimos tais como a inclusão de um conteúdo mínimo comum em seus programas, da mesma forma que inspeciona presentemente os restaurantes para garantir a obediência a padrões sanitários mínimos. (1977, p.82)
Para Friedman, tal concorrência refletir-se-ia inclusive nos salários dos
professores, que ao invés de terem seus honorários acrescidos através do tempo
de serviço e titulação, seriam recompensados por “mérito”. Destaca ainda que tal
sistema encontraria resistência inclusive por parte da maioria dos professores,
pois os mesmos sabem que os “especialmente talentosos” (p. 87) são poucos,
porém, para ele, se a competição regulasse a questão do mérito atrairiam “bons
profissionais” para o magistério, eliminando assim os profissionais medíocres.

CXLI
Embora estes conceitos de “bons” e “medíocres” apresentados por
Friedman, sejam muito vagos (e isto ele faz durante toda obra), entende-se que
bons são aqueles que na competição são capazes de satisfazer as demandas de
sua clientela inserindo-os no mundo competitivo de forma que sejam capazes de
vencerem as competições impostas pelo mercado, que por sua vez é auto-
regulável.
A preparação vocacional e profissional é tratada por Fridman como um
investimento em capital humano. “Sua função é aumentar a produtividade
econômica do ser humano. Se ele se tornar produtivo, será recompensado, numa
sociedade de empresa livre, recebendo pagamento por seus serviços – mais alto,
do que receberia em outras circunstâncias” (p.91). Então, pergunto eu: se ele não
se tornar produtivo? Será jogado na arena para ser devorado por leões famintos?
É quase isto, um pouco mais sutil, mas com efeitos bem parecidos.
Para esse modelo de ensino, Friedman, também propõe uma espécie
de financiamento, seja público ou privado (prioritariamente privado) – “Por
diversas razões seria preferível que instituições financeiras privadas com ou sem
finalidade lucrativa, como fundações e universidades desenvolvessem este plano”
(p.95) - chamado por ele de “investimento em capital humano” (p. 90), para que os
indivíduos ao entrarem no mercado de trabalho possam restituir tal investimento,
obviamente acrescido de taxas de juros. O que para ele complica é que este seria
um investimento de alto risco devido ao alto custo de operacionalização e
dificuldades em projetar os vencimentos de cada profissional, além daqueles não
tão talentosos, que não conseguiriam se inserir no mercado.

CXLII
Também para esta modalidade de ensino, Friedman, considera que
atuação do Estado deve se limitar a exigências e fiscalização dos
estabelecimentos de ensino, todos, no caso, privados.
Ao observarmos tais “princípios”, veremos que cada um deles já tem, de
certa forma ocupado lugar na própria legislação educacional brasileira. Não quero
aqui abstrair todas as formas de disputas que vêm sendo travadas no âmbito da
sociedade civil e política, através das representações dos movimentos sociais em
defesa das escolas públicas e seus educadores. É justamente pela existência de
tais movimentos de resistência que este ainda é um projeto em construção, ou
seja, ainda incompleto, mas que vem se fortalecendo durante as duas últimas
décadas, dada a hegemonia dos representantes das diferentes frações da
burguesia nesses espaços de disputa.
3.1.3 - O Neoliberalismo: principais aspectos
Conforme Boito Jr. (1999):
A ideologia neoliberal contemporânea é, essencialmente, um liberalismo econômico, que exalta o mercado, a concorrência e a liberdade de iniciativa empresarial, rejeitando de modo agressivo, porém genérico e vago, a intervenção do Estado na economia. Esse liberalismo econômico é distinto do liberalismo político, interessados nos direitos individuais do cidadão e num regime político representativo e adequado ao exercício daqueles direitos. A ideologia neoliberal retoma o antigo discurso econômico burguês, gestado na aurora do capitalismo, e opera com esse discurso em condições históricas novas. Esse deslocamento histórico introduz uma cisão na ideologia neoliberal, instaurando uma contradição entre os princípios doutrinários gerais, que dominam a superfície do seu discurso e que estão concentrados na apologia do mercado, e suas propostas de ação

CXLIII
prática, que não dispensam a intervenção do Estado e preservam os monopólios. No discurso neoliberal, articulam-se de modo contraditório uma ideologia teórica, transplantada da época do capitalismo concorrencial, e uma ideologia prática que corresponde à fase do capitalismo dos monopólios, da especulação financeira e do imperialismo. (p.23).
Aceitando a exposição acima, destacarei nos subitens abaixo aquilo que
entendo, serem os principais aspectos do neoliberalismo, aplicados na América
Latina.
3.1.3.1 - A função do Estado no projeto neoliberal.
Para o projeto neoliberal o Estado é de fundamental importância.
Embora os seus teóricos trabalhem na perspectiva de uma sociedade cada vez
mais desregulamentada pelo Estado e cada vez mais regulamentada pelo
mercado, a ação do Estado não pode ser abandonada, ao invés, ela a todo tempo
é solicitada. E é ai que reside a grande contradição, já colocada por Boito Jr.
No prefácio da edição brasileira do trabalho de Hayek (1977), Adolpho
Lindenberg expõe sua visão a respeito da ação do Estado em um regime
neoliberal :
Isso (iniciativa individual e mercado livre) não exclui, mas até supõe a ação do Estado: tanto para proteger o regime de livre concorrência, quanto para administrar a justiça, e para realizar, subsidiariamente, tudo aquilo que a iniciativa particular não possa fazer. É portanto muito ampla a missão do Estado numa economia neoliberal. Só não é permitido a este, em matéria econômica, desvirtuar o regime de livre concorrência, substituir-se aos particulares em nome de uma deificação dos poderes

CXLIV
públicos, intervir no mercado a fim de impor um plano arbitrário concebido aprioristicamente por pretensos “engenheiros” do bem-estar social. (p. XIV, negrito e entre parênteses nosso)
Hayek, expressa, que ação do Estado deve estar restrita ao controle e
manutenção do princípio da livre concorrência.
O uso conveniente da concorrência como princípio da organização social exclui certos tipos de intervenção coercitiva na vida econômica, mas admite outros que às vezes podem auxiliar muito consideravelmente no seu funcionamento, e até exige determinadas formas de ação governamental.(Ibid, p.35).
São essas determinadas formas de ação governamental que se
apresentam de forma muito vaga no trabalho de Hayek, porém que tem mais
concretude na obra de Fridman. A questão principal é que os dois autores
admitem, e não prescindem das ações do Estado em um regime liberal.
A existência de um mercado livre não elimina, evidentemente, a necessidade de um governo. Ao contrário, um governo é essencial para a determinação das ‘regras do jogo’ e um árbitro para interpretar e pôr em vigor as regras estabelecidas. (FRIEDMAN, 1977, p. 23)
Essa posição aparentemente turva é que dá margem para que o
sistema neoliberal promova ações de Estado como as vistas na América Latina,
em especial no Chile, na década de 1970. O próprio Estado neoliberal se apropria
de instrumentos, como o de um regime totalitário, contraditoriamente criticado
pelos seus intelectuais, para alcançar seus objetivos.
3.1.3.2 - O consenso de Washington

CXLV
O consenso de Washington foi à forma como se denominou o resultado
de uma reunião realizada na capital dos Estados Unidos, em 1989, que contava
com a presença de personalidades acadêmicas, economistas e representantes de
paises da América Latina e de organismos internacionais (FMI e BID), que visava
avaliar e estabelecer novos rumos para as reformas econômicas implantadas nos
paises desta região.
Nessa avaliação, a primeira feita em conjunto por funcionários das diversas entidades norte-americanas ou internacionais envolvidos com a América Latina, registrou-se amplo consenso sobre a excelência das reforma iniciadas ou realizadas na região, exceção feita, até aquele momento, ao Brasil e Peru. Ratificou-se, portanto, a proposta neoliberal que o governo norte-americano vinha insistentemente recomendando, por meio das referidas entidades, como condição para conceder cooperação financeira externa, bilateral ou multilateral. (BATISTA, 2001, p.11) 60
Os principais aspectos do consenso de Washington, apontados por
Crocetti (2004), em seu trabalho “Geografia do Neoliberalismo”, são:
- um plano de ordem macroeconômica, havia um acordo completo entre todas as agências econômicas, que todos os países periféricos deveriam, no momento, serem convencidos a aplicar um programa em que lhes é requerido um rigoroso esforço de equilíbrio fiscal, austeridade fiscal ao máximo, o que passa inevitavelmente por um programa de reformas administrativas, providenciarias e fiscais, e um corte violento no gasto público, principalmente na área social. - segunda coisa que ele percebia: todos pensavam que esses países devem fazer políticas monetárias
60 O trabalho de Batista, intitulado “O Consenso de Washington: A visão neoliberal dos problemas latino-americanos” retrata muito bem, o que inicialmente destaquei no início deste trabalho: a disputa de projetos capitalistas. A visão exposta por Batista é de caráter nacionalista. Ex-diplomata brasileiro, ex-membro e coordenador da Aliança para o Progresso, no ministério do planejamento na década de 1960, ele ataca o projeto neoliberal e defende um projeto de capitalismo nacional e de desenvolvimento interno.

CXLVI
rigidíssimas, porque a prioridade número 1 é a estabilização e a política fiscal tem que ser submetida à política monetária. - terceira coisa que o consenso propunha: nada disso será possível se não desmontar radicalmente, o modelo anterior que havia nesses países, um modelo perverso, que funcionou mau, só fez porcarias, que é o modelo de industrialização por substituição de importações.(p. 14)
Ainda, segundo Crocetti, as direções tomadas para objetivar tal
consenso foram:
-Primeiro, desregulamentação dos mercados, sobretudo o financeiro e o do trabalho; -Segundo, privatização, de preferência selvagem; -Terceiro, abertura total do mercado, liberdade total de comércio; -Quarto, garantia do direito de propriedade, sobretudo na zona de fronteira, isto é nos serviços, propriedade intelectual, etc.(p.15)
No Brasil começou-se a notar, mais fortemente, a influência das
recomendações do consenso de Washington, a partir das reformas atropelantes e
atabalhoadas do governo Collor, que pretendeu estabelecer os princípios
neoliberais de forma radical, em um curto espaço de tempo. Entre algumas dessas
ações, lembramos de: abertura, quase que indiscriminada, para entrada de
produtos importados, extinção de instituições de pesquisa e órgãos
governamentais de promoção e desenvolvimento de tecnologias nacionais,
tentativa de equiparação cambial entre dólar e cruzado, início de algumas
privatizações, retirada de alguns direitos trabalhistas dos servidores públicos,
entre outras.
Porém é ao final do governo Itamar, com Fernando Henrique como
ministro da fazenda, e início do governo FHC, que efetivamente se dá seqüência

CXLVII
ao projeto neoliberal no Brasil, agora mais cuidadoso, progressivo e contínuo.
Embora encontrando resistência por parte de movimentos organizados da
sociedade e de setores da própria burguesia, este é o período em que há o maior
avanço desse projeto em nosso país, com resultados em todas áreas. Processo
esse que, ao final de oito anos é mantido no governo Lula, e que continua em
construção e em disputa; por isso incompleto. 61
3.2 - A educação brasileira de formação profissional de nível médio
a partir da década de 1990.
Embora existisse um projeto em tramitação no congresso nacional, que
se arrastava por mais de sete anos, construído a partir de disputas entre
representantes de movimentos sociais ligados a educação, entidades
representativas, frente parlamentar, etc, em 1996 é aprovada uma nova Lei de
Diretrizes e Bases da educação brasileira, que, contraditoriamente, não foi fruto
direto de todo esse processo. O processo original, depois de aprovado na câmara
dos deputados, foi substituído por um outro, no Senado, elaborado teoricamente,
por Darcy Ribeiro e Marco Maciel, sendo assim aprovado. A Lei 9394/96,
estabeleceu então, as bases para a educação brasileira em todos os níveis e
modalidades, algumas delas criadas a partir da própria lei, como é o caso da
educação profissional e da educação de jovens e adultos, o que abriu novos e
61 Este trabalho não se propõe a uma análise aprofundada do processo de fortalecimento do movimento neoliberal no Brasil, por isso por vezes alguns apontamentos feitos aqui só se completam com outras leituras e análises, detidas em tal assunto. Por isso entendo que o trabalho de Boito Jr. (1999) demonstra bem este processo, colocando expostas as contradições e disputas, que aqui não estão visíveis. E, especificamente, para análise desse projeto na educação da América Latina, recomendo o trabalho de Melo (2004).

CXLVIII
grandes espaços de possibilidades de aplicação dos preceitos neoliberais na
educação de nosso país.
Não é com a LDB de 1996 que iniciaram-se as disputas que objetivavam
a aplicação de preceitos neoliberais na educação brasileira62, mas ela é com
certeza um marco que estabelece, legalmente, as possibilidades para tais
aplicações, visto que, de tão enxuta apresentava a necessidade de
regulamentações para vários de seus pontos, que poderiam ser feitos através de
Decretos, Portarias e etc., onde a intervenção popular é mínima, ou quase nula,
ou seja, onde o campo de disputa seja reduzido às frações hegemônicas da
burguesia.
E é a partir desta nova LDB, que posteriormente é publicado o Decreto
Presidencial, 2208/97, que regulamentava a educação profissional brasileira. 63
Porém, antes do Decreto 2208/97, o governo tentou implementar a
regulamentação da Educação Profissional através de um Projeto de Lei (1603/96),
que, nos curtos espaços de disputa dentro do Congresso Nacional, encontrou
resistência do movimento organizado dos trabalhadores da educação pública.
Com a possibilidade de uma eventual derrota, ou até mesmo, pelo prolongamento
temporal em que este projeto poderia se arrastar, o governo FHC elimina a
62 O trabalho de Cunha (2002) demonstra que intelectuais da educação, ainda na década de 1970, apresentavam uma nova forma de estruturação para a educação brasileira, de cunho neoliberal. 63 Esta forma reduzidíssima de expor, se justifica pelo fato de já existirem diversas obras (dissertações, teses, relatórios de entidades representativas, livros e etc) publicadas na época e que retratam muito bem todo processo de elaboração e disputas a cerca de uma nova LDB para educação brasileira e de uma nova legislação para o ensino profissional. Entre elas, destaco: dissertação de mestrado de Ramos (1995), a dissertação de mestrado de Ignácio (2000), a tese de doutorado de Del Pino (2000) e Kuenzer (1997 e 1999). Sendo assim optamos por apresentar uma pequena introdução para melhor nos determos nos aspectos que interessam a este trabalho, qual seja: as características neoliberais da educação brasileira de formação profissional de nível médio.

CXLIX
mínima possibilidade de disputa com a publicação de um Decreto Presidencial,
nos mesmos moldes do PL 1603/96. Tal ação, fosse no seu conteúdo ou na sua
forma, foi alvo de duras críticas de intelectuais de esquerda vinculados ao campo
da educação e de dirigentes de entidades representativas dos profissionais desta
área.
3.2.1 - A construção das recomendações dos organismos
internacionais.
No início da década de 1990 foi publicado um relatório, do Banco
Mundial, a respeito da situação da educação brasileira, em especial aquela
destinada à formação profissional de jovens para indústria e comércio, os cursos
técnicos.
Esse relatório chama a atenção para os altos custos de implantação e
manutenção dos estabelecimentos de ensino dessa modalidade, principalmente
os da rede federal, que segundo eles, serviam a uma parcela privilegiada (a classe
média), que posteriormente formados, ingressavam em cursos de nível superior,
não servindo nos setores para qual as qualificações a que se submeteram no
período do segundo grau técnico eram endereçadas.
Concluíam, então, que para que houvesse uma melhor distribuição dos
gastos seria importante que o ensino de formação propedêutica (médio) fosse
separado da formação de qualificação profissional, e que os estabelecimentos de
ensino técnico fossem destinados exclusivamente à formação profissional, para
aqueles que efetivamente iriam atender a demanda do setor produtivo, naquele

CL
nível profissional, ou seja, os filhos de trabalhadores que deveriam ingressar mais
rapidamente no mercado de trabalho – como se houvesse espaço para todos eles
(o que também é funcional ao sistema).
O cumprimento desta conclusão, embora não dita explicitamente, era
condição para futuros financiamentos nessa área, o que aconteceu posteriormente
com a implementação do PROEP.64
Ao analisarmos o conteúdo da LDB/96 e do Decreto 2.208/97, somos
levados a considerar que tais instrumentos legais atendiam ao que foi apontado
pelo relatório do Banco Mundial, e logo concluímos: são eles (os organismos
internacionais, conduzidos pelos E.U.A.) que estão interferindo na direção das
políticas educacionais brasileiras, para atender as exigências de uma política
neoliberal, colocando o Brasil no seu devido lugar no processo de globalização
delineado para a América Latina. Até que ponto tal análise está correta?
O artigo de Luiz Antônio Cunha, intitulado “As agências financeiras
internacionais e a reforma brasileira do ensino técnico: a crítica da crítica” (2002),
alerta-nos a fazermos uma análise mais detida da realidade, tentando observar
64 O Programa de Expansão da Educação Profissional (Proep) é uma iniciativa do
Ministério da Educação em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego. Visa desenvolver
ações integradas de educação com o trabalho, a ciência e a tecnologia, em articulação com a
sociedade.
Seus recursos são originários de dotações orçamentárias do Governo Federal, sendo 25% do
Ministério da Educação, 25% de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e 50% de empréstimos da União com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), assinado em
27 de novembro de 1997, com vigência até 2006. (www.mec.gov.br/semtec/proep, em 19 de junho
de 2004, negrito nosso)

CLI
com mais precisão a complexidade de todo esse processo, as disputas e os
interesses que estão em jogo.
As análises correntes contêm como axioma implícito uma forte atitude de autopiedade diante do que se supõe ser a imposição das agências financeiras internacionais à educação brasileira. O axioma consiste em considerar o Brasil (e a educação brasileira, em conseqüência) como uma pobre vítima das maldosas agências financeiras internacionais, particularmente o Banco Mundial – BIRD, o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e o Fundo Monetário Internacional – FMI. No que diz respeito à educação, essas agências mandam e o governo brasileiro, subserviente, obedece – simples assim. Não há resistência, não há contradições, nem vias de mão dupla. (CUNHA, 2002, p.1 e 2)
Cunha (2002) demonstra que intelectuais brasileiros já defendiam, na
década de 1970, posições parecidas com as que foram apresentadas pelo Banco
Mundial, aliás, eles próprios participaram da elaboração de tal relatório. Houve
assim, uma articulação entre intelectuais orgânicos de uma parcela da burguesia e
os organismos financeiros internacionais, que, aliás, tem em seus quadros,
formuladores intelectuais brasileiros, que atendem seus interesses e vice-versa. O
próprio ministro da educação do governo FHC, é originário desses quadros (e não
é por acaso que, o próprio Fernando Henrique Cardoso, tenha sido um dos nomes
cogitados para assumir a presidência do Banco Mundial, logo após sua saída da
Presidência da República).
Não se deve deixar de levar em conta a possibilidade de que, ao lado do fluxo de idéias que partem de suas sedes para os governos dos diversos países, existe outro fluxo, destes para as sedes. As recomendações finais representam o resultado de uma correlação complexa de forças e de uma composição de idéias. Reconhecer isso, exige estar atento para os mecanismos de hegemonia, tanto quanto para os de dominação. (Ibid, p. 19)

CLII
CUNHA (2002) também alerta que as políticas propostas para a
América Latina, na área da educação, não são idênticas, devido, principalmente, a
dinâmica de elaboração, embora os fins sejam os mesmos, e que “O relatório de
uma agência internacional, ainda mais quando contém alguma recomendação,
expressa uma complexa rede de interesses por vezes contraditórios. É preciso
estar atento para o empenho de certos grupos em incluir suas posições no
relatório, mediante contatos diretos e indiretos, abertos ou encobertos com os
quadros das agências internacionais. Esse empenho resulta de um intento mais
interno do que externo: a inclusão de determinada posição de grupo específico faz
com que ela seja valorizada dentre os rivais.” (p. 20).
Com essas ressalvas, importantes na construção de uma análise do
processo de introdução dos preceitos neoliberais na política educacional brasileira,
interessa identificar que tais princípios, mesmo que fruto de processos de
disputas, se apresentam como balizadores; já que, mesmo com suas
contradições, o capital se faz hegemônico.
3.2.2 Os aspectos neoliberais na educação profissional e algumas
de suas contradições.
Não necessariamente os aspectos neoliberais estão explícitos através
da letra fria de uma legislação, embora a garantia legal abra grandes
possibilidades de aplicação de tais preceitos. Vejamos no caso concreto da
legislação que regeu, o ensino profissional no Brasil até o ano de 2004:

CLIII
A dualidade entre ensino médio e técnico, a principal característica
implementada pela REP65, por si só não constitui uma característica neoliberal. A
questão que ao meu ver se destaca é a forma como essa dualidade é apropriada.
Não quero aqui fazer qualquer tipo de defesa a esta separação, ela está longe de
ser apropriada por um projeto mais consistente, como o de politecnia, que no
Brasil encontra em Saviani66 o seu maior representante. O que quero destacar é
que a ação do Estado é de fundamental importância para o sucesso de qualquer
projeto nessa sociedade e, efetivamente, os governos passados (e me arrisco a
dizer: o atual) tiveram um compromisso, mesmo que velado, com os rumos do
projeto neoliberal “traçado” para o mundo, e ainda em construção no Brasil.
Por isso, tal dualidade se configura como uma facilitadora da
manutenção/construção de uma sociedade dividida em classes e, ao mesmo
tempo é um reflexo desta, cuja dominação se coloca nas mãos da burguesia.
Com a aplicação da reforma para o ensino profissional, concretizada a
partir do Decreto 2.208/97, e seus complementares, o comportamento do
ministério da Educação foi digno de elogios por parte dos teóricos neoliberais. A
“liberdade” dada aos estabelecimentos de ensino foi de uma generosidade até
então não vista; estabeleceu-se parâmetros e diretrizes muito vagos que
65 REP – Reforma do Ensino Profissional, que tinha como principais aspectos:
a) Dualidade entre ensino regular e profissional; b) “Encurtamento” do tempo de formação profissional; c) Caráter de terminalidade; d) Substituição do docente pelo instrutor; e) Redução drástica do oferecimento de vagas no ensino médio nas Instituições
Federais de Ensino Profissionalizante; f) Organização Curricular em módulos; g) Avaliação por competências.
66 Ver artigo “O choque teórico da politecnia”, editado na revista Trabalho, Educação e Saúde, EPSJV/Fiocruz, 2003

CLIV
permitiam várias interpretações, sem que houvesse um rigor na aplicabilidade. O
governo trabalhava principalmente na fiscalização (o que não fugia a cartilha de
Friedman) para o cumprimento de aspectos mais burocráticos, como carga horária
mínima, etc; e nem na aplicação das disciplinas houve muito rigor para o
cumprimento de tais diretrizes, inclusive a criação de novos cursos ampliou-se, e
qualquer questionamento a esta expansão poderia ser respondido na perspectiva
de atendimento de uma demanda regional. O que, aliás, era preconizado por Lei.
Então, poderão me perguntar: Atender as demandas locais é uma característica
especificamente neoliberal? O que interessa é saber de onde surgem essas
demandas; e no mundo dominado pelo capital, sabemos que é daqueles que
detém a propriedade privada dos meios de produção, muitas vezes, e
contraditoriamente, defendidas (essas demandas) pela própria classe trabalhadora
na perspectiva de manutenção das suas condições de sobrevivência.
Contraditoriamente essa perspectiva de “liberdade neoliberal” é travada
pelo próprio Decreto 2.208/97, que cristalizava a dualidade (dualidade formal), o
que impedia uma maior flexibilidade de ação por parte dos estabelecimentos
escolares, importante, ao meu ver, para a tão desejada acomodação das disputas
travadas em torno desta questão. Acomodação essa que é conquistada a partir da
publicação de um novo Decreto, agora no governo Lula (5.154/2004), que
estabelece a possibilidade de um ensino profissionalizante de forma integral,
mas que mantém todas as outras formas já existentes no 2.208/97.(trataremos
melhor esta questão no próximo ponto).
Tal reforma, voltando ao 2.208/97, atendia de forma mediata os
interesses de uma parcela da burguesia, principalmente a nova burguesia dos

CLV
serviços, que atua(va)m na área da educação. Com a redução dos alunos no
ensino médio nas instituições federais de ensino, como previa a recomendação do
Banco Mundial (redução essa, que deveria ser em 100%, embora a legislação
estabelecesse 50% 67, o que comprova um não alinhamento completo),
objetivamente cresceria a procura por cursos de ensino médio nas instituições
privadas, por parte dos filhos da classe média preocupados em passarem para
uma nova etapa de formação em uma instituição de ensino superior,
reconhecidamente de qualidade, e preferencialmente gratuita.
Mas existe disputa intraclasse. A burguesia não é homogênea.
Existia, portanto, uma outra parcela da burguesia68 descontente com os
rumos dessa reforma; uma outra parcela que se utiliza(va) do trabalho do
profissional formado nesse nível de ensino. Embora com a REP o número de
profissionais habilitados tendencialmente aumentasse, o que era previsto,
ampliando o exército de reserva (o que é, em parte, importante para a dominação
do capital), a qualificação desse profissional para o desempenho das tarefas,
oriundas do desenvolvimento das forças produtivas, não era satisfatório. Isso
obrigaria aos empresários darem essa formação dentro da própria empresa; no
caso do técnico agrícola, na própria agroindústria ou nas grandes propriedades e
empresas rurais. Para quem sempre necessitou da ação do Estado para subsidiar
67 Nesse caso específico, a legislação permitia que as escolas agrícolas mantivessem todas as vagas do ensino médio, por considerar suas localizações em relação a outras escolas de ensino médio, já que, na sua maioria estas instituições funcionam em fazendas. Eis portanto, uma especificidade considerada, no âmbito do ensino agrícola, pela REP. 68 Ver SALM e FOGAÇA, (1999).

CLVI
seus custos de produção, na forma de qualificação profissional, este resultado era,
com certeza, insatisfatório.
Porém essa disputa tendeu a se acomodar:
Já que o ônus da formação do profissional não deveria ficar a cargo da
empresa e nem do Estado, responsabilizar o próprio trabalhador pela sua
formação/qualificação, seria uma grande jogada, retirando dele próprio (da classe
trabalhadora) os recursos necessários para o financiamento, destinando grande
parte do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) para tal finalidade. A disputa,
neste caso, se direcionou para ver quem iria abocanhar a maior parte destes
recursos; no caso, nenhuma das grandes centrais de trabalhadores se furtou a
disputar parte desse bolo. Esse novo cenário propicia o surgimento de uma
novíssima burguesia, mascarada pela representação dos trabalhadores, a
“burguesia sindical”,69 que se apropria desses recursos para transformá-lo, em
parte em cursos de qualificação de qualidade questionável, e em parte, em
ganhos diretos e indiretos, seja para o próprio sindicato, seja para alguns de seus
membros isolados. Somando-se a este rol, de uma nova burguesia de serviços,
temos inúmeras ONG’s e Fundações70, usadas como instrumentos facilitadores de
todo esse processo, ligadas, em grande escala, a vários setores da burguesia.
69 Esta expressão surge, para mim, durante a elaboração deste texto. Embora não me lembro de tê-la visto em outros trabalhos, e por considerar que não deva ser original , não vou amarrá-la como sendo minha, mas também não tenho a quem endereçá-la, neste momento. Porém, Francisco de Oliveira (2003), em O Ornitorrinco, demonstra com bastante clareza o surgimento dessa nova burguesia, travestida pela representação de trabalhadores, que se especializaram na administração de Fundos de Pensão e de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que, contraditoriamente são alocados no BNDES, para financiamento de iniciativas privadas. 70 Ver NEVES (org.) (2005).

CLVII
Para um mercado formal de trabalho, cada vez mais inacessível à
classe trabalhadora e a seus filhos, a necessidade de controle do exército de
reserva, em um padrão de acumulação flexível, se dá na perspectiva de uma
curta, porém contínua formação/capacitação, como forma de frear a ansiedade
dessa classe em vender sua força de trabalho, ou seja, antecipando formalmente
a introdução de novos trabalhadores no mercado de trabalho.
Assim, entendo que o discurso da capacitação, oriunda das, cada vez mais,
recentes demandas advindas do desenvolvimento das forças produtivas, se apresenta muito
mais como uma estratégia de controle de uma possível revolta da classe trabalhadora, que
uma efetiva necessidade dos meios de produção.
3.2.3 – O Decreto 5.154/04 em questão.
Recusar as atuais formas de fazer política é construir a possibilidade da construção de uma nova civiltá. Permanecer nos seus horizontes é aceitar a subalternidade das classes trabalhadoras como ‘destino manifesto’. (DIAS, 2006, p.22 e 23)
A publicação do Decreto 2.208/97, trouxe um grande número de dúvidas
a serem esclarecidas, tanto pelos profissionais que atuavam nessa modalidade de
ensino, quanto aos estabelecimentos escolares, a respeito de sua aplicação.
Promovido sem a participação popular, através de suas representações sociais, o
Decreto da educação profissional de 1997, que tinha como objetivo expresso
regulamentar a lacuna deixada pela Lei 9394, de 1996, naquilo que também

CLVIII
expressavam ser as intenções dessa LDB, inaugurou um período de grande
tumulto nos espaços escolares, fosse pela tentativa de adequação as novas
exigências, fosse pela crítica aos novos parâmetros estabelecidos, ou, muitas
vezes, pela própria falta de clareza a respeito dessas adequações. Por isso, a
cada nova dúvida sem solução imediata pela letra da lei, estabeleciam-se
Pareceres e Portarias do Ministério da Educação71, traçando assim novas
exigências a serem cumpridas. Esse “novo” modelo estabelecido por Decreto
Presidencial, também estabeleceu como horizonte para o cumprimento dessas
novas e turvas exigências, a vantajosa promessa dos financiamentos
(internacionais) para reestruturação e modernização dos estabelecimentos de
ensino que de forma rápida e “eficiente” se adequassem aos novos parâmetros.
Contudo, o Decreto 2208/97, estabelecia claramente a separação entre o
ensino médio e o profissional72: a chamada dualidade, que a partir de então se
expressava de maneira formal; ou seja, a dualidade já existente na educação
brasileira se configurou explicitamente através da legislação da década de 1990.
71 Na minha experiência como docente de um Colégio Agrícola, vinculado a uma Universidade Federal, vivenciei vários desses momentos de dúvidas e incertezas a cerca do que deveríamos realizar por exigência de uma nova legislação (2208), e quais seriam, também, os nossos limites para resistir a sua lógica neoliberal, as vezes não aparente nos discursos e nas justificativas expressas pelo MEC. Entre essas dúvidas lembro: a) a avaliação por competência, que em um primeiro momento apareceu como uma sugestão, e depois se estabeleceu como regra; b) o currículo estabelecido em módulos, também, inicialmente como sugestão; c) as cargas horárias mínimas, que mais tarde ficaram estabelecidas pelos parâmetros curriculares para o ensino técnico; d) e outras mais ligadas ao cotidiano escolar, por exemplo: Como lidar com a repetência, no caso do aluno que concomitantemente realizava o ensino médio e o profissional, em somente um dos cursos? Como lidar com perspectiva de uma possível transferência entre instituições, já que os currículos, mesmo sendo de uma mesma área, eram tão diversos? Perguntas, que várias vezes não encontravam respostas nos próprios técnicos do MEC, que, inclusive, divergiam entre si. 72 Essa forma de nomenclatura é por si só contraditória: como se o ensino médio, mesmo aquele mais formal destinado aos filhos da burguesia, não fosse de maneira mediata também profissional; já que o conhecimento adquirido nesse nível de ensino também é direcionado para o processo produtivo, mesmo que na forma de gerenciamento e de ordenação. Ou seja, todo ensino, no mundo do capital é profissional, mediata ou imediatamente.

CLIX
Portanto, essa dualidade aparente, reflexo da própria sociedade de classes, cuja
hegemonia é exercida pelo capital, tornou-se a principal, ou pelo menos a mais
comentada, característica da reforma educacional brasileira ao final do séc. XX.
Educadores do campo da esquerda73 foram os principais críticos dessa
nova formulação para educação brasileira, já que, de maneira informal ela
restringia aos filhos da classe trabalhadora a continuidade nos estudos em nível
superior, assim, verificava-se uma outra característica da Reforma da Educação
Profissional (REP): o caráter de terminalidade, que apresentava como destino
imediato, na melhor das hipóteses, o rápido atendimento às demandas do setor
produtivo.
Mesmo com a obrigação legal de implementação da REP, em parte das
instituições federais dessa modalidade de ensino levantou-se um movimento de
resistência à lógica implementada pelo governo neoliberal de FHC74, mesmo
havendo a sedução financeira75, as direções de tais instituições. Porém, tal
resistência se estabelecia; fosse pelo movimento organizado de profissionais da
educação, fosse pelos diversos movimentos organizados de trabalhadores de
esquerda.
73 Para mim é difícil estabelecer com exatidão quem pertencia a esse grupo de intelectuais, porém entre os mais conhecidos, no campo Trabalho e Educação cito, por ora: Saviani, Gaudêncio Frigotto, Acácia Kuenzer e Maria Ciavatta; no campo das políticas públicas destacaria: Lucia Neves, Pablo Gentile, entre outros. Além de intelectuais coletivos representados em entidades de classe como o ANDES-SN e suas seções sindicais, o SEPE-RJ, entre outras; entidades acadêmicas como a ANPEd, principalmente nos debates desenvolvidos no GT Trabalho e Educação; e dos movimentos em torno da defesa da escola pública (Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública). 74 Como forma de exemplificar tal resistência cito um documento produzido por uma dessas instituições: A verdade sobre a reforma da educação profissional, produzido pelo SINDOCEFET-PR/ANDES. 75 Falo especificamente do financiamento via PROEP.

CLX
Nesse setor, da esquerda, concordávamos que a separação formal entre
o ensino médio e o de formação imediatamente profissional, representava mais
que um retrocesso nas lutas dos trabalhadores por uma educação libertadora.
Assim, mesmo que tímida, ou subsumida a confusão da implementação
da reforma, manteve-se um processo de resistência, o que ainda mantinha viva a
disputa em torno da REP, na perspectiva de modificá-la. Essa resistência
encontrou ressonância, também nos espaços de debates abertos em alguns
partidos políticos de esquerda, fosse por parlamentares ou por seus militantes
alinhados as questões da educação brasileira, tendo como representante principal
o Partido dos Trabalhadores, até então oposição formal ao governo, e,
conseqüentemente, as políticas de FHC.
Dessa forma, durante os anos que se seguiram ao governo FHC, as
possibilidades de mudanças, ou até mesmo de revisão na política para o ensino
profissional foram diminuindo. Na verdade, se deu seqüência ao processo de
formalização e de cristalização da lógica neoliberal, mesmo que suas contradições
não fossem completamente dissipadas. Nesse processo de disputa deu-se então
a hegemonia do pensamento neoliberal na educação brasileira.
Embora, as sinalizações de campanha (2002) do então candidato a
Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva, já indicassem a perspectiva de
um governo de manutenção de acordos estabelecidos em favor da classe
dominante76, restava ainda a esperança em um possível governo que se
reivindicava da classe trabalhadora. Um desses compromissos era justamente o
76 A Carta ao povo brasileiro, divulgada pelo PT, ainda no processo de campanha eleitoral, talvez seja o maior exemplo desse amplo compromisso.

CLXI
de revogar o Decreto 2208, dada a construção histórica vivenciada pelo partido
junto às reivindicações de movimentos sociais e de educadores de esquerda, que
inclusive compunham os seus quadros.
Eleito Presidente da República, e nomeando para o cargo de Ministro da
Educação o Senador Cristóvão Buarque, Lula dá início, no âmbito da educação, a
um tímido processo de reelaboração da política de educação profissional.
No início de 2003, a aposta em mudanças substantivas nos rumos do país, com a eleição do presidente Lula e com a perspectiva de um governo democrático e popular, levou-nos a sugerir alguns nomes para as Diretorias do Ensino Médio e da Educação Profissional da Secretaria de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação (SEMTEC/MEC), bem como assessorar a realização dos Seminários Nacionais ‘Ensino Médio: Construção Política’ e ‘Educação Profissional: Concepções, Experiências, Problemas e Propostas’, realizados, respectivamente, em maio e junho de 2003. Esse processo manteve-se polêmico, em todos os encontros, debates e audiências realizados com representantes de entidades da sociedade civil e de órgãos governamentais.
Todas as contribuições recolhidas nesses momentos levaram a progressivo amadurecimento do tema que não tomou forma em uma via de mão única, ao contrário, manteve as contradições e disputas teóricas e políticas sinalizadas desde o início do processo, culminando no Decreto n. 5154, de 23 de julho de 2004. (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005, p.22 e 23; negrito nosso)
Nas palavras de Rodrigues (2005), com as quais tenho acordo:
Logo à primeira vista , o decreto do governo Lula mostra-se bastante adequado à característica mais importante do atual padrão de acumulação, a flexibilidade, já que agrega às possibilidades anteriores - formação subseqüente, formação concomitante, interna e externa - a formação ‘integrada’. (p.261)

CLXII
Assim, com o novo Decreto (5.154/04), o ensino de formação
profissional mantém as possibilidades de formatação de cursos, como previa o
revogado 2.208/97, com uma diferença básica: a possibilidade de um ensino
integrado entre formação média e profissional, como aquele que era executado
antes da reforma da segunda metade da década de 1990, o antigo 2º grau
profissionalizante. “Nesse sentido, o decreto parece apenas vir para acomodar
interesses em conflito, como, aliás, fizera, em outro contexto, a lei nº 7044/82, em
vez de enfrentar, via política educacional, a velha dualidade estrutural da
educação brasileira”. (Ibidem, p. 261).
3.2.3.1 Um decreto flexível.
Para este momento do trabalho, não avalio a intencionalidade de
determinados atores no processo de correlação de forças que se estabeleceu
durante a gênese do Decreto 5.154/04. No entanto, o resultado dessa disputa,
concretizado na letra da lei, deve nos conduzir a reflexões e a (auto)avaliações
acerca dos limites impostos pelo capital para a luta da classe trabalhadora.
Lembrando a análise de Rodrigues (2005), o Decreto Presidencial,
destacado em tela, mostra-se bastante adequado ao novo padrão de acumulação
capitalista, flexível. Concordando com tal análise é que recorro ao trabalho de
David Harvey (2004), para confirmar essa “primeira impressão”.
Embora em sua análise, Harvey tenha como foco as transformações
vividas, ao final do século passado, nos países centrais do capitalismo, entendo
que os seus reflexos sejam observados também na América Latina, porém, de

CLXIII
maneira característica ao projeto capitalista para os países periféricos, ou seja, um
modo de acumulação flexível para um capitalismo dependente.
Vejamos portanto essas características:
A acumulação flexível, (...), é marcada por um confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego no chamado ‘setor de serviços’, bem como conjuntos industriais completamente novos, em regiões até então subdesenvolvidas (...). Ela também envolve um novo movimento (...), de ‘compressão espaço-tempo’ no mundo capitalista – os horizontes temporais da tomada de decisões privada e pública se estreitam, enquanto a comunicação via satélite e a queda dos custos de transporte possibilitaram cada vez mais difusão imediata dessas decisões num espaço cada vez mais amplo e variegado. (HARVEY, 2004, p. 140).
A acumulação flexível parece implicar níveis
relativamente altos de desemprego ‘estrutural’ (...), rápida destruição e reconstrução de habilidades, ganhos modestos (quando há) de salários reais (...) e o retrocesso do poder sindical – uma das colunas políticas do regime fordista. (Ibidem, p, 141, negrito nosso).
... o propósito dessa flexibilidade é satisfazer as
necessidades com freqüência muito específicas de cada empresa. (Ibidem, p.143, negrito nosso).
Entendo que o Decreto 5.154/04 se estabelece nos marcos do que
Harvey chama de compressão espaço-tempo, o próprio formato jurídico (Decreto)
já dá bons sinais do encurtamento das possibilidades de debate em torno do

CLXIV
assunto. Ainda nesta questão, lembro que o encerramento, mais rápido possível,
em torno das disputas que se estabeleceram a partir do 2.208/97, culminando no
Decreto 5.154/04, também estabeleceriam maior certeza de imutabilidade dos
parâmetros essenciais que naquele decreto já estavam definidos.
Não tenho dúvidas de que o revogado Decreto 2208/97, trazia em sua
essência a perspectiva de uma política neoliberal, porém inflexível quanto ao
aspecto da dualidade estrutural, ou seja, a separação entre ensino médio e
profissional era rigorosa. Dessa forma o novo Decreto, por manter as outras
possibilidades expressas anteriormente, se encaixa, de maneira mais sutil,
também, na perspectiva neoliberal para educação brasileira, agora com uma
aparência mais flexível, já que prevê a possibilidade de um ensino reintegrado.
Cumpre então o papel de demonstrar aos descontentes com o 2.208/97 a
possibilidade de uma educação integral, porém, mantendo as condições
necessárias para que a classe dominante, nos ambientes de disputa, exerçam sua
hegemonia. Contribui, portanto, para uma paralisia no âmbito das perspectivas de
mudanças estruturais na legislação brasileira da educação profissional.
Assim, calar a voz e a ação dos que denunciam tais contradições se
mostra necessário para a burguesia. Aquietar a disputa, “resolvendo-a” na arena
da democracia burguesa, é, portanto, limitar as possibilidades de luta, e
conseqüentemente de vitórias da classe trabalhadora, ou seja, as disputas
geradas e resolvidas nos limites dados pelo capital, levarão, no geral, a vitórias
capitalistas, mesmo que aparentemente haja algum avanço para a classe
trabalhadora.

CLXV
3.2.3.2 O avanço paralisante.
O Decreto 5.154/04, mostrou-se para mim, de imediato, um avanço
incontestável, se comparado ao revogado 2.208/97. A possibilidade de um
ensino médio integrado com o de formação profissional, agora é fato, antes não
existia. Porém este avanço, assim entendo, tende a uma acomodação das
disputas em nível nacional em torno do assunto; usando as palavras populares,
ele parece que vem para “agradar a gregos e troianos”, na medida em que
possibilita uma multiplicidade de relações entre o ensino médio e a formação
profissional; e o ensino integrado, passa a ser, nada mais, nada menos, que uma
possibilidade. Na verdade, ele não elimina por completo as possibilidades de
disputas, só que agora elas se transferem para “o pátio da escola”, ou seja, se
transferem para o nível das relações escolares. Mas, mesmo nesse micro
ambiente, essas relações também tenderão a uma acomodação, e digo isto com
base em minha própria experiência docente em uma dessas instituições, por isso
é que denomino este avanço de paralisante.
Ainda é cedo para que tenhamos dados empíricos acerca de como vem
sendo feita a aplicação do novo Decreto (as resistências e acomodações), mas
temo que a tendência de acomodação se confirme, pois a base legal para que isto
aconteça já esta dada.
Cabe, no entanto, explicitar o que aqui entendo como acomodação das
disputas: como a dualidade estrutural se colocava de forma explícita e inflexível a
partir do Decreto 2208/97, a resistência em torno desta questão se mostrou clara,
tanto por parte de intelectuais de esquerda, quanto por parte de inúmeros
profissionais da educação. Prova dessa parcela insatisfeita é que a ascensão ao

CLXVI
governo federal, de parte desta parcela, procurou de imediato promover a
mudança. Parece-me claro, que se o conflito principal residia na separação entre o
ensino médio e o técnico, a acomodação se dará no sentido de transformar a
integração em uma simples possibilidade, que, se nas disputas mais locais não
fosse contemplada (integralidade), seria então um simples resultado da
democracia vigente. Ou, que para dirimir as disputas, comtemplar-se-ia diferentes
cursos, para os diferentes modelos. Ou, já que não é imperiosa a mudança, que
se mantenha aquilo que foi construído nos últimos anos, para que não se tenha o
árduo trabalho, exigido por qualquer nova modificação, evitando assim as temidas
e indesejáveis transições.
Essa característica de acomodação ou “conciliação”, mediada pela
figura do intelectual, no mundo do capital é descrita por Gramsci (2001) de tal
forma:
a conciliação foi encontrada na concepção de “revolução-restauração”, ou seja, num conservadorismo reformista temperado. Pode-se observar que um tal modo de conceber a dialética é próprio dos intelectuais, os quais concebem a si mesmos como os árbitros e os mediadores das lutas políticas reais, os que personificam a “catarse” do momento econômico ao momento ético-político, isto é, a síntese do próprio processo dialético, síntese que eles “manipulam” especulativamente em seus cérebros, dosando seus elementos “arbitrariamente” (isto é, passionalmente). Esta posição justifica o seu não-“engajamento” completo no ato histórico real e é indubitavelmente cômoda.(p.293 v.1, negrito nosso).
Uma questão, de base material, a ser considerada na previsão de uma
possível inércia a partir do Decreto 5.154/04 é a do financiamento das instituições
públicas que atuam nessa área do ensino. Um dos aspectos observados na

CLXVII
distribuição orçamentária das Instituições Públicas de ensino médio e profissional
é o do número de alunos, expresso pela quantidade de matrículas, assim, com a
dissociação entre ensino médio e profissionalizante, levando em consideração os
alunos que realizam os dois cursos na mesma instituição, o número de matrículas
dobra. Desta maneira, a formalização de um ensino reintegrado, poderá significar
mediatamente uma redução nos recursos dessas instituições, o que como
argumento a favor da manutenção do modelo expresso no Decreto 2208/97, para
persuasão da comunidade escolar, no bojo de disputas internas, será bastante
forte.
Contudo, ainda se mostra bastante atual o debate acerca de uma
superação desses limites que são impostos pela democracia burguesa. Ficaremos
nos desgastando nas disputas, em um quadro de “democracia restrita”? Ou
buscaremos as (im)possibilidades de uma verdadeira superação da dualidade
estrutural, que é na verdade a superação dessa sociedade de classes?

CLXVIII
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todo este trabalho foi guiado por um questionamento inicial sobre o
processo de desenvolvimento do ensino técnico agrícola, como enunciamos na
introdução desta dissertação. Após o percurso deste estudo compreendemos o
ensino agrícola no Brasil inserido na totalidade do sistema capitalista,
historicamente construído. O estudo desta modalidade de ensino nos auxilia,
dialeticamente, na compreensão da face dependente que o capitalismo assume
em nosso país.
Longe de ter descoberto todas as respostas para os questionamentos
iniciais, e os que ocorreram durante a pesquisa, este trabalho se colocou na
perspectiva de revelar algumas das demandas originárias do sistema econômico e
da produção agrícola, em diferentes fases da história do Brasil, e suas interações
com o ensino agrícola de nível médio.
Nesse sentido, investigar a origem histórica do ensino agrícola foi o
primeiro desafio. Saber da existência de uma carta de D. João VI ao Conde dos
Arcos, marco inaugural dessa modalidade de ensino no Brasil, não nos bastava.
Qual era, portanto, a base material e política para que tal evento ocorresse? Esse

CLXIX
questionamento incômodo foi que nos moveu à procura das respostas que abriram
esta dissertação. Portanto, o processo de produção no Brasil e sua relação
dialética de dependência de uma estrutura que extrapolava suas fronteiras,
tiveram necessariamente que ser alvo de nossas investigações. Assim, por
tratarmos de questões históricas complexas, provavelmente existirão lacunas
neste trabalho que só se completarão com uma pesquisa mais ampla que trate
dos assuntos de forma verticalizada, ou seja, com o aprofundamento investigativo
para cada evento citado. Porém, a perspectiva de totalidade para este momento,
requeria uma pesquisa que tratasse das diversas questões ligadas à trajetória do
ensino agrícola no Brasil de forma ampla; foi nessa perspectiva que se deu a
escolha de fontes que balizaram o entendimento da formação econômica do
Brasil.
A questão que se seguia, era entender porque a intenção do Rei,
expressa na forma de ordem, demorara tanto tempo para concretizar-se. Evento
que só ocorreu quarenta e sete anos depois, através da ação de um imperador
representante da segunda geração do rei ordenante, em um território
juridicamente independente, mas que mantinha as relações de dependência,
fossem elas econômicas ou sociais, com os agentes externos. Assim, entendemos
que os elementos mais gerais, para dar conta desta inquietação, foram
apresentados neste trabalho.
Esses dois eventos foram, portanto os que tiveram maior dimensão no
primeiro capítulo, por verificarmos, ainda no processo de pesquisa para
elaboração dessa dissertação, que muito pouco, ou quase nada, se tratou a
respeito em trabalhos dedicados ao tema.

CLXX
As transformações no processo de produção, que culminaram no regime
republicano, foram também tomadas como objeto de análise para o entendimento
do processo de desenvolvimento da agricultura brasileira e de suas conseqüentes
exigências para a formação de trabalhadores de novo tipo. Processo que adquiriu
diferentes formatos nas diversas etapas da história brasileira. Porém, desde a
República, o ensino agrícola tinha o seu espaço reservado nas políticas de Estado
para a educação, fortalecendo-se enormemente na fase de grande reestruturação
da agricultura brasileira, a partir da década de 1970, quando é criada a
Coordenação do Ensino Agropecuário (COAGRI), extinta em 1986.
Assim, o segundo capítulo se propôs a investigar quais foram os
elementos estruturais que exigiram essa transformação/extinção. Decerto, uma
pesquisa que aprofunde os estudos sobre a extinção da COAGRI, revelará outros
aspectos além dos estruturais, para uma compreensão mais rica do ensino
agrícola no Brasil.
O trabalho de pesquisa nos permitiu observar que no processo histórico
sempre houve uma articulação entre as questões estruturais e as superestruturais.
Tratamos no terceiro capítulo dessas recentes articulações, no caso, mais
especificamente para a formação de trabalhadores para o processo produtivo, e
observamos que o projeto neoliberal, em curso, para a educação brasileira
fundamenta as recentes transformações, mesmo com todas as contradições
presentes nesses processos.
Espero, portanto, que esta dissertação sirva como contribuição para a
ampliação das discussões acerca do entendimento, não só das especificidades do

CLXXI
desenvolvimento do ensino agrícola no Brasil, mas da totalidade capitalismo no
Brasil e suas demandas por formação de trabalhadores.
Referências Bibliográficas. AZEVEDO, Denilson Santos de. Melhoramento do Homem, do Animal e da
Semente. O projeto político pedagógico da ESAV (1920-1948): organização e funcionamento. Tese de doutorado, pelo programa de Pós-Graduação em Educação, na área de História da Educação e Historiografia, USP, São Paulo, 2005.
BATISTA, Paulo Nogueira; O Consenso de Washington: a visão neoliberal dos
problemas latino-americanos; Consulta Popular, Cartilha nº7; 3ª edição, São Paulo, 2001.
BESKOW, Paulo Roberto. Agricultura e Capitalismo no Brasil. In: Encontros com
a civilização Brasileira, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, p.19, 1980. BOCAYUVA, Q. . A crise da lavoura: succinta exposição. Typografia Perseverança
(rua do hospício, 91), Rio de Janeiro, 1868.

CLXXII
BOITO JR, Armando; Política neoliberal e sindicalismo no Brasil; Xamã, São Paulo, 1999.
BRASIL.Decreto nº 9.217, de 18 de dezembro de 1911. Altera varias disposições
do regulamento do Ensino Agronômico creado pelo decreto n.8319, de 20 de outubro de 1910. Rio de Janeiro, 1911.
________.Decreto nº 22.380, de 20 de janeiro de 1933. Dá organização às
Diretorias Gerais do Ministério da Agricultura. Rio de Janeiro, 1933. ________.Decreto-Lei nº 982, de 23 de dezembro de 1938. Cria novos órgãos no
Ministério da Agricultura, reagrupa e reconstitue alguns dos já existentes e dá outras providências. Rio de Janeiro, 1938.
________.Decreto-Lei nº 9.613, de 20 de agosto de 1946.Lei Orgânica do Ensino
Agrícola. Rio de Janeiro, 1946. ________.Decreto-Lei nº 9.614, de 20 de agosto de 1946.Disposições transitórias
para execução da Lei Orgânica do Ensino Agrícola. Rio de Janeiro, 1946. ________.Decreto nº 22.506, de 22 de janeiro de 1947. Altera a denominação de
estabelecimentos de ensino agrícola, subordinados ao Ministério da Agricultura. Rio de Janeiro, 1947.
________.Lei nº 1.076, de 31 de março de 1950. Assegura aos estudantes que
concluírem curso de primeiro ciclo do ensino comercial, industrial ou agrícola, o direito à matrícula nos cursos clássicos e científico, e dá outras providencias. Rio de Janeiro, 1950.
________.Decreto nº 72.434, de 9 de julho de 1973. Cria a Coordenação Nacional
do Ensino Agrícola – COAGRI – no Ministério da Educação e Cultura, atribuindo-lhe autonomia administrativa e financeira e dá outras providências. Brasília, 1973.
________.Decreto nº 76.436, de 14 de outubro de 1975. Altera o Decreto nº
72.434, de 9 de julho de 1973, que criou a Coordenação Nacional do Ensino Agropecuário do Ministério da Educação e Cultura. Brasília, 1975.
________.Decreto nº 93.613, de 21 de novembro de 1986. Extingue órgãos do
Ministério da Educação, e dá outras providências. Brasília, 1986. ________.Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional. Brasília, 1996. ________.Decreto nº 2208, de 17 de abril de 1997. Regulamenta o §2º do art. 36
e os art.30 a 42 da Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 1997.

CLXXIII
________.Decreto nº 5154, de 23 de julho de 2004. Regulamenta o §2º do art. 36
e os art.39 a 41 da Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e dá outras providências. Brasília, 2004.
BRASIL/MEC. Portaria do Gabinete do Ministro nº 217, de 16 de abril de
1974.Institui grupo tarefa para implantação da COAGRI e dá outras providências. Brasília, 1974.
____________. Portaria do Gabinete do Ministro nº 821, de 26 de novembro de
1986.Atribui a Secretaria de Ensino de 2º Grau o exercício das funções da COAGRI. Brasília, 1986.
____________. Portaria do Gabinete do Ministro nº 833, de 01 de dezembro de
1986.Vincula as Escolas Agrotécnicas Federais a SESG. Brasília, 1986. CARDOSO, Mirian Limoeiro. Sobre a teorização do capitalismo dependente em
Florestan Fernandes. In FÁVERO, Osmar (org). Democracia e educação em Florestan Fernades. Eduff/Autores Associados, Niterói/Campinas, 2005.
CROCETTI, Zeno Soares; Geografia do Neoliberalismo; texto selecionado para
publicação em 15/05/2004 para revista do CENEGRI (Centro de Estudos em Geopolítica & Relações Internacionais).
CUNHA, Luiz Antônio; As agências financeiras internacionais e a reforma
brasileira do ensino técnico: a crítica da crítica, in ZIBAS, Dagmar M. L., AGUIAR, Márcia Ângela da S., BUENO, Maria Sylvia Simões (orgs); O ensino médio e a reforma da educação básica; Plano, Brasília, 2002.
DEL PINO, Mauro Augusto Burkert; Reestruturação produtiva e política de
educação profissional. Tese de doutorado, PPG em Educação/UFRGS, Porto Alegre, 2000.
DELGADO, Guilherme da Costa. Capital Financeiro e Agricultura no Brasil. Ícone
Editora/Editora da UNICAMP, São Paulo/Campinas, 1985. _____________. Expansão e modernização do setor agropecuário no pós-guerra:
um estudo da reflexão agrária. Estudos Avançados 15 (43), 2001. Acessado em http://www.scielo.br/pdf/ea/v15n43/v15n43a13.pdf, em 17 de maio de 2006.
DIAS, Edmundo Fernandes. Política Brasileira: Embate de Projetos
Hegemônicos.Instituto José Luís e Rosa Sundermann, São Paulo, 2006.

CLXXIV
DIAS FILHO, M. A. Santos. A canna e o assucar nas Antilhas. Segundo Congresso Nacional de Agricultura. Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1908
DICIONÁRIO DO PENSAMENTO MARXISTA. Editado por Tom Bottomore. Jorge
Zahar Editor, Rio de Janeiro, 2001. FAUSTO, Boris. História do Brasil. Edusp, São Paulo, 2004. FAUTH, Jorge A. Sêmen-Semente-Vida. Vida?. Apresentação in HOBBELINK,
Henk. Biotecnologia muito além da Revolução Verde: desafio ou desastre?. Riocell, Porto Alegre, 1990.
FERNANDES, Florestan. Capitalismo Dependente e Classes na América Latina.
Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1973. _____________. O Que é Revolução. In: Clássicos sobre a revolução brasileira.
Expressão Popular, São Paulo, 2003. FIGUEIREDO, José Ricardo. Modos de Ver a Produção do Brasil. Autores
Associados, São Paulo, 2004. FOSTER, John Bellamy. A ecologia de Marx: materialismo e natureza.Civilização
Brasileira, Rio de Janeiro, 2005. FRIEDMAN, Milton; Capitalismo e liberdade; Artenova, 1977. FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola improdutiva. Cortez
Editora/Editora Autores Associados, São Paulo, 1986. FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise (orgs). Ensino Médio
Integrado: Concepções e contradições. Cortez, São Paulo, 2005. FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. Companhia Editora Nacional,
São Paulo, 1968. ___________. Análise do ‘modelo’ brasileiro. 3ª edição. Civilização Brasileira, Rio
de Janeiro, 1972. GÓES, Moacyr de. CUNHA, Luiz Antônio. O Golpe na Educação. 11ª edição,
Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 2002. GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere. Edição Carlos Nelson Coutinho, Marco
Aurélio Nogueira e Luiz Sérgio Henriques. V.1. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2001.
HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. 13ª edição, Edições Loyola, São Paulo,
2004.

CLXXV
HAYEK, Friedrich August Von; O Caminho da Servidão; 2ª edição, Editora Globo,
Porto Alegre, 1977. HOBBELINK, Henk. Biotecnologia muito além da Revolução Verde: desafio ou
desastre?. Riocell, Porto Alegre, 1990. IGNÁCIO, Paulo César de Souza. Da educação tecnológica à formação
profissional: a reforma do ensino técnico em questão. Dissertação de Mestrado, PPG em Educação/UFF, Niterói, 2000.
KAGEYAMA, Ângela et. alii.(Coord.). O novo padrão agrícola brasileiro: do
complexo rural aos complexos agroindustriais. In: DELGADO, G. da Costa; GASQUES, J.G.; VILLA VERDE, C. Agricultura e políticas públicas (p.113 – 223). Brasília: Ipea, 1990.
KOSIK, Karel. Dialética do Concreto. (7ª ed.) Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2002.
KUENZER, Acácia. Ensino Médio e Profissional: as políticas do Estado neoliberal. Cortez, São Paulo, 1997.
_______________. Globalização e Educação: novos desafios. Anais do IX ENDIPE, 1998. _______________. A reforma do ensino técnico e suas conseqüências. In: LIMA
FILHO, Domingos Leite (org.). Educação Profissional: tendências e desafios(documento final do II Seminário sobre a Reforma do Ensino Profissional). SINDOCEFET-PR, Curitiba, 1999.
LEI DE TERRAS Nº 601, de 18 de setembro de 1850. editada in STEDILE, João
Pedro (org.). A Questão Agrária no Brasil: o debate tradicional: 1500 – 1960. Expressão Popular, São Paulo, 2005.
LEITE, Carlos. Transformações do setor agrícola brasileiro. Palestra proferida na
sede do SENAR, Brasília, 03/03/2004; mimio. LÉNINE, V.I.. O imperialismo, fase superior do capitalismo (Ensaio de
vulgarização). Biblioteca do Marxismo-Leninismo/3. Edições Avante, Lisboa, 1975.
MAO TSE TUNG; Filosofia de Mao Tse Tung: Reformemos nosso estudo; Da
prática; Da contradição; De onde provém as idéias corretas?; Contra o culto do livro. Coleção Teoria Hoje, dirigida por Carlos Augusto Sampaio; Boitempo, Belém, 1979.

CLXXVI
MARX, Karl. O 18 brumário e as Cartas a Kulgelmann. Paz e terra, Rio de Janeiro, 1997.
MARX, Karl, ENGELS, Friedrich; O manifesto Comunista; 8ª edição, Paz e Terra,
Rio de Janeiro, 2002. ___________. Introdução [à crítica da economia política], s/d. (mimio). ___________. O Capital: crítica da economia política. 19º edição. Civilização
Brasileira, Rio de Janeiro, 2003. MAZZALI, Leonel. O processo recente de reorganização agroindustrial: do
complexo à organização “em rede”. Editora UNESP, São Paulo, 2000. MEC-COAGRI. Atuação da COAGRI para o desenvolvimento do setor primário da
economia. in: Revista Educação, no 31, Gráfica Editora Uberaba; Brasília-DF, 1980.
MEDEIROS, Leonilde Servolo de. Lavradores, trabalhadores agrícolas,
camponeses: os comunistas e a constituição de classe no campo. Tese de doutorado, Programa de doutorado em Ciências Sociais, UNICAMP, 1995.
MELO, Adriana Almeida Sales de. A Mundialização da Educação: consolidação do
projeto neoliberal na América Latina. Brasil e Venezuela. Edufal, Maceió, 2004.
MENDONÇA, Sônia Regina de. Agronomia e poder no Brasil. 1993. MOACYR, Primitivo. A Instrução e o Império(Subsídios para a História da
Educação no Brasil) 1823-1853. 1º volume. Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1936.
_____________. A Instrução e a República: ensino agronômico (1892 – 1929). 7º
volume. Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1942. NAVARRO, Zander. Desenvolvimento rural no Brasil: os limites do passado e os
caminhos do futuro. Estudos Avançados 15 (43), 2001. Acessado em http://www.scielo.br/pdf/ea/v15n43/v15n43a09.pdf, em 17 de maio de 2006.
NEVES, Lúcia Maria Wanderley (Org.). A nova pedagogia da
hegemonia: estratégias do capital para educar o consenso. Xamã, São Paulo, 2005.
OLIVEIRA, Francisco de. Crítica à razão dualista/ O ornitorrinco. Boitempo
Editorial, São Paulo, 2003.

CLXXVII
OLIVEIRA, Lia Maria Teixeira de. A Licenciatura em Ciências Agrícolas: Perfil e Contextualizações. Dissertação de Mestrado – Desenvolvimento, Sociedade e Agricultura – UFRRJ, Seropédica, 1998.
PEDRÃO, Fernando. As transformações rurais do capital no Brasil.BAHIA
ANÁLISE & DADOS, Salvador, v13, n4 (p.819-831), mar. 2004. PRADO JÚNIOR, Caio. História Econômica do Brasil. Editora Brasiliense/ Editora
Pallotti, São Paulo, 1997. RAMOS, Marise Nogueira. Do Ensino Técnico à Educação Tecnológica:
(a)historicidade das políticas públicas dos anos 90.Dissertação de Mestrado, PPG em Educação/UFF, Niterói, 1995.
RODRIGUES, José. Ainda a Educação Politécnica: O Novo Decreto da Educação
Profissional e a Permanência da Dualidade Estrutural. Revista: Trabalho, Educação e Saúde, V.3 n.2, p.259-282; Rio de Janeiro, 2005.
SALM, Cláudio; FOGAÇA, Azuete. A propósito do seminário sobre educação,
força de trabalho e competitividade. in: Um modelo para a Educação no Século XXI. José Olímpio Editora, Rio de Janeiro, 1999.
SAMPAIO, Plínio. Capital Estrangeiro e Agricultura no Brasil. Vozes, Petrópolis,
1980. SANTOS, Aparecida de Fátima Tiradentes dos. Teoria do Capital Intelectual e
Teoria do Capital Humano: Estado, Capital e Trabalho na política educacional em dois momentos do processo de acumulação. GT: Trabalho e Educação, 27ª Reunião Anual da ANPEd, Caxambu, 2004.
SAVIANI, Demerval; O choque Teórico da Politecnia; in Revista Trabalho,
Educação e Saúde, volume 1, nº 1, EPSJV/Fiocruz; Rio de Janeiro, 2003. SINDOCEFET/ANDES-SN. A verdade sobre a reforma da educação profissional,
Curitiba, 1997. SIQUEIRA, Ângela Carvalho de. Propostas, Conteúdos e Metodologias do Ensino
Agrotécnico: Que Interesses Articulam e Reforçam?. Dissertação de Mestrado – Educação– UFF, Niterói, 1987.
SOARES, Ana Maria Dantas. Política Educacional e Configurações dos Currículos de
Formação de Técnicos em Agropecuária, nos anos 90: regulação ou emancipação?. Tese de doutorado, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, ICHS/UFRRJ, Seropédica, 2003.

CLXXVIII
_____________. Formação de técnicos em Agropecuária: currículos como instrumento de políticas públicas de regulação. GT: Trabalho e Educação, 27ª Reunião Anual da ANPEd, Caxambu, 2004.
SODRÉ, Nelson Werneck. Formação Histórica do Brasil. Texto extraído do
capítulo “Império” (correspondentes aos tópicos “Consolidação do Império” e “Escravidão e servidão”) do Livro Formação histórica do Brasil. São Paulo, Brasiliense, 1962. Selecionado pelo professor Raimundo Santos in Questão Agrária e a Política-autores pecebistas, Editora Edur, UFRRJ, 1996; e editado in STEDILE, João Pedro (org.). A Questão Agrária no Brasil: o debate tradicional: 1500 – 1960.p.111-126. Expressão Popular, São Paulo, 2005.
STEDILE, João Pedro (org.). A Questão Agrária no Brasil: o debate tradicional:
1500 – 1960. Expressão Popular, São Paulo, 2005. VEIGA, José Eli da. Quatro observações sobre o nexo entre mudança técnica e
reestruturação agroindustrial. Anais do Seminário sobre mudança técnica e reestruturação agroindustrial, NPCT-UNICAMP, Campinas, 1990.
__________________. Destinos da ruralidade no processo de globalização.
Estudos Avançados 18 (51), 2004. Acessado em http://www.scielo.br/pdf/ea/v18n51/a03v1851.pdf , em 19 de maio de 2006.
__________________. Territórios para um desenvolvimento sustentável. Revista
Ciência e Cultura (SBPC), ano 58, nº 1; jan/fev/março, 2006 (a). __________________. A atualidade da cantradição urbano-rural. Acessado em
http://www.sei.ba.gov.br/publicacoes/publicacoes_sei/bahia_analise/sep/pdf/sep/pdf/sep_71/jose_eli.pdf, em 19 de maio de 2006 (b).
WOOD, Ellen Meiksins. A origem do capitalismo. Jorge Zahar Editor, Rio de
Janeiro, 2001.