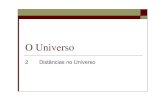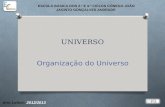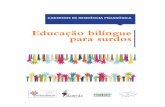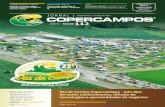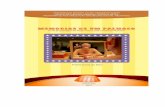Acerca do acesso da mulher ao universo futebolistico
Click here to load reader
-
Upload
gepef -
Category
Entertainment & Humor
-
view
504 -
download
0
Transcript of Acerca do acesso da mulher ao universo futebolistico

ACERCA DO ACESSO DA MULHER AO UNIVERSO FUTEBOLÍSTICO: A PRESENÇA FEMININA EM UM ESPORTE MASCULINIZADO1
Victor José Machado de Oliveira2 Erineusa Maria da Silva3
RESUMO O objetivo deste estudo pretende analisar as formas de acesso da mulher ao universo futebolístico. A metodologia utilizada foi a revisão de literatura por meio de um recorte de gênero. Percebe-se que a presença feminina nos espaços públicos é cercada de preconceitos e discursos sociais que por muito tempo buscaram legitimar a exclusão pautada em diferenças biológicas que marcam o sexo feminino e o masculino. No caso do futebol esses discursos ainda são reproduzidos, no entanto, o acesso das mulheres nesse tempo-espaço tem aumentado via fruto da luta feminina; apontando para a superação de um esporte ainda marcadamente masculinizado. Introdução
Nem sempre a mulher4 teve acesso ao espaço público, cabendo a essa se alienar no espaço privado e se dedicar aos cuidados da casa, dos filhos e do marido. Segundo Campos e Silva (2009b) os estudos historiográficos apontam que no Brasil “até a Belle-Époque – período compreendido entre o final do século XIX e início do século XX – homens e mulheres da elite estavam separados entre o espaço privado e o público” (CAMPOS & SILVA, 2009b, p. 2). Porém, os pontos de resistência e a luta feminista resgatam mesmo que fora das esferas do poder e dos quadros políticos, uma participação informal, mas nem por isso menos importante e eficiente (MOTT, 1988). Com a revolução industrial e legitimação do sistema capitalista, a “modernização” da sociedade começa a levar as mulheres para o âmbito público, mesmo que a princípio de forma precária (SILVA, 2002).
Em relação à presença de mulheres nos esportes é possível perceber que acompanha a entrada da mulher para o mundo público, pois até então à mulher era “permitido socialmente” atuar em atividades que estivessem ligadas a manutenção da beleza e preparação para a maternidade. E nesses casos, a ginástica e a dança eram mais adequadas.
A participação mais efetiva e consolidada de mulheres no campo esportivo ocorre a partir dos anos 20/30 do Séc. XX. Somente a partir dos anos 40 do mesmo Século as mulheres começaram a participar do futebol, esporte popular até então só permitido socialmente ao gênero masculino (FARIAS, 2009). E são nos anos 80 e 90 que essa inserção irá se acentuar conforme aponta Goellner (2005a), mesmo que ainda em número menor quando comparado à adesão masculina. Atualmente o número de mulheres brasileiras que praticam o futebol aumentou em vista à década anterior, porém, ainda há
1 Este texto faz parte de uma pesquisa maior – em andamento – intitulada “Histórias de vida e o processo de subjetivação das experiências de adolescentes aprendizes com um esporte masculinizado”. 2 Acadêmico de Educação Física – FCSES; Membro GEPEF. 3 Mestre em Educação – UFES; Docente – CEFD/UFES; Membro do grupo Práxis/UFES e GEPEF 4 Especialmente as mulheres da elite, já que para mulheres de classes menos abastadas as regras eram menos rígidas, pois o trabalho se configura como uma necessidade.

um déficit na implementação de campeonatos regionais e nacional, tanto quanto a participação feminina em comissões técnicas e administrativas no esporte (GOELLNER, 2005a).
Hodiernamente, a temática gênero vem sendo debatida de forma intensa no âmbito acadêmico, fomentando inquietações sobre as dicotomias presentes em oposições binárias: homem/mulher, feminino/masculino, macho/fêmea, social/particular, igualdade/diferença, dominação/submissão. Essas oposições se constituem de forma a naturalizar as posições de homens e mulheres em relação ao que a cada um é endereçado poder na sociedade, criando desigualdades, nesse caso, de gênero. Um bom exemplo é o futebol que ainda é percebido como um esporte naturalmente endereçado a homens e pouco apropriado a mulheres.
Essas primeiras inquietações fomentaram uma pesquisa prévia que se configurou na revisão de literatura acerca do acesso e presença feminina no futebol. O objetivo central busca identificar como se dá/deu o acesso da mulher ao universo futebolístico analisando a presença desta neste tempo-espaço e como se posicionam em relação os processos de pertença, em especial em relação aos clubes. Como objeto de estudo elegeu-se traçar essa discussão através de um recorte de gênero.
Este estudo se justifica na medida em que proporciona perceber as formas de acesso da mulher ao universo futebolístico, assim evidenciando quais são os indicativos de integração às práticas corporais e como essas influenciam na formação humana dos indivíduos quanto aos sentimentos de pertença e de percepção de gênero. Este estudo pode contribuir para o debate das relações de gênero quanto à investigação das conformações sociais que entrelaçam o cotidiano de indivíduos e como esses se relacionam em vista das posições dicotômicas vividas socialmente por mulheres e homens. Ascensão da mulher no esporte: das modalidades “femininas” às modalidades “masculinas”
O contexto histórico brasileiro5 marca a participação feminina de forma mais consolidada a partir dos anos 20/30 no campo esportivo, marcadas pelos aspectos médico-higiênicos, dados à sua prática “nas modalidades que ressaltavam a graça, a elegância e a leveza ‘natural’ dos movimentos femininos: natação, tênis, voleibol, equitação, esgrima” (FARIAS, 2009, p. 2). Com relação à Educação Física Pacheco (1998) aponta que a incorporação de atividades físicas (ginástica) na vida escolar se remete ao Séc. XIX e é a partir da década de 30 que a legislação brasileira vai tornar obrigatória a prática da Educação Física para ambos os sexos. Nesse período, pode-se observar a preocupação higiênico-eugênica sobre os corpos, principalmente sobre o corpo feminino.
A educação, nela incluída a educação física, era considerada como um componente fundamental para formar uma nova nação, uma nova raça. Através do higienismo e do eugenismo, utilizou-se a educação física/esporte para a implementação do novo projeto de modernização da sociedade brasileira, destinando à mulher, estereotipada como figura materna, a tarefa de gerar o futuro “saudável, resistente e forte” do país. (PACHECO, 1998, p. 46-47).
5 Cabe ressaltar que o contexto histórico brasileiro foi/é demasiadamente influenciado pelos moldes eurocêntricos.

Imbuído em sedimentar tal tarefa, o discurso higienista-eugenista recomendava as mulheres atividades físicas – com adequações necessárias ao corpo frágil, emocionalmente instável e com personalidade de tendência fraca. A ginástica feminina, a ginástica rítmica e a dança não dispunham de competições, pelo contrário sua beleza, leveza e delicadeza privilegiavam a parte inferior do corpo, assim valorizando as formas femininas, ou seja, “[...] movimentar o corpo feminino significa lapidar a sua aparência” (GOELLNER, 2003, p. 36).
Bem nos alerta Goellner (2003) que nessa época as imagens femininas eram vistas sob o tripé: ser bela, mãe e feminina; tendo “beleza como obrigação, maternidade como destino e feminilidade como consequência das anteriores” (GOELLNER, 2003, p. 10). Seguindo esta premissa pretendia-se desenvolver um corpo feminino belo – forte, ágil, harmonioso e atlético – e assim um corpo materno, afinal “as mães fortes são as que fazem povos fortes” (GOELLNER, 2003, p. 59). Esse romantismo dos ideais femininos – da boa mãe, esposa e geradora de uma nação forte – foram dando lugar – ao mesmo tempo em que ainda controladas – às novas conquistas alçadas por elas. Dito em outras palavras: ainda que as mulheres passem a se exercitar corporalmente chegando ao âmbito público, estas ainda são cerceadas pelos discursos morais, higiênicos e biológicos que pretendem regrar o corpo feminino para que possa cumprir aquilo que foi designado ao seu sexo: casamento e procriação.
Entretanto, cada vez mais as mulheres foram conquistando novos espaços e rompendo com paradigmas dos ideais forjados na década de 20 (FARIAS, 2009). A própria autora verifica que na década de 40 é perceptível a mudança na relação entre os gêneros onde “as mulheres brasileiras começavam a se destacar também nos esportes considerados mais populares e tipicamente masculinos, como o futebol e o atletismo” (FARIAS, 2009, p.3). E conforme assinala Goellner (2005b), “já nos primeiros anos da década de 80 surgem vários times femininos, alguns clubes criam suas equipes e alguns campeonatos femininos adquirem visibilidade no calendário esportivo nacional” (GOELLNER, 2005b, p. 147). A esse processo se vincularam a legislação, o discurso dos especialistas, e a mídia televisiva que acabaram por contribuir para o acesso da mulher ao futebol apenas no final da década de 80.
Transgressoras ou não, as mulheres há muito estão presentes no futebol brasileiro. Vão aos estádios, assistem campeonatos, acompanham o noticiário, treinam, fazem comentários, divulgam notícias, arbitram jogos, são técnicas, compõem equipes dirigentes... enfim, participam do universo futebolístico e isso não há como negar. (GOELLNER, 2005b, p. 149).
O espírito da luta feminina presente em todos os momentos da história é
convergente ao acesso das mulheres aos espaços até então ditos masculinos. Os confrontos de muitas feministas contribuíram/contribuem, em muito para a desconstrução dos estereótipos – validados até então nos preceitos biológicos – marcados no corpo feminino. Decorrente da nova conformação da sociedade moderna as mulheres começam a despontar no cenário público, mesmo com dificuldades e cerceadas de preconceitos. O temor à desmoralização mostrava-se um fantasma que rondava as famílias, em especial, as da elite. O desnudamento do corpo, o acesso ao esporte, o uso de artifícios estéticos mesmo que marcadores da modernização feminina eram no contrário, vistos como marcadores da natureza vulgar, da desonra e da prostituição (GOELLNER, 2005b).

Nessa linha é plausível afirmar que a toda mulher é possível acessar o futebol, os espaços, as vivências e experiências decorrentes desse universo, uma vez que há muito tempo vem lutando para ter acesso a este espaço. Pensando-se que foi historicamente que homens e mulheres constituíram-se como gêneros masculino e feminino dando significados às relações sociais, também é dessa forma que os preconceitos de gênero serão superados. A busca da autonomia feminina no esporte mesmo que inicialmente tímida e pressionada pelo sistema masculinizado, tem contribuído para a inserção da mulher aos direitos de participação ao tempo-espaços que tangem a prática e vivências do futebol – estádios, campos, quadras, praia, locais de debate dos jogos, etc. A construção da subjetividade a partir do acesso ao futebol e das aulas de Educação Física
O futebol é a “modalidade esportiva considerada, pelo imaginário social, como
integrante da identidade nacional” (GOELLNER, 2005b, p. 143). Campos & Silva (2009a) ainda afirmam que “sabe-se que o futebol, para grande parte da população brasileira, é um referencial de lazer, tanto na possibilidade do jogo quanto da assistência e manifesta-se como uma linguagem da sociedade, sendo um fenômeno sociocultural” (CAMPOS & SILVA, 2009a, p. 2). Como ainda apontam os autores citados, o pertencimento clubístico neste momento passa a ser importante na compreensão da formação da identidade, uma vez que “é formada pela relação estabelecida entre os torcedores e torcedoras e suas equipes. Isso corresponde a códigos, valores e atitudes que dizem sobre quem somos” (CAMPOS & SILVA, 2009a, p. 5). Sabendo-se que
A constituição dos sujeitos é multifacetada e apresenta, simultaneamente, em maior ou menor relevo, se observada sua interação social, uma identidade de gênero, uma identidade de classe e uma identidade de raça/etnia. Com efeito, a categoria gênero, como elemento constitutivo das relações sociais, implica práticas humanas diferentes. (SILVA, 2002, p. 21).
O processo de subjetivação na perspectiva das relações de gênero vai além da
incorporação dos parâmetros da identidade de cada sexo, tendo a pretensão de estabilizá-la através da imposição das condutas aceitáveis e repressão das não-aceitáveis. Assim, podem-se preservar os “‘modelos’ sociais esperados para mulheres e homens” (PACHECO, 1998, p. 48). Uma vez “assimiladas à natureza, as mulheres são condenadas à imanência de seus corpos, fracos e deficientes” (SWAIN, s.d., p. 7). A classificação prevista para ambos os sexos é então separatista, uma vez que, “se a ginástica pertence ao mundo feminino é ao masculino que se designa o futebol” (GOELLNER, 2003, p. 75), ou seja, os homens deveriam ressaltar a braveza, dignidade, a virilidade através de esportes de combate e brutalidade – futebol, lutas, ginásticas com halteres, etc. – e mulheres sua delicadeza e fragilidade – dança, ginástica feminina e rítmica.
No caso do futebol, percebe-se que o discurso da masculinidade que circunda esse fenômeno reflete a identidade nacional como sendo masculina, reforçando os moldes da dominação exercida sobre as mulheres, uma vez que se aloca no imaginário social dos indivíduos projetando as conformações sociais de exclusão das mulheres dos espaços públicos. Conforme aponta Goellner (2005b, p. 150),

[...] em se tratando de um país como o Brasil, onde o futebol é discursivamente incorporado à identidade nacional, torna-se necessário pensar, o quanto este ainda é, para as mulheres, um espaço não apenas a conquistar mas, sobretudo, a ressignificar alguns dos sentidos que a ele estão incorporados de forma a afirmar que esse espaço é também seu. Um espaço de sociabilidade e de exercício de liberdades”.
As teorias biologicistas que pretendem justificar as práticas femininas e masculinas
pretendem fixar relações de poder5. Relações essas que propiciam a dominação masculina, abarcando o crivo para a aceitação feminina neste espaço. Esse crivo denota a violência simbólica (BOURDIEU, 2003) sofrida pelas mulheres que tentam afirmar no futebol seu espaço. Exemplo disso são os comentários masculinos de que mulher não sabe discutir futebol, e que para terem algum status precisam fazer “comentários inteligentes” e saber/entender a regra do impedimento (CAMPOS & SILVA, 2009a). Então, as possibilidades permitidas e coibidas a cada gênero expressam uma política corporal latente, no sentido da construção de um corpo politizado – uma política incorporada – e socialmente modelado e naturalizado sob disposições percebidas como tendências naturais (BOURDIEU apud PACHECCO, 1998). No caso da educação física Souza & Altmann (1999) apontam que há um “emaranhado de exclusões”6 perceptíveis durante as aulas, uma vez que os meninos excluem as meninas, e também os meninos menos habilidosos, com os pretextos de serem mais fracos(as) e menos habilidosos(as). Entretanto, quando o futebol é tratado neste tempo-espaço para além do gesto motor, pode-se contribuir para a formação dos sujeitos e suas subjetivações enquanto o pertencimento e possibilidades para além dos muros das instituições onde ela está inserida. Esses sujeitos nesse momento podem entender o futebol enquanto possibilidade de lazer – do encontro, da festa, das redes de sociabilidade – para além das quatro linhas que delimitam o campo, assim conformando-se num espetáculo esportivo construído coletivamente e carregado de significações (CAMPOS & SILVA, 2009a). A integração das mulheres no futebol é um processo gradativo estando condicionado às suas histórias de vida. Aos professores cabe proporcionar a elas as vivências que em grande maioria dos casos foi-lhes negada durante sua vida. Porém, não queremos aqui passar a idéia de que as aulas de Educação Física darão conta, sozinhas, deste processo, tendo em vista que os contextos são tão diversos e projetam conformações distintas. Mas, levar em consideração as experiências dos/das alunos/as tem se mostrado fiel aos objetivos de superação das práticas segregacionistas de gênero. São necessárias atitudes que promovam ações críticas diante à inquietude e busca pelo conhecimento, problematizando as aulas para além do ensino das regras e habilidades técnicas e táticas vinculadas ao futebol, assim possibilitando aos/as alunos/as (re)significarem as práticas corporais, aqui por excelência as vinculadas ao universo futebolístico. Considerações finais
5 O poder deve ser concebido como uma estratégia, e a dominação por ele desencadeada não deve ser atribuída a uma “apropriação”, seus efeitos são fruto de disposições táticas exercidas (FOUCAULT apud SILVA: 2002, p. 25). 6 Esse emaranhado de exclusões ocorre devido a construção multifacetada dos sujeitos. Deve-se encaminhar a visão sob a ótica de gênero articulada com outras categorias como idade, força e habilidade.

A presença feminina no campo esportivo brasileiro (espaço público) aparece de forma mais consolidada a partir dos anos 20/30 apoiadas nos discursos médico-higiênicos que procuravam eleger práticas corporais “adequadas” as mulheres. Na década de 40 os paradigmas das décadas anteriores começam a ser quebrados apontando a ascensão da mulher em esportes ditos masculinos; sendo que somente nos anos 80 estas vão ter um maior acesso ao futebol, esporte ainda marcadamente masculinizado. A sociedade moderna marca a presença feminina no cenário público mesmo que a princípio sendo marcadamente cercadas de preconceitos.
O futebol é um fenômeno social que atende à construção da identidade nacional. E os sujeitos que participam dessa sociedade sofrem inculcações provindas desse fenômeno reforçadamente masculinizado. Porém, sendo o futebol um espaço de sociabilidade, o mesmo deveria ser estimulado tanto para mulheres como para homens, bem como ser proporcionadas condições de acesso pleno a esse espaço, as suas vivências e à sua prática.
Neste momento, fica evidenciado que as aulas de Educação Física podem contribuir para a reflexão a respeito dessa modalidade esportiva masculinizada. De forma que aponte novos enfoques e significados a esse fenômeno social de forma a exercitar a sua superação como esporte masculino. Entendemos ser necessário também ir para além das aulas de Educação Física, assim possibilitando a superação das relações de dominação homem/mulher, homem/homem. Pautando-se na educação como ferramenta para essa superação como aponta Freire (1996), como um novo leque de possibilidades na construção das identidades nos processos de subjetivação dos sujeitos.
A partir da percepção de como ocorre o acesso ao universo futebolístico pelas mulheres entende-se ser necessário alçar estudos que apontem elementos pedagógicos possíveis e cabíveis de mediação do processo de aprendizado e formação de mulheres e homens capazes de lidarem com as diferenças de forma que essas não se configurem em desigualdades de acesso, condições e fruição da vida. Desta forma, poder-se-á fomentar novos debates e estudos nesta perspectiva que podem sugerir novas orientações públicas concernentes ao direito de pleno acesso de mulheres e homens ao universo futebolístico. Referências BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. CAMPOS, Priscila A. F.; SILVA, Silvio R. Mulheres e o lazer esportivo nos campos de futebol. In: Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e Congresso Internacional de Ciências do Esporte Salvador, 16 e 3. Salvador, 20 a 25 de setembro de 2009. Anais... Salvador: CBCE, 2009a Disponível em: <http://www.rbceonline.org.br/congressos/index.php/CONBRACE/XVI/paper/viewFile/689/744>. Acesso em 12 de out. de 2010. CAMPOS, Priscila A. F.; SILVA, Silvio R. Mulher torcedora: apontamentos sócio-históricos da presença feminina nos estádios de futebol em belo horizonte/MG. In: Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais: culturas, leituras e representações, 2. João Pessoa, 28 a 30 de outubro de 2009. Anais... João Pessoa: Editora Universitária UFPB, 2009b. Disponível em: <http://gefut.files.wordpress.com/2010/04/6-mulher-torcedora-apontamentos-socio-historicos-da-presenca-feminina-nos-estadios-de-futebol-em-belo-horizontemg.pdf>. Acesso em 12 de out. de 2010.

FARIAS, Cláudia M. Projeção e emancipação das mulheres brasileiras no esporte, 1932-1968. In: Encontro de História Anpuh-Rio: Identidades, 13. Rio de Janeiro, 4 a 7 de agosto de 2008. Anais... Rio de Janeiro: Anpuh-Rio, 2008. Disponível em: <http://www.encontro2008.rj.anpuh.org/resources/content/anais/1214931563_ARQUIVO_Texto2ANPUH-RJ2008.pdf >. Acesso em 12 de out. de 2010. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. GOELLNER, Silvana V. Bela, maternal e feminina: imagens da mulher na revista educação physica. Ijuí: Ed. Unijuí, 2003. GOELLNER, Silvana V. Mulher e esporte no brasil: entre incentivos e interdições elas fazem história. In: Revista Pensar a Prática 8/1: 85-100, Jan./Jun. 2005a. Disponível em: <http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/article/view/106/101>. Acesso em 24 de mar. de 2011. GOELLNER, Silvana V. Mulheres e futebol no Brasil: entre sombras e visibilidades. In: Rev. bras. Educ. Fís. Esp., São Paulo, v.19, n.2, p.143-51, abr./jun. 2005b. Disponível em: <http://www.revistasusp.sibi.usp.br/pdf/rbefe/v19n2/v19n2a05.pdf>. Acesso em 12 de out. de 2010. MOTT, Maria L. B. A mulher na luta contra a escravidão. São Paulo: Contexto, 1988. PACHECO, Ana J. P. Educação física feminina: uma abordagem de gênero sobre as décadas de 1930 e 1940. In: Revista da educação física/UEM 9(1):45-52, 1998. SILVA, Erineusa M. As relações de gênero no magistério: a imagem da feminização. Vitória: Edufes, 2002. SOUSA, Eustáquia S; ALTMANN, Helena. Meninos e meninas: Expectativas corporais e implicações na educação física escolar. Cadernos Cedes, ano XIX, nº 48, Agosto/1999. SWAIN, Tania N. Corpos construídos, superfícies de significação, processos de subjetivação. S.d. Disponível em: http://www.intervencoesfeministas.mpbnet.com.br/textos/tania-corpos_construidos.pdf Acesso em: 04 Nov. de 2010.