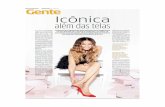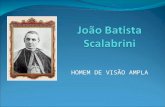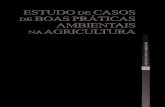AVALIAÇÃO DIANGÓSTICA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO ... · de uma avaliação diagnóstica de...
Transcript of AVALIAÇÃO DIANGÓSTICA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO ... · de uma avaliação diagnóstica de...
27
SO
UZ
A, C
arla
Thaí
s M
enez
es d
e; C
AR
NE
IRO
, E
llis
Morg
ana
Gunes
; S
ILV
A, F
ábio
Alv
es d
a. A
VA
LIA
ÇÃ
O D
IAG
NÓ
ST
ICA
NO
CO
NT
EX
TO
DA
ED
UC
AÇ
ÃO
IN
FA
NT
IL:
CO
NT
RIB
UIÇ
ÕE
S P
AR
A A
FO
RM
AÇ
ÃO
DO
CE
NT
E.
RE
VIS
TA
DIS
CE
NT
IS. 5
ª
ED
IÇÃ
O. D
EZ
EM
BR
O 2
016.
AVALIAÇÃO DIANGÓSTICA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL:
CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DOCENTE
Carla Thaís Menezes de Souza1
Ellis Morgana Gunes Carneiro2
Fábio Alves da Silva3
Joelma Gomes de Oliveira Bispo4
RESUMO
O presente artigo relata a experiência de bolsistas (ID) do subprojeto PIBID/UNEB do Campus
XVI – município de Irecê/Bahia, graduandos do 3º semestre da licenciatura em Pedagogia.
Traz como relato de experiência suas impressões e práticas na sala de aula a partir da vivência
de uma avaliação diagnóstica de leitura e escrita. Para isso, dialogamos com as ideias de
Baptista referindo-se às exigências frente aos professores, Moreira e Vasconcelos a respeito da
não valorização da infância; além de Alarcão com o sentido de reflexividade. Desta forma,
trazemos uma perspectiva descritiva e reflexiva sobre a avaliação diagnóstica numa turma de
Grupo 5 da Educação Infantil que requereu momentos de estudos e reflexões sobre estratégias
e instrumentos que foram utilizados por nós e mediados pela bolsista supervisora do PIBID,
sendo este tipo de avaliação lúdica e flexível levando em consideração vários aspectos da
infância. O objetivo de tal ação foi nos inserir numa realidade própria de um professor que se
dispõe a compreender os níveis de leitura e escrita dos alunos para elaborar processos de
intervenção necessários para o avanço do aprendizado significativo.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil. Leitura e escrita. Avaliação diagnóstica.
INTRODUÇÃO
A criança se expressa de várias maneiras, por diversas formas, seja pelo seu
corpo, pela oralidade, na exploração de diversos materiais e com a linguagem escrita
não é diferente. Não raro, ouvimos alguma criança explicar, “estou brincando de ler”,
“estou brincando de escrever”. Ela explora o que encontra no mundo, ora, o que se vê
muito frequentemente são símbolos que convencionalmente chamamos de letras, nada
mais natural que a curiosidade infantil fique aguçada para compreender os sentidos e
significados referentes à escrita.
1 Graduanda em Pedagogia e bolsista ID do PIBID na Universidade do Estado da Bahia, campus XVI,
Irecê. 2 Graduanda em Pedagogia e bolsista ID do PIBID na Universidade do Estado da Bahia, campus XVI,
Irecê. 3Graduando em Pedagogia e bolsista ID do PIBID na Universidade do Estado da Bahia, campus XVI,
Irecê. 4Mestra em Educação pela Universidade Estadual da Bahia (UNEB), Professora Auxiliar da UNEB,
Coordenadora de área do PIBID/UNEB Campus XVI, trabalha com os componentes curriculares:
Educação e Infância e Pesquisa e Estágio. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em
Educação Infantil e Alfabetização.
28
SO
UZ
A, C
arla
Thaí
s M
enez
es d
e; C
AR
NE
IRO
, E
llis
Morg
ana
Gunes
; S
ILV
A, F
ábio
Alv
es d
a. A
VA
LIA
ÇÃ
O D
IAG
NÓ
ST
ICA
NO
CO
NT
EX
TO
DA
ED
UC
AÇ
ÃO
IN
FA
NT
IL:
CO
NT
RIB
UIÇ
ÕE
S P
AR
A A
FO
RM
AÇ
ÃO
DO
CE
NT
E.
RE
VIS
TA
DIS
CE
NT
IS. 5
ª
ED
IÇÃ
O. D
EZ
EM
BR
O 2
016.
Mas por que tomar a escrita como objeto de aprendizagem na Educação
Infantil? Para responder a esta pergunta, precisamos entender os objetivos deste
seguimento. As Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil (BRASIL, 2010)
estabelece objetivos da proposta pedagógica abordando que
deve ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de
apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e
aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à
proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à
brincadeira, à convivência, à interação com outras crianças. (BRASIL,
2010, p. 18)
O contato com o mundo da escrita está para além da escola, mas é dentro do
espaço escolar que esta forma de linguagem pode ser ampliada a partir de experiências
em que as crianças “vivenciem, nessa etapa da Educação Básica, práticas de leitura e
escrita, sem que isso signifique desconsiderar suas necessidades e interesses. (...) ao
lado das outras tantas linguagens (plástica, corporal, musical, de faz de conta).”
(BRANDÃO, LEAL, 2011, p. 13) Tê-la como objeto de aprendizagem se faz
necessário, pois “a escrita é importante na escola porque é importante fora da escola”
(FERREIRO, 1992), ela tem uma função social, há um porquê, para que e a quem se
destina.
Em relação a isso, pensou-se, com base no subprojeto do PIBID/UNEB, elaborar
uma experiência de avaliação diagnóstica tendo como objeto de investigação os níveis
de leitura e escrita das crianças de Grupo 5. A elaboração de instrumentos e estratégias
foi feita de forma coletiva, entre os pibidianos e a professora supervisora, visando
garantir a compreensão do tempo da criança e principalmente de suas hipóteses.
A avaliação na educação infantil se configura como um processo de
compreensão do “desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou
classificação” visando a garantia da “continuidade dos processos de aprendizagens”
(BRASIL, 2010, p. 29). Entende-se, dessa forma, que a percepção do desenvolver-se
das diversas linguagens é mais importante que mensuração.
Para nós, foi uma realidade nova por ainda não termos experienciado no espaço
acadêmico discussões sobre diagnose de leitura e escrita, portanto salientamos que
através de estudos e discussões compreendemos em teoria o “como se faz” percebendo
29
SO
UZ
A, C
arla
Thaí
s M
enez
es d
e; C
AR
NE
IRO
, E
llis
Morg
ana
Gunes
; S
ILV
A, F
ábio
Alv
es d
a. A
VA
LIA
ÇÃ
O D
IAG
NÓ
ST
ICA
NO
CO
NT
EX
TO
DA
ED
UC
AÇ
ÃO
IN
FA
NT
IL:
CO
NT
RIB
UIÇ
ÕE
S P
AR
A A
FO
RM
AÇ
ÃO
DO
CE
NT
E.
RE
VIS
TA
DIS
CE
NT
IS. 5
ª
ED
IÇÃ
O. D
EZ
EM
BR
O 2
016.
que com o arcabouço teórico, juntamente com as percepções que apareceram no
momento, foi possível subsidiar a prática em si. Atos reflexivos de nossa parte foram
necessários para o êxito do proposto, como também atos de mesma natureza pós-
diagnóstico, para analisarmos os dados a partir do nosso olhar.
Percebe-se que geralmente fazemos planos antes de tomar alguma decisão ou
fazer algo. E é por isso que o planejamento está presente em todos os momentos da
vida, seja ele profissional ou pessoal. Na educação não poderia ser diferente, é notória a
relevância do planejamento em tudo que fazemos porque parte do pensar o que se fará
na prática.
Portanto, fez-se necessário a busca pela compreensão da avaliação diagnóstica
tendo em vista as intervenções que posteriormente seriam utilizadas. Partindo desse
pressuposto, foi imprescindível que planejássemos de forma antecipatória os
instrumentos a serem empregados para coleta de informações importantes durante esse
processo e dos conhecimentos acerca de cada criança, pois sua coleta deve ser de forma
livre, sem intervenções, este foi um dos primeiros desafios para descoberta das
hipóteses de cada aluno.
Para isso, realizamos algumas etapas que nos inquietaram a retornarmos os
estudos que foram feitos desde o início das atividades no subprojeto. Consultamos
referenciais e obras que pudessem subsidiar a construção dos conhecimentos prévios a
respeito de diagnóstico e intervenção. Em seguida, o próprio diagnóstico com suas
atividades mediadas tanto pelos bolsistas quanto pela supervisora desvelou o necessário
para que pensássemos sobre as intervenções necessárias.
PENSANDO A INFÂNCIA
O ponto de partida para a mudança dos nossos rumos na vida acadêmica e,
portanto da nossa carreira como futuros (as) docentes teve sua ascensão quando
adentramos ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) Campus XVI – Irecê. O programa é
financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), ao passo que este se torna, sem dúvidas, muito significativo para nós,
graduandos em pedagogia, além de outras licenciaturas, e também para as escolas
públicas da Rede Municipal que são parceiras deste.
30
SO
UZ
A, C
arla
Thaí
s M
enez
es d
e; C
AR
NE
IRO
, E
llis
Morg
ana
Gunes
; S
ILV
A, F
ábio
Alv
es d
a. A
VA
LIA
ÇÃ
O D
IAG
NÓ
ST
ICA
NO
CO
NT
EX
TO
DA
ED
UC
AÇ
ÃO
IN
FA
NT
IL:
CO
NT
RIB
UIÇ
ÕE
S P
AR
A A
FO
RM
AÇ
ÃO
DO
CE
NT
E.
RE
VIS
TA
DIS
CE
NT
IS. 5
ª
ED
IÇÃ
O. D
EZ
EM
BR
O 2
016.
O PIBID tem por objetivo o incentivo à formação docente, a valorização do
magistério, a inserção dos bolsistas nas escolas públicas, a mobilização de professores
supervisores como co-formadores dos futuros docentes na perspectiva da relação teoria
e prática, o que para nós tornou-se uma abertura para novos horizontes, já que não é
segredo que nós licenciandos (as) ainda perdemos muito em termos acadêmicos os
benefícios de desde cedo vivenciar no ambiente escolar, e mais especificamente, na sala
de aula, aquilo que aprendemos dentro da academia.
Neste sentido, o PIBID/UNEB por meio do Subprojeto: Produção de estratégias
pedagógicas para o desenvolvimento de leitura e escrita em crianças da Educação
Infantil e primeiro ciclo do Ensino Fundamental do Curso de Pedagogia, vivenciado no
período de 2015-2016, permitiu-nos estar integrados à rotina da escola, possibilitando-
nos aprendizagens didáticas e pedagógicas que são fundamentais para a nossa carreira
docente, além de proporcionar-nos o desenvolvimento de novas práticas, novos saberes,
fortalecimento tanto da nossa formação como contribuindo também para com a escola
onde estamos inseridos.
Agora, já dentro da escola, fez-se necessário, compreender o que é a educação
infantil, o que é a infância e quem são os sujeitos com os quais lidamos, neste caso,
crianças do Grupo Escolar 5 (cinco). Para além disso, o maior desafio estava por vir:
compreender o que o subprojeto nos demandava e fazer disso uma condição necessária
não somente a novos estudos mas, agir pedagogicamente, de forma multidisciplinar sem
ferir a identidade característica desses sujeitos a partir de uma perspectiva de infância.
É importante saber que Educação Infantil e infância não são respectivamente a
mesma coisa. A Educação Infantil é uma etapa da educação básica que vai da creche à
pré-escola, enquanto que a infância não; esta pode durar até os 12 anos, quando a
criança passa a ser adolescente. No entanto, a infância pode e deve estar contida na
educação infantil, bem como deveria ser vivenciada e valorizada no Ensino
Fundamental.
Contraditoriamente, nem sempre a infância e a criança são foco da Educação
Infantil, contudo, esta deve estar preocupada como crescimento global da criança
abrangendo seus aspectos físicos, cognitivos e afetivos (DIDONET, 1991). Esta
preocupação possibilita a promoção do seu desenvolvimento em todos os seus aspectos,
porém há uma dependência de fatores como, espaço físico adequado que propicie o
estímulo, além de educadores qualificados e práticas pedagógicas inovadoras. Eis a
necessidade de um maior investimento na Educação Infantil, oportunizando que a
31
SO
UZ
A, C
arla
Thaí
s M
enez
es d
e; C
AR
NE
IRO
, E
llis
Morg
ana
Gunes
; S
ILV
A, F
ábio
Alv
es d
a. A
VA
LIA
ÇÃ
O D
IAG
NÓ
ST
ICA
NO
CO
NT
EX
TO
DA
ED
UC
AÇ
ÃO
IN
FA
NT
IL:
CO
NT
RIB
UIÇ
ÕE
S P
AR
A A
FO
RM
AÇ
ÃO
DO
CE
NT
E.
RE
VIS
TA
DIS
CE
NT
IS. 5
ª
ED
IÇÃ
O. D
EZ
EM
BR
O 2
016.
criança vivencie experiências positivas, capazes de, com elas, construírem uma
identidade que lhes pertence.
A partir do pensar sobre a Educação Infantil e por meio do Subprojeto/PIBID,
estando inseridos em uma escola da Rede Municipal de Irecê, a Escola Irene Garofani,
comprometemos-nos a imbricarmos-nos no contexto não somente desse segmento, mas
também do Grupo Educacional 5 ao qual atuamos. Neste sentido buscamos
compreender os sujeitos desse grupo a partir da sua idade, das metas e estratégias que a
escola se propõe a realizar. A referida escola atende a crianças dos grupos 3, 4 e 5, com
idade de 3 a 6 anos. Diante disso a proposta curricular dela está
[...] pautada na dimensão relativa a esta etapa da vida, pois, a equipe
desta instituição educacional entende que o universo infantil constitui-
se dinâmico na interação da criança com o meio externo, a qual
permeia a aquisição de conceitos culturais, sociais e educacionais, que
conjuntamente irão contribuir para a constituição do indivíduo.
(IRECÊ, 014-2015, p. 20)
Foi por conta disso que também nos comprometemos a pensarmos em
procedimentos necessários para desenvolver propostas de intervenção que demandaram
estudos a serem refletidos de antemão a partir das características da turma e de cada
sujeito em particular, sua história, seus avanços, suas ações e seu pensar. Uma proposta
de avaliação diagnóstica para a Educação Infantil deve, portanto ser lúdica e flexível
sem deixar de levar em conta a fase de desenvolvimento dessa criança impulsionando-a
a avançar, partindo dos seus conhecimentos específicos e globalizando-os com as mais
diversas possibilidades do seu mundo e do seu cotidiano.
Certamente essa fase se constitui de uma diversidade de imagens sociais a respeito
dos sujeitos aos quais nos referimos: as crianças. No que concerne à infância, esta fase
tem início no nascimento da vida humana e término pouco antes da adolescência, ou
seja, quando a criança entra na fase de puberdade. Considera-se criança, a pessoa até
doze anos de idade incompletos (BRASIL, 1990), isso nos faz refletir que apesar da
criança ser vista como um ser biológico e notada pelos seus aspectos etários, esta não é
percebida pelos seus aspectos afetivos, culturais, cognitivos ou como ser ontológico.
Neste cenário muitas vezes
32
SO
UZ
A, C
arla
Thaí
s M
enez
es d
e; C
AR
NE
IRO
, E
llis
Morg
ana
Gunes
; S
ILV
A, F
ábio
Alv
es d
a. A
VA
LIA
ÇÃ
O D
IAG
NÓ
ST
ICA
NO
CO
NT
EX
TO
DA
ED
UC
AÇ
ÃO
IN
FA
NT
IL:
CO
NT
RIB
UIÇ
ÕE
S P
AR
A A
FO
RM
AÇ
ÃO
DO
CE
NT
E.
RE
VIS
TA
DIS
CE
NT
IS. 5
ª
ED
IÇÃ
O. D
EZ
EM
BR
O 2
016.
[...] a escola tornou-se uma instituição fundamental na sociedade, quando a
infância passou a ser vista como fase dotada de diferença, a ser
institucionalizada, separada do restante da sociedade e submetida a um regime
disciplinar cada vez mais rigoroso. (Moreira e Vasconcelos, 2003, p.171)
Neste sentido, Moreira e Vasconcelos fazem uma crítica quanto a algumas escolas
que negam a infância por acharem a brincadeira, o movimento e a imaginação
prejudiciais à educação, como se estes não fizessem parte do educar, ou como se fosse
melhor retirar ou bloquear estas características nessa fase escolar. A infância acaba por
encontrar limitações até mesmo na cultura dentro do espaço escolar.
Temos na escola um cenário muitas vezes contundente para a infância, quando
analisamos que a educação infantil ainda é um espaço necessitado, mas onde predomina
a fase da infância, nos deparamos com uma perda maior quando as crianças entram no
ensino fundamental, em que as características próprias dessa fase começam a entrar em
colapso.
Para tanto é importante saber que no processo interventivo devem-se promover as
interações, posto isso as crianças da Educação Infantil podem ampliar ainda mais suas
aprendizagens. Quanto às interações Vygotsky vem trazer informações importantes, a
saber, que “cabe, portanto, ao professor não somente permitir que elas ocorram, como
também promovê-las no cotidiano das salas de aula”. (VYGOTSKY apud REGO, 1995,
p.110).
As interações sociais (entre alunos e professores) no contexto escolar passam a ser
entendidas como condição necessária para a produção de conhecimentos por parte dos alunos,
particularmente aquelas que permitem o diálogo, a cooperação e troca de informações mútuas, o
confronto de pontos de vista divergentes, que implicam na divisão de tarefas onde cada um tem
uma responsabilidade que somadas, resultarão no alcance de um objeto comum.
A criança é um ser social, atuante, com autonomia, que faz do aprendizado e da construção
de conhecimentos um experimento. Deve ser ouvida, ter direito a voz e vez no mundo adulto, e
não é diferente na sala de aula, pois ela se relaciona com o ambiente, as pessoas e os fatos de
forma inovadora, o que possibilita ao professor fazer novas descobertas e atuar como mediador,
mergulhando no seu universo e construindo uma prática cada vez mais integrada à infância.
É na sala, espaço das interações entre o professor e as crianças que o docente tem máxima
abertura para a prática pedagógica interventiva. Hadji (2001) diz que a avaliação instituída exige
um dispositivo mais ou menos elaborado, esse dispositivo, ou mais de um deles, permitem que o
33
SO
UZ
A, C
arla
Thaí
s M
enez
es d
e; C
AR
NE
IRO
, E
llis
Morg
ana
Gunes
; S
ILV
A, F
ábio
Alv
es d
a. A
VA
LIA
ÇÃ
O D
IAG
NÓ
ST
ICA
NO
CO
NT
EX
TO
DA
ED
UC
AÇ
ÃO
IN
FA
NT
IL:
CO
NT
RIB
UIÇ
ÕE
S P
AR
A A
FO
RM
AÇ
ÃO
DO
CE
NT
E.
RE
VIS
TA
DIS
CE
NT
IS. 5
ª
ED
IÇÃ
O. D
EZ
EM
BR
O 2
016.
(a) professor (a) investigador (a) responda ao questionamento que move o diagnóstico e intensifica
a intervenção, com efeito, não há avaliação sem pergunta feita à realidade. Construir o objeto de
avaliação é dizer, antes de mais nada, sobre o que se dá o questionamento, e sobre o que se deverá
coletar informações. Designar, portanto, o saber, o savoir-faire, o saber-ser; a competência, a
capacidade, a habilidade, etc., sobre o que se questiona (HADJI, 2001, p. 79).
O cuidar para com a criança, visando seu desenvolvimento pleno, pode ser
manifestado na forma como o professor organiza o trabalho pedagógico, planeja uma
aula, pensa instrumentos a serem utilizados em sala, reflete a respeito do espaço para a
brincadeira ou intervém, enfim, como o tempo e a rotina na Educação Infantil podem
atuar a favor da criança e do professor.
LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: RELATANDO AS
ETAPAS DO DIAGNÓSTICO
É notória a relevância da leitura e da escrita na educação infantil e importante
que as crianças desde cedo estejam inseridas em práticas de leitura e escrita. Porém
ainda há um desafio para os professores (as), como aborda Baptista (2010), que se
sentem pressionados (as) pelas comparações e exigências feitas pelas famílias, pelos
gestores, pelos políticos ou pelos profissionais que atuam em etapas educacionais
posteriores. Eles (as) se deparam com a ausência de referenciais teóricos e práticos que
os (as) ajudem a compreender melhor a relação entre a criança desde a creche à pré-
escola, a prática pedagógica e o processo de apropriação da linguagem escrita. No que
se refere à leitura, entendemos que seja
[...] um processo de compreensão de expressões formais e simbólicas,
não importando por meio de que linguagem. Assim, o ato de ler se
refere tanto a algo escrito quanto a outros tipos de expressão do fazer
humano, caracterizando-se também como acontecimento histórico e
estabelecendo uma relação igualmente histórica entre o leitor e o que é
lido. (MARTINS, 1982. p. 31)
Em conformidade com as ideias de Martins (1982), Brandão e Leal (2011)
salientam que é essencial planejar situações em que as crianças vivenciem práticas de
leitura e escrita, sem que isso signifique desconsiderar suas necessidades e interesses.
Assim, defendemos o espaço da linguagem escrita, ao lado das outras tantas linguagens
34
SO
UZ
A, C
arla
Thaí
s M
enez
es d
e; C
AR
NE
IRO
, E
llis
Morg
ana
Gunes
; S
ILV
A, F
ábio
Alv
es d
a. A
VA
LIA
ÇÃ
O D
IAG
NÓ
ST
ICA
NO
CO
NT
EX
TO
DA
ED
UC
AÇ
ÃO
IN
FA
NT
IL:
CO
NT
RIB
UIÇ
ÕE
S P
AR
A A
FO
RM
AÇ
ÃO
DO
CE
NT
E.
RE
VIS
TA
DIS
CE
NT
IS. 5
ª
ED
IÇÃ
O. D
EZ
EM
BR
O 2
016.
(plástica, corporal, musical, de faz de conta, etc.) em que os meninos e meninas possam
se expressar e se desenvolver.
É importante, também, considerar que o trabalho com a leitura e a
escrita na educação infantil deve estar comprometido com o direito de
a criança expandir seu conhecimento. Para que isso ocorra, a prática
pedagógica deve promover situações significativas em relação à
cultura letrada e à cultura infantil. Em suma, o trabalho com a
linguagem escrita na educação infantil deve realizar-se por meio de
estratégias de aprendizagem capazes de respeitar as características da
infância, considerando os significados que a linguagem escrita adquire
para os sujeitos que vivenciam essa fase da vida. (BAPTISTA, 2010,
p.4)
A partir do diagnóstico achamos pertinente apresentar às crianças diversas
tipologias textuais encontradas no cotidiano, por isso utilizamos embalagens de
produtos, livros, revistas, calendários, bulas de remédios, etc., para compreender o
conhecimento dos alunos referente aos itens e sua relação com o mundo, pois isto era
necessário para entendermos as ações destas crianças, suas interpretações e como elas se
relacionam com a leitura e a escrita.
Várias crianças reconheceram grande parte dos itens, o que nos fez concluir a
inserção da importância do valor social que a leitura e a escrita têm nas propostas
realizadas em sala. Para subsidiar o restante da sondagem, lemos o livro de Ruth Rocha
(1998) “O menino que aprendeu a ver”, leitura que as crianças gostaram e puderam
explicar nas suas impressões particulares sobre seu conteúdo reflexivo a respeito da
importância social do ato de ler. Retiramos um trecho do livro para o reconhecimento da
palavra “PAPAI” e percebemos que algumas crianças tiveram facilidade em apontar
para a palavra e explicar suas hipóteses. Em se tratando das estratégias utilizadas pelas
mesmas, notamos que elas variavam para cada aluno como está exposto abaixo:
35
SO
UZ
A, C
arla
Thaí
s M
enez
es d
e; C
AR
NE
IRO
, E
llis
Morg
ana
Gunes
; S
ILV
A, F
ábio
Alv
es d
a. A
VA
LIA
ÇÃ
O D
IAG
NÓ
ST
ICA
NO
CO
NT
EX
TO
DA
ED
UC
AÇ
ÃO
IN
FA
NT
IL:
CO
NT
RIB
UIÇ
ÕE
S P
AR
A A
FO
RM
AÇ
ÃO
DO
CE
NT
E.
RE
VIS
TA
DIS
CE
NT
IS. 5
ª
ED
IÇÃ
O. D
EZ
EM
BR
O 2
016.
Imagem 1: Tabela estruturada pelos bolsistas IDs durante o processo para a sondagem das hipóteses de leitura das crianças do grupo 5.
Na sequência da sondagem oferecemos uma folha que continha o local para
escrever o nome próprio, imagens (professora, escola, jornal e mãe) para que as crianças
pudessem escrever suas representações gráficas de forma livre e a escrita de uma frase
dita por nós: “a escola é bonita”. A intencionalidade desta etapa foi identificar o nível de
escrita das crianças, como pode ser observado abaixo:
36
SO
UZ
A, C
arla
Thaí
s M
enez
es d
e; C
AR
NE
IRO
, E
llis
Morg
ana
Gunes
; S
ILV
A, F
ábio
Alv
es d
a. A
VA
LIA
ÇÃ
O D
IAG
NÓ
ST
ICA
NO
CO
NT
EX
TO
DA
ED
UC
AÇ
ÃO
IN
FA
NT
IL:
CO
NT
RIB
UIÇ
ÕE
S P
AR
A A
FO
RM
AÇ
ÃO
DO
CE
NT
E.
RE
VIS
TA
DIS
CE
NT
IS. 5
ª
ED
IÇÃ
O. D
EZ
EM
BR
O 2
016.
Imagem 2: Instrumento elaborado pelos bolsistas IDs durante o processo para a sondagem dos níveis/hipóteses de escrita das crianças do grupo 5.
Nesse sentido, em relação à escrita infantil salientamos que
crianças que ainda não dominam o sistema de escrita alfabética
brincam imitando a escrita, criando histórias a partir de textos verbais
e visuais. A criança reelabora, reconstrói, reformula elementos
constitutivos da escrita, lançando mão da sua forma peculiar de pensar
e das suas referências muito próprias sobre o mundo. Não é preciso
que a criança compreenda as relações entre fonemas e grafemas para
construir sentidos ao escutar a leitura de uma história ou ao elaborar
narrativas a partir de um livro de imagens, por exemplo. As crianças
formulam hipóteses, criam histórias, inventam sentidos atestando,
assim, o seu protagonismo em relação ao processo de construção de
conhecimentos sobre a linguagem escrita. (BAPTISTA, 2010, p. 3)
Então a criança não codifica o que se pede, mas, busca adivinhar o que não
consegue decifrar. Algumas ficaram receosas em escrever livremente, foi preciso uma
conversa descontraída para encorajá-las e fazê-las sentir-se à vontade para escrever sem
medo da forma como elas sabiam, assim também para sanar-lhes o receio, isso porque
notamos que o medo delas era de errar, entretanto outras já se sentiam mais a vontade
com a escrita.
Também utilizamos o recurso do alfabeto móvel para analisar o reconhecimento
das letras, pois neste passo da sondagem percebemos já uma certa confortabilidade por
parte das crianças que não se preocupavam se estavam errando, tendo liberdade para
apontar para uma letra específica e falar o nome dela. Antes deste momento, pensamos
que as crianças iriam procurar primeiramente as vogais ou as letras de seus nomes,
porém não foi o que se confirmou, elas mesclavam entre consoantes e vogais, algumas
analisavam com mais cuidado algumas letras, outras arriscavam a falar o nome mesmo
não tendo tanta certeza.
O OLHAR DOS BOLSISTAS IDs NESTE CONTEXTO
A busca pelo saber-fazer no processo diagnóstico teve que primeiramente
perpassar pelo estudo teórico e pela prática reflexiva. Para tanto, foi preciso voltar a
estudos de documentos e diretrizes para a educação infantil, como também de obras que
pudessem subsidiar a construção dos instrumentos para compreendermos a
intencionalidade do diagnóstico e intervenção.
37
SO
UZ
A, C
arla
Thaí
s M
enez
es d
e; C
AR
NE
IRO
, E
llis
Morg
ana
Gunes
; S
ILV
A, F
ábio
Alv
es d
a. A
VA
LIA
ÇÃ
O D
IAG
NÓ
ST
ICA
NO
CO
NT
EX
TO
DA
ED
UC
AÇ
ÃO
IN
FA
NT
IL:
CO
NT
RIB
UIÇ
ÕE
S P
AR
A A
FO
RM
AÇ
ÃO
DO
CE
NT
E.
RE
VIS
TA
DIS
CE
NT
IS. 5
ª
ED
IÇÃ
O. D
EZ
EM
BR
O 2
016.
A etapa de elaboração e execução da avaliação diagnóstica foi fundamental para
nós enquanto bolsistas de Iniciação à Docência (ID) para que a víssemos como uma
ferramenta necessária em que o professor pode descobrir os conhecimentos prévios dos
alunos e como resolver situações-problema. Portanto, o diagnóstico surge com a
necessidade de conhecer o nível (de leitura e de escrita) especificamente nesse caso em
que a turma se encontra, por meio do mapeamento de estratégias que podem ser
utilizadas no Grupo 5, havendo ainda a possibilidade desse levantamento de
informações.
É necessário ressaltar que a etapa diagnóstica é um modo de avaliação e,
portanto, compreendemos neste contexto que avaliar não consiste simplesmente em
medir o desempenho de um (a) aluno (a), mas em dizer em que medida ele é adequado,
ou não, ao desempenho que se podia esperar dele (a) (HADJI, 2001). O professor
convive diariamente com a criança e começa a perceber aprendizagens oriundas do
ambiente familiar, outras ainda das suas relações extraescolares e por fim, das suas
conquistas e descobertas em sala de aula, tudo isso deve ser respeitado e valorizado,
podendo assim posteriormente ser potencializado a partir do olhar que se tem após um
diagnóstico.
Na realização dessa etapa houve o mapeamento das atividades que foram
utilizadas no cotidiano da sala de aula e os (as) bolsistas IDs participaram de forma
ativa do processo, sendo orientados pela professora regente e bolsista supervisora do
PIBID. Assim sendo, cada um pôde juntamente com a supervisora, planejar aulas com
atividades que além de agregarem novos conhecimentos acerca das necessidades de
cada aluno pudessem aliar isso ao que cada um traz em si.
Os instrumentos elencados para elucidar as estratégias de escrita e leitura das
crianças foram planejados para mostrar, na visão de professores, como se iniciar o
processo de alfabetização sem antecipar o ensino fundamental entendendo que a criança
pensa, reflete, raciocina, erra para poder acertar, estabelece relações, faz deduções ainda
que nem sempre corretas, e como tais instrumentos deve levá-la a pensar como é que se
escreve uma letra para a construção de uma palavra a partir de cada sílaba.
Todo o processo diagnóstico girou em torno de questionamentos a respeito da
evolução da classe como um todo e de cada criança em particular. Além disso, cada
pibidiano (a) ficou responsável por um grupo fixo de crianças para poder colocar em
prática as ações que foram pensadas. Por ter sido um primeiro contato com essa
38
SO
UZ
A, C
arla
Thaí
s M
enez
es d
e; C
AR
NE
IRO
, E
llis
Morg
ana
Gunes
; S
ILV
A, F
ábio
Alv
es d
a. A
VA
LIA
ÇÃ
O D
IAG
NÓ
ST
ICA
NO
CO
NT
EX
TO
DA
ED
UC
AÇ
ÃO
IN
FA
NT
IL:
CO
NT
RIB
UIÇ
ÕE
S P
AR
A A
FO
RM
AÇ
ÃO
DO
CE
NT
E.
RE
VIS
TA
DIS
CE
NT
IS. 5
ª
ED
IÇÃ
O. D
EZ
EM
BR
O 2
016.
determinada experiência, um olhar diferenciado se fez presente para nós bolsistas em
relação a cada criança. Algumas ficaram mais à vontade logo no primeiro momento
respondendo de forma segura e pouco receosa ao explicar sobre suas afirmações. Já
outras crianças se mostraram tímidas e pouco à vontade, e foi nesse momento que
percebemos a importância do respeito ao tempo da criança, para isso, foi tomada a
decisão de retornar a etapa diagnóstica numa outra circunstância, o que foi apropriado,
pois posteriormente a timidez deu lugar à segurança permitindo alcançar o objetivo
estabelecido.
É nesse cenário que notamos o quão propício é para a nossa formação docente
enquanto graduandos em pedagogia experiências como esta, a dinâmica de uma sala, de
um grupo de crianças e de uma criança em particular são diferentes, há temporalidades
no universo infantil que precisam ser respeitadas e compreendidas pelos profissionais da
educação. Nesse sentido Zabala fala sobre a formação do professor levando em conta o
procedimento diagnóstico e interventivo na escola e mais especificamente na sala de
aula. Ele diz que
o aperfeiçoamento da prática educativa é o objetivo de todo educador.
E se entende este aperfeiçoamento como meio para que todos os
alunos consigam o maior grau de competências, conforme suas
possibilidades reais. O alcance dos objetivos por parte de cada aluno é
um alvo que exige conhecer os resultados e os processos de
aprendizagem que os alunos seguem. E para melhorar a qualidade do
ensino é preciso conhecer e poder avaliar a intervenção pedagógica
dos professores, de forma que a ação avaliadora observe
simultaneamente os processos individuais e os grupais. (ZABALA, p.
200, 1998)
Dito isto, é importante ressaltar que, para que pudéssemos realizar estas
propostas, um caráter se valeu necessário desde o planejamento das estratégias e
instrumentos à execução: o ato reflexivo. A reflexividade “baseia-se na consciência da
capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não
como mero reprodutor de ideias e práticas que lhe são interiores.” (ALARCÃO, 2007,
p. 41). Ao pensarmos possibilidades de instrumentos a serem utilizados fomos
colocando em questão se eles dariam conta de nos fornecer os dados da melhor forma
39
SO
UZ
A, C
arla
Thaí
s M
enez
es d
e; C
AR
NE
IRO
, E
llis
Morg
ana
Gunes
; S
ILV
A, F
ábio
Alv
es d
a. A
VA
LIA
ÇÃ
O D
IAG
NÓ
ST
ICA
NO
CO
NT
EX
TO
DA
ED
UC
AÇ
ÃO
IN
FA
NT
IL:
CO
NT
RIB
UIÇ
ÕE
S P
AR
A A
FO
RM
AÇ
ÃO
DO
CE
NT
E.
RE
VIS
TA
DIS
CE
NT
IS. 5
ª
ED
IÇÃ
O. D
EZ
EM
BR
O 2
016.
possível, refletimos sobre as competências e habilidades que as crianças do grupo 5 têm
para que pudéssemos fazer escolhas corretas e coerentes.
O movimento da reflexividade exigiu de nós um esforço (benéfico) que nos
moveu a buscar meios e estudos nos proporcionando analisar as reações dos alunos face
às propostas e, quando algo se punha como obstáculo, pudemos encarar outros
percursos que nos dariam êxito naquele momento. Como afirma Alarcão (2007, p. 45)
“é preciso vencer inércias, é preciso vontade e persistência. É preciso fazer um esforço
grande para passar do nível meramente descritivo ou narrativo para o nível em que se
buscam interpretações articuladas e justificadas e sistematizações cognitivas”.
Esta experiência foi permeada de momentos de reflexão individual e coletiva
para que pudéssemos entender o porquê, o para que e o como desta etapa avaliativa com
as crianças, e claro, podemos dizer que por consequência, a reflexão do ser docente e
sua atuação neste seguimento da educação tornou-se presente a partir de propostas
pensadas de forma singular para a turma e de suas características.
Outra parte importante nesse percurso foi a socialização dos resultados obtidos
com a etapa diagnóstica feita pelos bolsistas (supervisora e IDs) na Universidade para
os outros bolsistas das escolas parceiras e coordenadoras de área. Foi um momento tido
por nós como necessário para promoção do diálogo e do crescimento comum entre os
envolvidos, permitindo a reflexão a partir de outros olhares, notando de uma maneira
diferente a realidade a partir do que foi socializado. Assim, surgiu a elaboração de uma
proposta de intervenção que suprisse as necessidades de cada grupo, de cada criança.
Essa elaboração em conjunto propicia a formação docente tanto da supervisora que se
abre a esse caminho quanto dos pibidianos (as), futuros professores, que aprendem a
elaborar estratégias interventivas a partir da realidade compreendida. É no diálogo que
práticas vão se configurando e sendo avaliadas como eficazes ou não, isso ajuda no
crescimento pessoal e grupal dos bolsistas e requer uma disposição a sermos flexíveis e
adaptáveis às ideias, levando em consideração a temporalidade infantil.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este relato de experiência nos é relevante visto que nasceu das nossas vivências
e supriu expectativas a respeito da Educação Infantil, bem como das vivências em sala
de aula aliando teoria e prática na construção da nossa carreira docente. Para tanto nos
40
SO
UZ
A, C
arla
Thaí
s M
enez
es d
e; C
AR
NE
IRO
, E
llis
Morg
ana
Gunes
; S
ILV
A, F
ábio
Alv
es d
a. A
VA
LIA
ÇÃ
O D
IAG
NÓ
ST
ICA
NO
CO
NT
EX
TO
DA
ED
UC
AÇ
ÃO
IN
FA
NT
IL:
CO
NT
RIB
UIÇ
ÕE
S P
AR
A A
FO
RM
AÇ
ÃO
DO
CE
NT
E.
RE
VIS
TA
DIS
CE
NT
IS. 5
ª
ED
IÇÃ
O. D
EZ
EM
BR
O 2
016.
foi necessário compreender melhor sobre esse seguimento, sobre infância e dos
processos avaliativos relacionados à linguagem escrita.
O processo de sistematização, reflexão e prática nos proporcionou uma
aprendizagem frutuosa que possibilita que nos avaliemos mutuamente e possamos
cooperar com o exercício da docência do (a) outro (a). A busca pelo conhecimento
sobre o conceito de avaliação e o ato em si de avaliar e pensar sobre o que descobrimos
tornou-se importante para uma melhor aproximação da lógica de se tornar um professor-
pesquisador.
Cada uma das etapas, desde o prognóstico até a escrita deste trabalho
colaborativo tem sido vínculo forte na construção de uma carreira docente sólida que se
configura a partir da experiência diagnóstica, perpassando pela ludicidade,
compreendendo aspectos importantes da infância e do grupo 5 ao qual nos
direcionamos, bem como da autoavaliação e da reflexão durante e depois do processo.
Além disso, notamos que as crianças reconheceram várias tipologias e letras,
sendo viabilizado por meio da ludicidade um diagnóstico mais flexível e prazeroso para
as crianças, fazendo que elas demonstrassem mais entusiasmo ao participarem do
processo. A partir dos instrumentos utilizados os níveis de leitura e escrita de cada
criança se tornaram evidentes, proporcionando-nos uma reflexão para uma posterior
prática interventiva.
Diante do que abordamos no presente texto, é necessário salientar que a
colaboração mútua durante todo o processo fez-se valer como quesito formativo de
nossa carreira docente, fazendo-nos compreender que o professor não realiza um
trabalho sozinho, mas, com parcerias. E nesse sentido, o propósito do PIBID
envolvendo a colaboração mútua entre professores em formação, professores da
educação básica (co-formadores) e professores universitários, contribui fortemente para
a constituição de comunidades de aprendizagens colaborativas, em que todos aprendem,
ensinam e refletem de forma decisiva para a constituição da identidade docente.
41
SO
UZ
A, C
arla
Thaí
s M
enez
es d
e; C
AR
NE
IRO
, E
llis
Morg
ana
Gunes
; S
ILV
A, F
ábio
Alv
es d
a. A
VA
LIA
ÇÃ
O D
IAG
NÓ
ST
ICA
NO
CO
NT
EX
TO
DA
ED
UC
AÇ
ÃO
IN
FA
NT
IL:
CO
NT
RIB
UIÇ
ÕE
S P
AR
A A
FO
RM
AÇ
ÃO
DO
CE
NT
E.
RE
VIS
TA
DIS
CE
NT
IS. 5
ª
ED
IÇÃ
O. D
EZ
EM
BR
O 2
016.
REFERÊNCIAS
ALARCÃO, Isabel. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. 5 ed. São Paulo,
Cortez. 2007.
ANGOTTI, Maristela, (Org.). Para que, e para quem e por quê. In:______./ Educação
Infantil./ Campinas: Alínea, 2006.
BAPTISTA, Mônica Correia. A linguagem escrita e o direito à educação na primeira
infância. Centro de Alfabetização Leitura e Escrita – CEAL. Faculdade de Educação
da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, 2010.
BRANDÃO, Ana Carolina Perrusi. LEAL, Telma Ferraz. Alfabetizar e letrar na
educação infantil: o que isso significa? In: Ler e escrever na Educação Infntil:
discutindo práticas pedagógicas. 2 ed. Belo Horizonte:Autêntica, 2011. p. 13-31.
BRASIL, estatuto da criança e do adolescente. Julho de 1990. Publicada no DOU de
16-7-1990. Legislação. Correlata, Índice Temático. Senado Federal. Brasília.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes
curriculares nacionais para a educação infantil. Brasília: MEC, SEB, 2010.
DIDONET, Vital. Educação infantil. Humanidades, Brasília, n, 43, 1991, p. 89-98.
HADJI,Charles. Avaliação desmistificada. Trad. Patrícia C. Ramos – Porto Alegre:
ARTMED. Editora, 2001.
IRECÊ. Projeto político pedagógico. Escola IreneGarofani, 2014-2015. Prefeitura
Municipal de Irecê/Ba.
MARTINS, Maria Helena. O que é leitura. São Paulo: ed. Brasiliense, 1982.
MOREIRA, E. M., VASCONCELLOS, K. E. L. Infância, infâncias: o ser criança em
espaços socialmente distintos. Serviço Social & Sociedade (São Paulo), ano 24, n.76,
p.165-80, nov. 2003.
REGO, T. C. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação.Petrópolis, Rio
de Janeiro: Vozes, 1995.
ROCHA, Ruth. O menino que aprendeu a ver. Coleção Hora dos Sonhos. 2 ed. São
Paulo: Quinteto,1998.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Trad. Emani F. da F. Rosa –
Porto Alegre: ArtMed. 1998.

















![DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA … · Neurorradiologia de Intervenção desde 2013 [referindo que], sendo a prevenção de regime voluntário, existe indisponibilidade](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5c2b2c3409d3f2c47f8c142c/deliberacao-do-conselho-de-administracao-da-neurorradiologia-de-intervencao.jpg)