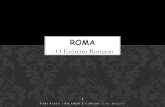BARREIRA Marcos BOTELHO Maurilio O Exercito Nas Ruas
-
Upload
maurilio-botelho -
Category
Documents
-
view
13 -
download
0
description
Transcript of BARREIRA Marcos BOTELHO Maurilio O Exercito Nas Ruas
-
[-] www.sinaldemenos.org Ano 5, n9, 2013
60
O Exrcito nas ruas: da Operao Rio
ocupao do Complexo do Alemo
Notas para uma reconstituio da exceo urbana
Marcos Barreira e Maurilio Lima Botelho
Em novembro de 2010, o mundo acompanhou as imagens do incio da maior
ao militar em favelas que a cidade do Rio de Janeiro j viveu. E, alm disso, a mais
duradoura. Mais de um ano depois dos eventos da Vila Cruzeiro, as tropas do Exrcito
permanecem no conjunto de favelas do Complexo do Alemo, uma rea que, de acordo
com os dados do Censo das Favelas (2008/2009), abrange mais de 90 mil habitantes.1 A
ocupao permanente , at o momento, o acontecimento mais importante da chamada
guerra contra o trfico de drogas desencadeada pelo governo do estado em parceria
com as Foras Armadas. No entanto, a populao sabe muito pouco sobre essa guerra
a despeito do ineditismo e das grandes propores da operao e poucos se
interessam em saber algo mais: o que importa que a batalha do bem contra o mal
est sendo travada.
Antes de descrevermos alguns aspectos das incurses militares no Complexo do
Alemo, convm retornar um pouco no tempo. Um antecedente que bem poderia figurar
como o ensaio geral do processo de militarizao da segurana, a Operao Rio,
realizada em meados da dcada de 1990, merece ser reconstituda, pois nela j
encontramos muitos dos ingredientes da batalha travada atualmente nas ruas e
favelas da cidade do Rio. Se retornarmos ainda mais, deparamos com outras
intervenes militares para conter a onda de reivindicaes sindicais que se seguiu ao
fracasso dos planos de estabilizao econmica, a exemplo da ocorrida na greve da CSN
em 1988, ano em que, com a promulgao da Constituio, consolidou-se nossa
1 O censo realizado pelo Escritrio de Gerenciamento de Projetos do Governo do Estado do Rio de
Janeiro. Se considerarmos tambm o Complexo da Penha, que inclui a Vila Cruzeiro, os nmeros sobem, conforme o clculo operacional dos comandantes militares, para mais de 200 mil habitantes vivendo nas maiores favelas da regio.
-
[-] www.sinaldemenos.org Ano 5, n9, 2013
61
transio democrtica militarmente tutelada. Naquele ano, 1.300 soldados do Exrcito
e policiais invadiram a usina de Volta Redonda (a 127 km da capital fluminense) e
abriram fogo contra uma multido de trabalhadores, matando trs metalrgicos. O
episdio pode ser interpretado como uma expresso extempornea do regime militar,
quando o Exrcito acionado em nome da segurana nacional, e novamente revela o
trato violento com os movimentos sociais e a reivindicao por direitos civis. Em que
pesem as mudanas institucionais posteriores, o aparato militar no deixar de
comparecer em momentos considerados cruciais, mas, a partir da, em uma conjuntura
distinta, alegadamente para a garantia da segurana pblica.
Em 1992, houve um novo emprego das foras militares, agora na cidade do Rio
de Janeiro: ao invs da represso ao movimento sindical, o patrulhamento das ruas era
para garantir a segurana de um importante encontro internacional, a ECO-92. Na
ocasio, o centro da cidade e suas reas nobres, ocupadas militarmente pelo Exrcito,
[viveram] dias de calma e tranqilidade com os miserveis compulsoriamente
deslocados, naquelas semanas, para as periferias ou abrigos provisrios (Coimbra,
2001: 142)2.
Com a Operao Rio, lanada em outubro de 1994, a utilizao das Foras
Armadas no combate criminalidade atingiu um novo patamar. Por meio de
denncias contra a instituio policial e da desmoralizao do poder executivo estadual,
o ambiente para a interveno militar foi criado pela imprensa, que enaltecia os
momentos de paz obtidos durante a ECO-923. Produziu-se, alm disso, a ideia de que
a poltica de segurana estadual teria permanecido, por convenincia eleitoral,
indiferente ao processo de estruturao do trfico de drogas nas favelas. A manchete de
um grande jornal resume o caso: trfico pe o Rio em situao de emergncia.4 E a
concluso era bvia: com uma polcia inoperante e um governo permissivo, restava ao
Exrcito a misso de combater a escalada do novo inimigo da segurana pblica, o
crime organizado. Foi a partir desse quadro que se consolidou, na cidade do Rio, um
2 Ceclia Coimbra, Operao Rio: o mito das classes perigosas. Rio de Janeiro, Oficina do Autor, 2001, p.
142. 3 Durante a preparao da Operao-Rio, que ocorreu no perodo da sucesso presidencial, cogitou-se,
com assentimento do prefeito Csar Maia, a interveno do Exrcito nas favelas cariocas em um regime de estado de defesa baseado na suspenso de garantias constitucionais.
4 O Estado de So Paulo, 07 de agosto de 1994.
-
[-] www.sinaldemenos.org Ano 5, n9, 2013
62
consenso conservador em torno no mais da antiga ideia de subverso poltica, mas da
violncia urbana, uma categoria, como diz Loc Wacquant, sob a qual cada um pode
colocar o que lhe convier (2001: 67).5
A estratgia para a construo do consenso dependia da desvinculao entre o
debate sobre a segurana pblica e o problema da crise do modelo econmico, o que
transformava a pobreza em alvo policial. Ao mesmo tempo, a acumulao de fora das
quadrilhas do trfico, sempre alimentadas pela corrupo policial, tornava-se a
justificativa ideal para a manuteno dos moradores das favelas em uma situao de
excluso, fora do regime jurdico legal e submetidos a uma forte discriminao. No Rio
de Janeiro, o que se convencionou chamar de crime organizado refere-se apenas a um
mercado varejista de drogas que, mesmo contando com algum nvel de organizao,
opera de modo essencialmente fragmentado e rudimentar. Mas o crime organizado
funcional para a manuteno de um eficiente controle social. Nesse aspecto, a histeria
produzida pelos meios de comunicaes inversamente proporcional ao torpor em
relao ao crime que se organiza por dentro da polcia e que alimenta as conexes do
trfico de drogas e de armamentos.6
Na cidade do Rio e em alguns municpios vizinhos, a violncia atingiu patamares
bastante elevados no final dos anos 1970, o que coincidiu com o fim do nosso ciclo
incompleto de modernizao e o incio de uma dinmica de excluso social, cujo trao
mais visvel foi o processo de favelizao em larga escala. E as grandes periferias
cresceram desassistidas, tornando-se territrios sob a influncia de grupos armados. Os
nmeros da violncia continuaram subindo, sem grandes saltos, nos anos seguintes. J
em 1981, uma reportagem de capa da revista Veja anunciava a Guerra civil no Rio:
dois mil mortos na Baixada Fluminense e um recorde do comrcio clandestino de
5 O depoimento, em livro recente, de um importante agente da represso poltica do Regime Militar atesta
que esse tema foi introduzido no meio universitrio pelos rgos de segurana oficiais durante o Primeiro congresso brasileiro sobre violncia urbana e suas implicaes, realizado na cidade do Rio de Janeiro, em 1980, e em cujos bastidores desenvolvia-se a articulao clandestina da chamada Operao Condor. Cf. Netto, Marcelo e Medeiros, Rogrio. Memrias de uma guerra suja. Rio de Janeiro: Topbooks, 2012. [N. E.: ver tambm a entrevista de L. Wacquant na Sinal de Menos #3].
6Praticamente nada dessa estrutura mafiosa nos dado a saber. Do mesmo modo, nunca se sabe com exatido quais as relaes entre os representantes do Estado e o crime organizado e os meios de informao profissionais se encarregam de manter as coisas assim; sabemos apenas que as instituies democrticas tornam-se cada vez mais repressivas para combat-lo. Em todo caso, as populaes devem saber o suficiente para se convencer de que, em relao a esse inimigo, tudo mais deve lhes parecer aceitvel ou, no mnimo, mais racional e mais democrtico (Debord, 1992:40).
-
[-] www.sinaldemenos.org Ano 5, n9, 2013
63
armas.7 Na seqncia, como se buscasse as razes estruturais da violncia, a matria
seguinte conclua que a causa de tudo demogrfica: dramaticamente, constatava um
especialista, a reduo da fecundidade demasiado lenta para corrigir, por si s, os
desnveis que afligem os defensores do planejamento familiar.8
No incio dos anos 1980, verifica-se uma mudana da relao entre o poder pblico e
a favela. Isso porque, entre as camadas mdias da sociedade e os formadores de opinio,
at esta poca ainda predominava a ideia da remoo da pobreza. Quando Leonel
Brizola foi eleito governador, em 1982, o problema da segurana passou a ser pensado
de maneira integrada a uma poltica de ampliao dos direitos, com nfase na
construo de escolas pblicas e em obras de infraestrutura nas favelas, que passaram a
ser vistas como uma parte da cidade e no como um aglomerado de pobreza a ser
deslocado para as periferias. Sem se deixar guiar pelas campanhas movidas pela
imprensa, que exigiam do Estado uma atitude de confronto que ignorava direitos
elementares das populaes de baixa renda, o governo de Brizola tentou fazer do
respeito aos direitos humanos uma premissa das polticas de segurana pblica, o que
provocou resistncia no interior da corporao policial. A perspectiva includente contida
em tais posies produziu forte rejeio nas camadas mdias, que associavam o discurso
em favor da universalizao dos direitos expanso do crime violento: nessas
condies, a simples meno aos direitos de presos e criminosos e/ou a oposio
explcita ao vigilantismo tradicional conduta brutal das foras policiais diante de
suspeitos de origem popular , peas importantes do discurso e da atuao brizolista, se
apresentavam como uma afronta para significativos setores da opinio pblica
(Machado da Silva, et alli, 2005: 9). Desde ento, o Rio passou a ser visto nacionalmente
como um caso exemplar de violncia urbana, o que resultou em uma drstica
mudana de rumo na poltica de segurana. Foi assim que, de 1986 at a derradeira
derrota eleitoral do trabalhismo, no final da dcada seguinte, estiveram em disputa, em
um movimento pendular, a proposta criada pelos partidrios de Brizola, que haviam
cooptado numerosas associaes comunitrias surgidas no final dos anos 1970, e as
7 O Rio ferido a bala, Veja, 7 de janeiro de 1981, pp. 14-22. 8 O provo aprova: 71 % dos brasileiros querem famlias menores, Veja, 7 de janeiro de 1981, pp. 23-26.
-
[-] www.sinaldemenos.org Ano 5, n9, 2013
64
promessas de acabar com a violncia atravs dos mtodos tradicionais de represso.9
A partir de 1994, a chamada guerra no Rio est oficialmente deflagrada.10 O
Exrcito o ltimo recurso para restabelecer a ordem lia-se nos jornais, depois da
presso para que o governo estadual aceitasse uma interveno no declarada.
Gradualmente, as tropas ocuparam vrios locais da cidade e deram incio pacificao
de zonas conflagradas. O objetivo declarado era asfixiar economicamente os pontos de
venda de drogas por meio do bloqueio de suas vias de acesso. Seguiu-se a invaso de
favelas estratgicas, todas situadas em bairros considerados nobres, nos quais a
sensao de segurana artificialmente produzida foi usada como mercadoria poltica. A
Operao Rio foi apenas um experimento, mas todo o repertrio miditico atual j podia
ser encontrado na cobertura da poca, quase como parte integrante da operao, pois se
tratava de construir a atmosfera adequada e as justificativas mais imediatas para o cerco
e ocupao dos morros, no que foi chamado de o dia D para a ao, a chance do
carioca reassumir o Rio.
A Operao Rio limitou sua ao a incurses violentas nos territrios de pobreza.
Ocorreu com a brutalidade habitual e, por conseguinte, foi logo cingida de denncias.
Em sua segunda fase, j no incio de 1995, por um convnio entre o Exrcito e o governo
estadual recm-eleito, firmou-se um novo acordo segundo o qual o Exrcito participaria
apenas da Operao Rubi, patrulhando as grandes vias e as rotas de fuga. Somente em
casos especiais as Foras Armadas seriam convocadas a atuar em incurses nos morros
e, segundo os termos do acordo, nos demais locais suspeitos. A mudana estratgica
ocorreu em funo das denncias de ineficincia da etapa anterior da operao e,
sobretudo, por causa das constantes violaes dos direitos humanos, que no raro
envolviam prticas de tortura e prises clandestinas. Os casos mais comuns de maus
9 Moreira Franco, que governou o estado do Rio de Janeiro entre 1987-91, se elegeu com a promessa
demaggica de acabar com a violncia em 6 meses. Inutilmente. Foi sucedido por Brizola (e Nilo Batista, seu vice), que continuou a denunciar, em guerra aberta com as principais empresas de mdia, a conivncia das autoridades com as execues de jovens nas favelas e periferias. A eleio de Marcello Alencar, um quadro egresso do brizolismo e com uma trajetria marcada pela defesa de presos polticos durante a ditadura militar, inverteu novamente a perspectiva do tratamento da segurana. Marcello Alencar cedeu s presses da opinio pblica e adotou medidas extremamente violentas contra a populao pobre do Rio: durante o seu governo, iniciado em 1995, registrou-se um aumento significativo dos homicdios cometidos por policiais, uma prtica estimulada pela premiao por bravura. O ciclo se fecha com o governo de Anthony Garotinho, ltimo governador vinculado ao trabalhismo, mas que j coloca em questo a atitude de Brizola, considerada por seu secretrio de segurana, Luiz Eduardo Soares, um absentesmo de esquerda.
10 Jornal do Brasil, 01 de novembro de 1994.
-
[-] www.sinaldemenos.org Ano 5, n9, 2013
65
tratos infligidos a moradores das favelas ocupadas eram conforme os exemplos
citados nos Inquritos Policais-Militares (IPMs) algumas das antigas especialidades
dos agentes de segurana, ou seja, choque eltrico e afogamento, alm de prticas que,
at onde se sabe, eram menos usuais do que so hoje, como o furto de objetos em
residncias11. Depois da Operao Rio, os nmeros da violncia prosseguiram sem
grandes alteraes e s Foras Armadas coube apenas uma discreta sada de cena para
evitar desgaste diante da opinio pblica. Ao protagonizarem essa violenta encenao
de segurana, as foras militares deixaram um legado: de acordo com os registros de
ocorrncia da Polcia Civil, o Rio registrou um crescimento atpico de mais de 20% do
nmero de homicdios dolosos entre novembro e dezembro de 1994.12
O aumento da violncia no foi o nico resultado das operaes do Exrcito.
Temos dois elementos novos a respeito da participao das Foras Armadas no quadro
da segurana pblica do Rio depois de 1995. Os primeiros so as operaes com
objetivos limitados: no perodo compreendido entre 1995 e 2004 houve vrias aes do
Exrcito, mas nenhuma se revestiu do vis ideolgico da Operao Rio. O que estava em
questo em tais aes eram problemas pontuais.
Em junho de 1999, as Foras Armadas contriburam para a segurana da Cimeira
do Rio, encontro dos governos da Amrica Latina e Unio Europia. Em novembro de
2002, o Exrcito foi convocado novamente pelo governo estadual, dessa vez para
garantir a segurana da Regio Metropolitana durante as eleies daquele ano. Estava
mais em questo a falncia do aparato policial do que a ideologia da segurana militar,
desvalorizada aps o fracasso verificado na dcada anterior entretanto, a prpria
polcia que comea a sofrer, a partir da, um clere processo de militarizao, tanto no
que diz respeito s formas de ao quanto aos equipamentos utilizados.13
11 Ceclia Coimbra, Operao Rio, cit., p. 231. 12 [...] vrios dos objetivos da Operao Rio I fracassaram: as favelas no foram desarmadas, o trfico de
drogas continuou em vigor, o ndice de criminalidade permaneceu alto e as favelas no foram incorporadas ao resto da cidade no sentido de seus habitantes poderem usufruir do direito de cidadania (Zaverucha, 2000: 196). significativo que as operaes de ocupao da Vila Cruzeiro e da Rocinha, ao longo de 2011, tenham sido denominadas pelas Foras Armadas Operao Rio III e IV, respectivamente, o que no foi divulgado pela imprensa, dado o fracasso das operaes da dcada de 1990.
13De certo modo, o que ocorre uma remilitarizao das polcias, pois a segurana pblica civil era responsabilidade das foras militares durante a ditadura (sobre isso, ver Clvis Brigago, A militarizao da sociedade, Rio de Janeiro, Zahar, 1985). Algumas medidas tomadas durante a dcada de 1980, principalmente no governo Brizola, tentaram desmilitarizar a polcia, mas houve uma reviravolta nas dcadas posteriores.
-
[-] www.sinaldemenos.org Ano 5, n9, 2013
66
Em junho de 2002, a sede da prefeitura municipal foi alvejada por mais de
duzentos tiros e as ameaas segurana continuaram at culminar, em 24 de fevereiro
de 2003, no que a imprensa carioca denominou segunda-feira sem lei, uma srie de
ataques atribudos a traficantes. Durante cinco dias o pnico tomou conta da cidade, o
comrcio permaneceu fechado e vrios veculos foram incendiados em diferentes
bairros. Em resposta, o governo estadual desencadeou a Operao Guanabara, que
novamente recorreu ao Exrcito para ocupar reas crticas e suprir a falta de efetivos
policiais. Em novembro de 2004, as tropas voltaram s ruas para uma misso de
policiamento provisrio, durante a Cpula do Grupo do Rio, que recebeu chefes de
Estado de toda a Amrica Latina. Ao contrrio de 1992, a ao amparou-se em
tentativas de respaldo legal; um decreto presidencial, de 2001, conferia poder de polcia
s Foras Armadas e outro, de 2004, descaracterizava a interveno federal nos
governos estaduais. Mas os fundamentos jurdicos dessas operaes eram frgeis, pois
entravam em conflito com princpios constitucionais que no previam o uso de foras
militares na segurana pblica civil.
O segundo elemento que devemos considerar um efeito inesperado dessa
sequncia de operaes que, a julgar pelos eventos subsequentes, parece ter resultado
no envolvimento das quadrilhas responsveis pelo trfico de armas e drogas com
efetivos das Foras Armadas. So numerosos os casos de desvio de material blico nos
quartis com a participao direta ou indireta de militares.14 O padro mais comum do
desvio, que no exclui aes externas instituio militar, a cooptao de soldados
pelas quadrilhas que operam a venda de drogas nas favelas prximas aos batalhes. So
igualmente numerosos os relatos de casos envolvendo militares ou ex-militares que
oferecem servio de treinamento s quadrilhas em troca de uma remunerao muito
14 O jornal O Globo noticiou: Em 2009, o Exrcito recuperou um fuzil que havia sido roubado no 26
Batalho de Infantaria Paraquedista, unidade considerada de elite, durante uma operao nos morros da Pedreira e da Lagartixa, em Costa Barros, no subrbio do Rio. Na poca, todos os cerca de 700 homens lotados no batalho, localizado na Vila Militar, ficaram presos at que a arma reaparecesse e fossem identificados os responsveis pelo roubo. Cf. Desvio de armas em quartis um desafio para as Foras Armadas, 12 de dezembro de 2010. Outra reportagem do mesmo jornal, essa de 29 de junho de 2011, relata que Pelo menos dois mil projteis de armamento de grosso calibre desapareceram no ltimo dia 22, vspera do feriado de Corpus Christi, do Batalho Escola de Comunicaes, na Avenida Duque de Caxias, na Vila Militar. Alguns soldados da unidade esto, desde a semana passada, aquartelados por causa do furto do material.
-
[-] www.sinaldemenos.org Ano 5, n9, 2013
67
superior ao soldo militar.15 Somente entre 2004 e 2008 ocorreram mais de cem casos de
desvios de armamentos dos quartis do Rio, o que corresponde a algo em torno de 50%
dos casos registrados no Brasil. Em mais um caso rotineiro, em meados de 2004, fuzis
roubados em um quartel do Exrcito foram encontrados na favela de Antares, em Santa
Cruz, bairro da zona oeste do Rio. O resultado final da operao foi um novo escndalo,
noticiado pela imprensa como uma negociao dos comandantes militares com os
chefes locais do trfico. Pouco depois, outro desvio de armas, no quartel de So
Cristvo, bairro da rea central, teve como consequncia uma grande operao cujo
desfecho foi mais uma vez envolvido em denncias de negociao com as lideranas do
trfico.
O pice de todo esse processo, no entanto, s ocorreu em 14 de junho de 2008,16
quando a imagem do Exrcito se vinculou de modo inapagvel lgica da violncia:
uma ao com onze militares resultou na priso irregular de trs moradores do morro
da Providncia (ento dominada por uma faco do trfico) que, em seguida, foram
levados pelos militares at o morro vizinho (dominado por uma faco rival) e
executados pelos traficantes locais. Com a repercusso nacional do episdio, evidenciou-
se como a instituio militar, a exemplo de outras instituies estatais, havia se deixado
permear pela lgica da faccionalizao que divide a maior parte das favelas cariocas.
Constatou-se, alm disso, que a presena militar na Providncia para a fiscalizao de
obras de um projeto federal era completamente ilegal.
Outro caso de grandes propores j havia ocorrido dois anos antes, durante uma
srie de ocupaes de favelas (treze ao todo) prximas rea central do Rio incluindo
o prprio morro da Providncia. Mais uma vez, os militares saram s ruas para
15 De acordo com o jornal O Globo, de 03/02/2002, Ex-militares do Exrcito treinam traficantes no Rio:
cursos dados por cabos e soldados da reserva custam at R$ 8 mil por ms. Igualmente, o Jornal do Brasil noticiou, em 04/04/2002, que Em uniformes camuflados, armados de fuzis, metralhadoras e granadas, 32 ex-militares, oriundos da Brigada Paraquedista do Exrcito estariam cruzando as ruas do Rio em misses tticas encomendadas por faces criminosas, em guerra por pontos de venda de drogas. Apelidado de bonde verde, o grupo no guardaria fidelidade a qualquer faco, atuando sempre como mercenrio.
16 Considere-se que, ainda em 27 de junho de 2007, nos preparativos da cidade do Rio para a realizao dos jogos Pan-Americanos, uma operao no Complexo do Alemo conhecida como Chacina do Pan, envolvendo policiais militares e a nova Fora Nacional de Segurana, resultou em 19 pessoas mortas e 62 feridos por armas de fogo. Criada em 2004, a Fora Nacional de Segurana outra expresso da mlitarizao policial. Como tropa federal subordinada ao Ministrio da Justia, operando atravs de convnios com governos estaduais para intervir em conflitos urbanos, a FNS tambm, para muitos juristas, um exemplo flagrante de inconstitucionalidade.
-
[-] www.sinaldemenos.org Ano 5, n9, 2013
68
recuperar armas roubadas. E, mais uma vez, as operaes no possuam respaldo
jurdico, pois nenhuma medida necessria para a utilizao das Foras Armadas na
chamada garantia da lei e da ordem foi tomada pelo governo. A Providncia
permaneceu dez dias sob interveno do Exrcito e, como de costume, os procedimentos
legais mais elementares foram ignorados: nenhum mandado de busca e apreenso para
vasculhar casas e estabelecimentos comerciais, agresses e danos materiais,
cerceamento do trabalho da imprensa etc. Surgiram at denncias de simulaes de
conflitos armados. Outros relatos de moradores, descritos em A Guerra da Providncia
estudo que analisa a referida ocupao do Exrcito, em maro de 200617 , apontam
aes ainda mais violentas e arbitrrias que as usualmente praticadas pela Polcia
Militar. Uma moradora da Mangueira, favela ocupada na mesma poca, relata: Hoje, o
morro da Mangueira parou. Fomos impedidos de sair de casa, ir ao trabalho, estudar, ir
e vir. Ficamos sob a mira de um tanque de guerra direcionado para nossas cabeas18.
Para os autores do estudo, todos os relatos e as evidncias confirmam que as foras
militares entraram na favela da Providncia atirando a esmo, aparentemente com o fim
de intimidar os criminosos ou, talvez, a prpria populao civil. Para ocultar esse fato, a
verso oficial se referiu sempre a troca de tiros com o narcotrfico19. E adiante: os
moradores afirmam peremptoriamente que no houve confronto pois os
narcotraficantes fugiram no primeiro momento. As autoridades se inclinam a
corroborar essa verso a partir das marcas de tiros e cpsulas recolhidas20. Das cinco
vtimas da operao, uma delas letal, nenhuma foi formalmente acusada e nenhuma
priso foi efetuada. No mesmo relatrio, h meno a casos de perda de postos de
trabalho em funo da ausncia obrigada pelo toque de recolher.21
Tal como a ao de 2006, a megaoperao de 2010, na Vila Cruzeiro, prxima ao
complexo de favelas do Alemo, no estava prevista por nenhum plano de segurana.
Foi uma situao ocasional, motivada pela obrigao de responder aos ataques do
crime organizado ocorridos em toda a cidade nos dias anteriores, mas, sobretudo,
17 Jos Trajano Sento-S et al., A guerra da Providncia: uma anlise da ocupao pelo Exrcito da favela
da Providncia no Rio de Janeiro em maro de 2006, Laboratrio de Anlise da Violncia, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006. Disponvel em: .
18 Ibidem, p. 11 19 Ibidem, p. 23. 20 Idem. 21 Ibidem, p. 24.
-
[-] www.sinaldemenos.org Ano 5, n9, 2013
69
derivava de uma redistribuio territorial das atividades do trfico que j vinha
ocorrendo desde o incio da implementao das Unidades de Polcia Pacificadora
(UPPs) em reas estratgicas da cidade e do avano das reas sob o controle de grupos
milicianos. Entre 2009 e 2010, o nmero de integrantes da faco que controlava a
venda de drogas local triplicou nos complexos do Alemo e da Penha. Muitos chefes e
gerentes do trfico em pequenas favelas da cidade concentraram-se ali, juntamente com
seus soldados, depois de terem perdido o controle de seus pontos de venda. A Vila
Cruzeiro e suas adjacncias haviam se tornado basties da principal faco criminosa do
trfico. Essa concentrao imprevista das atividades de distribuio de drogas e
armamentos para outras favelas tornou inevitvel a chamada operao de retomada
da regio. Por isso mesmo, no estava prevista a instalao de UPPs nas favelas que
compem os Complexos do Alemo e da Penha. Para realizar uma grande interveno
nesse complexo seria necessrio mobilizar um contingente igual ou maior ao que atuava
nas favelas onde j funcionavam as UPPs. Desse modo, recorreu-se ao Exrcito,
novamente em uma situao jurdica nebulosa, isto , margem da lei, no apenas para
o suporte da operao de pacificao, mas igualmente para empreender uma ocupao
capaz de realizar de modo duradouro a administrao repressiva desse grande territrio
para o qual a Polcia Militar no dispunha de efetivo suficiente.
A interveno militar permanente no Complexo do Alemo o resultado de um
tipo de poltica de segurana preocupada com a ocupao de reas estratgicas com alto
potencial de valorizao e com o deslocamento dos conflitos armados para as regies
perifricas com menor visibilidade. O que se assistiu pela televiso em novembro de
2010 foi a repetio, em escala ampliada e, por assim dizer, mais espetacular, dos
mesmos procedimentos verificados na guerra da Providncia. Durante a retomada
da Vila Cruzeiro, foram abundantes os arrombamentos de residncias e saques
praticados por policiais, alm do desvio de armas e dinheiro apreendido e suspeitas de
acordos de fuga.22
Se durante a operao as condutas ilegais foram a regra, especialmente no caso
da Polcia Militar, as situaes de abuso de autoridade e violncia contra moradores
praticadas pelas Foras Armadas se multiplicaram ao longo de 2011. O Complexo do
22 Em janeiro de 2011, 30 militares do Exrcito e 23 policias militares foram afastados por atos ilcitos
praticados, diante das cmeras de TV, na operao de novembro.
-
[-] www.sinaldemenos.org Ano 5, n9, 2013
70
Alemo vive atualmente uma situao no declarada de estado de stio. Para
caracteriz-la basta lembrar que a prtica dos mandados de busca coletivos continua
vigorando e com ela as aes em cumprimento da lei e da ordem que englobam e
criminalizam favelas inteiras.23 certo que o Brasil no construiu um Estado de
direito inteiramente desenvolvido e, como lembra Wacquant, as duas dcadas de
ditadura militar continuam a pesar bastante tanto sobre o funcionamento do Estado
como sobre as mentalidades coletivas.24 Por isso, acumulam-se as situaes em que a
alegao do estado de necessidade legitima atos ilcitos praticados por agentes de
segurana do Estado. A rigor, a inexistncia da regra plena muitas vezes torna suprflua
a exceo entendida como suspenso provisria dos direitos. Os moradores, que
sofriam com a violncia que sempre caracterizou o trfico e as invases policiais, que
incluem aes sistemticas de extermnio, continuam privados de direitos bsicos:
prises abusivas por desacato e imposio de restries so comuns, mas agora sob o
comando arbitrrio do Exrcito. O fenecimento das garantias individuais consolida-se,
neste laboratrio de controle social, com o toque de recolher anunciado pelos alto
falantes em aes militares de rotina: o Exrcito est realizando um mandado judicial
em cumprimento da lei. Fechem suas portas e janelas e aguardem orientao. Quando
solicitado, abra a porta e aja de maneira educada. Obedeam todas as instrues.
Qualquer ao contrria ser considerada como ato hostil e receber a resposta
necessria.25
Na ocasio da retomada do Complexo do Alemo, os meios de informao trataram
de infundir na populao o sentimento de impotncia capaz de produzir o estado de
esprito adequado s intervenes discricionrias e ao projeto de ocupao prolongada
de favelas, pois quanto maior a sensao de insegurana, maior a chance de o aparelho
estatal impor seu controle sem contestao. Aqui, os clichs habituais da
23 A Operao Rio I tambm utilizou os mandados genricos de busca e apreenso, mas, naquele
momento, talvez em virtude da lembrana da Constituinte, a imprensa denunciou os abusos: No final de 1994, o Brasil ressuscitou as lettres de cachet, que permitiram aos oficiais da polcia francesa, no sculo XVIII, prender, em nome do rei, quem bem entendessem (Jorge Zaverucha, Frgil democracia, cit., p. 185). A comparao ressalta o carter totalmente ilegal da prtica: todo mandado deve ser despachado contra algum em particular, pois no se trata de uma carta-branca.
24 Loc Wacquant, As prises da misria, cit., p. 10. 25 O Complexo do Alemo em Estado de Stio, Veja, 26 de outubro de 2010.
-
[-] www.sinaldemenos.org Ano 5, n9, 2013
71
cobertura jornalstica, referidos guerra civil no Rio, reduziram-se a isto: a maior
parte dessa escria conseguiu escapulir, porque, naquele momento, no havia efetivo
suficiente (...) mas eles no perdem por esperar.26 Apenas as mdias alternativas com
insero nas favelas relatavam casos em que policiais atuavam como saqueadores
durante a operao, praticando a chamada garimpagem. Pouco a pouco, comeou a
aparecer tambm no interior do monoplio empresarial da mdia a descrio dos fatos
inicialmente omitidos, como o roubo de bens de moradores durante as revistas em suas
casas. Muitos acreditam que tal omisso era indispensvel para produzir a adeso da
populao operao militar. Mas seria errneo condicionar a possibilidade das aes
repressivas ignorncia do pblico em relao aos abusos cometidos pelas autoridades.
Fartamente conhecidos, tais abusos foram tolerados e at mesmo exigidos, durante a
operao da Vila Cruzeiro, por uma parcela significativa da populao. Afinal, quem
consentiu com prticas de tortura e execuo sumria nas telas do cinema, agora clama
sem qualquer acanhamento por aes reais de extermnio nas favelas.27 Esse quadro nos
coloca diante de uma situao original: quando os ndices de criminalidade violenta
explodiram na Regio Metropolitana do Rio de Janeiro, o pas vivia o fim do milagre
econmico que ajudou a legitimar a represso poltica, e o incio das lutas pelas
liberdades democrticas e pelos direitos sociais, todos consagrados, como letra
morta, na Constituio de 1988. Desde ento, o fato dos setores militares conservadores
terem perdido a capacidade de atuar como poder tutelar em momentos de crise poltica
contrasta com a ampliao da presena das tropas nas ruas. Com o esgotamento do
nosso ciclo de desenvolvimento, o que restou no foi uma sociedade com pretenses de
incluso e participao popular, mas uma democracia feita para minorias com poder de
consumo, o que exige o controle de uma populao cuja perspectiva de absoro pelo
sistema produtivo cada vez menor. No contexto da Operao Rio I, j era possvel
observar que a incapacidade do Estado de exercer o controle, ainda que mnimo, da
26 Veja, 1o dez. 2010, p. 137. 27 A violncia tem se generalizado nas diferentes camadas da sociedade: o uniforme preto e a faca na
caveira no so smbolos que proliferam apenas no universo de alguma subcultura juvenil e extremista, como a cruz gamada ou as runas da SS na Alemanha unificada, e sim os produtos da cultura de massa voltados para o pblico em geral e exibidos at mesmo na programao matinal da TV. Na cobertura jornalstica, a estetizao dos homens de preto que figuraram nas capas de jornais e revistas servia unicamente para garantir a legitimidade de uma misso auto-atribuida pelos policiais: entrar na favela e deixar corpos no cho.
-
[-] www.sinaldemenos.org Ano 5, n9, 2013
72
situao social (...) encontra no recurso da utilizao das Foras Armadas no combate ao
narcotrfico dos morros cariocas, sua definitiva e cabal demonstrao28 Dessa forma, o
aumento dos gastos ligados ao aparato policial-militar, que fortalecem a dimenso
punitiva do Estado, torna-se uma compensao negativa para a ausncia de polticas
econmicas e sociais inclusivas.
Mais de 30 anos separam a interveno militar na greve da CSN e a ocupao do
Complexo do Alemo. Embora as confusas intersees entre as esferas civil e militar
sejam comuns aos dois momentos, o horizonte histrico diferente: em 1988, tratava-se
da represso s organizaes poltico-sindicais que lutavam, no contexto do processo de
democratizao, por melhores condies de trabalho e pela universalizao dos direitos.
A funcionalidade econmica desses trabalhadores despertava o desejo de
reconhecimento jurdico e de integrao social, at ento negada pela exceo
construda militarmente. No entanto, tais expectativas no se concretizaram e os
aspectos democrticos do sistema jurdico e poltico comearam a dar sinais de
esgotamento, antes de se consolidarem. Em 2010, o recurso ocupao militar criou
mais uma situao de violncia externa ao ordenamento jurdico, que incide sobre os
habitantes das favelas que deixaram de ser funcionais ao patamar econmico atingido
pelo espetculo do crescimento.29 Para a maior parte deles, que permanece, a despeito
das miragens econmicas da ltima dcada, muito distante de algum tipo de integrao,
a pobreza segue como o problema fundamental.30 E o avano do processo de favelizao
na cidade do Rio o desmentido mais flagrante da retrica poltica sobre o crescimento
econmico. Assim, as polticas pblicas so reduzidas a um gerenciamento de
emergncias e o contingente populacional sobrante torna-se um simples problema
28 Oliveira, Francisco de. Quem tem medo da governabilidade? Novos Estudos. So Paulo: Cebrap, n.o 41,
maro de 1995. 29 Se a Ditadura constituiu um perodo de exceo que aboliu, em nome da defesa da ordem, uma srie de
direitos individuais e coletivos, o perodo da transio democrtica tratou de manter intacta a estrutura social. Da a situao paradoxal: na nova ordem democrtica, os segmentos marginalizados da populao continuam merc do mesmo poder punitivo que atingiu os dissidentes polticos e as organizaes sindicais. S que agora, para manter a base da pirmide social em seu lugar, no se faz necessrio o recurso suspenso das liberdades.
30 Especialmente entre os jovens elevado o nmero dos que permanecem sem escolaridade bsica e sem acesso ao mercado de trabalho. Para jovens de favelas com UPP, a pobreza o maior inimigo, diz uma reportagem, a partir dos dados colhidos pelo Ibope. Para 24 % dos 700 jovens moradores de favelas ocupadas a pobreza aparece como o problema principal, na frente da violncia e do desemprego. A mesma pesquisa constatou que 26% dos entrevistados no estudam nem trabalham. Disponvel em: http://oglobo.globo.com/rio/para-jovens-de-favelas-com-upp-pobreza-o-maior-inimigo-3298717
-
[-] www.sinaldemenos.org Ano 5, n9, 2013
73
demogrfico. O prprio governador do estado do Rio de Janeiro, Sergio Cabral, deixaria
isso claro, em outubro de 2007, com um discurso que reciclava velhas fantasias
malthusianas sob um verniz progressista e defendia o aborto como mtodo para se
reduzir a fbrica de marginais nas favelas cariocas.31
Essa escalada de intervenes militares na segurana pblica, na vida civil
urbana, demonstra, juntamente com a adeso de amplos segmentos da populao
violncia, um estreitamento do horizonte de sociabilidade: a camada marginalizada
dessa populao passa a ser controlada violentamente pelo uso da logstica militar mais
avanada e, no limite, pode ser considerada eliminvel.
As intervenes do Exrcito so a expresso mais clara da militarizao social em
curso, que se prolonga no controle policial de parte do espao urbano carioca e no
controle informal paramilitar. O processo de militarizao, transitando entre o oficial
e o ilegal, um laboratrio de controle social que substitui as pretenses universalistas
da mediao jurdico-poltica, ela mesma ambivalente, pela legitimao do trato armado
com a parte indesejvel da sociedade civil.
** Bibliografia
AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceo. So Paulo: Boitempo, 2004.
BRIGAGO, Clvis. A militarizao da sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
COIMBRA, Ceclia. Operao Rio o mito das classes perigosas. Rio de Janeiro: Oficina do Autor, 2001.
DEBORD, Guy. Commentaires sur la socit du spectacle. Gallimard, Paris, 1992.
LAV. - Laboratrio de Anlise da Violncia - UERJ. A Guerra da Providncia Uma anlise da ocupao pelo Exrcito da favela da Providncia no Rio de Janeiro em maro de 2006. 25 p. Disponvel em: http://www.lav.uerj.br/docs/ rel/2006/guerra_provid_rio_2006.pdf. Acesso em 15 de janeiro de 2012.
31 Sou favorvel ao direito da mulher de interromper uma gravidez indesejada. Sou cristo, catlico, mas
que viso essa? Esses atrasos so muito graves. No vejo a classe poltica discutir isso. Fico muito aflito. Tem tudo a ver com violncia. Voc pega o nmero de filhos por me na Lagoa Rodrigo de Freitas, Tijuca, Mier e Copacabana, padro sueco. Agora, pega na Rocinha. padro Zmbia, Gabo. Isso uma fbrica de produzir marginal. Estado no d conta. No tem oferta da rede pblica para que essas meninas possam interromper a gravidez. Isso uma maluquice s. (Cabral defende aborto contra violncia no Rio de Janeiro, G1, 24 de outubro de 2007).
-
[-] www.sinaldemenos.org Ano 5, n9, 2013
74
MACHADO DA SILVA, L. A., LEITE, Mrcia P. e FRIDMAN, L. Carlos. Matar, Morrer Civilizar: o problema da segurana pblica, em MAPAS: Monitoramento Ativo da participao da Sociedade. Rio de Janeiro, Ibase, 2005.
NETTO, Marcelo e MEDEIROS, Rogrio. Memrias de uma guerra suja. Rio de Janeiro: Topbooks, 2012.
OLIVEIRA, Francisco de. Quem tem medo da governabilidade? In Novos Estudos. So Paulo: Cebrap, n. 41, maro 1995.
TCE/RJ. O investimento pblico e a efetividade das aes estatais na segurana. FGV, Rio de Janeiro, 2006.
WACQUANT, Loc. As prises da misria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, Ed., 2001.
ZAVERUCHA, Jorge. Frgil democracia Collor, Itamar, FHC e os militares (1990-1998). Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2000.