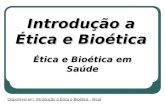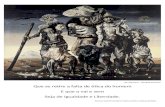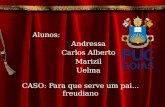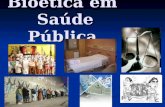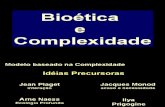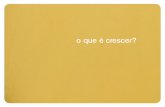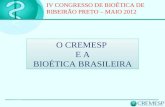Bioética Clinica
-
Upload
pedro-fevereiro -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of Bioética Clinica
-
Biotica clnica e terceira idade1
Sergio Ibiapina F. Costa2
Introduo
A humanidade caminha para ter nmero igual de jovens e idosos em 2050. Segundo o
coordenador do Programa de Envelhecimento e Curso de Vida da Organizao Mundial da
Sade, em muitos pases, mesmo na Europa, ainda persiste a mentalidade de que a populao
predominantemente jovem (KALACHE, 2005, p. 11). A predominncia desse tipo de
pressuposto faz com que o sistema de sade e a infra-estrutura urbana no levem em
considerao o aumento acelerado de pessoas na terceira idade na populao de todo o mundo.
No entanto, o jovem de hoje ser, concretamente, o idoso de 2050. Entenda-se por terceira idade
o grupo populacional acima dos 60 anos, segundo estabelece o Estatuto do Idoso (2003) de
nosso pas. Convm salientar que esse critrio de idade arbitrrio, sendo destitudo de qualquer
fundamento cientfico. Todavia, essa a idade limite de corte para separar o adulto do idoso.
A velhice no um fenmeno etrio, social e biolgico imediato, no se consolida de
uma s vez. Ela emerge de sintomas e atos sociais, cavando o seu prprio leito, como um rio.
Assim, possvel afirmar que dois velhos de 80 anos no tm nunca a mesma idade, um em
relao ao outro. Nessa hiptese, convm entender que nem sempre a idade cronolgica de duas
pessoas corresponde a uma mesma idade biolgica. Acrescente-se a essa assertiva o fato de que
1 Texto publicado na Revista Brasileira de Biotica, v. 1, n. 3, 2005:279-88 2 Mdico, professor de Biotica do curso de Direito do Instituto Camillo Filho (PI)
-
cada ser humano, independentemente da idade, detentor de uma biografia que tem como maior
riqueza a diversidade e em seu cerne a ntima relao com as circunstncias de vida vivida.
No mundo ocidental, com populaes cada vez mais envelhecidas, fala-se hoje nas
terceira e quarta idades. A Organizao Mundial de Sade, no limiar do sculo XXI, considera
que um dos primeiros objetivos de investigao das cincias da vida dever ser conseguir a
expectativa de vida ativa, ao contrrio do objetivo anterior, que era o de apenas aumentar a
esperana de vida.
Um dos fatores que contribuiu significativamente para o aumento da populao idosa no
Brasil foi a drstica reduo da taxa de fecundidade, cuja mdia caiu de 5,8 filhos por casa, no
incio de 1970, para 2,1 na atualidade. A taxa de pouco mais de dois filhos por casal
considerada mnima para a reposio populacional. Essa pequena margem brasileira acima de
dois atua como mecanismo de compensao para cobrir os ndices de mortalidade infantil. Na
atualidade, registram-se cerca de 70 pases em todo o mundo com ndices de fecundidade abaixo
da taxa de reposio e, nos prximos 15 anos, alcanaremos 123 pases nessa situao em todos
os continentes, com exceo da frica. Ou seja, convivemos em um contexto no qual a mudana
mais importante no apenas a de morrer cada vez mais tarde. Trata-se da diminuio
quantitativa dos jovens, fenmeno que provoca o aumento percentual da populao idosa.
Envelhecimento e qualidade de vida
Alguns demgrafos estabelecem a diferena do comportamento populacional que
ocorrer neste sculo em relao ao sculo passado. Enquanto que no sculo XX houve
exagerado crescimento populacional em quase todos os continentes, o sculo atual caracteriza-se
-
pelo expressivo interesse voltado para o envelhecimento. Sob o ttulo Amanhecer Cinzento,
abordando a economia e a poltica envolvidas no fenmeno do envelhecimento, Peter Peterson,
citado por James Drane, usa a seguinte metfora para descrever o desafio de uma crescente
populao que envelhece:
O envelhecimento global, diz Peterson: como um slido iceberg que pode perfeitamente destruir as embarcaes economicamente mais poderosas do mundo. A populao mundial que envelheceu e ameaa a sobrevivncia humana constitui-se em um dos desafios mais importantes que enfrentaremos no sculo XXI. (PETERSON apud DRANE, 2001, p. 98)
No somente o nmero de idosos que tem aumentado em todo o mundo, mas tambm o
tempo de vida da populao j idosa. Pode-se afirmar portanto, que o idoso tambm est
envelhecendo (CAMARANO; KANSO; MELLO, 2004). No foi surpresa que o Censo
Demogrfico Brasileiro de 2000 encontrasse cerca de 24,5 mil pessoas com mais de 100 anos, o
que demonstra reduo nos ndices de mortalidade entre a populao idosa.
Qual seria ento o limite de sobrevivncia das pessoas? H quem considere que
ultrapassada a primeira etapa da mortalidade entre jovens, fruto de efeitos endgenos e/ou de
agresses do meio, uma segunda etapa dar-se- mediante programao gentica com a morte
natural devendo ocorrer entre os 85 a 100 anos de idade (DUCHENE; WUNCCH, 1988).
Independentemente da idade limite que se pretenda alcanar at o final deste sculo, j foi dito
que isto no ocorrer sem que se possa intervir no genoma humano e no meio ambiente.
Alm das sucintas consideraes demogrficas, outro aspecto a ser abordado diz respeito
qualidade de vida de uma populao envelhecida. Ao se examinar o percentual de anos de vida
sem sade em pessoas acima de 60 anos, no Japo e no Brasil, verifica-se que naquele pas 18%
dos idosos vivem com a sade comprometida, enquanto que, no Brasil, esses ndices so de 40%.
-
Tem-se, portanto, que os idosos brasileiros vivem 40% do tempo de vida com a sade
comprometida (CAMARANO; KANSO; MELLO, 2004). Esse gap traduz um desafio a
enfrentar, qual seja, a implementao de novas polticas pblicas no campo da sade, tendo
como propsito oferecer acrscimo de vida aos idosos e assegurar-lhes o mnimo de problemas
relacionados sade.
Quando se fala em qualidade de vida, convm frisar que tal condio valorativa,
dependendo, preferencialmente, do julgamento que a prpria pessoa faz sobre o seu estado,
sendo ela, em determinadas circunstncias, a nica criatura autorizada a opinar sobre o seu real
bem-estar. No so os familiares, os profissionais da rea biomdica e muito menos os diretores
de instituies asilares que devem valorar o critrio de qualidade de vida como uma conquista
exclusiva a ser ofertada. Carlos Maturana, ao se reportar velhice, reproduz um dos textos mais
antigos de que se tem notcia, no qual um idoso se auto-analisa. A autoria atribuda a um
escriba egpcio e datado de 2450 a. C. Diz o seguinte:
Quo penoso o fim de um velho! Debilita-se a cada dia; sua viso diminui e seus ouvidos j no ouvem; sua fora declina e seu corao j no descansa; sua boca torna-se silenciosa e j no fala. Suas faculdades intelectuais diminuem e o impossibilitam recordar hoje o que aconteceu ontem. Todos os ossos esto doloridos. As ocupaes no so mais realizadas pelo simples prazer e o sentido do gosto desaparece. A velhice a pior das desgraas que pode afligir um ser humano. (Apud MATURANA, 2001, p. 109)
Tal narrativa no difere muito dos relatos comuns em consultrios, quando do
atendimento de pessoas pertencentes terceira idade, o que nos leva a inferir que os idosos tm
registrado queixas semelhantes ao longo de milnios.
-
Biotica Clnica
Dentre as inmeras abordagens da Biotica Clnica sobre a terceira idade, aquelas que
tm recebido maior ateno por parte dos interessados em biotica so as seguintes: 1) a relao
entre profissionais de sade e idosos; 2) a pesquisa com a participao de idosos; 3) a tomada de
deciso e o envelhecimento; 4) a alocao de recursos na terceira idade e, 5) o morrer com
dignidade .
Na sociedade contempornea, um dos temas mais comuns, sobretudo nos meios de
comunicao de massa, so os mecanismos hoje disposio da populao para retardar ao
mximo o processo de envelhecimento. O que dizer, por exemplo, da sucesso de avanos
tecnocientficos a servio da Medicina que emergiram nas ltimas dcadas, como a introduo de
novos frmacos que prometem combater as doenas prprias do envelhecimento? Sobre esse
fenmeno em especial, convm lembrar, no entanto, que somente nos ltimos anos passou-se a
realizar pesquisas com frmacos contando com a participao efetiva dos idosos na condio de
sujeitos da pesquisa. Mas se esqueceu, ao longo do tempo, que grupos de pessoas idosas
portadoras de co-morbidades tm sua fisiologia comprometida pelo desgaste natural dos anos e
que, por isso mesmo, no dispem da integridade funcional de todos os rgos. Para esses
grupos, no entanto, at recentemente, era comum a prescrio de drogas cujas reais indicaes
eram conhecidas, embora fossem desconhecidos os mecanismos de ao no organismo das
pessoas mais frgeis, portadoras que so de pelo menos quatro enfermidades crnicas, em mdia
(MUELLER; HOOK; FLEMING, 2004). A transposio de achados de pesquisas realizadas em
adultos nem sempre vlida para os idosos e os ajustes que so propostos muitas vezes no so
adequados. (GOLDIM, 2002, p. 85).
-
Por uma questo de justia, as pesquisas realizadas em idosos devem beneficiar
diretamente os indivduos que compem essa faixa etria. Caso no preencham esse requisito,
no devem sequer ser iniciadas. Convm chamar a ateno para que os projetos de pesquisas que
contam exclusivamente com a participao de idosos devem ter um representante qualificado na
composio do Comit de tica em Pesquisa (CEP) que analisar o referido projeto, pois tal
representante, na condio de membro, ser capaz de discutir as caractersticas especficas do
grupo que est sendo investigado. Alis, essa tem sido a recomendao das diversas diretrizes
emanadas pela Comisso Nacional de tica em Pesquisa (CONEP) em nosso pas.
A conduo de pesquisa com populao idosa requer uma ateno especial nas vrias
fases do processo de obteno do Consentimento Livre e Esclarecido. H que atribuir especial
ateno obteno do consentimento, devendo, sempre que possvel, recorrer-se ajuda de
familiares ou amigos para explicao conjunta das caractersticas do ensaio.
A histria recente tem registrado o relato de inmeros casos de bito quando da utilizao
da associao de medicamentos e da interao entre eles, resultando em efeitos deletrios
observveis quando da utilizao em pacientes idosos, por desconhecer-se, em determinadas
circunstncias, as caractersticas farmacodinmicas, farmacocinticas e farmacotxicas desses
grupos etrios.
Os desafios da Medicina no sculo XXI em relao terceira idade devem,
necessariamente, incluir a misso de reduzir ainda mais as incidncias das doenas
cardiovasculares e dos diferentes tipos de cncer. Contemplar esse aspecto ser bem mais difcil
do que foi a efetiva contribuio oferecida pela prpria Medicina no sculo passado, ao
-
proporcionar uma maior expectativa de vida aos idosos, reduzindo a incidncia de doenas
cardiovasculares, em conseqncia da recomendao da prtica de hbitos saudveis de vida.
Por fora da especialidade, Medicina Interna, grande parte da clientela atendida em nosso
consultrio pertence a terceira idade. Esse fato tem proporcionado a soluo de desafios
dilemas e conflitos ticos e sociais presentes nessa faixa etria, cotidianamente. Relatar um
exemplo dessa rica convivncia parece-nos oportuno. Certa vez, ouvimos o seguinte relato de
uma de nossas pacientes:
Meu nome Ana, tenho 96 anos e fiquei viva aos 93. Meu esposo faleceu em decorrncia de Alzheimer. Moro com a filha de 75 anos. H dois anos, a filha manifestou sintomas progressivos de Alzheimer e, totalmente invlida, cuidada por mim, salvo quando hospitalizada, em razo de complicaes pulmonares freqentes. Em certo momento do relato, a senhora Ana disse o seguinte: no tenho mais nenhum parente, sou a nica sobrevivente local , minha filha vegeta, perdi minha funo social, portanto: quem sou eu?
De fato, difcil admitir que uma pessoa na chamada terceira idade tenha prazeres e
motivaes para viver que no sejam nica e exclusivamente aqueles decorrentes do cuidar da
prpria filha, a exemplo do caso acima relatado. Certamente, em episdios dessa natureza, h
motivos mais que suficientes para a instalao de quadro depressivo e para o desejo de
antecipao da morte, em substituio aos dias sofridos que restam. Pessoas como a senhora Ana
muitas vezes se mantm vivas apenas em funo do auto-reconhecimento de suas obrigaes
maternas. No entanto, mesmo diante de contextos como esse, entre algumas especialidades,
dificilmente, a depresso no idoso reconhecida e tratada adequadamente. Quase sempre o foco
do examinador condicionado aparncia externa e voltado para o rgo enfermo, sem que se
-
observem os aspectos existenciais e psiquitricos do paciente. Esse tem-se constitudo em um
dos problemas ticos da medicina no que se refere ao tratamento da velhice.
Em nosso meio, a relao do idoso com seus familiares costuma ser ainda uma relao de
respeito e venerao. No entanto, vez ou outra somos surpreendidos por relatos que poderiam ser
considerados at como fantasiosos, de to desumanos. As mulheres idosas, geralmente vivas,
traduzindo uma tendncia a feminizao da velhice, costumam dividir-se em vrios grupos de
queixosas, embora todas tenham algo em comum em suas queixas: a solido. Aquelas que so
capazes de gerir seus bens e tm discernimento escapam da interdio, embora possam sofrer
toda sorte de presso para dividir os seus proventos ou rendas com membros da famlia. Por
oportuno, convm conceituar famlia nesse contexto, de acordo com Amartya Sen, como sendo
um espao de conflito cooperativo (apud, GOLDANI, 2004).
Algumas idosas conseguem morar sozinhas, sob a superviso a distncia de filhos ou
filhas que nem sempre lhes do a devida ateno. Por outro lado, existem aquelas de menor
poder aquisitivo que comumente moram com uma das filhas, o que as leva a perder toda a
privacidade. Nesse caso, geralmente so obrigadas a lidar com a intolerncia dos netos,
traduzindo os inevitveis conflitos intergeracionais. Essas mulheres continuam envelhecendo
vtimas de traumas sem precedentes, pois no h quem as oua ou interceda por elas. preciso
que, no processo de atendimento, os profissionais de sade ofeream a esse universo de mulheres
um espao de privacidade, sem a presena de acompanhantes, a fim de que seja possvel ouvir
suas queixas, garantindo-lhes um formato de atendimento que extrapole o contedo restrito de
uma consulta tradicional circunstancial. inconcebvel a falta de receptividade que muitas vezes
marca o atendimento mdico a essas pacientes. Muitas delas ainda querem ser ouvidas quando
-
sua consulta encerrada, caracterizando uma conivncia perversa e eticamente inaceitvel
entre mdicos e familiares.
No h circunstncia melhor para abordar a terceira idade do que quando j se faz parte
desse grupo etrio ou se convive e acompanha dilemas e conflitos inerentes longevidade, seja
entre familiares ou na rotina diria de uma profisso. No se pode negar que o contato com a
velhice existe em quase todos os ramos da atividade humana. Esse comprometimento nos torna,
de certa forma, cmplices e capazes de dizer se o que nos dizem ou escrevem sobre a velhice
correto. E, nem sempre o .
Todos ns sabemos quanta impropriedade h no culto ao corpo que observamos
diariamente nos meios de comunicao de massa. Geralmente, para se apregoar a necessidade de
adoo de prticas de rejuvenescimento ou de adiamento do envelhecimento, a velhice nos
apresentada como um sinal de equvoco e de descuido. Nesse discurso antienvelhecimento, o
velho nos apresentado sempre como o portador de excessos de rugas, aquele que tem o andar
claudicante, as extremidades trmulas e um comportamento caricato, que vai da inutilidade
condio de estorvo na vida da famlia.
Exemplo de desrespeito ao fenmeno do envelhecimento e conseqentemente
populao idosa o texto do rtulo de um dos cosmticos de reconhecida aceitao no mercado
e cuja denominao comercial creme antiidade. Sua funo farmacolgica, expressa no
rtulo, combater as rugas das mos.
Assumir a velhice em nossa sociedade algo que incomoda principalmente os artistas e
isso visto exausto nas chamada mdia de celebridades. Em depoimentos de atrizes comum
ler frases do tipo: Tenho 81 anos, mas me cuido para demonstrar que tenho 60. Ou ento:
-
velho coisa de quem no tem cabea boa, como se a condio da velhice fosse equivalente a
alguma modalidade de deteriorao e incapacidade mental.
A sexualidade
Talvez, um dos sinais mais contundentes da no aceitao do idoso e do estigma que a
velhice representa seja o silncio total que a sociedade mantm a respeito da sexualidade da
populao idosa. No campo da geriatria e da gerontologia, a sexualidade ainda um tabu. Um
balconista de farmcia sabe muito mais sobre os dilemas sexuais dos septuagenrios do que os
mdicos que os assistem. Isso se d, sobretudo, pelo fato de os profissionais de medicina no
inquirirem fatos considerados como pertencentes esfera da vida privada, como o caso da
sexualidade. Os pacientes idosos, por sua vez, raramente sentem-se vontade para relatar a seus
mdicos aspectos de sua intimidade, fechando-se assim um ciclo de silenciamento em torno de
um dos aspectos fundamentais da vida humana.
Assim sendo, age-se como se o interesse sexual nessa fase da vida fosse desprezvel e o
idoso no merecesse a esse respeito qualquer orientao mdica, o que, muitas vezes pode
estimular, por omisso, a automedicao e o uso de substncias farmacolgicas voltadas para o
estmulo da libido. Em resumo, trata-se de assunto que tambm caducou com o tempo, na viso
dos profissionais inabilitados a tratar os mais velhos. E quando se manifesta algum interesse em
se fazer uma abordagem sobre a esfera sexual do idoso, isso se dar sob estratgias de inibio e
recriminao de qualquer iniciativa nessa rea. V-se, portanto, que temas como privacidade,
autonomia, fidelidade, veracidade e vulnerabilidade encontram-se diludos nas poucas citaes
-
oriundas da experincia pessoal de cada um de ns quando da convivncia com o idoso em toda
a sua complexidade.
Alocao de recursos
Existem dois outros conflitos relacionados biotica clnica e terceira idade que
merecem destaque. O primeiro deles diz respeito destinao de recursos em sade para a
populao idosa. do conhecimento dos que trabalham com biotica que uma das fronteiras para
impor gastos em sade estabelecer limite de idade para determinados procedimentos de alta
complexidade. O Brasil, que destina recursos escassos do seu oramento anual para gastos com a
sade, encontra inmeras dificuldades para atender a todas as demandas nessa rea, sobretudo no
que se refere s necessidades inerentes manuteno da sade da crescente parcela da populao
situada na terceira idade. Enquanto isso, os pases industrializados gastam com os idosos uma
percentagem de recursos maior do que com todo o restante da populao.
A Blgica, por exemplo, gasta 1,7 vezes mais com as pessoas acima de 65 anos do que
com o restante da populao. Isto faz com que muitas sociedades ocidentais sejam receptivas
alocao baseada na idade (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2002, p. 402). Por outro lado, h
quem argumente que a sociedade deve garantir uma assistncia bsica e digna para todos os
indivduos, mas sem o compromisso de empreender esforos ilimitados para vencer a
enfermidade e a morte, ou seja, h de se admitir a morte como um fato aceitvel e inerente ao
carter finito da vida (CALLANHAN, 1989).
Na viso de outros autores, no entanto, esse tipo de proposta pode facilmente servir para
perpetuar injustias e estereotipar os idosos, caracterizando-os, assim, como bodes expiatrios da
-
causa do aumento dos custos da assistncia sade e criando conflitos desnecessrios entre
geraes. Em cada gerao, as pessoas idosas se queixaro de que no tiveram acesso s novas
tecnologias desenvolvidas por meio de pesquisas financiadas pelos impostos pagos por elas.
Agora idosas, essas pessoas se julgam no direito de reivindicar que tal investimento passado se
reverta em acesso justo s novas tecnologias, jamais em restries de uso (BEAUCHAMP;
CHILDRESS, 2002, P. 404).
No Brasil, essa discusso ainda no foi tornada pblica, exceto pela manifestao de
alguns poucos trabalhos acadmicos produzidos na ltima dcada. A destinao justa de escassos
recursos em sade constitui-se tema da maior relevncia e no h como no constar da agenda de
discusso do governo quanto formulao de polticas pblicas no campo da sade. Ao
acompanharmos o que determinou o legislador brasileiro quando da elaborao do Estatuto do
Idoso, ramos praticamente levados a supor que o pas pudesse alocar recursos infinitos para
assistir a todas as situaes contempladas no bojo daquela lei. Para confirmar essa assertiva,
recomenda-se a leitura do Capitulo IV do referido Estatuto, que dispe sobre o direito do idoso
sade.
No possvel enfrentar as dificuldades de escassez de recursos em sade sem limitar o
horizonte a ser alcanado (MUELLER; HOOK; FLEMING, 2004). A literatura prdiga em
apontar exemplos de pases desenvolvidos que detm aproximadamente 10% da populao com
mais de 65 anos de idade com um gasto de 1/3 do total do oramento destinado sade de toda a
populao. Essa uma rea temtica que dever merecer prioridade entre os assuntos pautados
para a terceira idade e suas implicaes com a biotica clnica.
-
A morte e o morrer
A ltima abordagem relacionando biotica clnica e terceira idade diz respeito
representao da perspectiva de morrer e da prpria morte para esse grupo populacional,
sobretudo o que significa morrer com dignidade. A possibilidade de intervir no ciclo da vida,
acelerando ou estendendo o momento da morte, , talvez, uma das questes mais centrais da
tica aplicada sade, sendo o Juramento de Hipcrates uma das referncias ticas mais antigas.
O avano biomdico, em particular as tcnicas paliativas, trouxe para a cena do debate no
apenas a discusso sobre a existncia ou no de um suposto direito de escolher o momento da
morte, mas tambm sobre o tema dos tratamentos desproporcionais que podem estender
indefinidamente a vida, impedindo que as pessoas efetivamente morram.
Inmeras pessoas de projeo na vida pblica j mereceram o enfoque miditico pr e
contra quanto s medidas postas em prtica com o propsito de mant-las vivas. possvel
recordar nomes de papas, ditadores, presidentes e outras autoridades que tiveram seus ltimos
dias expostos espera do final de uma longa agonia. Sobre esse assunto, vale ressaltar os
seguintes aspectos:
O reconhecimento de que a deciso sobre o momento da morte no deveria ser apenas uma questo tcnica, mas essencialmente de ordem tica, portanto, da esfera privada das pessoas, vem sendo considerado um verdadeiro desafio aos profissionais da sade. A resistncia por parte dos que trabalham nas reas biomdica e jurdica no sentido de recusarem aceitar a participao do debate formal sobre diferentes modalidades de eutansia ou de se posicionarem frontalmente contrrios a recusa de pacientes em receber qualquer modalidade de tratamento para a sua enfermidade. Os fundamentos ticos do debate sobre o direito de morrer so vrios, muito embora os princpios da autonomia e da dignidade sejam referncias obrigatrias para qualquer processo decisrio, inclusive nos pases que regulamentaram em lei o direito a alguma forma de eutansia (DINIZ; COSTA, 2004, p. 121).
-
Acredita-se que a eutansia, em suas diferentes tipologias, ser uma rea temtica que
merecer maior ateno nas primeiras dcadas do sculo atual, em substituio ao aborto, que
proporcionou grandes embates ticos a partir da segunda metade do sculo XX. Na mesma
esteira do debate sobre a eutansia, surge a distansia como terminologia de uso corrente quando
se aborda a resistncia ao processo de morrer. Definitivamente, no possvel que tenhamos que
conviver com a idia de que a morte pressupe flagelo ou acabe por representar a violao de
um dos direitos mais fundamentais do ser humano, a dignidade.
O sofrimento de Sigmund Freud, aos 83 anos de idade, deve servir de exemplo para
expor a importncia da recusa ao tratamento. Aps submeter-se a mais de trs dezenas de
procedimentos cirrgicos na tentativa de extirpar um tumor de mandbula, Freud rogou aos seus
colegas que lhe abreviassem o sofrimento, interrompendo a luta contra o tumor e acolhendo seu
desejo de repouso sem sofrimento. Teve o pedido atendido.
Conclui-se que o envelhecimento natural nem sempre significa doena, dependncia de
terceiros ou perda irreversvel de funes, embora seja normal um declnio insidioso e gradual
das capacidades sistmicas e orgnicas. No se espere do idoso centenrio a exibio de sade,
pois com certeza ele estar muito mais prximo do fim da sua existncia, acometido por
diferentes formas ou manifestaes de doenas. papel do estudioso em biotica, diante dessa
realidade social inevitvel, identificar os dilemas e conflitos que surgem a cada dia nos modos de
vida, hbitos, habilidades e perda de autonomia das pessoas que migram para a terceira idade.
Afinal, o sonho da eterna juventude pode parecer mais interessante que a discusso dos
problemas relacionados ao envelhecimento (GUIMARES; CUNHA, 2005:1).
-
Referncias BEAUCHAMP, T. L.; CHILDRESS, J. F. Princpios de tica biomdica. So Paulo: Edies Loyola, 2002. BRASIL. Estatuto do idoso. So Paulo: Saraiva, 2003, 48p. CALLAHAN, D. Health care the elderly: Setting Limits. Saint Louis University Law Journal, Saint Louis, vol. 33, 197-210, jun 1989. CARAMANO, A. A.; MELLO, J. L. E.; KANSO, S. Como vive o idoso brasileiro. In: CARAMANO, A. A. (Org.). Os novos idosos brasileiros. Rio De Janeiro: IPEA, 2004. p. 25-73. DINIZ, D.; COSTA, S. Morrer com dignidade. In: CARAMANO, A. A. (Org.). Os novos idosos brasileiros. Rio De Janeiro: IPEA, 2004. p. 121-134. DRANE, J. F. Aging and Dying: medical and ethical considerations. Acta Bioetica, Santiago, n. 1, p.97-106, 2001. DUCHENE, J.; WUNSCH, G. Population aging and the limits to human life. Working paper, Louvain-la-Neuve, Belgium, n. 1, p.13, aug 1988. GOLDANI, A. M. Relaes intergeracionais e reconstruo do estado de bem-estar. Por que se deve repensar essa relao no Brasil?. In: CARAMANO, A. A. (Org.). Os novos idosos brasileiros. Rio de Janeiro: IPEA, 2004. p. 211-250. GOLDIM, J. R.. Biotica e envelhecimento. In: FREITAS, E. V. et al. Tratado de geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. p. 85-90. GUIMARES, R. M.; CUNHA, U. G. V. Sinais e sintomas em geriatria. 2. ed. So Paulo: Atheneu, 2004. KALACHE, A. Um mundo mais velho (entrevista). Veja, So Paulo, n. 27, p.11, 6 jul. 2005. Semanal. MATURANA, C. T. El viejo en la historia. Acta Bioetica, Santiago, n. 1, p.107-119, 2001. MUELLER, P. S.; HOOK, C. C.; FLEMING, K. C.. Ethical issues in geriatrics: a guide for clinicans. Mayo Cinic Proc, Rochester, n. 79, p.554-562, 1/4/2004.