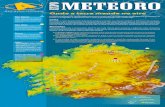Costa Val
-
Upload
helenice-queiroz -
Category
Documents
-
view
47 -
download
2
Transcript of Costa Val

MARIA DA GRAÇA COSTA VAL
Entre a oralidade e a escrita: o desenvolvimento da representação
de discurso narrativo escrito em crianças em fase de alfabetização
(tese de doutoramento pela FAE/UFMG, defendida em 19 de agosto de 1996)
RESUMO
Este trabalho estuda a gênese do discurso narrativo escrito em duas
crianças em fase de alfabetização, alunas de uma escola pública de Belo Horizonte, MG.
Inspirando-se fundamentalmente na teoria da enunciação de Bakhtin e no modelo sócio-
histórico da psicologia cognitiva de Vygotsky, esta pesquisa parte de uma compreensão da
língua como sistema integrado pelos subsistemas gramatical, semântico e discursivo e de
uma concepção da cognição humana como processo de construção subjetiva socialmente
mediada, para tomar como objeto o desenvolvimento da representação do discurso
narrativo escrito em crianças que ainda não têm o domínio do sistema gráfico da escrita.
Adotando como metodologia os procedimentos de pedir aos sujeitos que ditassem e
“fingissem” que estavam lendo histórias, o trabalho examina a atividade enunciativa das
crianças em três entrevistas realizadas durante o ano de 1993 e constata sua habilidade
lingüística e seu progresso na construção do gênero discursivo estudado.

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-84-
Ninguém perderia seu tempo com teorias complexas se
as línguas só tivessem frases como “o boi baba”. (Possenti, 1991)
1. EM BUSCA DE UMA CONCEPÇÃO DE LÍNGUA E DE LINGUAGEM
Este trabalho se orientou por uma concepção de língua que procura integrar
aspectos desse fenômeno freqüentemente considerados de forma privilegiada ou com
exclusividade nas diferentes vertentes dos estudos lingüísticos. Aqui se está entendendo
como mutuamente constitutivas e interdependentes as dimensões social, psicológica e
gramatical da língua, que se constitui na interlocução e para a interlocução: através da
atividade lingüística, o homem, sujeito histórico, interage socialmente, constituindo a si e a
seus interlocutores, constituindo e organizando sua experiência, criando e recriando a
própria linguagem enquanto modo histórico-cultural de representação da realidade e
sistema de recursos expressivos.
Essas três dimensões têm sido identificadas como o objeto sobre o qual recai
prioritária ou exclusivamente o foco das diversas tendências dos estudos das línguas
humanas. Bakhtin (1986, publicação original em 1929), analisou e criticou concepções que
privilegiam a atividade psicológica subjetiva (o “subjetivismo idealista”) ou a estrutura
gramatical, o sistema de signos (o “objetivismo abstrato”), e, entendendo-as como tese e
antítese, propôs como síntese sua teoria da enunciação, em que a “interação verbal”,
“fenômeno social”, é considerada a “verdadeira substância da língua” (p. 123). Castilho
(1993) entende que essas três maneiras de compreender a língua reproduzem,
aproximadamente, três pólos reconhecidos pelos gramáticos gregos - énnoia,
'pensamento'; onomasia, 'designação'; trópos, 'uso individual' -, voltando-se cada uma, com
exclusividade, para um dos três sistemas que, segundo Franchi (1976 e 1991)1, compõem
uma língua natural: o sistema semântico, o sistema sintático e o sistema discursivo. Essas
três vertentes se distribuiriam em três grandes "famílias teóricas” - a primeira, composta
pelos estudos que vêem a língua como uma atividade mental; a segunda, pelos que vêem
a língua como uma estrutura; a terceira, pelos que pensam a língua como uma atividade
social. Neste capítulo do trabalho, meu objetivo é expor e discutir teorias e argumentos que
1 Franchi, C. Hipóteses para uma teoria funcional da linguagem. Campinas, IEL/UNICAMP, 1976 (tese de
doutoramento, inédita); e Franchi, C. Hipóteses para um E-língua, conferência proferida no Departamento de
Lingüística do IEL/UNICAMP, 1991.

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-85-
encaminharam à adoção de uma concepção de língua que pretende contemplar e integrar
os três pólos de que fala Castilho (1993), os três sistemas de que fala Franchi (1976 e
1991, apud Castilho, 1993).
O termo linguagem, aplicado à linguagem verbal, será aqui entendido como
faculdade mental que distingue os humanos de outras espécies animais e possibilita
nossos modos específicos de pensamento, conhecimento e interação com os semelhantes.
Se, como afirmou Saussure (1977:16-17), “a linguagem é multiforme e heteróclita” e
atinente aos domínios da Psicologia, da Antropologia, da Sociologia, entendo ser
necessário conceber a língua (não só a linguagem, como queria o mestre genebrino) como
“a cada instante, ao mesmo tempo, um sistema estabelecido e uma evolução”. Dadas as
necessidades desta pesquisa, o foco deste capítulo será a língua, o sistema lingüístico
necessário ao exercício da linguagem na interlocução. O interesse prioritário da discussão
que se vai desenvolver diz respeito a uma concepção de língua compatível com as funções
cognitivas e comunicativas que se atribui à linguagem.
Considerados a complexidade da questão e os limites deste trabalho, vou passar
ao largo da discussão sobre a pertinência ou não de se postular um núcleo biológico inato
como base a partir da qual se desenvolveria o sistema que constitui as línguas naturais e o
conhecimento lingüístico dos sujeitos falantes. Não posso fugir ao óbvio da constatação de
que “nascemos programados para falar”, mas a discussão sobre a natureza, a extensão e
as implicações dessa “programação” biológica para a linguagem ultrapassa os interesses e
as pretensões deste trabalho.
Por outro lado, não posso aceitar que se tome como decorrência da concepção
interacionista aqui assumida a postulação da absoluta indeterminação do sistema que
constitui o conhecimento lingüístico dos falantes. É também óbvio que a língua não se cria
do nada a cada interação, posto que é indispensável à interlocução o conhecimento
partilhado de um mesmo sistema lingüístico. Na história social as línguas naturais nascem
da interação e para a interação; na história individual, o conhecimento lingüístico se
constitui e se desenvolve também na interação e para a interação. E, para servir à
interação, o sistema que constitui as línguas naturais e o conhecimento lingüístico de cada
falante, deve estruturar-se como conjunto de princípios que define possibilidades e limites à
atividade enunciativa interacional, como sistema virtual que delimita a prática lingüística,
mas que não estabelece relações biúnivocas e fixas entre formas e funções, nem se
organiza como um arquivo definitivo de categorias não intercambiáveis e estruturas
inflexíveis. Antes, estruturando-se para o uso, deve prever deslocamentos e reorganizações
através dos quais se desenvolve sua própria transformação. Desse modo, essa

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-86-
“sistematização” (como quer Geraldi, 1991) plástica e maleável, delimitando possibilidades
de uso nos domínios da sintaxe (compreendida em sentido amplo, como o subsistema
fonológico, morfológico e sintático) da semântica e da pragmática, se constitui (e se
transforma) enquanto sistema e, ao mesmo tempo, enquanto conhecimento dos sujeitos,
no e pelo exercício da atividade lingüística subjetiva e intersubjetiva. Essa é,
resumidamente, a concepção que se vai abraçar aqui.
Nessa concepção, é ponto chave a compreensão de que a atividade lingüística se
faz pelo “funcionamento” inter-relacionado dos subsistemas sintático semântico e discursivo
e que essa atividade se desenvolve, como postula Castilho (1989:250), através dos
processos de situação, cognição e verbalização, que entendo necessário considerar numa
análise cujo objetivo é compreender alguma coisa sobre a construção dos conhecimentos
envolvidos no domínio de um gênero discursivo (o narrativo), numa modalidade lingüística
(a escrita).
1.1. “LINGUAGEM - ATIVIDADE CONSTITUTIVA”
Como ponto de partida, tomo a formulação de Franchi (1977), que vê a linguagem
como atividade constitutiva do sujeito e de seu conhecimento de mundo. Poder-se-ia situá-
la na primeira vertente, por sua inspiração humboltdiana. O autor, rejeitando as abordagens
funcionalistas que reduzem a língua a um papel de ferramenta social e se limitam à
observação de sua face exterior, instrumental, postula a necessidade de apreendê-la na
relação interioridade-exterioridade, solilóquio-diálogo, porque
antes de ser para a comunicação, a linguagem é para a elaboração; e antes de ser
mensagem, a linguagem é construção do pensamento; e antes de ser veículo de
sentimentos, idéias, emoções, aspirações, a linguagem é um processo criador em
que organizamos e informamos as nossas experiências.
(Franchi, 1977:19)
Como se disse, a matriz teórica dessa interpretação remonta a Humboldt
(1936:151, apud Franchi 1977:20), para quem a linguagem atende ao “impulso do homem
em relação ao outro”, oferecendo possibilidades de compreensão de si e do outro e
viabilizando a realização de objetivos comuns, mas “não é somente esse veículo externo,
destinado a manter o intercâmbio social, mas um fator indispensável para o
desenvolvimento do poder intelectual do homem e para que ele tenha acesso a uma visão
de mundo”. A função da linguagem considerada básica, então, não é a de viabilizar a

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-87-
transmissão das experiências pessoais, mas a de constituir essas experiências,
possibilitando ao homem “tornar-se consciente de si mesmo projetando um mundo
exterior”. Esse processo, interpreta Franchi, não vem instaurar uma “racionalidade
definitiva”, mas “uma atividade incessantemente criativa”, “um esforço eminentemente ativo,
constitutivo”, da inteligência e da imaginação. Nesse quadro é que Franchi (ib., p.21) situa a
afirmação de Humboltd (1936:183) de que “em si mesma, a linguagem não é um produto
(ergon), mas uma atividade (energeia)”. Como atividade, a linguagem é processo, é história.
Assim, o aprendizado individual de uma língua natural não é “aprovisionamento de
estoques de expressões”, nem “depósito de registros na memória” (Humboltd, 1936:195,
apud Franchi, 1977:21), mas “permanente crescimento da capacidade de linguagem”. A
história das línguas naturais, a contínua alteração de suas formas externas, é um processo
em que o trabalho coletivo constantemente retoma e recompõe o material lingüístico
socialmente estabelecido.
Essa concepção em alguns pontos se aproxima, em outros se afasta, da
compreensão de Vygotsky (1989) e da de Bakhtin, teóricos cujo pensamento ocupou o
primeiro plano na formulação deste trabalho. Para Vygotsky (1989), o pensamento verbal é
socialmente construído e a participação da linguagem nos processos psicológicos, na sua
gênese, no seu desenvolvimento e em seu funcionamento pleno no adulto, se dá em
função de sua natureza de sistema semiótico, elemento social e cultural por excelência.
Bakhtin (1992:313-317)2 entende que cada “época”, cada formação cultural, é dominada
por idéias e enunciados que a norteiam, de tal modo que “a experiência verbal individual do
homem toma forma e evolui sob o efeito da interação contínua e permanente com os
enunciados individuais do outro” e “nosso próprio pensamento nasce e se forma em
interação e em luta com o pensamento alheio”. Concordando com Humboltd e Vossler,
Bakhtin (1986:122)3 aponta a atividade individual, dotada de função criativa, como
constitutiva da “substância real da língua”, mas ressalva que “a atividade mental a exprimir”,
tanto quanto a enunciação e a própria cadeia verbal que constitui a dinâmica da evolução
da língua, são de natureza social. Assim, apoiada em Vygotsky (1989) e Bakhtin, diria,
retomando Franchi (1977:19), que a experiência subjetiva é condicionada e significada pelo
universo cultural em que o indivíduo está imerso, de modo que a linguagem é para a
construção do pensamento e para interação social, sem que uma instância preceda a
outra, mas numa via de mão dupla, em que um processo alimenta o outro. Para Bakhtin
(1986:127), "a língua constitui um processo de evolução ininterrupto que se realiza através
2 “Os gêneros do discurso”, estudo não integralmente concluído, escrito em 1952-1953 e publicado no Brasil in Estética
da Criação Verbal (1992).
3 Publicação original de 1929.

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-88-
da interação verbal social dos locutores”. Na concepção assumida neste trabalho, o sujeito
de linguagem - ativo, criativo - é um sujeito “nascido na história e constrangido pela
história”, como quer Geraldi (1991:4).
1.2. LÍNGUA - “SISTEMATIZAÇÃO ABERTA”
A percepção da incessante força criativa da atividade subjetiva leva Franchi (1977)
à rejeição da redução da língua a um “princípio de ordenação e classificação” (como quer o
estruturalismo saussureano, que Bakhtin chamou “objetivismo abstrato”), ou a um sistema
formal (como pretendiam os primeiros modelos chomskyanos), e o encaminha à postulação
da indeterminação semântica e sintática da língua. Para Franchi (ib., p. 22), “não há nada
imanente na linguagem, salvo sua força criadora e constitutiva, embora certos „cortes‟
metodológicos e restrições possam mostrar um quadro estável e constituído; não há nada
universal, salvo o processo - a forma, a estrutura dessa atividade”. A “transgressão do
pensamento analógico e metafórico” e a possibilidade de, no discurso, se passar de um
universo de referência a outro, de se „contrabandear‟ predicados de um domínio para outro,
são apontadas por Franchi (ib., p. 24) como argumentos para o reconhecimento da
“indeterminação semântica” da língua. Para ele, é impossível a identificação dos objetos,
nos vários sistemas de referência que a língua constrói, pelo recurso exclusivo à
predicação e, nesse sentido, lhe parece justificável a afirmação de Malinowski de que
“nenhuma expressão é significativa fora de seu contexto de situação”.
Discutindo essa afirmação, Franchi (ib., p.24) reserva o termo contexto ao plano
exclusivamente lingüístico e, quanto ao conceito de situação, (i) reelabora-o de modo a
remeter não a uma associação direta entre „coisas‟ e expressões, mas aos sistemas de
referência que, instituídos pela atividade lingüística do sujeito, organizam os objetos
segundo categorias e relações; (ii) amplia-o de modo a incluir os discursos que antecedem
e respondem ao discurso ali produzido. Daí, então, interpreta que a relação entre “contexto”
lingüístico e “situação” funciona como uma espécie de compensação recíproca, em que,
quando a situação é imediatamente percebida e determinada, o contexto tende a se
simplificar e, inversamente, quando as relações na “situação” não se definem
suficientemente, o “contexto” tende a se tornar complexo. Mas adverte que raras vezes o
discurso se utiliza de recursos expressivos suficientes para a identificação dos objetos
referidos: as expressões em geral indicam limites de “regionalidade”, que será precisada
pelo recurso à situação ou “às regras implícitas do jogo de fatores no sistema de
referências, pressuposto comum”. Por isso, “as línguas naturais se dispensam de premunir-

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-89-
se de um sistema rigoroso de traços distintivos pertinentes que lhes assegure, ao nível das
expressões, coerência, univocidade, não ambigüidade.”
Paralelamente, Franchi (ib., p.25) aponta também a indeterminação sintática. Para
ele, no nível do sintagma e da oração, não há possibilidade de propor um inventário
exaustivo das possibilidades de utilização de categorias e estruturas, que “se prestam a
inúmeras estratégias entre recursos concorrentes, redundantes, complementares”, o que
dispensa a língua de construir uma sintaxe determinada completamente.
Essa interpretação do inter-relacionamento entre atividade discursiva e situação,
sintoma e fruto da indeterminação relativa dos sistemas semântico e sintático, me parece
de grande poder explicativo para a análise tanto de episódios interacionais quanto do
próprio processo de construção dos conhecimentos necessários à interlocução escrita.
Nessa trajetória, um aspecto crucial a ser desenvolvido pelos sujeitos diz respeito
justamente ao jogo discurso-situação, à compreensão do que é possível/necessário deixar
implícito ou explicitar.
A postulação da indeterminação semântica e sintática da língua também se inspira
em Humboltd, para quem, segundo Franchi (ib., p. 23), “a linguagem é um processo cuja
forma é persistente, mas cujo escopo e modalidades do produto são complemente
indeterminados; em outros termos, a linguagem em um de seus aspectos fundamentais é
um meio de revisão de categorias e criação de novas estruturas” (grifo meu). Daí, Franchi
(ib., p.25) aponta a insuficiência das abordagens funcionalistas, dos “processos de análise
que se limitem a segmentar e classificar as expressões” e da “representação de uma „forma
gramatical‟ estruturada sobre um conjunto estável de categorias, resultado já da atividade”
(a “atividade constitutiva quase-estruturante” que é a linguagem), mas adverte contra o
mal-entendido de, ao se reafirmar “o caráter histórico e o condicionamento contextual das
línguas naturais, a irredutibilidade de seus processos expressivos a um sistema formal,
estimular-se uma atitude epistemológica ingênua de imediata recusa da formalização” (p.
9).
Esta pesquisa, pelo próprio objeto que elegeu e pela abordagem com que decidiu
aproximar-se dele, integra nas concepções que a orientam essa compreensão da
linguagem como atividade subjetiva, “energeia” e não “ergon”. Nesse quadro, rejeita
uma visão de língua como produto acabado, código disponível para os falantes, sistema de
signos fechado e completo em si mesmo. Por outro lado também evita a radicalização
impertinente que seria ignorar a configuração da língua enquanto estruturação de
regularidades gramaticais necessárias ao exercício cognitivo e interacional da linguagem.

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-90-
A perspectiva aqui assumida coincide com a de Geraldi (1991:13-15), para quem a
compreensão da historicidade da língua - o trabalho social e histórico dos sujeitos que
recria e transforma continuamente a língua enquanto “sistematização aberta” - afasta tanto
o mito da univocidade absoluta quanto o da indeterminação absoluta. O equilíbrio das
tendências opostas de diferenciação, a cada instância de uso, e de repetição das mesmas
expressões, categorias e estruturas com funções similares em situações semelhantes
acarreta a construção de regras, padrões e regularidades que delimitam a atividade dos
sujeitos nas operações discursivas, porquanto, segundo o autor (p. 54), a própria língua,
“enquanto sistematização aberta, histórica e socialmente produzida, impõe, por seu turno,
ela própria uma realidade, restrições ao tipos de ações que com ela podemos fazer ou que
sobre ela podemos fazer”.
Nesses termos, considero adequadamente contemplada a inegável dimensão
estrutural da língua: não se a reduz à gramática, mas, reconhecendo a realidade de sua
configuração gramatical, compreende-se essa gramática como sistematização resultante
do trabalho lingüístico social e historicamente elaborado, que acaba por estabelecer
regularidades de uso, nos níveis fonológico, morfossintático e textual, em termos formais,
semânticos e pragmáticos.
Nessa concepção, a gramática, pode-se afirmar, parodiando Franchi (no prefácio a
Coudry, 1988), não é derivada de uma necessidade lógica, mas de uma necessidade
antropológica e cultural. E, remetendo ao mesmo autor, deve-se distinguir língua e código,
pois “a construção e interpretação das expressões não é questão de engenharia, um
processo de codificação e decodificação que simplesmente pareia sinais e mensagens ou
projeta a estrutura das expressões sobre a estrutura da realidade”, mas, antes, “decorre da
convergência e interdependência das estruturas lingüísticas e do contexto pragmático em
que se usam”.
Meu estudo, cujo território é a interação lingüística e cuja metodologia é a análise e
a inter-relação de episódios interlocutivos, tomados na sua estreita ligação com as
circunstâncias da enunciação, situa-se fora do âmbito das concepções estruturalistas,
identificadas por Castilho (1993) como segunda “família teórica”, as quais se interessam
pela língua enquanto estrutura idealizada, abstração que rege o comportamento lingüístico,
mas produto sincronicamente acabado, instrumento disponível para os falantes,
independente deles e das situações em que o utilizam (daí a designação aparentemente
contraditória de Bakhtin - “objetivismo abstrato”). Estudar a língua dessa perspectiva é
analisar palavras, sintagmas e orações, descrevendo sua estrutura, decompondo-os em
seus constituintes e inferindo as regras que comandam a inter-relação entre esses

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-91-
constituintes, tomando como unidade máxima a frase, e a frase descontextualizada. O
propósito deste trabalho de compreender o processo de construção do conhecimento
necessário à interação mediada pela escrita, como já foi dito, o situa “no pólo da
enunciação” e define como unidade de análise o texto, tomado na sua relação com o
contexto, ou seja, o discurso. Isso não implica desconhecer a existência de um sistema de
estruturas e categorias que balizam as possibilidades de produção lingüística no nível da
frase, do sintagma, da palavra, do morfema e do fonema. Mas significa compreender que,
no limite desses parâmetros, as possibilidades de realização dessas virtualidades são muito
variadas e se determinam discursivamente, em função dos conhecimentos, objetivos e
disposições dos interlocutores, das representações que o locutor constrói de si mesmo, do
interlocutor, da relação que se estabelece entre eles, da situação, e, também, em função
da própria tessitura lingüística do discurso em que se insere cada enunciado. Assim, se é
verdade que o sujeito não cria estruturas sintáticas nem fonológicas, nem papéis
semânticos, se não inventa classes de palavras nem categorias morfológicas (como as
desinências de gênero e número ou as modo-temporais), é verdade também que, no
discurso, pode promover deslocamentos na ordem sintática canônica, pode realizar apenas
parcialmente estruturas frasais e sintagmáticas, pode alterar as relações mais previsíveis
entre classes de palavras, funções sintáticas e papéis semânticos, sem, com isso, produzir
um texto inaceitável ou incompreensível. Acredito que só com essa compreensão do que
seja a natureza gramatical da língua que é poderei dar conta do objeto que me interessa e
dos dados de que disponho para me aproximar dele.
1.3. LINGUAGEM - “INTERAÇÃO VERBAL”
O objeto e a metodologia desta pesquisa só se poderiam construir do ponto de
vista de uma teoria da enunciação, lugar de onde se pode reconhecer como objeto de
ciência legítimo (porque dotado de organicidade e passível de sistematização teórica)
aquilo que a tradição gramatical, o estruturalismo e os primeiros modelos gerativistas não
contemplam por considerar assistemático, caótico, sujeito aos acidentes da situação, às
oscilações da emoção, às limitações da memória.
Neste item, tendo em vista os aspectos pertinentes aos interesses deste trabalho,
serão focalizadas as concepções de enunciação de Benveniste, Bakhtin e Ducrot. Buscar-
se-á indicar pontos de contato e divergências, para, ao final, na medida das
compatibilidades definidas pela própria estruturação conceitual de cada teoria e nos limites

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-92-
das possibilidades da pesquisadora, elaborar uma síntese coerente, que explicite o
referencial adotado no exame dos dados da pesquisa.
1.3.1. Enunciação - “conversão individual da língua em discurso”
Benveniste (1989:81-90)4 conceitua a enunciação como o "colocar em
funcionamento a língua por um ato individual de utilização", através do qual o locutor se
institui, enunciando sua posição de locutor, e institui o outro como interlocutor, para
expressar uma relação com o mundo. Ou seja, na enunciação se constituem o eu, o outro,
e o mundo. Para o autor, fora da enunciação a língua é apenas possibilidade e a
enunciação – o "ato mesmo de produção do enunciado (e não o texto do enunciado)" –,
embora acontecimento único e individual, é um fenômeno "total e constante" que afeta todo
o sistema da língua.
Para Benveniste (1988:286), "é na linguagem e pela linguagem que o homem se
constitui como sujeito". O diálogo é condição constitutiva da pessoa, que experimenta a
consciência de si mesma pelo contraste: cada locutor se apresenta como sujeito,
remetendo a si mesmo no seu discurso; só emprega eu porque se dirige a alguém que será
designado como tu; e se dispõe à reciprocidade, pois se torna tu no momento em que o
outro se enuncia como eu. O fundamento lingüístico da subjetividade é essa realidade
dialética em que um termo não se concebe sem o outro, em que eles se definem pela
relação mútua: eu e tu se definem no exercício da linguagem, no ato individual do discurso,
ou seja, na enunciação. "A linguagem está organizada de tal forma que permite a cada
locutor apropriar-se da língua toda designando-se como eu" (ib., p.288). A cada ato
individual de discurso, o locutor se constitui, constitui o seu interlocutor e instaura um
regime enunciativo que define o aqui-agora como o momento da enunciação. É à
organização da língua para cumprir essa função que Benveniste chama de "aparelho formal
da enunciação".
Para o autor, esse aparelho não se confunde com as regras lingüísticas de
emprego das formas, definidas por condições fonológicas e morfossintáticas, mas tem a
ver com o emprego da língua, a "conversão individual da língua em discurso". Benveniste
(1989:83-88) aponta como integrantes desse aparelho, o sistema dos pronomes pessoais,
índices da relação eu-tu, "que não se produz senão na e pela enunciação", e o dos
4 Serão focalizados aqui, basicamente, o artigo “O aparelho formal da enunciação”, escrito em 1970 e com tradução
brasileira publicada em 1989, e os textos, escritos entre 1946 e 1963, reunidos sob o título “O homem na língua” no
Problemas de Lingüística Geral I (publicação original de 1966, tradução brasileira de 1988).

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-93-
demonstrativos (pronomes e advérbios), índices de "ostensão", (este/esse/aquele;
aqui/aí/lá; agora/então), ambos os sistemas criadores de "indivíduos lingüísticos", que
nascem da enunciação e são engendrados novamente a cada enunciação, por oposição
aos conceitos, referidos pelos termos nominais, que remetem à realidade objetiva. Outro
integrante do aparelho formal da enunciação é o paradigma dos tempos verbais, cuja forma
axial, o presente, coincide com o momento da enunciação. Para Benveniste, a
temporalidade "é produzida na e pela enunciação", na medida em que "da enunciação
procede a instauração da categoria do presente, e da categoria do presente nasce a
categoria do tempo". A enunciação é, pois, considerada responsável por certas classes de
signos que ela cria em relação ao aqui-agora do locutor, signos esses que se opõem aos
ligados ao uso cognitivo da língua, que teriam estatuto “pleno e permanente”.
A teoria da enunciação de Benveniste põe em foco a instância do discurso, ato
individual de exercício da linguagem e se contrapõe a concepções alinhadas ao que
Bakhtin chama “objetivismo abstrato”, na medida em que identifica, no interior do sistema
lingüístico, subsistemas fundamentais que se organizam em função da enunciação. A
língua não é, para ele, uma estrutura abstrata, acabada e fechada em si mesma, posto que
comporta “aparelhos” criados na e pela atividade enunciativa e que, existindo, afetam o
sistema como um todo. Benveniste levanta questões nodais que serão mais radicalmente
desenvolvidas no seio de outras teorias da enunciação. Por exemplo, a dialogia constitutiva
dos sujeitos, que se configura lingüisticamente na relação eu-tu, mesmo no exercício do
monólogo, “diálogo interiorizado, formulado em „linguagem interior‟, entre um eu locutor e
um eu ouvinte” (1989:87). Apesar dos inegáveis pontos de contato com as concepções
bakhtinianas, a teoria da enunciação de Benveniste delas diverge fundamentalmente na
medida em que não vê as determinações sociais da interação lingüística intersubjetiva,
constitutivas dos sujeitos e da linguagem.
1.3.2. Interação lingüística - fenômeno social
Para Bakhtin (1986:123), a realidade fundamental, a verdadeira substância da
língua é constituída pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da
enunciação. O traço mais marcante do pensamento do autor é sua compreensão da
interação verbal como um fenômeno essencialmente social. A enunciação é vista como
“produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados" (ib., p. 112), sempre
determinada, em seu conteúdo, em sua significação e em sua forma e estilo, pela situação

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-94-
imediata, pelos participantes e pelo contexto mais amplo que constitui o conjunto das
condições de vida de uma determinada comunidade lingüística, as pressões sociais mais
substanciais e duráveis a que estão submetidos os interlocutores (ib., p.121 e 114). Essa
determinação sócio-histórica tem a ver com a própria natureza da linguagem (e da língua),
pois, para Bakhtin, a palavra é dialógica: "toda palavra comporta duas faces; é determinada
tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém"
(ib., p. 113). E o diálogo supõe um “horizonte social” definido, que determina os
conhecimentos, crenças e valores de um grupo humano, de tal maneira que o próprio
"mundo interior e a reflexão de cada indivíduo têm um auditório social bem estabelecido"
(ib. p.112).
1.3.3. Da frase ao discurso
A compreensão da natureza interacional da língua leva Bakhtin à percepção do
discurso, e de seu "sentido ideológico ou vivencial": "na realidade, não são palavras o que
pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes
ou triviais, agradáveis ou desagradáveis" (ib., p.95). Por isso ele critica a reflexão lingüística
sua contemporânea, que só alcança até a frase complexa (o período composto), deixando
para a retórica e a poética o estudo da "estrutura da enunciação completa" (ib., p.104).
Essa limitação da lingüística estruturalista é intransponível, pois "existe um abismo entre a
sintaxe e os problemas de composição do discurso" (ib., p.104), cuja natureza é social,
interacional, dialógica e intertextual, e não pode ser compreendida isolada de seu contexto
e das relações que ali se estabelecem.
“As pessoas não trocam orações, assim como não trocam palavras (numa
acepção rigorosamente lingüística), ou combinações de palavras, trocam enunciados
constituídos com a ajuda de unidades da língua”. Com essa visão, Bakhtin (1992:297)
distingue oração e enunciado, tomando os termos enunciado e discurso como
intercambiáveis. A oração é entendida como unidade da língua, de natureza gramatical,
que ganha sentido, “complementada por importantes fatos não gramaticais que lhe
modificam a natureza” (ib., p.306), quando integra o tecido do enunciado, unidade da
comunicação verbal, que se define por expressar um “querer-dizer” ou “intuito discursivo”
do locutor, por constituir um todo delimitado pela alternância de interlocutores, e,
principalmente, por suscitar uma atitude responsiva (o próprio processo de compreensão é
interpretado como atitude responsiva ativa - “toda compreensão é prenhe de resposta”,
p.290). Ducrot (1984 e 1987) amplia e precisa a intuição de Bakhtin, entendendo que a

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-95-
frase, no “nível elementar” e o texto, no “nível complexo”, são entidades abstratas cujas
realizações são, respectivamente, o enunciado e o discurso, produzidos pela atividade
lingüística do sujeito no “acontecimento” que é a enunciação. A frase fornece instruções
que permitem descobrir, numa situação particular de enunciação, a que se refere o
enunciado que a realiza e com que valor ilocucional e argumentativo ele deve ser
interpretado. Daí, afirma Ducrot (1984:371) que tanto no aspecto da referência quanto no
das “variáveis intencionais”, “o enunciado diz coisas que a frase não pode dizer”, pois “a
frase não traz uma informação propriamente dita (mesmo se é afirmativa), ou seja, ela não
tem um conteúdo suscetível de ser verdadeiro ou falso, agradável ou desagradável”.
A distinção entre oração (ou frase) e enunciado me parece uma forma de integrar
as dimensões gramatical, interacional e psicológica da linguagem e, portanto, um
instrumento esclarecedor e de poder explicativo para o tipo de análise que pretendo
empreender. Delimitando aqui o termo enunciado à manifestação particular de uma oração,
numa situação de interação, pode-se dizer que as pessoas não trocam orações, trocam
enunciados; mas as estruturas oracionais, unidades do sistema lingüístico, fazem parte de
seu conhecimento da língua, o que torna possível que, na atividade interlocutiva, as
pessoas, enquanto ouvintes/leitores, „preencham‟ enunciados incompletos e interpretem
adequadamente (ou não) enunciados potencialmente ambíguos e, enquanto
falantes/escritores, se dispensem de uma produção exclusivamente canônica e exercitem
sua criatividade gramatical (sintática e semântica, cf. Franchi, 1977 e 1988). Se se
transpuser essas noções para o nível macroestrutural, pode-se pensar numa relação
equivalente a essa entre duas instâncias que se poderia chamar de texto e discurso. Nesse
caso, tanto a coerência e a coesão quanto a superestrutura canônica, presumidas no texto,
seriam sinalizadas no discurso para serem (re)construídas pelos interlocutores em função
das circunstâncias da enunciação. Em suma, a concepção assumida neste trabalho é que
os discursos, e os enunciados de que se compõem, são realizações da língua que remetem
às representações de texto e de frase que integram o conhecimento lingüístico do sujeito e
que ele acredita partilhadas pelos seus interlocutores.
1.3.4. Dialogia e alteridade: interlocução e interdiscursividade
Em Bakhtin (1992), a distinção oração-enunciado se coloca como decorrência do
princípio geral da dialogia que informa sua teoria da enunciação. A oração, enquanto
unidade da língua, não tem autor, não busca a resposta de um interlocutor, “é neutra, não

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-96-
comporta aspectos expressivos” (ib., p.309). Só quando funcionando como enunciado,
integrada no discurso, é que vai participar do jogo dialógico, como “elo na cadeia da
comunicação verbal”. Com o princípio da dialogia, o autor (1992:277-326)5 ultrapassa as
concepções lingüísticas e estilísticas suas contemporâneas, propondo que o processo de
produção e o estilo do discurso dependem fundamentalmente, além do seu objeto e da
relação valorativa do autor com esse objeto (a “expressividade”), das relações dialógicas
que o constituem (a quem se dirige, como o locutor percebe e imagina seu interlocutor, em
que “esfera da vida social” nasce e circula esse enunciado) e que determinam a escolha de
recursos lexicais, gramaticais e composicionais, inclusive o gênero:
Enquanto elaboro meu enunciado, tendo a determinar essa resposta [= a
compreensão responsiva do destinatário] de modo ativo; por outro lado, tendo a
presumi-la, e essa resposta presumida, por sua vez, influi no meu enunciado
(precavenho-me das objeções que estou prevendo, assinalo restrições, etc).
Enquanto falo, sempre levo em conta o fundo aperceptivo sobre o qual minha fala
será recebida pelo destinatário: o grau de informação que ele tem da situação, seus
conhecimentos especializados na área de determinada comunicação cultural, suas
opiniões e suas convicções, seus preconceitos (de meu ponto de vista), suas
simpatias e antipatias, etc.; pois é isso que condicionará sua compreensão
responsiva de meu enunciado. Esses fatores determinarão a escolha do gênero do
enunciado, a escolha dos procedimentos composicionais e, por fim, a escolha dos
recursos lingüísticos, ou seja, o estilo do meu enunciado.
(Bakhtin, 1992:321)
Mesmo o discurso escrito, aparentemente monológico, se constitui como processo
dialógico:
Toda enunciação, mesmo na forma imobilizada da escrita, é uma resposta a alguma
coisa e é construída como tal. Não passa de um elo da cadeia dos atos de fala. Toda
inscrição prolonga aquelas que a precederam, trava uma polêmica com elas, conta
com as reações ativas da compreensão, antecipa-as. Cada inscrição constitui uma
parte inalienável da ciência ou da literatura ou da vida política. Uma inscrição,
como toda enunciação monológica, é produzida para ser compreendida, é orientada
para uma leitura no contexto da vida científica ou da realidade literária do
momento, isto é, no contexto do processo ideológico do qual ela é parte integrante.
(Bakhtin, 1986:98)
5 O estudo a que me refiro é de 1952-1953.

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-97-
Enfim, “ter um destinatário, dirigir-se a alguém, é uma particularidade constitutiva
do enunciado, sem a qual não há, e não poderia haver, enunciado”, e é “sob a influência do
destinatário e de sua presumida resposta que o locutor seleciona todos (grifo do autor) os
recursos lingüísticos de que necessita”, conclui Bakhtin (1992:325-326).
Essa maneira de compreender a composição textual orientou o estabelecimento
dos procedimentos metodológicos adotados nas entrevistas e nas atividades de
intervenção, nesta pesquisa. Todas as propostas de elaboração discursiva procuraram
contextualizar o processo composicional, delineando para o sujeito o horizonte de um
interlocutor e uma possibilidade de circulação para o seu discurso. Por outro lado, a
definição dessa perspectiva para a criança fixou também parâmetros para a avaliação pela
pesquisadora, cuja análise considera como se posicionou o sujeito no processo dialógico a
que foi convidado.
A partir da idéia básica de que um enunciado é um elo na cadeia da comunicação
verbal, Bakhtin (1992:316-320) desenvolve as noções de dialogia e alteridade, delimitando-
as a uma esfera determinada da vida social. Nenhum locutor é o Adão bíblico, lembra o
autor, e o objeto de um discurso, inevitavelmente, é o ponto onde se encontram opiniões,
visões de mundo, tendências e teorias de outros sujeitos. Daí decorre que os discursos não
são auto-suficientes nem indiferentes uns aos outros, mas refletem-se mutuamente. Por
um lado, um discurso está repleto de ecos e lembranças de outros discursos, “no interior de
uma esfera comum da comunicação verbal”, aos quais responde, refutando-os,
completando-os, fundamentando-se neles, supondo-os conhecidos. Por outro lado, dirige-
se a um interlocutor e dele espera uma resposta, “elabora-se para ir ao encontro dessa
resposta”, prevendo e construindo seu futuro discursivo. Desse modo, determina-se pelos
elos que o antecedem e pelos que o sucedem na cadeia verbal, constituindo-se dessa
“ressonância dialógica”. A alteridade constitui os fios dos quais se tece um discurso.
A essa alteridade que é condição constitutiva se contrapõem formas específicas,
mais ou menos visíveis, de introduzir num discurso o discurso alheio. Quando o discurso do
outro é nitidamente decalcado, “a alternância dos sujeitos falantes e de sua inter-relação
dialógica repercute claramente” (ib., p.318). As aspas no texto escrito, uma entonação
especial no texto oral, os verbos dicendi e outros recursos sintáticos servem à demarcação
do discurso do outro, transpondo a alternância dos interlocutores para o interior do
discurso. Noutros casos as fronteiras podem se tornar tênues, porque o locutor pode
infiltrar-se no enunciado do outro trazido ao seu discurso, falseando-o, marcando-o com
sua aprovação ou indignação, com ironia, ou concessão. E, ainda, podem tornar-se quase

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-98-
inaudíveis as vozes alheias, atenuando-se as marcas da alternância dos sujeitos que,
então, “sulca o enunciado por dentro” (ib., p.326).
Na interpretação de Authier-Revuz (1982 e 1990), os fenômenos a que se refere
Bakhtin são melhor compreendidos quando se distingue a “heterogeneidade mostrada” da
“heterogeneidade constitutiva”. A heterogeneidade mostrada (explicitada por recursos
sintáticos no estilo direto e no indireto; marcada por formas especiais de conotação
autonímica como entonações particulares, aspas, itálico, comentários, glosas; e
reconhecível, embora não marcada, no discurso indireto livre, na ironia, na metáfora, nos
jogos de palavra) seria uma espécie de “negociação” do sujeito com a heterogeneidade que
efetiva e inelutavelmente constitui o discurso. Através dessa negociação, por um processo
denegatório, o sujeito daria lugar ao heterogêneo e, portanto, o reconheceria, “mas para
melhor negar sua onipresença” (1990:33).
Authier-Revuz (1982:140) encontra uma maneira de articular duas modalidades de
interação no conceito bakhtiniano de dialogia. Para a autora, “o dialogismo do círculo de
Bakhtin faz da interação com o discurso do outro a lei constitutiva de todo discurso”, e tanto
a interdiscursividade quanto a interlocução (grifos meus) inscrevem constitutivamente no
discurso „as palavras dos outros‟. Entre os outros discursos que atravessam e constituem
cada discurso particular, está aquele que o locutor atribui ao interlocutor (como resposta
presumida) e determina, por um parâmetro dialógico específico, o processo interlocutivo em
questão.
Avalio como pertinente - e produtiva para a análise dos meus dados - a articulação
interdiscursividade-interlocução proposta por Authier-Revuz(1982), mas devo registrar que
a concepção de sujeito adotada neste trabalho não coincide com a assumida pela autora,
estabelecida a partir da perspectiva psicanalítica, de Freud e Lacan.
Aqui, vou me limitar a responder resumidamente à inevitável questão sobre o
conceito de sujeito que está na base deste trabalho, buscando apoio em Smolka, Góes &
Pino (s/d) e em Geraldi (1996), cujos estudos também se fundamentam em Bakhtin.
1.3.4.1. Sujeito, alteridade e trabalho lingüístico
Minha filiação às postulações teóricas de Bakhtin e Vygotsky (1989), aproxima a
concepção de sujeito aqui adotada das reflexões desenvolvidas por Smolka, Góes & Pino
(s/d), que, inspirados nos princípios bakhtinianos da alteridade e da dialogia, vêem “a trama
da textura social” como o lugar da constituição do sujeito: o indivíduo se torna sujeito

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-99-
configurado pelo outro e pela palavra, pelo discurso. Essa compreensão não implica a
negação da individualidade nem da criatividade subjetiva, mas as condiciona às
determinações históricas, culturais, ideológicas. “Só a localização histórica e social torna
um homem real e determina o conteúdo de sua criação pessoal e cultural” (Bakhtin, apud
Todorov, 1984:31, citado por Smolka, Góes & Pino). Assim, para os autores:
A noção de uma consciência individual configurada na/pela relação com o outro,
povoada por muitas e diferentes “vozes” ou palavras dos outros, abre para o sujeito
a possibilidade de uma constituição muito singular, como lugar único de
articulação de tais vozes. O sujeito povoado de outras vozes emite a sua própria
voz no “coro” polifônico: concerto, embora não harmônico, caracterizado tanto por
movimentos sincrônicos quanto por vozes distintas, conflitivas e dissonantes.
(tradução e grifos meus)
O objeto e o objetivo definidos para esta pesquisa e o encaminhamento imprimido
à análise dos dados supõem um sujeito cognoscente e falante condicionado pela história, a
ideologia e a cultura, atravessado por discursos alheios, constrangido pela “sistematização”
gramatical e semântica da língua, mas, ainda assim, único, singular, porque se constitui na
atividade intelectual e lingüística que incessantemente articula, com fissuras e fendas,
todas essas vozes, num trabalho que o encaminha e o capacita a escolhas, intenções e
decisões. Não falo, portanto, de um sujeito pronto, impermeável, senhor absoluto e sempre
consciente de seu trabalho lingüístico e cognitivo, mas de um sujeito que, como postulam
Bakhtin e Vygotsky (1989), se forma e se transforma na interação com o outro, num
processo em que identidade e alteridade se constituem mutuamente, em relação sempre
dinâmica. Não se trata, pois, de uma relação especular entre sujeitos homogêneos e
monolíticos, mas da relação constitutiva de sujeitos que “não são cristalizações imutáveis” e
que “os processos interlocutivos estão sempre a modificar”, como entende Geraldi
(1991:28).
Tendo como tema as relações sujeito-discurso, Geraldi (1996:9-23) aponta a
postulação de Benveniste concernente ao “aparelho formal da enunciação” como primeira
alternativa capaz de articular os termos da oposição saussureana entre língua (sistema
estruturado, da ordem do social) e fala (ato individual de uso, marcado pelo acessório e o
acidental), que tem sido interpretada como a exclusão do sujeito da língua e a delimitação
da subjetividade no “espaço insuportável da fala” (Geraldi, 1996:15). É a partir de
Benveniste que se passa a reconhecer, na enunciação, “a língua marcada pela fala” (ib.,
p.11) e se abre espaço para a necessária consideração de “fenômenos aparentemente da
fala mas que se „impregnam‟ nos elementos do sistema lingüístico e não podem ser

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
100-
desconsiderados em sua descrição” (ib., p. 12), como a dêixis, as modalidades, a
performatividade, a polissemia e o duplo sentido, a argumentação, a implicitação, a
polifonia e a heterogeneidade. Entretanto, na medida em que Benveniste não explicitou sua
concepção de sujeito, diz Geraldi (1996:13-14), em sua teoria, o “enunciador, que se
apropria da língua, instala-se como centro de referência interno do discurso, postula o
outro, expressa uma relação com o mundo e, pelo discurso, co-refere com o interlocutor”,
tem sido preferencialmente lido como “um sujeito livre, independente das relações sociais
que o constituem, capaz de dizer com transparência o que quer dizer, limitado apenas pela
necessidade de co-referir com seu igual, alocutário e parceiro também livre e
alternadamente origem e fim da enunciação”.
A esse sujeito senhor absoluto de seu dizer vêm se contrapor as concepções da
escola francesa de análise do discurso, marcadas pela recusa a “toda suposição de um
sujeito intencional como origem enunciadora de seu discurso” (Pêcheux, 1990:3116, citado
por Geraldi, 1996:17). Para Geraldi (1996:16),
O projeto de uma análise automática do discurso somente pôde ser sonhado sob a
condição de um assujeitamento do sujeito às condições de produção, aos
instrumentos de produção e às relações de produção discursivas, cujo processo
global de produção pode ser equiparado a uma maquinaria, já que o sujeito de
discurso não é mais do que uma posição social, pré-definida pela estrutura da
sociedade, da qual emanam textos cuja materialidade se define no discurso e nas
formações discursivas, estabelecidos os limites entre o dizível e o indizível segundo
posições de classe e ideologias a que se subordinam os indivíduos enquanto
ocupantes do lugar social de que falam.
Mesmo depois da incorporação do conceito de alteridade, que, levando à
percepção de que uma formação discursiva é constitutivamente “invadida” por elementos
oriundos de outras formações discursivas, acarreta o abandono do projeto de maquinaria
discursiva, a AD mantém sua rejeição à concepção de sujeito como fonte do dizer e,
segundo Pêcheux (1990:314), reduz a questão do sujeito da enunciação ao tema spinozista
da “ilusão subjetiva produzida pela ignorância das causas que nos determinam”. Essa
postura, aponta Geraldi (1996:17), é reconhecida como problemática pelo próprio Pêcheux
(1983:315-318), que, depois da “desconstrução das maquinarias discursivas”, vê para a AD
“sobretudo muitos pontos de interrogação”. Também Maingueneau (1990, apud Geraldi,
1996:18) faz críticas ao imobilismo da AD, que mantém sua inscrição à conjuntura teórica
6 O texto original é de 1983. 1990 é a data de publicação da tradução brasileira.

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
101-
dos anos 60, de aliança entre o marxismo althusseriano e a psicanálise lacaniana, “como
se nada tivesse mudado nas ciências humanas há vinte e cinco anos”, acrescenta Geraldi
(1996:18).
Por isso, recusando as duas primeiras alternativas (“nem origem, nem
maquinaria”), Geraldi (1996:18-20), fundamentando-se em Franchi (1977) e em Bakhtin
(1986 e 1992), propõe como saída para o impasse a noção de trabalho lingüístico de
constituição, postulando que “a língua e o sujeito se constituem nos processos interativos”,
em cuja fluidez não se pode desconhecer “espaços de estabilizações”.
Admitindo que a linguagem é uma atividade constitutiva (Franchi, 1977), é o
trabalho lingüístico que nos interessará: o trabalho não é um eterno repetir. Por ele
a linguagem se constitui marcada pela história deste fazer contínuo que a está
sempre constituindo. O lugar privilegiado desse trabalho é a interação verbal, que
não se dá fora das interações sociais, de que é apenas um tipo, essencial é bem
verdade.
Admitir que esse trabalho se dá nos processos interativos implica admitir que neles
há agentes. Como não cair na armadilha da suposta fala livre de Saussure ou do
suposto sujeito livre de Benveniste? Como defender a existência de agentes,
reconhecendo-se as constrições próprias dos processos, relações e instrumentos de
produção disponíveis e sem os quais não há interação possível?
Para um projeto que queira ao mesmo tempo conhecer a repetição e a criação num
mesmo espaço de produção, é crucial definir, e se impossível, desenhar ou no
mínimo dar-se uma teoria do sujeito. Inspirado em Bakhtin, entende-se que o
sujeito se constitui como tal à medida que interage com os outros, sua consciência e
seu conhecimento do mundo resultam como “produto sempre inacabado” deste
mesmo processo no qual o sujeito internaliza a linguagem e constitui-se como ser
social, pois a linguagem não é o trabalho de um artesão, mas trabalho social e
histórico seu e dos outros, e para os outros e com os outros que ela se constitui. Isto
implica que não há um sujeito dado, pronto, que entra em interação, mas um sujeito
se completando e se construindo nas suas falas e nas falas dos outros.
Posta a questão nestes termos, a densidade, a precariedade e a singularidade do
acontecimento interlocutivo recebem um estatuto diferente daquele de mero
acidente de uso da expressão verbal. É no acontecimento que se localizarão as
fontes fundamentais produtoras da linguagem, dos sujeitos e do próprio universo
discursivo. Na precária temporalidade do acontecimento, entrecruzam-se repetição
e criação, porque é próprio da estrutura lingüística que se repete sua
disponibilidade para a mudança.

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
102-
Essa longa citação se justifica na medida em que o autor focaliza questões
importantes para este trabalho e as ilumina com a mesma compreensão que aqui se
deseja: a inter-ação lingüística, determinada social e historicamente, constituindo os
sujeitos, a linguagem e a língua. Ressalvando, mais uma vez, que essa compreensão não
significa assumir a hipótese absurda da indeterminação absoluta da língua, como já
ponderou o mesmo autor noutra obra (cf. Geraldi, 1991:13-15), retomo aqui a expressão
formulada por Saussurre (1977:16) para uma conceituação sucinta de linguagem e que eu
estendi ao conceito de língua: “a cada instante, ao mesmo tempo, um sistema estabelecido
e uma evolução”.
A partir da concepção de sujeito como “construído nas relações sociais” e
“constitutivamente heterogêneo, de uma incompletude fundante que mobiliza o desejo de
completude, aproximando-o do outro, também incompletude por definição”, Geraldi (1995)
retoma postulações anteriores (cf. Geraldi, 1991), relativas às ações que se realizam com a
linguagem (os atos de fala, discutidos em 1.3.5 a seguir), às ações que se realizam sobre a
linguagem, de criação de novos recursos expressivos a partir dos já existentes, e às ações
da própria linguagem, que, enquanto “sistematização” sintática e semântica, interfere nas
formas de construção de raciocínios lógico-lingüísticos e delimita sistemas de referência
histórica e culturalmente estabelecidos.
A esta pesquisa interessa, particularmente, a compreensão, que Geraldi (1991:19-
26) busca em Culioli, quanto aos diferentes níveis de reflexão em que se dão as operações
através das quais se efetivam as ações do sujeito: as atividades lingüísticas, as
epilingüísticas e as metalingüísticas.
As atividades lingüísticas dizem respeito ao agenciamento de recursos expressivos
pelos interlocutores nas operações necessárias à produção e à interpretação do discurso e
demandam uma reflexão que Geraldi (1991:20) chama de “quase automática”, posto que
elas “vão de si”, não interrompendo a progressão do assunto de que se trata. O autor
exemplifica com uma transcrição de conversa oral, em o locutor realiza o trabalho de
determinação do tema através de retomadas parafrásticas que vão tornando o sentido cada
vez mais específico.
As atividades epilingüísticas também ocorrem nos processos interacionais e
resultam de uma reflexão que toma os próprios recursos expressivos como objeto,
suspendendo o tratamento do tema em pauta. Sua manifestação são as negociações de
sentido, as hesitações, as autocorreções, as reelaborações, as rasuras, as pausas longas,
as repetições, as antecipações, presentes na interlocução oral e escrita, que têm sido
estudadas como operações importantes nos processo de aquisição da linguagem pela

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
103-
criança e de reconstrução da linguagem pelo afásico, como demonstram os trabalhos de
De Lemos (1981, 1982a e b, 1986a e b, 1989) e de Coudry (1988 e 1991). As atividades
epilingüísticas como as lingüísticas podem ocorrer de forma “espontânea” ou como
operações conscientes: desde que começa a falar, com dois anos de idade, a criança já
produz autocorreções, garante Legrand-Gelber, citado por Geraldi (1991:24), o que não
significa, na interpretação sócio-interacionista de De Lemos, que ela já domine estruturas e
categorias gramaticais (como postularam alguns estudos de inspiração inatista) e possa
raciocinar conscientemente sobre elas, mas que realiza operações através das quais
constrói e experimenta seu conhecimento lingüístico.
Nas atividades metalingüísticas, a linguagem, descolada do processo interativo, é
tomada como objeto, numa reflexão informada por uma teoria específica, com uma
metalinguagem específica, que busca analisar a língua através de conceitos e
classificações prévias.
Segundo Geraldi (1991:26), esses três tipos de atividade, presentes nas ações
lingüísticas praticadas pelos sujeitos, se constituem de “operações que permitem a
produção de discursos com sentidos determinados usando recursos expressivos em si
insuficientes para tanto”.
Na análise do processo de construção de conhecimento lingüístico que vou
examinar, estarei atenta a esses três tipos de operação, já que as crianças, no primeiro ano
escolar, tiveram acesso a conceitos metalingüísticos como “letra” (grafema), “sílaba”,
gênero masculino e feminino, número singular e plural, dos quais trata a professora na aula
de Português. No entanto, entendo que terão importância decisiva para a apreensão e
interpretação do processo as operações epilingüísticas espontâneas, registradas nas
gravações, que constituem indícios particularmente reveladores da atividade lingüística em
curso e do momento genético do processo de construção de conhecimento.
Assim, a própria natureza do estudo que aqui se realiza implica uma concepção do
sujeito como “agente”: embora social e historicamente condicionado, constitutivamente
heterogêneo, constrangido pela sistematização sintática, semântica e pragmática da língua,
um sujeito capaz de ações e operações lingüísticas e cognitivas, pois o que se busca
entender aqui é o desenvolvimento específico de um aspecto da capacidade subjetiva de,
nas práticas discursivas em que se envolve, produzir e interpretar o fino trançado da
tessitura lingüística - feito, em todos os níveis, de escolhas entre possibilidades diversas
que o sistema oferece.

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
104-
1.3.5. Intenção e interação
Bakhtin (1986 e 1992) com freqüência se refere à intencionalidade do locutor, ao
seu querer-dizer, seu intuito discursivo, ao valor apreciativo que imprime aos enunciados e
à expressividade. O intuito discursivo ou querer-dizer do locutor rege a produção do
discurso, determinando, na interlocução e na interdiscursividade, a escolha e o tratamento
do tema, a amplitude e as fronteiras do discurso, o gênero (de que tratarei no item 1.3.6),
com as implicações formais macro e microestruturais que ele acarreta (cf. 1992:300). “O
enunciado, seu estilo e sua composição são determinados pelo objeto do sentido e pela
expressividade, ou seja, pela relação valorativa que o locutor estabelece com o enunciado”
(ib., p.315). Condicionando, é certo, “a expressão plena e íntegra das motivações e
intenções do falante” às possibilidades gramaticais estabelecidas no sistema lingüístico, de
um lado, e, de outro, às “condições da comunicação sócio-verbal predominantes num
determinado grupo”, delimitadas por “fatores sócio-econômicos”, Bakhtin (1986:176) afirma
categoricamente que “não se pode construir uma enunciação sem modalidade apreciativa”.
E acrescenta: “Toda enunciação compreende, antes de mais nada uma orientação
apreciativa. É por isso que, na enunciação viva, cada elemento contém ao mesmo tempo
um sentido e uma apreciação” (ib., p. 135, grifos do autor). Daí, condena a lingüística
estruturalista, que “separa o apreciativo do significativo e considera o apreciativo como um
elemento marginal da significação”.
O reconhecimento de que o motivo ou intenção do locutor é parte integrante e
decisiva do sentido de enunciados e discursos tem ocupado muitos estudiosos, constituindo
objeto de reflexão na Psicologia, na Teoria dos Atos de Fala, na Semântica Argumentativa,
na Lingüística de Texto. Esse é um aspecto que eu considero indispensável à composição
de uma concepção de linguagem que se deseja abrangente o suficiente para dar conta de
um fenômeno complexo como a construção dos conhecimentos necessários à interlocução
na modalidade escrita (como na oral).
Vygotsky (1989) e Luria (1986) situam a motivação (“nossos desejos e
necessidades, nossos interesses e emoções”) na origem do processo de produção de
discursos e enunciados e, reconhecendo a possibilidade de não explicitação, na fala
exterior, dos motivos ou intenções do locutor, que integram a significação do discurso,
operam com o conceito de “subtexto” - “pensamento oculto por trás das palavras” -,
postulando que “uma compreensão plena e verdadeira do pensamento de outrem só é
possível quando entendemos sua base afetivo-volitiva” (cf. Vygotsky, 1989:128-129).

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
105-
A Teoria dos Atos de Fala, embora considerada limitada, dá um tratamento
sistemático à questão da intenção comunicativa, apresentando propostas que, no mínimo,
merecem ser discutidas. Franchi (1977) entende que as abordagens funcionalistas, em cujo
quadro ele situa essa teoria, na medida em que privilegiam a função comunicativa, vêem a
linguagem do exterior e a reduzem a uma concepção instrumental, tomando-a como “um
dentre outros mecanismos construídos pela coletividade, do almoxarifado de ferramentas
com que o homem prolonga a sua ação sobre o mundo e sobre os outros” (p. 20). A
contestação do autor não vem no sentido do não reconhecimento dos atos de fala, mas da
discordância quanto à sua consideração exclusiva ou privilegiada:
(...) o funcionalismo tem examinado, com detalhes, as „ações‟ em que a linguagem
está, deixando à margem a ação que ela é.
(...) a atividade lingüística, além de envolver a realização de funções sociais
exteriores em que a linguagem aparece como possibilitando tarefas de ocasião,
realiza-se em uma multiplicidade de operações (em sentido intuitivo) subjacentes,
interiores ao sujeito, de que a configuração superficial das expressões é traço
revelador.
(Franchi, 1977:19 e 20)
As operações interiores são o objeto de eleição deste trabalho, mas acredito que
entre elas se incluem as relativas à definição e à realização dos objetivos ou intenções do
sujeito; e, entre os traços reveladores que entendo viabilizarem o acesso a essas
operações, acredito que se incluem, além da configuração sintática e semântica dos
discursos e enunciados, as marcas formais de seu valor ilocucional, de sua orientação
argumentativa, enfim, de sua intencionalidade. Com Castilho (1989:250-251), considero
que a atividade lingüística envolve três momentos constitutivos:
(i) o de “cognição”, em que o sujeito, com a linguagem, apreende e interpreta a
realidade, constrói e/ou aciona seu conhecimento do mundo;
(ii) o de “situação”, em que o sujeito analisa intuitivamente as condições que
circunstanciam a enunciação e se posiciona com relação a elas, ativando ou produzindo
representações mentais sobre si mesmo, sobre seu interlocutor, sobre os conhecimentos
que partilham e sobre as relações que ali se podem estabelecer, selecionando os atos de
fala e os processos discursivos (narrativo, descritivo, injuntivo, expositivo, etc.) adequados
à manifestação de seus propósitos e disposições;

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
106-
(iii) o de “verbalização”, que consiste na expressão lingüística daquilo que o sujeito
tem para dizer naquela circunstância, envolvendo operações no nível da palavra, da oração
e do texto.
Não se pretende com esse modelo sugerir que o processo transcorra de maneira
límpida, linear e plenamente consciente. O que se quer salvaguardar aqui é: (i) sua
natureza de atividade; (ii) sua constituição “tridimensional”, que envolve a interação dos
sistemas semântico, pragmático e gramatical da linguagem.
A teoria dos atos de fala é uma das formas de aproximação da dimensão
pragmática, constitutiva do sentido dos enunciados e dos discursos. Inaugurada por Austin
(1962)7, ela estuda, do ponto de vista da filosofia da linguagem, as ações que, na fala ou
por meio da fala, realizam as intenções comunicativas do locutor. O ponto de partida da
teoria é a distinção entre enunciados “constativos” - aqueles que descrevem um
acontecimento (ex.: eu trabalho) - e enunciados “performativos” - aqueles cuja enunciação
realiza a ação descrita (ex.: eu prometo que vou trabalhar). Da percepção de que
enunciados não formalmente performativos também permitem a realização de ações (ex.:
“eu vou trabalhar” pode configurar um ato de promessa), busca-se a generalização,
postulando-se que, na produção de todo enunciado, realizam-se simultaneamente um ato
“locutório”, um ato “ilocutório” e um ato “perlocutório”. O ato locutório diz respeito às
operações psico-fisiológicas de composição do enunciado, sua articulação fonético-
fonológica, morfossintática e semântica. O ato ilocutório diz respeito à transformação das
relações entre os interlocutores que se realiza no próprio enunciado (por exemplo, o ato de
perguntar, ou prometer, ou pedir), pode ser explicitado ou parafraseado por um enunciado
performativo e tem caráter convencional, na medida em que é socialmente estabelecido
que determinada fórmula, em determinadas circunstâncias, tem determinado valor (há, por
exemplo, entonações e perífrases específicas que distinguem o ato de pedir do ato de
ordenar). Segundo Martins (1990:43-57), “o valor ilocucional de um enunciado é uma
atribuição conjunta dos interlocutores, na medida em que, para Austin, a realização de um
ato ilocucional é a expressão de uma intenção que, para realizar-se, deve ser
compreendida como tal pelo interlocutor”. Por fim, o ato perlocutório diz respeito a ações
realizadas por meio do enunciado, não marcadas lingüisticamente, que podem ou não ser
identificadas pelo interlocutor (por exemplo, através de uma pergunta, pode-se pretender
sinalizar ao interlocutor interesse ou menosprezo, ou pretender irritá-lo, ou agradá-lo, ou
adverti-lo, ou preocupá-lo, ou ajudá-lo, ou prejudicá-lo, etc).
7 AUSTIN, J. L. How to do things with words. Oxford, 1962.

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
107-
A oposição constativo-performativo encerra o argumento central da tese de Austin
de que o estudo semântico dos enunciados não se esgota na discussão de seu valor de
verdade, posto que há enunciados que escapam aos limites desse tipo de abordagem, cujo
pressuposto é a interpretação da linguagem como um conjunto de afirmações sobre
estados de coisas no mundo (real ou possível), sendo a referência sua função fundamental.
Conforme avalia Martins (1990:46), “a possibilidade de julgar afirmações pelo critério de
verdade, a partir de sua referência, implica uma relação biunívoca e transparente entre
linguagem e objeto, num universo estável”. Com o conceito de performativo, Austin
contrapõe a essa concepção uma visão da linguagem como ação e absorve em seu quadro
teórico elementos estranhos a esse esquema, como os interlocutores e o contexto. O
estudo dos enunciados performativos, para evidenciar seu valor atuacional, de início os
situa em contextos institucionais, tomando-os como “enunciações proferidas por aqueles a
quem pertence o direito de enunciá-las” (cf. Benveniste, 1988:301), como, por exemplo, as
palavras do padre na realização do sacramento - “Eu te batizo (...)”.
Até esse ponto, apenas se abrem brechas para a consideração de aspectos
relevantes para uma teoria da enunciação nos moldes da adotada neste trabalho, tais como
a atividade intersubjetiva, as circunstâncias situacionais imediatas e o contexto histórico-
cultural, posto que, como bem avalia Martins (1990:48-49), não se focaliza aí, efetivamente,
a interlocução, mas tão somente a emissão unilateral, por um sujeito institucionalmente
qualificado, de um enunciado convencional para a realização de um ato. É com a
superação da dicotomia constativo-performativo e a elaboração do conceito de ilocucional,
estendido a todos os enunciados, que se promove a inserção do ato de fala num contexto
discursivo. Na interpretação de Martins (ib., p. 51), com a postulação de que o ato
ilocucional se cumpre efetivamente só quando compreendido, a teoria estabelece a co-
participação dos interlocutores na realização da intencionalidade e, assim, na construção
do sentido. Aproximando-se por essa via de uma concepção interacionista, a teoria dos
atos de fala, no entanto, se interessa primordialmente pelo enunciado enquanto ação
convencionalmente regulada pela relação entre a forma do enunciado e seu valor
ilocucional.
Paralelamente ao desenvolvimento dessa teoria, Benveniste (1989:86) postulava a
existência, na língua, de um "aparelho de funções" derivado da enunciação, disponível para
quando o “enunciador” quer se servir da linguagem para influenciar o comportamento do
interlocutor. Assim, os sistemas fonológico, morfológico e sintático seriam tributários da
enunciação, na medida em que incluem entonação típica, formas lexicais, categorias
flexionais e construções sintáticas específicas para a realização de atos como a
interrogação (entonação, pronomes interrogativos), a ordem, o pedido, o apelo (o vocativo,

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
108-
o imperativo), a asserção afirmativa ou negativa, e para a expressão da atitude do
“enunciador” quanto àquilo que enuncia - a modalidade (os modos verbais, advérbios como
talvez, sem dúvida, provavelmente).
Ducrot vai ampliar e, de certo modo, “radicalizar” essa questão, buscando, a partir
de Austin e Searle, construir uma teoria especificamente lingüística dos atos de fala,
articulada com uma teoria da “argumentatividade”, expressão discursiva da
intencionalidade. Seu trabalho focaliza o enunciado (não o discurso), e passa de uma
abordagem interacional a uma abordagem polifônica (dimensões, entendo,
correspondentes às categorias da “interlocução” e da “interdiscursividade” propostas por
Authier-Revuz para o discurso). Com o objetivo de “dar à alteridade um valor constitutivo”, o
autor, depois de sucessivas reinterpretações da teoria dos atos de fala, elabora uma “teoria
polifônica da enunciação”, que pretende identificar, no nível dos enunciados, a diversidade
de vozes que Bakhtin postulou falarem simultaneamente nos discursos. Para Ducrot
(1987:9)8:
No que concerne à teoria dos atos de fala, ela funda o sentido de um enunciado nas
relações que este estabelece entre sua enunciação e um certo número de
desdobramentos “jurídicos” que esta enunciação, segundo ele, deve ter. No que
concerne à teoria da polifonia, ela acrescenta a esta alteridade, por assim dizer
“externa”, uma alteridade “interna” - colocando que o sentido de um enunciado
descreve a enunciação como uma espécie de diálogo cristalizado, em que várias
vozes se entrechocam.
Ducrot (1987:41) aponta como idéia essencial no desenvolvimento de suas teses a
concepção da língua como consagrada à interação dos indivíduos, o que orienta seu
empenho em integrar a pragmática, entendida como o estudo da ação, à semântica,
entendida como o estudo dos sentidos, na disciplina que ele chama “pragmática semântica”
(ib., p. 163). Nessa perspectiva, ele revê as máximas conversacionais de Grice (1967)9 e a
8 Esta indicação bibliográfica remete à tradução brasileira de obra publicada originalmente em 1984 e que consiste numa
coletânea de textos escritos desde 1968. O mais recente deles, ao qual vou me reportar preferencialmente, apresenta um
“esboço de uma teoria polifônica da enunciação” e revê formulações incluídas nos outros artigos da mesma coletânea.
9 A publicação original é de 1967; a referência inclusa na bibliografia é a tradução brasileira (de J. W. Geraldi), de 1982.
Nesse artigo, Grice parte da discussão lógico-filosófica sobre a adequação das línguas naturais frente aos sistemas
formais e, afirmando que seus falsos pressupostos derivam da não observação das condições que governam a
conversação, postula que seu funcionamento se orienta pelo princípio básico da cooperação e por máximas que ele
procura explicitar, daí formulando o conceito de “implicatura”. Segundo o “princípio da cooperação”, os
interlocutores participariam da conversação desenvolvendo esforços cooperativos, à medida que reconhecessem um
propósito comum e uma direção mutuamente aceita. A interlocução seria, então, regida por máximas relativas à
quantidade (seja informativo, mas não mais que o necessário), à qualidade (não diga o que você acredita ser falso, só
diga o que você pode provar), à relevância (seja relevante) e ao modo (seja claro). Entretanto, diz o autor, mantendo-se a
cooperação, é possível infringir as máximas conversacionais e, assim, deliberadamente, produzir uma significação

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
109-
teoria dos atos de fala, buscando integrá-las numa descrição que permanece no interior da
ordem lingüística, sem que se faça fundamental o recurso à “realidade” social e moral
externa à linguagem (cf. 1984b:453).
Um passo importante nesse sentido é a caracterização do ato ilocucionário como
“jurídico” e sui-referencial: sua enunciação se apresenta como induzindo a uma
transformação jurídica da situação, fonte de direitos e deveres para os interlocutores. Por
exemplo, Ducrot (1977:319) se vale do conceito de regra constitutiva de Searle10
para
definir a pergunta como um ato ilocutório que se constitui apresentando-se para o
interlocutor como criando-lhe a alternativa de responder ou ser descortês.
Dizer que um enunciado possui, segundo os termos da filosofia da linguagem, uma
forma ilocutória, é para mim dizer que ele atribui à sua enunciação um poder
“jurídico”, o de obrigar a agir (no caso de uma promessa ou de uma ordem), o de
obrigar a falar (no caso da pergunta), o de tornar lícito o que não era (no caso da
permissão), etc.
(Ducrot, 1987:172)
Com a distinção entre frase e enunciado (como apontado em 1.3.3) e entre
significação, valor semântico da frase, e sentido, valor semântico do enunciado, (Ducrot,
1987:170)11
se coloca contra a concepção de que o sentido do enunciado “é a significação
da frase temperada por alguns ingredientes emprestados à situação do discurso”. Para ele,
a significação da frase “é um conjunto de instruções dadas às pessoas que têm que
interpretar os enunciados da frase, instruções que especificam que manobras realizar para
associar um sentido a estes enunciados”, e ele considera possível “formular leis, de um
lado para calcular a significação das frases a partir de sua estrutura léxico-gramatical, e de
outro lado para prever, a partir desta significação, o sentido dos enunciados”.
Essa concepção, que ultrapassa a percepção de Benveniste quanto à organização
da língua para a enunciação, se coloca contrária à postulação de Searle (1982)12
de que as
especial, que será deduzida pelo interlocutor. É a chamada “implicatura conversacional”, que deriva do fato de o
interlocutor preferir supor que a infração às máximas seja intencional e, portanto, tenha algum sentido relevante, do que
aceitar que o locutor esteja produzindo um discurso impertinente ou absurdo. Assim, pela produção de implicaturas
conversacionais Grice propõe explicação, por exemplo, para a tautologia, que fere a máxima de quantidade; a ironia, a
metáfora, o eufemismo e a hipérbole, que ferem a máxima de qualidade; a ambigüidade, que fere a máxima de modo.
10 SEARLE, J. R. Speech Acts. Cambridge, Cambridge University Press, 1969.
11 Estou adotando outra terminologia neste trabalho. Aqui, significado remete ao valor semântico da frase; sentido, ao
valor semântico do enunciado; e significação ao processo interacional de atribuição de sentido à enunciação.
12 Essa data (1982) é a da tradução francesa. A publicação original é de 1979.

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
110-
máximas conversacionais (chamadas por Ducrot de “leis do discurso”) seriam aplicadas a
um “sentido literal” para produzir o sentido efetivo do enunciado:
Não se trata de conceder aqui e ali, na significação das frases, algumas marcas
pragmáticas, mas de organizá-las como um conjunto de instruções que servem para
determinar, uma vez conhecida a situação de discurso, o valor de ação pretendido
pela enunciação. A intervenção das leis de discurso não teria por função
pragmaticizar uma semântica inicialmente sem relação com a ação, mas ela poderia
servir para atualizar e, eventualmente, para modificar uma pragmática fundamental
das frases, concebidas como instrumentos para a interação dos interlocutores.
(Ducrot, 1987:97-98)
Já o sentido do enunciado é compreendido como uma representação da
enunciação, uma qualificação que o sujeito falante (cf. p. 172) faz da enunciação desse
enunciado:
(...) interpretar uma produção lingüística consiste, entre outras coisas, em
reconhecer nela atos, e (que) esse reconhecimento se faz atribuindo ao enunciado
um sentido, que é um conjunto de indicações sobre a enunciação.
(Ducrot, 1987:173)
O reconhecimento dos atos de fala indiretos ou derivados tem-se configurado,
para os estudiosos da complicada relação entre a expressão lingüística e as intenções do
sujeito, como problema gerador de tentativas de solução divergentes, entre as quais a
postulada pela teoria polifônica de Ducrot (1987). Para ele, o desafio consiste em tentar
explicar, no âmbito de uma teoria lingüística, o fato usual de que se pode, com a forma de
uma pergunta, realizar o ato de pedir (ex.: “você quer fechar a janela?”), ou, com a forma
de uma permissão, dar uma ordem (ex.: “você pode encerar a casa hoje”), etc.
A partir da caracterização do ato ilocutório como fundamentalmente “jurídico”, o
autor rejeita a interpretação de que o ato “primitivo” seja transformado, pelas leis do
discurso, em um ato “derivado”, o que implicaria aceitar que esse ato primitivo tivesse sido
efetivamente realizado, porém sem a força jurídica que o constitui. Mantendo o princípio da
integração da pragmática à semântica, Ducrot (1987:214) revê sua formulação anterior de
que uma frase é marcada desde sua significação para a realização de um ato ilocutório
primitivo, e postula que, por exemplo, no caso da interrogativa, é inerente à sua significação
“prever uma possível descrição da enunciação como criando uma obrigação de resposta”.
Daí, é recorrendo à polifonia da enunciação que ele vai propor uma solução para o
problema.

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
111-
Valendo-se de uma analogia com o teatro, Ducrot (1987:161-218) vê a enunciação
como um ato que põe em cena diferentes personagens. O sujeito falante, enquanto “ser no
mundo” não lhe interessa, embora o autor reconheça sua inegável existência:
Não digo que a enunciação é o ato de alguém que produz um enunciado; para mim
é simplesmente o fato de que um enunciado aparece (...) tenho necessidade, para
construir uma teoria do sentido, uma teoria do que é comunicado, de um conceito
de enunciação que não encerre em si, desde o início, a noção de sujeito falante.
(p. 169)
Certamente, do ponto de vista empírico, a enunciação é ação de um único sujeito
falante, mas a imagem que o enunciado dá dela é a de uma troca, de um diálogo, ou
ainda de uma hierarquia das falas.
(p.187)
O que lhe interessa é, demarcada a diferença entre esse sujeito empírico e os
personagens - “seres do discurso”, “ficções discursivas” - que são postos em cena, estudar
o papel desses personagens na enunciação. Basicamente, Ducrot (1987:161-218) distingue
entre o locutor e os enunciadores. O primeiro é aquele que, no próprio sentido do
enunciado, é apresentado como responsável por ele, aquele a que se referem as marcas
de primeira pessoa (cf. p. 182). Já os enunciadores são os seres cujas vozes, distintas da
do locutor, “falam” num enunciado: “a enunciação é vista como expressando seu ponto de
vista, sua posição, sua atitude, mas não, no sentido material do termo, suas palavras” (ib.,
p.192).
Nesse quadro, a proposta de explicação para os atos de fala indiretos ou
derivados é que, nos atos primitivos, o locutor se assimila ao enunciador, ao passo que,
nos derivados, “a lei de discurso deriva o ato indireto atribuído ao locutor a partir da
colocação em cena, pelo próprio locutor, de um enunciador do qual ele se distancia”, sendo
que “esta colocação em cena, ligada à frase, permanece um fato incontestável, mesmo se
o locutor não é assimilado ao enunciador” (ib., p.214). A frase interrogativa, retomando o
exemplo acima, prevê a possibilidade de descrição de sua enunciação como criando uma
obrigação de resposta; no ato “primitivo” de pergunta, em que locutor e enunciador são
assimilados, efetiva-se essa possibilidade; no caso de um pedido “derivado”, opondo-se
locutor e enunciador, ela não se efetiva.
A partir da noção de polifonia, Ducrot (1987: 161-218) constrói explicações para a
pressuposição, que ele considera como ato ilocutório, para a ironia, a negação, o emprego
de “operadores argumentativos”, como mas e certamente, e para o uso metafórico dos
tempos verbais. O nó que articula todas essas reflexões é uma concepção do sentido como

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
112-
descrição da enunciação, descrição esta que consiste na indicação dos aspectos
ilocutórios, argumentativos e expressivos do enunciado, fundada sobre a indicação dos
diferentes enunciadores que nele se fazem ouvir (cf. p. 181).
No Brasil têm sido desenvolvidos estudos interessantes que, na linha da
Semântica Argumentativa, explicam pela polifonia a constituição e o funcionamento de
enunciados com operadores como até, aliás, não só... mas também, e articuladores que a
gramática tradicional chama de conjunções adversativas, concessivas, conclusivas, entre
outros13
. Guimarães (1985 e 1987) alerta que a interpretação polifônica de um mesmo
operador não é sempre igual e indiferente ao contexto verbal e situacional em que ocorre
sua enunciação, mas guarda estreita relação com o tipo de discurso em que se insere. Por
exemplo, estudando (in 1987:153) um enunciado possível na interlocução cotidiana, propõe
que, enunciando “Ele é brasileiro, logo joga bem”, o locutor constitui uma enunciação
polifônica em que põe em cena um enunciador E1, genérico, responsável pela implicitação
de “todo brasileiro joga bem”, aceita pelo locutor, e um enunciador E2, assimilado pelo
locutor, que apresenta “joga bem” como decorrente de “ele é brasileiro” e sustenta essa
orientação argumentativa de seu enunciado na voz implícita do enunciador E1. Mas, atento
às relações entre a linguagem e a teoria de mundo que cada discurso define, estuda os
operadores de conclusão (logo, portanto, por isso, por conseguinte, então) no seu
funcionamento enunciativo nos diferentes tipos de discurso. O discurso científico, por
exemplo, em que as condições de verdade dos enunciados se colocam como pertinentes e
decisivas, tenderia a apresentar E1 e E2 como enunciadores universais. Assim, no caso da
enunciação dessa classe de operadores, Guimarães (1987:168) observa que “os
enunciadores envolvidos, segundo os tipos de discurso, representam-se ora como
correspondentes ao locutor, ora como um enunciador genérico, ora como um enunciador
universal”. O que me parece importante, nessa análise, é que ela não se faz como uma
nova gramática categorial ou mais uma descrição taxonômica, mas, coerentemente, como
uma abordagem sensível ao funcionamento discursivo.
Koch (1984:19), explicitando pressupostos dessa perspectiva teórica, considera
que a interação lingüística se caracteriza fundamentalmente pela “argumentatividade”, pois,
através do discurso - “ação verbal dotada de intencionalidade” -, o homem expressa
avaliações, críticas, juízos de valor, e tenta influir sobre o comportamento do outro ou levá-
lo a compartilhar de suas opiniões. Por isso acredita que “toda atividade de interpretação
presente no cotidiano da linguagem fundamenta-se na suposição de que quem fala tem
certas intenções ao comunicar-se” e que, portanto, “compreender uma enunciação é, nesse
13 Ver Guimarães (1985, 1987 e 1989), Koch (1984 e 1992), Silva (1991).

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
113-
sentido, apreender essas intenções”, “o que leva a prever, por conseguinte, uma
pluralidade de interpretações” (ib., p. 24-26).
Nesta pesquisa, cujos dados se constituíram na interação sujeito-entrevistadora e
sujeito-texto escrito, faz-se necessário incluir na concepção de linguagem adotada uma
teoria que dê conta do “querer-dizer” como também do querer-não-dizer e do não-querer-
dizer do sujeito. A ação e a intenção discursivas, conscientemente ou não, se expressam
nos atos ilocutórios, se mostram nos operadores argumentativos, mas se manifestam
também, de forma especial, nos não-ditos, nos implícitos, nos subentendidos, aos quais
também é necessário dedicar atenção. Ducrot (1987:42-43) vê o subentendido construído
como resposta à pergunta “por que ele falou desse modo?” e aponta a possibilidade de ele
se realizar quando o locutor “se retira de sua fala”, apresentando-a como um enigma para o
interlocutor, ou, eximindo-se de sua responsabilidade, fazer o outro dizer o que ele, locutor,
disse. Osakabe (1979) faz ver a importância decisiva dos atos perlocutórios, que Ducrot
(1987:31-43)14
situa na mesma área dos subentendidos, dos implícitos em geral. Vendo o
discurso como “um todo, semanticamente organizável, ao nível da ação que o caracteriza e
dos efeitos que provoca”, Osakabe (1979:192 e 57) considera que, “no caso do discurso, o
que conta não é apenas aquilo que o locutor faz ao dizer, mas também o fim a que se
destina seu ato de dizer”. Entendo, com Osakabe, que a significação15
do discurso
depende, fundamentalmente, dos efeitos perlocutórios que busca realizar (e/ou com os
quais ele é interpretado), que funcionam como eixos que articulam os atos ilocutórios
manifestos nos enunciados e que ancoram o discurso à situação, definindo sua razão de
ser e deixando ver sua orientação argumentativa. Retomando a epígrafe deste capítulo,
acrescentaria ao argumento de Possenti (1991) que não só as línguas incluem frases mais
complexas que “o boi baba” como também (para melhorar a situação...), no exercício da
linguagem pode-se enunciar “o boi baba” para significar que não é a vaca que baba, ou que
o boi não faz outra coisa (e que se considera isso bom e natural, ou que se deplora isso),
ou que fulano de tal, permanecendo na passividade, vai perder a dignidade que distingue
os humanos dos animais, ou que, tendo em vista a atitude do fulano de tal, pretende-se
agir no sentido contrário, etc, etc, etc, e, com isso, advertir, ameaçar, irritar, divertir,
ofender, persuadir, etc, etc, etc o interlocutor. Tudo isso precisa ser levado em conta por
uma teoria que pretenda dar conta do processo de construção do conhecimento de uma
modalidade da língua.
14 “Pressupostos e subentendidos (reexame)”, artigo publicado originalmente em 1978.
15 Ver nota 11.

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
114-
A teoria polifônica me parece consistente na sua busca de soluções lingüísticas
para as questões que se levantam nesse terreno. Mantendo-se no quadro da enunciação e
integrando sentido e ação/intenção lingüística, a proposta de Ducrot, de certa maneira,
promove a “gramaticalização” daquilo que Bakhtin intuiu para o nível do discurso, e vem a
ser uma das possibilidades de se prever, na língua, uma “sistematização” pragmática que
se integre às sistematizações sintática (lato sensu) e semântica. Num movimento que vai
na mesma direção daquele inaugurado por Benveniste, Ducrot quer demonstrar que a
gramática de uma língua é mais que um sistema de elementos e regras de combinações
fonológicas, morfológicas e sintáticas fechado em si mesmo, pronto para usar e
impermeável às ações dos usuários e às situações de uso, e que a própria estruturação da
língua prevê seu emprego pelos sujeitos e se organiza para esse funcionamento
enunciativo, discursivo, interacional. Para mim, é clara a necessidade de se incluir num
modelo descritivo da língua um subsistema pragmático, que se constitua e funcione em
interação com os subsistemas sintático (lato sensu) e semântico. Por outro lado, é claro
também que esse modelo, pelo próprio fato de considerar a possibilidade de enunciação
como determinante da estrutura lingüística, não pode entender nenhum desses
subsistemas como previamente acabado e indiferente à atividade enunciativa. Tem que
concebê-los como sistematizações de possibilidades, cujo destino é se determinar no
discurso, na enunciação. Daí minha resistência à posição de Ducrot de manter sua
“pragmática semântica” no quadro de uma lingüística estrutural, onde sempre enxergo o
perigo da tendência à taxonomia. Entendo que uma teoria da enunciação só se constrói a
partir do reconhecimento da língua como sistema de possibilidades que prevê o próprio
reprocessamento e transformação na atividade interlocutiva, construção que me parece
não caber no espaço das concepções estruturalistas.
A propósito de todas as ações (ilocutórias, perlocutórias, argumentativas) “que se
fazem com a linguagem”, Geraldi (1991:26-41) apresenta reflexões particularmente
interessantes para a teoria de enunciação que aqui se procura explicitar. O autor se
interessa por esses “atos de fala” enquanto “operações discursivas” que mudam a relação
entre os interlocutores e que se determinam efetivamente no discurso. Para ele, a
indeterminação relativa e sua determinação discursiva funcionam aproximadamente como
uma força que, latente, virtual, é ambígua, mas, passando a ato, se torna unívoca (ib., p.
35). Admitindo que um mesmo tipo de força ilocucionária nem sempre vem marcada com
os mesmos recursos e que um mesmo recurso expressivo pode orientar no sentido de se
atribuir diferentes forças ilocucionárias a um enunciado, Geraldi (1991:36) enfatiza que “as
expressões orientam as interpretações” e que “não é qualquer força que se pode atribuir a
qualquer enunciado: ela depende crucialmente dos recursos expressivos usados”. Assim, a

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
115-
operação de determinação discursiva “não depende apenas da situação em que se dá a
enunciação, mas da correlação entre os recursos expressivos usados e a situação de
enunciação: aqueles é que levam a procurar nesta elementos pertinentes para a produção
de sentido” (ib., p. 40). Essa compreensão, com a qual coincide a adotada neste trabalho,
me parece compatível com a de Ducrot (1987:171-172), para quem “o sentido não aparece
como a soma da significação e mais alguma outra coisa, mas como uma construção
realizada, levando em conta a situação de discurso, a partir das instruções „especificadas‟
na significação”.
1.3.6. Enunciação e gêneros discursivos
Bakhtin (1992:277-326) discute a questão da diversidade dos gêneros discursivos,
entendendo-os como tipos relativamente estáveis de discurso, do ponto de vista temático,
composicional e estilístico, que se constituem historicamente pelo trabalho lingüístico dos
sujeitos nas diferentes esferas da atividade humana, para cumprir determinadas finalidades
em determinadas circunstâncias. No decorrer de sua reflexão, vai sendo ponderado o peso
de três fatores cruciais na delimitação e definição dos diferentes gêneros: as condições
histórico-culturais que determinam os processos de produção, circulação e compreensão
do discurso, o jogo interlocutivo e o intuito discursivo do sujeito.
A idéia fundamental é que os gêneros nascem da práxis comunicativa de sujeitos
que interagem numa determinada esfera da convivência humana: as atividades e
expectativas comuns, que definem necessidades e finalidades para o uso da linguagem, o
círculo de interlocutores, que define hierarquias e padrões de relacionamento, a própria
modalidade lingüística (oral ou escrita), ligada ao grau de proximidade e intimidade dos
interlocutores, tudo isso acaba definindo formas típicas de organização temática,
composicional e estilística dos enunciados. Assim, pode-se dizer, por um lado, que os
gêneros discursivos se constituem na interdiscursividade e, por outro, que conformar o
próprio discurso a um gênero implica entrar em relação com o discurso do outro, dos
outros, anônimos, cujo trabalho lingüístico histórico resultou na configuração daquele
padrão.
O jogo interlocutivo tem também papel decisivo no estabelecimento dos gêneros
discursivos: “as diversas formas típicas de dirigir-se a alguém e as diversas concepções
típicas do destinatário são particularidades constitutivas que determinam a diversidade dos
gêneros do discurso” (ib., p. 325). Nas sociedades complexas, a variedade dos gêneros

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
116-
discursivos responde à diversidade das formas de ação humana, à diversidade dos grupos
sociais e ao grau de formalidade ou intimidade, distância ou proximidade, das relações
interpessoais que se estabelecem intra e inter grupos. Tanto os processos interlocutivos (a
produção do discurso orientada pela representação das circunstâncias da enunciação e
dos conhecimentos e disposições do interlocutor e buscando/presumindo determinadas
atitudes responsivas) quanto os processos interdiscursivos (o entrecruzar-se dos discursos
na sociedade em geral e em cada esfera de convivência em particular) vão historicamente
constituindo formas padronizadas de organização dos discursos, associando a
determinadas situações de relacionamento humano determinadas abordagens temáticas,
determinados “procedimentos composicionais” e determinados recursos lingüísticos. Essa
padronização, integrada aos conhecimentos lingüísticos dos sujeitos, é que possibilita ao
interlocutor engajado num processo interacional (que partilha, pois, situação,
conhecimentos e pressupostos) prever, desde as primeiras palavras, o todo do discurso,
sua forma de organização e o intuito discursivo do locutor (ib., p.300-301), o que, diz a
Psicolingüística contemporânea, facilita/viabiliza a compreensão.
Por outro lado, “a variedade dos gêneros do discurso pressupõe a variedade dos
escopos intencionais daquele que fala ou escreve” (ib., p. 291). Entretanto, a práxis
lingüística social vai estabelecendo padrões de realização desses escopos intencionais, de
tal modo que, na vida cotidiana, “o querer-dizer do locutor quase que só pode se manifestar
na escolha do gênero”, “se realiza acima de tudo na escolha de um gênero do discurso”, ao
qual se adapta e se ajusta, “sem que o locutor renuncie à sua individualidade e à sua
subjetividade” (ib., p. 301-302).
“Aprender a falar é aprender a estruturar enunciados” (não palavras ou orações).
Como “cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de
enunciados - os gêneros do discurso” (ib., p. 277), e já que a interlocução se faz pelo
discurso - que se organiza em formas típicas -, é, portanto, com essas formas típicas de
discurso que interagimos no processo de desenvolvimento da linguagem. Assim, “os
gêneros do discurso organizam nossa fala da mesma maneira que a organizam as formas
gramaticais (sintáticas)”. Balizando as possibilidades de organização do discurso, a
“padronização” dos gêneros, assim como a “sistematização” gramatical, torna viável a
interação lingüística, pois “se não existissem os gêneros do discurso e se não os
dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela primeira vez no processo da fala, se
tivéssemos que construir cada um de nossos enunciados, a comunicação verbal seria
quase impossível” (ib., p. 302).

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
117-
Historicamente constituídos pela práxis lingüística de indivíduos sociais, para
atender suas necessidades de interação nas diversas esferas de ação e convivência, “os
gêneros do discurso nos são dados quase como nos é dada a língua materna” (ib., p. 301).
Eles têm, portanto, “valor normativo” para “o indivíduo falante”, “lhe são dados, não é ele
que os cria”, de tal modo que
o enunciado, em sua singularidade, apesar de sua individualidade, não pode ser
considerado como uma combinação absolutamente livre das formas da língua, do
modo concebido, por exemplo por Saussure (e, na sua esteira, por muitos
lingüistas), que opõe o enunciado (a fala), como um ato puramente individual, ao
sistema da língua como fenômeno puramente social e prescritivo para o indivíduo.
Bakhtin (1992:304)
Essa “gramática do discurso”, no entanto, tem “leis normativas” “mais maleáveis,
mais plásticas e mais livres” do que as da gramática da língua. Além da grande variedade
dos gêneros, há sempre a possibilidade de se “confundir deliberadamente os gêneros
pertencentes a esferas diferentes” (ib., p. 302-303). Esse é um ponto chave, que é preciso
ressaltar. Assim como, no plano do enunciado, sempre se pode, segundo Franchi (1977),
“contrabandear predicados” de um domínio para outro, pode-se também, no plano do
discurso, “confundir deliberadamente os gêneros”, intercambiando formas e funções (por
exemplo, argumentando com uma narração ou com uma aparentemente despretensiosa
descrição), reprocessando estruturas composicionais (por exemplo, começando pela
conclusão um discurso argumentativo, ou pelo desfecho um discurso narrativo, compondo
um relato não-linearmente, mas por flash-back), ou buscando efeitos de sentido especiais
pelo recurso à mistura de estilos ou a um estilo inusitado para determinada situação. Tem-
se, pois, aí, uma gramática do discurso configurada pela categorização dos gêneros que se
constrói também como relativamente indeterminada, como “sistematização”.
Assim, constituídos na/pela interação verbal dos sujeitos nas diferentes esferas da
atividade social, os gêneros, como uma gramática maleável e plástica, delimitam tipos
relativamente estáveis de configuração semântica e formal dos discursos, nos níveis macro
e microestrutural, estabelecendo pautas temáticas, estruturas composicionais e estilo,
segundo Bakhtin (1992).
Os gêneros estabelecem pautas temáticas e formas típicas de tratamento do
tema: nas diferentes instâncias de uso da linguagem, estabelecem-se diferentes
expectativas quanto ao leque de assuntos pertinentes ou impertinentes, permitidos ou
proibidos, e quanto ao grau de autenticidade/fidedignidade e exaustividade de sua

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
118-
abordagem. Determinado tema, freqüente no círculo científico, pode não ter penetração e
circulação no circuito familiar (e vice-versa); o compromisso com a veracidade e a precisão
das afirmações é muito mais rigoroso na esfera científica ou oficial do que na familiar, por
exemplo.
Os gêneros estabelecem padrões de estrutura composicional: a esse respeito,
Bakhtin, falando de “construção composicional”, “tipo de estruturação e de conclusão do
todo”, sugere elementos que poderiam ser relacionados com a noção de “superestrutura”,
derivada da macrossintaxe textual, de que fala van Dijk (1992). Mas o autor aponta também
elementos que têm a ver com as formas usuais de delimitação do discurso: sua extensão,
suas fronteiras, a alternância dos sujeitos falantes.
Os gêneros definem o estilo, orientando o processo de seleção de recursos
lexicais e morfossintáticos intra e interfrasais: “Quando escolhemos um determinado tipo de
oração, não escolhemos somente uma determinada oração em função do que queremos
expressar com a ajuda dessa oração, selecionamos um tipo de oração em função do todo
do enunciado completo que se apresenta à nossa imaginação verbal e determina nossa
opção. A idéia que temos da forma do nosso enunciado, isto é, de um gênero preciso do
discurso, dirige-nos em nosso processo discursivo. (...) O gênero escolhido dita-nos o seu
tipo, com suas articulações composicionais” (ib., p. 305).
Nesse quadro, o autor distingue entre gêneros primários e gêneros secundários,
relacionando-os com as esferas de circulação da língua oral e da língua escrita,
respectivamente. Os gêneros primários se constituem na interação cotidiana espontânea e,
basicamente orais, não excluem a escrita informal, de circulação privada, como as cartas
pessoais e os bilhetes; os gêneros secundários se constituem em circuitos de comunicação
cultural mais complexa, “absorvendo e transmutando os gêneros primários”, e incluem, por
exemplo, os discursos literários, científicos, políticos, etc (ib., p. 285).
Para Bakhtin (1992:284-285), a classificação dos gêneros discursos por esferas da
atividade humana evita as limitações tanto das abordagens exclusivamente gramaticais,
que lidam com as regularidades da língua enquanto sistema, mas deixam de lado o
discurso, quanto das abordagens exclusivamente estilísticas, que lidam com o discurso
mas numa concepção individualista, prendendo-se a fragmentos e singularidades, ou
tomam o estilo independentemente de sua relação orgânica com os outros traços
definidores do gênero, tratando-o em abstrato, em termos de variantes estilísticas da
língua. Com a noção de gênero é possível alcançar o todo dos discursos e, avaliando-os
enquanto elos de uma cadeia de comunicação verbal, compreender as regularidades que
os organizam em padrões normativos relativamente estáveis, o que significa, segundo

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
119-
Bakhtin, compreender melhor a natureza do discurso e equacionar “problema de saber o
que na língua cabe respectivamente ao uso corrente e ao indivíduo” (ib., p.283).
O estudo de Bakhtin lança as bases para uma abordagem sistemática do discurso,
na medida em que delineia, com a noção de gênero, as possibilidades de se apreender, no
terreno da enunciação, padrões, regularidades, tendências que organizam e orientam o
funcionamento da linguagem, numa perspectiva que escapa à dicotomia língua e fala,
entendidas como ordem e caos. Desse ângulo, reconhece-se no discurso uma unidade de
linguagem sistematizável, acima e além do plano da frase, e, ainda, entendendo-se os
gêneros como padronizações “relativamente estáveis”, porque se constituem na práxis
histórica, prevê-se lugar para atividade lingüística dos sujeitos. Essa visão, compatível com
a concepção de linguagem que aqui vem sendo trançada, se mostra interessante para os
objetivos desta pesquisa.
A noção bakhtiniana de gênero fixa um ponto de vista a partir do qual se articulam
diferentes aspectos da variedade e heterogeneidade dos discursos. Diferentemente de uma
concepção tradicionalista, não se trata de pensar em esquemas ou procedimentos que
permitem encaixar determinado conteúdo em uma forma (ou fôrma) pré-determinada, mas
de perceber (cf. Maingueneau, 1991:178-180) práticas sociais históricas que integram um
conjunto diversificado de parâmetros, interacionais (o lugar e o estatuto dos interlocutores e
da temática, o modo de circulação) e lingüísticos (a abordagem temática, a estrutura
composicional, os recursos expressivos). Neste trabalho, sem perder de vista a articulação
proposta por Bakhtin e a perspectiva enunciativa que a define, pretendo, na
operacionalização do conceito de gênero necessária ao desenvolvimento da análise,
recorrer a categorias lingüísticas estabelecidas por teorias que têm em comum com Bakhtin
(1992) o objetivo de compreender o uso social da linguagem.
O processo que se busca compreender nesta pesquisa pode ser entendido como o
trabalho de ampliação do conhecimento de um gênero discursivo primário, na direção da
construção de um gênero secundário. Supondo-se que os sujeitos dominavam o gênero
narrativo oral, presente no cotidiano de suas vidas na forma de relatos de experiências
pessoais, casos e contos tradicionais, o que se procurou estudar foi sua trajetória na
constituição de um subtipo “secundário”, de circulação social mais ampla: a história ou
conto escrito. Esse processo está estreitamente relacionado com a inserção dos sujeitos
em “esferas sociais” mais amplas e de relações mais complexas que a família e a
vizinhança, está relacionado, em suma, com o seu “acesso ao mundo da escrita” (como diz
Osakabe, 1984), em que circulam os gêneros secundários do discurso.

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
120-
Os três aspectos da configuração dos discursos que Bakhtin (1992) aponta como
definidos pelo pertencimento a um gênero - a abordagem do tema, a estrutura
composicional e o estilo - serão fatores considerados na análise. Além da estruturação
composicional característica, o tipo de discurso analisado têm especificidades quanto à
organização semântica e ao estilo, em função das relações discurso-suporte, discurso-
situação e discurso-interlocutores que se estabelecem nessa modalidade. Os sujeitos da
pesquisa, crianças de linguagem fluente na oralidade, embora tenham podido, na escola,
interagir com a escrita enquanto ouvintes ou destinatários da leitura alheia, nunca tinham
se colocado na situação de autores de discurso escrito, e a isso se acresce o fato de serem
falantes de dialetos não-padrão. Os discursos orais que dominam têm configuração e
processamento cujas particularidades os distinguem dos discursos escritos e que se
manifestam na organização semântica do texto em termos de processos de manutenção da
unidade e de progressão temática, e na estruturação sintática global e local, em termos de
processamento da “superestrutura” padrão e da sintaxe intra e interfrasal. Assim, para a
operacionalização do conceito de gênero, será necessário desdobrar as noções de
configuração temática, estrutura composicional e estilo, observando se, quando, em que
aspectos e em que medida os sujeitos se dão conta e realizam as especificidades da
modalidade escrita do tipo de discurso eleito como objeto de análise. A articulação entre a
teoria bakhtiniana e o desdobramento de seus conceitos, que permitirá tomá-los como
categorias de análise, será feita nos item 2 e 3 a seguir, que tratarão mais
pormenorizadamente do processo de produção discursiva e das especificidades lingüísticas
dos discursos orais e escritos.
1.4. EM SÍNTESE
Este é um estudo sobre o processo individual de construção do conhecimento
necessário à interlocução escrita. A própria pretensão de compreender esse processo
interior de desenvolvimento lingüístico supõe uma teoria de linguagem que reconheça a
atividade subjetiva e uma teoria de língua que dê conta do acontecimento discursivo. Os
procedimentos de coletas de dados e análise desses dados se orientaram pela
compreensão de que “a realidade fundamental da língua é o fenômeno social da interação
verbal”. A partir daí me coloquei em busca de uma teoria que não separasse língua e fala,
mas que reconhecesse que a natureza da língua é a sua vocação para a fala. O caminho
para essa teoria passa pela explicitação do conceito de linguagem.

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
121-
A linguagem foi aqui entendida como a faculdade mental que nos habilita ao
pensamento e ao discurso, que nos constitui na nossa especificidade humana e,
constituindo nossos processos afetivos e cognitivos, nos constitui sujeitos. Considerando
esses processos na sua dinamicidade e na sua historicidade, apoiei-me, no que diz
respeito ao desenvolvimento cognitivo, no modelo vygotskyano, estudado no capítulo 1. No
que diz respeito ao desenvolvimento especificamente lingüístico, busquei fundamentação
na tradição humboltdiana, abraçando a concepção formulada por Franchi (1977) segundo a
qual a linguagem é atividade constitutiva dos sujeitos, da realidade que eles conhecem e
representam na/pela língua e mesmo da própria linguagem.
Nesse quadro, a língua foi entendida como um “sistema de possibilidades”, cujos
subsistemas pragmático, semântico e sintático, no plano subjetivo como no social, estão
sempre a se recriar no exercício lingüístico dos falantes: “a cada instante, ao mesmo
tempo, um sistema estabelecido e uma evolução” (Saussure, 1977:16).
Uma tal concepção, adequada aos pressupostos psico-cognitivos deste trabalho, é
incompatível com a tradição gramatical greco-latina e com as teorias estruturalistas, que,
vendo a língua como um sistema acabado, auto-suficiente e fechado em si mesmo,
postulam, como única forma de abordagem desse instrumento pronto para o uso e infenso
às condições de seu emprego (inclusive a ação dos sujeitos), as descrições taxonômicas e
os estudos classificatórios de seus elementos e de suas regras de combinação. A
concepção que se postula aqui é que a inegável regularidade e organicidade do sistema
lingüístico, do fonema ao gênero discursivo, é melhor compreendida como “sistematização”
para o uso, que, continuamente constituída na interação social, pelo trabalho lingüístico dos
sujeitos, por um lado oferece e delimita possibilidades de expressão e, ao mesmo tempo,
por outro lado, prevê o processamento individual que, a cada episódio enunciativo, a re-
cria, pela ratificação do canônico e pela subversão.
É próprio desse sistema estruturar-se como um conjunto de princípios virtuais
necessários à produção e à interpretação dos discursos. Esses princípios constituem as
representações mentais subjetivas que sustentam e balizam o processo de produção de
sentido. Daí a distinção, buscada em Bakhtin e em Ducrot, entre frase e enunciado e entre
texto e discurso. A frase e o texto integram o conhecimento lingüístico dos falantes, suas
representações mentais. No processo enunciativo interacional, determinado pelas
condições de produção, realizam-se os enunciados de que se faz a tessitura do discurso,
cuja materialidade remete a, aponta para as representações lingüísticas mentais. No
processo enunciativo, os sujeitos estabelecem o universo de referência que dá sentido à
expressão verbal em função de suas representações mentais quanto: (i) ao contexto sócio-

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
122-
histórico-cultural, (ii) às circunstâncias imediatas da interlocução, (iii) ao suporte e à
circulação previstos para o discurso, (iv) aos conhecimentos e crenças partilhados, (v) à
identidade, ao papel, aos objetivos, expectativas e atitudes de si mesmo e do outro. Essa
expressão verbal não corresponde necessariamente às estruturas canônicas que integram
seu conhecimento lingüístico, mas é indício para a composição mental de um quadro
compatível com as possibilidades definidas nesse sistema. Assim, os truncamentos de
estruturas frasais, os deslocamentos de formas e funções, os contrabandeamentos de
predicados de um domínio a outro (cf. Franchi, 1977), as “implicaturas conversacionais” são
processos “normais” de constituição do discurso, previstos no sistema lingüístico como
modos de funcionar que lhe são próprios.
O trabalho enunciativo, no entanto, não transcorre nos limites da individualidade,
mas é sempre intersubjetivo e acontece num contexto social, histórico e cultural que o
determina, como postula Bakhtin. O pensamento verbal, interior, como a conversação face
a face ou o monólogo escrito, são atividades lingüísticas marcadas pela alteridade; o
discurso, mesmo interior, se constitui na interdiscursividade, como um “elo na cadeia
verbal” composta por todas as falas que expressam os conhecimentos, crenças, valores,
costumes e tradições de uma comunidade humana.
Assim, a concepção de sistema lingüístico deve, por um lado, ser ampliada, para
ultrapassar as teorias que o limitam às injunções fonológicas, morfossintáticas e
semânticas da frase, e dar conta das operações de composição e interpretação dos
discursos, bem como compreender as ações verbais dos sujeitos uns sobre os outros,
contemplando, pois, a dimensão pragmática da língua. Por outro lado, essa concepção
precisa ser flexibilizada, para dar conta não só das ações dos sujeitos sobre a língua, como
quer Geraldi (1991), mas também da ação (energeia) que a língua é, como quer Franchi
(1977).
É a partir dessa compreensão que discutirei, em seguida, questões mais
específicas, concernentes ao processamento intersubjetivo dos discursos em geral e,
particularmente, àquilo que caracteriza as manifestações lingüísticas escritas em relação às
orais.

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
123-
2. O PROCESSAMENTO PRAGMÁTICO-SEMÂNTICO E FORMAL DOS DISCURSOS: TIPOS DE
ORGANIZAÇÃO TEMÁTICA, ESTRUTURA COMPOSICIONAL E ESTILO
Numa formulação que lembra os princípios de dialogia e alteridade propostos por
Bakhtin, van Dijk (1984:197) inicia seu estudo sobre a macroestruturação semântica dos
discursos reclamando contra a pouca atenção que a Lingüística tem dado às relações entre
os discursos, que, segundo ele, se estabelece tanto “sintagmaticamente”, na conversação,
quanto “paradigmaticamente”, isto é, sistematicamente. A relação chamada sintagmática, in
praesentia, tem a ver com a dimensão interacional, dialógica, de que fala Bakhtin, e a
relação paradigmática remete à noção bakhtiniana de interdiscursividade, que também
aponta para a inserção do discurso num tipo, num gênero. Por outro lado, van Dijk
(1983a:115-117 e 1983b: 150-153) vê a necessidade de se levar em conta critérios
estruturais e funcionais na construção de uma possível tipologia discursiva. Um tipo ou
gênero de discurso resulta da convencionalização das inter-relações entre estruturação
formal e semântica, funções pragmáticas (em termos de atos de fala) e funções sociais
(relativas a contexto institucional de uso, suporte, circulação, etc.). É por essa via que
acredito possível e necessário articular uma teoria geral da enunciação, como a de Bakhtin,
com estudos que se ocupam ou da configuração e do processamento dos discursos, como
os de van Dijk, ou das especificidades que distinguem discursos orais de escritos, como os
de Chafe (1982 e 1986), Tannen (1986), Cooper (1983), Cooper & Matsuhashi (1983). Para
mim o núcleo da questão está em como os sujeitos processam o discurso, enquanto
autores ou enquanto leitores, em função da modalidade - escrita ou falada - que determina
relações diferenciadas com o tema, o interlocutor, a situação, o suporte, o interdiscurso, o
que acarreta configurações formais (nos níveis global e local) também diferenciadas. Essas
relações, tipificadas, convencionalizadas, “relativamente padronizadas”, é que virão a
constituir os gêneros que, enquanto estabilização de uma práxis social, são, em última
instância, voz alheia com a qual é preciso interagir a cada atividade enunciativa.
Assim, no intuito de construir modos de operacionalização das categorias tema,
estrutura e estilo que integram a noção bakhtiniana de gênero, tendo em vista o paralelo
oralidade-escrita, que interessa à análise, vou começar por tentar entrecruzar aqui três
abordagens do processo de produção do discurso. A partir da proposta de Castilho (1989)
quanto aos momentos constitutivos da arquitetura textual, vou discutir os conceitos de
macroestrutura semântica e superestrutura formal formulados por van Dijk (1983a, 1983b,
1984 e 1992) e a teoria do processo de escrita de Cooper & Matsuhashi (1983).

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
124-
Castilho (1989) vê, na construção do discurso, as atividades de “situação”,
“cognição” e “verbalização”. Segundo o autor, na atividade de “situação”, definindo-se
quanto às circunstâncias da enunciação, o sujeito vislumbra e se orienta pela “estrutura
composicional” de seu discurso, noção que van Dijk desenvolve sob o rótulo de
“superestrutura” e que Cooper & Matsuhashi (1983) chamam de “tipo de discurso”. Na
atividade de “cognição” se define o que Bakhtin aponta como organização temática do
discurso e que van Dijk chama de “macroestrutura semântica”. Cooper & Matsuhashi
(1983) localizam no planejamento global do discurso tanto as decisões do nível da
“situação” (concernentes aos propósitos do autor, às relações com o interlocutor e ao tipo
de discurso) quanto as decisões do nível da “cognição”, relativas ao grau de abstração e à
função semântico-pragmática de cada enunciado. Na atividade de “verbalização” se
processam as decisões concernentes à construção da “microestrutura” (cf. van Dijk) do
discurso, que redundam na expressão de um “estilo”, como quer Bakhtin (1992). É o
momento, na língua oral, da composição de cada “unidade discursiva”, no dizer de Castilho
(1989); na língua escrita, da formulação sintático-semântica intra e interfrasal, das decisões
no nível da sentença, como dizem Cooper & Matsuhashi (1983).
A produção e a compreensão do discurso são reconhecidos pelos estudos
psicolingüísticos como processos complexos, multirramificados, que envolvem trabalho
lingüístico e cognitivo nos níveis fonológico, morfossintático, semântico e pragmático, tanto
no âmbito global quanto no âmbito local ou microestrutural. O processamento das
atividades integrantes da produção discursiva apontadas por Castilho (1989:250) não deve
ser pensado em termos de ordem linear nem de seqüência de etapas impermeáveis, mas
como o desenvolvimento de operações muitas vezes simultâneas, recursivas e que
interferem umas sobre as outras.
Van Dijk (1992:9-35)16
, que propõe um modelo “estratégico” do processamento do
discurso, vê no trabalho de produção três tipos de atividade correspondentes às que
postula Castilho (1989). Para ele (cf. p. 31), a principal tarefa do locutor é a construção de
um “macroplano” do discurso, que inclui o plano semântico (a “macroestrutura semântica”)
e elementos de um “modelo situacional” (“um modelo do ouvinte e seu conhecimento,
motivações, ações passadas e intenções, e também do contexto comunicativo”). A tarefa
seguinte é a “execução da base textual, de maneira estratégica, nos níveis local e linear
(...) pela escolha entre informações explícitas e implícitas, o estabelecimento e a
sinalização da coerência local”, enfim, a formulação de cada enunciado “de superfície”, o
que correspondente à atividade de “verbalização” de que fala Castilho (1989). No entanto,
16 “A caminho de um modelo estratégico de processamento de discurso”, tradução brasileira de artigo publicado
originalmente em 1983.

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
125-
assim como Castilho (ib.), van Dijk (1992) também alerta no sentido da não-linearidade do
processo de composição, tomando como argumento as autocorreções, reformulações,
mudanças de curso e divagações que se observam na linguagem oral:
(...) teremos, neste caso, de pressupor que a formação local de proposições e a
formulação local de estruturas de superfície não são subsequentes à formação de
macroestruturas semânticas completas ou proposições locais, respectivamente.
Provavelmente, os locutores começarão a formular sentenças antes que a completa
representação semântica tenha sido formulada, e o mesmo é válido para o nível
mais global, já que macroestruturas parcial ou previamente formadas podem ser
mudadas devido às limitações de informação local. Isso ocorrerá especialmente no
caso de conversas e naquele tipo de monólogo que envolve respostas contextuais
por parte do ouvinte, ou observações paralelas de acontecimentos ou ações
concomitantes.
(van Dijk, 1992:32)
Considero as formulações do autor compatíveis com a teoria que aqui se procura
explicitar e com o modelo de produção discursiva que será assumido neste trabalho.
O quadro que aqui se vai delinear, do ponto de vista da lingüística e da
Psicolingüística, verticaliza e especifica as concepções de Vygotsky (1989) e Luria (1986)
quanto aos processos de produção e interpretação dos discursos, discutidas no capítulo 2.
2.1. A “ATIVIDADE DE SITUAÇÃO”: AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO, DEFINIÇÃO DE ATOS DE
FALA E DE ESTRATÉGIAS COMPOSICIONAIS
Na "atividade de situação", diz Castilho (1989:250), o falante avalia as condições
de produção do seu discurso e se situa com relação a elas, definindo estratégias para
atingir seus objetivos. Essa avaliação diz respeito: (i) às representações que o sujeito faz
de si mesmo, do interlocutor, das imagens mútuas que eles têm um do outro e das relações
existentes ou possíveis entre eles (inclusive as relações de poder definidas por seus
lugares sociais), dos conhecimentos e crenças com que pode contar no interlocutor; (ii) às
relações do discurso com as circunstâncias imediatas da enunciação, que são diferentes
conforme a interlocução se faça de viva voz ou via telefone, rádio, televisão, livro, revista,
jornal, carta, bilhete, quadro-negro, embalagem de produto comercial, etc, e conforme se
preveja para o discurso circulação pública ou privada, porque variam as informações

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
126-
visuais, auditivas, olfativas, etc tidas como partilhadas com o interlocutor. Tais questões
remetem, em última instância, à consideração da modalidade lingüística - oral ou escrita - e
das condições previstas para a recepção (o tipo de suporte ou portador do texto e o circuito
comunicativo). As funções imaginadas e os objetivos pretendidos, que vão definir os atos
ilocutórios e perlocutórios, e as relações concebidas entre discurso e circunstâncias de
enunciação guardam estreita ligação com o gênero do discurso que se constrói.
Especificamente, no “momento” de situação, o processamento dos objetivos
pessoais e das relações texto-contexto encaminha a um posicionamento quanto a uma
“superestrutura” e à definição de estratégias de estruturação composicional, passos
decisivos na concepção, no planejamento e na verbalização do discurso, com implicações
no âmbito global e microestrutural, como apontam van Dijk (1983:141-174), Cooper &
Matsuhashi (1983) e Witte & Cherry (1986).
Na concepção de van Dijk (1992:123)17
, a superestrutura sintática diz respeito à
forma global do texto e corresponde a um determinado esquema convencional e
relativamente fixo, específico para cada tipo de texto. As superestruturas organizam a
macroestrutura semântica do discurso, de modo bastante semelhante àquele como a
sintaxe organiza o sentido de uma sentença. Esses esquemas, que integram o
conhecimento lingüístico dos sujeitos, “provavelmente não são arbitrários” e estão em
relação com outros aspectos dos discursos. Van Dijk (1983b:149-165) aponta como
exemplo a inter-relação entre a superestrutura do soneto e as características fonológicas
desse tipo de texto (os padrões de rima e métrica); entre a superestrutura da narrativa e
sua organização semântica (cf. o esquema prototípico da narrativa cotidiana proposto por
Labov & Walestky, ou as estruturas típicas dos textos míticos estudados por Propp e por
Lévy-Strauss); entre a superestrutura dos textos argumentativos e sua estruturação
pragmática (os atos de fala que se expressam a cada parte). Assim, a superestrutura seria
como um esquema abstrato que estabeleceria a ordem global e as categorias específicas
de composição dos textos, bem como as possibilidades de combinação dessas categorias.
Por exemplo, o esquema da narrativa prevê categorias como situação, complicação,
resolução, avaliação e moral, sendo que, segundo o autor (ib., p. 153-158) a situação, a
avaliação e a moral podem ficar implícitas; o esquema dos textos argumentativos prevê as
categorias básicas de hipótese, ou premissas, e conclusão, que, nos discursivos
argumentativos cotidianos, podem também ficar implícitas, ou se manifestar em termos de
justificação (desdobrável em situação, provas, legitimação, reforço) e conclusão (ib., p.
158-163). Segundo van Dijk (1984:228), as categorias são também recursivas, o que
17 “Estruturas da Notícia na Imprensa”, p. 122-157, tradução brasileira de artigo publicado originalmente em 1985.

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
127-
significa que uma estrutura narrativa de menor extensão pode ser incrustada como parte ou
passagem num discurso que em seu todo constitui uma narrativa mais extensa e complexa.
Assim, como aqui assumido no âmbito da sintaxe frasal, a sintaxe textual proposta por van
Dijk (1992 e 1983b) é concebida como uma sistematização, que delimita e orienta os
processos de produção e de interpretação discursiva, mas, sistematização de
possibilidades, prevê a atividade enunciativa do sujeito.
“Os procedimentos composicionais” de que fala Bakhtin (1992) são estudados em
termos de “framing strategies” por Witte & Cherry (1986:130-131), no quadro da
Psicolingüística. Segundo esses autores, as “framing strategies” resultam das
conceitualizações do sujeito quanto à “tarefa” que lhe propõe a situação de escrita e, daí,
quanto ao objeto específico de seu texto. A adoção de uma estratégia no nível global do
discurso repercute na estruturação dos enunciados e seqüências de enunciados, no nível
microestrutural. Assim, por exemplo, uma estratégia narrativa pode ser resultante de uma
representação da “tarefa” como “estão pretendendo que eu conte o que aconteceu quando
eu fiz X” e acarretar, na configuração do discurso, a construção de enunciados e
seqüências de enunciados que terão como tópico o pronome de primeira pessoa; uma
estratégia locativa pode resultar de uma interpretação do “problema retórico” do tipo “eu
preciso criar uma vista do lugar ou do objeto X localizando suas partes umas em relação às
outras” e levar à construção de enunciados ou de passagens do discurso em que a posição
de tópico vem ocupada por expressões locativas.
Devo apontar ainda que a definição da superestrutura tem conseqüências no
processo de estruturação sintática microestrutural, no âmbito frasal e interfrasal, por
exemplo quanto aos tempos e modos verbais, aos articuladores e operadores
argumentativos, como se discutirá adiante, no item 2.3.
As noções de superestrutura ou tipo de discurso e de “framing strategies”,
entendidas como produtos “relativamente fixos e estáveis” de uma determinada práxis
social - portanto, discurso do outro - a ser (re)processado pelos sujeitos a cada
empreendimento enunciativo, em função de suas necessidades e possibilidades naquela
circunstância, me parecem instrumentos de análise úteis e compatíveis com a concepção
de linguagem que vem sendo tecida. Particularmente o conceito de superestrutura, tomado
nessa perspectiva, balizou a interpretação dos processos enunciativos desenvolvidos pelos
sujeitos a partir das minhas propostas de que ditassem ou “fizessem de conta” que
estavam lendo uma história.

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
128-
2.2. A “ATIVIDADE DE COGNIÇÃO”: CONFIGURAÇÃO DA MACROESTRUTURA TEMÁTICA E DAS RELAÇÕES
SEMÂNTICAS GLOBAIS
Na "atividade de cognição", o sujeito ativa conhecimentos armazenados em sua
mente e os articula com os elementos que a situação lhe coloca, elaborando o arcabouço
conceitual que dará sustentação ao seu discurso. Freqüentemente o locutor sabe de
antemão o tópico do qual tratará o discurso a ser produzido, que lhe é sugerido pela própria
situação interlocutiva (como observa Bakhtin ao tratar dos gêneros) e, ativando frames e
scripts - subsistemas de conhecimentos sobre algum fenômeno do mundo -, planeja a
“macroestrutura semântica”, que, segundo van Dijk (1992:122-123), constitui a
representação do conteúdo global do discurso, respondendo, afinal, sobre do quê trata o
discurso. Esse macroplano semântico organiza a estruturação tópica do discurso, isto é,
sua organização em tópicos e subtópicos articulados, consistindo, por isso, num elemento
da tessitura da coerência, com o qual o falante procura costurar o necessário equilíbrio
entre a manutenção da unidade e a progressão temática. A macroestrutura semântica seria
como que um resumo do discurso constituído pela síntese de suas proposições essenciais,
as “macroproposições”, que às vezes vêm expressas por enunciados que van Dijk (1984)
chama de “frases tópicas”, e às vezes são inferíveis das várias passagens do discurso.
Van Dijk (1984:195-238) propõe a noção de “tópico discursivo” como um tipo de
macroestrutura de estatuto intermediário entre a estruturação semântica global e a
proposição, na medida em que organiza hierarquicamente a estrutura conceitual de uma
seqüência. O tópico discursivo é o correlato teórico da noção intuitiva que nos leva a
reconhecer de que trata cada passagem de um discurso e a perceber as mudanças de
assunto. Corresponde a uma proposição, explícita ou subjacente, que domina toda a
informação semântica de uma seqüência e a vincula ao macrotópico do discurso,
relacionando-a com as seqüências anteriores e estabelecendo possibilidades para a
continuação (por algum desdobramento do tópico colocado ou por mudança de tópico),
sendo, portanto, elemento constitutivo da coerência global e local.
A cada seqüência, dominada por um tópico discursivo, se define uma estrutura
temática e informacional18
, pelo processo de “articulação tema-rema”. De acordo com Ilari
(1992:144), como o tópico discursivo é aquilo de que se fala a cada passagem, os
processos de sinalização do tópico têm a função de marcar um objeto como
18 Alguns autores distinguem a estrutura informacional, relativa ao jogo entre informação dada e informação nova, da
estrutura temática, relativa à articulação tema-rema. Neste trabalho, estou assumindo, com Ilari (1992) e van Dijk
(1992:48), que a função temática tende a ser atribuída à informação dada, explícita ou pressuposta, que é colocada em
primeiro plano, como ponto de apoio para a informação nova, expressa no rema.

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
129-
comunicativamente importante, atribuindo-lhe o papel de "chave de interpretação"19
do
segmento de texto que ele domina.
Castilho (1989:267) vê a articulação tema-rema (ATR) como "um processo que
ultrapassa os limites da oração e pode explicar a própria constituição do texto", inclusive a
constituição das unidades discursivas do texto oral (UDs). O autor define tema como o
“objeto de predicação”, o “falar a respeito de”, a “ação de referência” e rema como “a
predicação desse objeto”, o “o dizer que”, a “ação de asserção” (ib., p. 266). Entendendo
ser necessário enfatizar a dimensão semântico-pragmática desses conceitos, prefere falar
em "tematização", processo pelo qual o falante escolhe o tema, "ponto de partida de um
segmento textual", a partir dos referentes que supõe partilhados pela audiência, em função
da análise que faz da situação; e em "rematização" , processo de construção das
asserções a respeito do tema. Ilari (1992:134) também considera que "uma explicação
global da articulação tema-rema precisa ser buscada no terreno do discurso e da interação
verbal" e postula que "os conteúdos temáticos são aqueles que o falante julga presentes na
memória imediata do ouvinte, e os conteúdos remáticos são aqueles que ele julga que
aparecerão na atenção do ouvinte por efeito da interação verbal". De um ponto de vista
próximo ao de Castilho (1989) e Ilari (1992), van Dijk (1992:49)20
, estudando os processos
de distribuição da informação no discurso, ressalta que essa questão ultrapassa o âmbito
das relações semânticas entre proposições e “requer explicação gramatical, pragmática,
cognitiva e interacional”.
Convém distinguir tópico discursivo de tema. O tópico domina uma passagem, um
segmento do discurso, até mesmo como proposição implícita e subjacente, mas cada
proposição individual dessa passagem pode tomar como tema um elemento não
formalmente coincidente com esse tópico. O conjunto de proposições daquela passagem
funciona como rema para o tópico que a domina, mas cada uma, individualmente, pode
tomar um tema específico como ponto de partida.
Paralelamente a seu papel na estruturação temático-informacional, os tópicos
discursivos, na medida em que articulam as proposições de uma seqüência e se articulam
entre si e com o todo do discurso, têm função importante na construção da coerência do
discurso, que obedece a princípios como a unicidade ou compatibilidade de mundos
possíveis referidos e, no caso do mundo real, a pressuposição de normalidade dos fatos e
situações representados. Os processos pelos quais essa função se manifesta e suas
19 Esta expressão é usada por Halliday (1967) e por Perini (1981, citado por Ilari, 1992) e discutida por Ilari (1992:144-
152).
20 “Análise Semântica do Discurso”, p. 36-73, tradução brasileira de artigo publicado originalmente em 1985.

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
130-
marcas lingüísticas na “superfície” do discurso serão estudados no item 2.3 a seguir (a
atividade de “verbalização”).
Van Dijk (1984:226-229) relaciona “macroestrutura” e “superestrutura”, ponderando
que as macroestruturas podem estar sujeitas a constrições que variam conforme o tipo de
discurso. Nas narrativas, por exemplo, as proposições que indicam tempo, lugar e outras
circunstâncias de um episódio podem estar vinculadas à categoria superestrutural
“situação”; nos contos de fada, se podem reconhecer como categorias semânticas
específicas as proposições referentes à chegada do herói, partida do herói, prova do herói
e recompensa, vinculadas às categorias superestruturais “nó” e “desenlace”, que definem a
trama da história. Assim, para o autor, o que nos faz intuitivamente distinguir entre uma
história cotidiana e um artigo político num jornal ou uma propaganda, são categorias
estruturais (ou sintáticas), que determinam a ordenação linear e hierárquica das
macroestruturas (os tópicos discursivos), e categorias conceituais (semânticas), que
estipulam sobre o quê é o discurso.
Cooper & Matsuhashi (1983:15-21), estudando o processo de escrita, vêem como
elementos da estrutura global do discurso, ao lado do tipo de composição formal, o nível de
abstração e a definição do papel semântico-pragmático de cada enunciado, que se
estabelecem em função do que se prevê como o todo do discurso. Nesse quadro,
apresentam um elenco de funções, categorizadas em: (i) generalizadoras, como declarar e
ratificar; (ii) retóricas, como sintetizar e concluir; (iii) seqüenciadoras, como acrescentar,
retificar, narrar; (iv) relacionais, como contrastar, comparar, expressar causa/conseqüência,
qualificar; (v) de desenvolvimento, como exemplificar, definir e descrever. Segundo os
autores, o arranjo dessas funções no discurso tem a ver com o gênero do discurso - os
propósitos a que serve e sua organização esquemática típica.
Até aqui, o que se pode ressaltar é a concordância dos autores citados quanto à
interpenetração, no âmbito do planejamento global do discurso, das dimensões pragmática
(avaliação das circunstâncias enunciativas e dos próprios objetivos e intenções, que
determinam macroatos de fala e tipo de discurso), sintática (a superestrutura) e semântica
(a macroestrutura). A interação desses aspectos no âmbito microestrutural será estudada a
seguir, ao se tratar da atividade de “verbalização”.
2.3. A “ATIVIDADE DE VERBALIZAÇÃO”: CONSTRUÇÃO DO ESTILO, NO ÂMBITO DA MICROESTRUTURA

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
131-
O falar e o escrever, “atividades de verbalização”, são como que a "tradução" em
linguagem verbal dos processos mentais de “situação” e “cognição”. Com a expressão
lingüística, que se manifesta linearmente, palavra por palavra, o sujeito constrói a
microestrutura do discurso, orientando-se pelo que foi vislumbrado em termos de
planejamento global. Como alertam Castilho (1989) e van Dijk (1992), as atividades de
situação e cognição, integrantes do planejamento, e a de verbalização, que vem a ser a
execução, não ocorrem em seqüência linear, uma tendo início depois de concluída a outra.
Sobretudo na interação oral, elas se superpõem, se realizam simultaneamente, o sujeito
desencadeia a verbalização antes de ter completado o planejamento global e mesmo o
planejamento local, de cada proposição, cada enunciado.
Castilho (1989:250-251) aponta três operações básicas na construção de cada um
dos enunciados que compõem as unidades discursivas na língua oral: a representação
semântica, gramatical e fonológica. A representação semântica envolve decisões quanto ao
esquema temático-informacional, com a escolha do tema e a formulação do rema de cada
enunciado; na representação gramatical é crucial a escolha do verbo, que define a sintaxe
e a lexicalização no âmbito do enunciado; a representação fonológica se processa tanto no
nível segmental quanto no supra-segmental, que envolve acento, entoação e traços
prosódicos de significação pragmática e semântica, pois expressam disposições e
avaliações do falante, atos de fala e efeitos de sentido especiais como a ironia, por
exemplo, além de sinalizarem os elementos chave da estrutura temático-informacional
(tema/rema e dado/novo).
No discurso escrito, a impossibilidade de significar pelo recurso à representação
fonológica supra-segmental tem implicações no processamento das operações de
representação semântica e gramatical, requerendo do sujeito, como apontam tanto
Vygotsky (1989) e Luria (1986) (cf. capítulo 2) quanto Cooper & Matsuhashi (1983) e Chafe
(1986), empenho deliberado no sentido de lexicalizar as informações não expressas no
nível prosódico. Um dos aspectos a ser verificado na análise dos dados é a percepção dos
sujeitos quanto a essa diferença entre o modo oral e o modo escrito da linguagem. Ainda
quanto à operação de representação fonológica do escrito, é reconhecida a dificuldade do
trabalho grafomotor em comparação com a articulação oral, o que resulta num processo
mais lento e que, para os iniciantes, pode requerer um esforço consciente de tão alto grau
que, congestionando a memória de curto-termo, chega a prejudicar as outras dimensões do
processo de produção discursiva. Esse problema, sobre o qual coincidem as opiniões de
Luria (1986) e Cooper & Matsuhashi (1983), não constituiu empecilho para as crianças
entrevistadas nesta pesquisa, que, vivendo os momentos iniciais de seu processo de
alfabetização, não manuscreveram suas histórias, mas as ditaram à pesquisadora. Desse

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
132-
modo, o fato de os sujeitos terem chegado ao final do ano “sem aprender a escrever”
acabou se constituindo como fator favorecedor do acesso ao objeto que se buscou estudar,
na medida em que as crianças, liberadas do trabalho grafomotor, podiam dedicar toda a
sua capacidade de memória e atenção ao processo de compor a superestrutura, a
macroestrutura e a microestrutura de seus discursos.
Na construção verbal do discurso, o sujeito vai marcando a chamada “superfície”
com indicações lingüísticas que, sinalizando a arquitetura semântica do discurso, facultam
ao interlocutor o acesso à significação pretendida.
Van Dijk (1984:221-226) aponta alguns elementos que podem ser tomados como
demarcadores lingüísticos da macroestrutura global: (i) as chamadas “frases tópicas”, que
expressam macroproposições; (ii) pró-formas e relações lexicais que retomam (ou remetem
a) macroproposições; (iii) conectivos que articulam macroproposições; (iv) marcadores de
mudança de tópico; (v) a unidade de tempo, lugar e modalidade determinada
macroestruturalmente e expressa por operadores específicos, inclusive operadores modais
e verbos específicos que definem mundos possíveis.
No plano da coerência local, uma das maneiras de se manifestar, na verbalização,
o mapeamento da arquitetura semântica do discurso é pela organização hierárquica e
ordenação dos enunciados que expressam as proposições subjacentes (cf. Cooper &
Matsuhashi, 1983:15-21). Esses processos, segundo van Dijk (1992:42-47), parecem
orientados por princípios cognitivos que condicionam a representação das relações
temporais, espaciais e condicionais entre eventos e ações à pressuposta normalidade
dessas relações num mundo possível (cf. as “framing strategies” de Witte & Cherry, 1986).
Outra maneira de indicar as relações entre proposições é o recurso a articuladores e
operadores argumentativos, que, interligando orações, enunciados e seqüências de
enunciados, sinalizam a delimitação de cada uma dessas unidades, seu papel semântico e
também sua função pragmática. As “propriedades cumulativamente pragmáticas,
semânticas e sintáticas” são apontadas por Castilho (1989:265) especificamente quanto
aos marcadores das UDs na língua falada, e são postuladas também, como característica
geral do processamento de todo discurso, por van Dijk (1992:46-47) e por Ducrot (1987),
como se viu no item 1.3.5.
Outra dimensão da tessitura semântica subjacente sinalizada na verbalização diz
respeito à estrutura temático-informacional. O sujeito assinala o caráter temático ou
remático das expressões pela entonação (o rema, segundo Ilari, 1992:43-51, associado a
algum tipo de proeminência entonacional, o “foco”, invariante fonológico de natureza supra-
segmental), ou por recursos sintáticos como: (i) a colocação (na frase não-marcada, o tema

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
133-
ocupando a primeira posição e o rema a posição final); (ii) a função gramatical (na estrutura
não-marcada, o tema com a função de sujeito e o rema como predicado); (iii) a
topicalização (o segmento separado por pausa e colocado no início - “tópico” - ou no final -
“antitópico” - da oração constituindo o tema, cf. Ilari, 1992:54-55); (iv) as construções
cindidas (de vários tipos, cf. Ilari, 1992:61-67). Paralelamente, o sujeito faz indicações
sobre o caráter “velho” ou novo das informações e, com isso, sobre a continuidade e a
progressão de seu discurso, demarcando a coesão, quando sinaliza a retomada de
elementos considerados já dados a conhecer ao interlocutor através de recursos sintáticos
como as pró-formas em geral, com função anafórica. Esses processos se manifestam
diferentemente na produção de discursos orais e de discursos escritos: na oralidade, além
de assinalar pela entonação os elementos remáticos, o locutor, em função da inserção do
discurso na situação interativa, tende a implicitar ou indicar por recursos dêiticos o que
considera conhecido pelo interlocutor, procedimentos que podem ser inviáveis ou
problemáticos na escrita.
Castilho (1989:268-270) e Koch (1989:57-60) apontam alguns processos típicos de
tematização (por “tema caótico”, ou “tema constante”, ou por “tema derivado” ou “tema
fendido”, por exemplo) e rematização (“frásticas” - fazem o discurso progredir - ou
“parafrásticas” - retomam o discurso anterior para explicar, retificar, enfatizar o que foi dito),
os quais serão levados em conta no desenvolvimento da análise.
A superestrutura sintática, ou “estrutura composicional”, no dizer de Bakhtin
(1992), se manifesta na verbalização da microestrutura no emprego de marcadores
específicos de determinados tipos de discursos, como o era uma vez dos contos infantis ou
o seja (um triângulo A, B C...) das demonstrações de teoremas matemáticos ou o suponha-
se dos textos lógico-argumentativos, e se manifesta também no arranjo dos tempos e
modos verbais, caracterizadores do regime enunciativo do discurso.
Nesse sentido, Weinrich (apud Koch, 1984:37-48) propõe que as formas verbais
não exprimem tempo cronológico, mas sim caracterizam o processo interlocutivo como
relato ou comentário. Os discursos do “mundo narrado” seriam marcados, especialmente,
pelo pretérito perfeito e imperfeito e pelo condicional, ao passo que os discursos do “mundo
comentado” seriam tecidos, preferencialmente, pelo emprego do presente e o futuro. O
autor ressalva, no entanto, a possibilidade da “metáfora temporal”, em que o
“contrabandear” de determinado tempo de um tipo de processo discursivo (relato ou
comentário) para outro vem a serviço da construção de algum efeito de sentido especial.
Na abordagem de Weinrich (apud Koch, 1984 e 1992:51-54), o sistema temporal é visto
como possibilidade de expressão (i) da atitude, narrativa ou comentadora, do sujeito

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
134-
falante; (ii) da perspectiva enunciativa adotada pelo locutor (nos discursos do “mundo
comentado”, o presente seria o tempo de grau zero, sem indicação de perspectiva, e o
pretérito e o futuro indicariam, respectivamente, retrospecção e prospecção; nos discursos
do “mundo narrado”, os pretéritos perfeito e imperfeito seriam tempos de grau zero, o mais-
que-perfeito indicaria a retrospectiva e o futuro-do-pretérito, a prospectiva); (iii) o relevo
atribuído pelo falante aos eventos relatados, no caso dos discursos narrativos. Embora se
possa discutir a dicotomia relato/comentário, é interessante a proposta de Weinrich (assim
como outros estudos da mesma questão) na medida em que faz ver a natureza
interacional, ou dialógica, como diria Bakhtin, do sistema temporal, apontando funções
gramaticais, semânticas e pragmáticas dos tempos e modos verbais. Na narrativa, por
exemplo, o emprego do pretérito e a correlação entre perfeito e imperfeito e entre indicativo
e subjuntivo, simultaneamente, sinalizam a coesão entre os enunciados, expressam as
relações efetivamente temporais entre fatos e ações, indicam o eixo principal da trama,
assinalando eventos de primeiro e segundo plano (cenários ou circunstâncias) e sinalizam
a avaliação do locutor quanto aos eventos narrados, assinalando-os como necessários ou
possíveis.
Há que se considerar ainda, na verbalização da microestrutura, as escolhas
lexicais, cuja rede mapeia para o interlocutor os “frames” e “scripts” ativados no processo
de produção, e a construção sintática de cada enunciado, que guarda especificidades em
função da modalidade lingüística do discurso, como se verá no item 3 a seguir. Nesses
processos microestruturais de lexicalização e construção sintática se manifesta a
diversidade de estilos que Bakhtin aponta como terceira particularidade caracterizadora dos
gêneros. Uma questão crucial, nesse terreno, diz respeito à variação de dialetos e
registros, que determina diferenças estilísticas definidoras, no plano do vocabulário e da
sintaxe, e remete ao universo sócio-cultural dos interlocutores e ao tipo de relação que se
estabelece entre eles na situação de interação. Os sujeitos da pesquisa são falantes de
dialetos não-padrão e o processo de construção de conhecimento que se pretende
compreender é justamente o de aprendizagem da modalidade escrita de um gênero
secundário de discurso, ao qual está associado o dialeto de prestígio, no registro formal.

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
135-
2.4. SITUAÇÃO, COGNIÇÃO E VERBALIZAÇÃO NA ORALIDADE E NA ESCRITA
Sintetizando, pode-se afirmar que a relação do discurso com as circunstâncias de
sua produção, entre as quais se incluem a inserção cultural e os conhecimentos do locutor,
encaminha, de uma ou outra maneira, o trabalho lingüístico do sujeito, condicionando, em
decorrência, o produto desse trabalho, que vem a ser o discurso em sua materialidade
verbal.
Um fator decisivo para o processo de produção é a presença ou ausência física do
interlocutor. Na interlocução oral típica, diante do interlocutor e na premência de lhe dizer
algo, planejamento e execução acontecem ao mesmo tempo. A “situação” e a “cognição”
são praticamente simultâneas à “verbalização”, o que explica os falsos começos e
enunciados truncados, as hesitações e pausas, os cortes, auto-correções e repetições, as
digressões e retomadas do tema, que caracterizam o discurso oral. Apoiando-se em Givón
(1979), Castilho (1989:250) entende a língua oral como o "modo pragmático" da linguagem,
porque mantém relações mais estreitas com o contexto comunicativo imediato, e reconhece
que nela "mais fortemente do que na escrita, o cognitivo e o situacional permanecem como
andaimes visíveis da arquitetura lingüística, envolvendo o módulo verbal, que é a edificação
propriamente dita".
As condições de produção da escrita são diferentes. O interlocutor está ausente e
o produtor dispõe de tempo para se situar, para ativar, "gerar", articular e avaliar
conhecimentos antes da verbalização e pode, ao final, rever seu discurso. Entretanto, como
acontece no processamento oral, na escrita os procedimentos de planejamento,
verbalização e revisão não ocorrem de maneira linear e estanque, mas são processos
recursivos e que interagem entre si, retroalimentando-se. Nesse particular, o que distingue
a interlocução oral da interação através da escrita é que o leitor não presencia o
processamento do texto escrito, não toma conhecimento das idas e vindas do autor,
apenas recebe o produto final, que pôde ser revisto, corrigido e editado. Segundo Cooper &
Matsuhashi (1983:34-35), a produção de discurso escrito é uma atividade quase totalmente
consciente, muito pouco automatizada, que requer do sujeito esforço de planejamento
deliberado e focal (a não ser no nível grafomotor, para os escritores experientes). Por isso,
na construção escrita a presença dos andaimes, que, em geral, não tem razão de ser, não
tem aceitação social e não faz parte das expectativas do leitor. Na comunicação face a
face, o interlocutor lida com naturalidade e benevolência com os andaimes e os entulhos da
construção, mas o leitor de um texto escrito não aceita o rascunho; sua expectativa é de
interagir com um produto limpo e acabado.

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
136-
Outro aspecto distingue fundamentalmente as condições de produção do discurso
escrito das do discurso oral, tendo implicações decisivas na configuração de um e outro. É
o fato de que o discurso escrito tende a ser mais autônomo, mais independente do contexto
do que o texto oral, e, contando menos com apoios extralingüísticos, tende a ter uma
arquitetura verbal mais estruturada, mais articulada que a do texto oral, ponto de vista
defendido também por Vygotsky (1989) e Luria (1986), como se viu no capítulo 2. Por isso,
pode-se, com Castilho (1989:250), considerar a escrita como "o modo sintático" da
linguagem, ressalvando-se que se trata de tendência, não de característica absoluta, pois
se pode apontar muitos exemplos de textos escritos bastante dependentes do contexto
imediato, como os avisos, os cartazes de propaganda, os rótulos e textos de embalagens,
as legendas de fotografias, que assinalam essa dependência na sua própria formulação.
Uma das questões que se pretende verificar na análise é o desenvolvimento da capacidade
de descentramento e abstração, mais necessária à construção do discurso escrito que à do
oral, posto que há, entre escritor e leitor, pouca ou nenhuma informação partilhada nos
níveis extralingüístico, paralingüístico (gestos, expressões faciais e corporais) e prosódico
(acento, entonação, ritmo, melodia), diferentemente do ocorre entre falante e ouvinte.
Finalmente, um fator básico que não se pode deixar de explicitar é a diferença de
natureza do próprio suporte, que define possiblidades diferentes de “situação”, “cognição” e
“verbalização”, enfim, possibilidades diferentes de relacionamento do sujeito com o seu
discurso. Na oralidade, o suporte é oral/auditivo e caracterizado pela linearidade e a
temporalidade da cadeia sonora e, sobretudo, pela natureza evanescente da palavra
falada. Na escrita o suporte é gráfico/visual e marcado pela simultaneidade e a
espacialidade do discurso escrito, objeto físico de caráter permanente, cujas partes vão se
apresentando simultaneamente aos olhos de quem escreve ou lê. Essas características,
determinadoras de modos de processamento específicos, não estavam plenamente
disponíveis para os sujeitos da pesquisa que, não tendo ainda dominado o sistema gráfico,
não experienciaram pessoalmente - não internalizaram - a objetificação do discurso
propiciada pela escrita. A não-apreensão plena desse caráter exclusivo da escrita
certamente teve implicações na representação que os sujeitos puderam construir do
discurso escrito e na maneira como lidaram com os textos escritos que lhes foram
apresentados ou demandados nas entrevistas.
As particularidades das relações entre discursos orais e discursos escritos serão
mais especificamente discutidas no item 3 a seguir.
2.4.1 - Coerência e coesão na oralidade e na escrita

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
137-
Neste momento, vale a pena explicitar com que acepção se vai, neste trabalho,
empregar os termos coerência e coesão.
Na perspectiva em que nos colocamos, não é possível pensar em regras ou
condições estabelecidas a priori que os interlocutores devam cumprir para
produzir/interpretar discursos com coerência e coesão.
Entretanto, é inevitável reconhecer que os sujeitos falantes operam com
determinadas condições que lhes possibilitam produzir/interpretar discursos reconhecíveis
como “uso normal da língua”, no dizer de Widdowson (1981:56). A coerência e a coesão
seriam, então, princípios gerais de formação discursiva, tendências gerais da configuração
conceitual e formal dos discursos, depreensíveis a partir da regularidade de ocorrência de
marcas da atividade interacional na materialidade lingüística dos discursos.
Nessa linha, entendo que a coerência decorre da macro-organização lógico-
semântica do discurso, da rede de conceitos e relações que o produtor põe em jogo, sobre
a qual repousam as possibilidades de atribuição de sentido a esse discurso. A atividade do
produtor se orienta pela suposição de que tais conceitos e relações são partilhados pelo
interlocutor e que, assim, as pistas dadas no discurso serão suficientes para o
processamento e a construção de um sentido pelo menos próximo do intencionado, da
parte do interlocutor. A estrutura lógico-semântica construída pelo produtor (e seu fac-
símile ativado pelo interlocutor em função das pistas oferecidas) é que estabelece os nexos
entre os componentes discursivos, possibilitando reconhecê-los como integrantes de um
discurso, de um mesmo discurso, e, assim, atribuir-lhes significação.
Algumas das condições que acredito constituir tendências gerais da coerência dos
discursos seriam a completude (ou inteireza, no sentido de o discurso constituir um todo
significativo que tem começo, meio e fim), a unidade temática, a articulação dos elementos
e a compatibilidade com o mundo de referência.
A essas condições gerais de coerência correspondem marcadores lingüísticos com
os quais se assinala a coesão. Por exemplo, os recursos anafóricos sinalizam retomadas
de elementos que podem indicar a continuidade temática; os articuladores apontam a inter-
relação entre os elementos; a correlação entre os tempos e modos verbais é um dos
indicadores da coerência do regime enunciativo instaurado no discurso, contribuindo para a
tessitura de sua unidade temática e para a articulação de seus elementos.
Em síntese, o discurso está sendo pensado aqui como o elemento físico, material,
da interação lingüística (a “a cadeia de artifícios de expressão”, segundo Eco, 1986:35) que
manifesta uma estruturação lógico-semântica de elementos conceituais (a coerência) e

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
138-
uma estruturação formal de significantes lingüísticos (a coesão) concebidas pelo produtor
em função dos outros integrantes das condições de produção desse discurso (os
conhecimentos e objetivos do produtor; a imagem que ele faz do interlocutor, com seus
conhecimentos, expectativas e disposição de cooperar na interação; a situação imediata de
comunicação; o contexto histórico-cultural em que todo esse quadro se situa). Essa
manifestação material será, para o ouvinte/leitor, um conjunto de indícios das operações
realizadas pelo produtor e funcionará como ponto de partida para as operações que o
interlocutor deverá realizar para construir a coerência e a coesão e, assim, atribuir sentido
ao discurso.
Assim, na oralidade como na escrita, a coerência e a coesão não estão no
discurso; são realidades mentais processadas por produtor e interlocutor em operações das
quais o discurso é resultado (na produção) ou condição (na interpretação).

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
139-
3. DISCURSO ORAL E DISCURSO ESCRITO: ESPECIFICIDADES LINGÜÍSTICAS
Neste item, vou focalizar aspectos do processo de produção discursiva que mais
tipicamente caracterizam a interlocução oral e a interação mediada pela escrita e
distinguem uma da outra.
As crianças entrevistadas, embora não tenham aprendido a ler e a escrever,
tiveram contato sistemático com a escrita durante o ano letivo. Supõe-se que nesse
período, em que formularam suas primeiras concepções a respeito do sistema de
representação gráfica e da configuração macro e microestrutural dos discursos escritos,
suas hipóteses sobre esses novos objetos de conhecimento estejam fortemente vinculadas
aos conhecimentos já desenvolvidos com relação ao modo oral da linguagem. Por isso
interessa incluir no quadro teórico que balizará a análise a compreensão que vem sendo
conquistada pela pesquisa lingüística e Psicolingüística sobre a inter-relação oralidade-
escrita. Nesse sentido, vou resenhar e discutir estudos dedicados especificamente à
questão, entre os quais Chafe (1982 e 1986) e Tannen (1986), levantando pontos que
interessam mais de perto a esta pesquisa.
Para Chafe (1986:106), a compreensão das relações entre língua oral e língua
escrita se torna mais clara a partir da noção de "unidade de idéia". A fala é emitida em
"jatos" que constituem unidades de informação. Assim, a unidade de idéia é a base da
organização do discurso oral e se carateriza, prototipicamente, segundo o autor, por ser
uma unidade sintática com um contorno entonacional nítido. Chafe (1986) entende existir
íntima relação entre o modo de organização da fala e a memória de curto termo,
postulando que uma unidade de idéia contém (e expressa) a quantidade de informação que
é possível reter na atenção (isto é, na memória de curto termo) de cada vez. Como o
conteúdo da memória de curto termo muda a cada dois segundos, é essa a duração média
de uma unidade de idéia. Essa correlação unidade de idéia-memória de curto termo teria,
segundo o autor, implicações decisivas na organização da linguagem falada.
Na fala como no pensamento lingüístico, quer acreditar Chafe (1982 e 1986), o
sujeito se move de idéia em idéia a cada dois segundos. Isso significa que a fala é muito
rápida e explica por que ela se concretiza de maneira "fragmentada": não há tempo para
trabalhar a integração entre as unidades de idéias, que, por isso, são, normalmente, curtas
e independentes, justapostas ou interligadas por alguns poucos conectivos, entre os quais

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
140-
os mais freqüentes são (no português) e, aí, daí, então, mas, porque. Além disso, a
unidade de idéia não se constitui de enunciados complexos, mas de enunciados simples
(um verbo e seus argumentos), ou de um sintagma. A estrutura sintática complexa,
considera o autor, parece não ser unidade do processamento cognitivo e da memória e,
sim, constituir um produto elaborado deliberadamente na escrita.
Na ontogênese como na filogênese, na sociogênese como na psicogênese, a
escrita vem depois da fala e se organiza a partir da organização da fala. A produção da
escrita, manual, mecânica ou eletrônica, está sujeita a restrições motoras que a tornam
muito mais lenta do que a emissão da fala. Esse fato, aliado a outras características das
condições de produção da escrita responderia por sua configuração basicamente diferente
da fala. É que a fala é comunicação face a face, na presença de um ouvinte que tem
objetivos e expectativas e toma atitudes quanto à interlocução. Essa dificuldade inerente às
condições de produção teria como conseqüência, por um lado, o emprego de mecanismos
lingüísticos como bom, olha, agora, deixa eu te falar , usados como comportas com as
quais o falante procuraria regular a corrente da fala, buscando assegurar o sucesso da
interação enquanto ganha tempo para formular seu discurso. E, por outro lado, impingiria
ao discurso oral numerosas rupturas ou "disfluências", manifestas pelos falsos começos, os
"afterthoughts", as repetições, as correções e hesitações21
. Já a escrita, como interação à
distância, liberta o produtor das pressões resultantes da presença do outro e das restrições
impostas pelos limites temporais e informacionais da capacidade da memória de curto
termo, garantindo-lhe a possibilidade de elaborar e integrar lingüisticamente suas idéias.
Daí que, na escrita, aquilo que corresponderia às unidades de idéia da fala são
frases elaboradas, com estruturas sintáticas mais longas, mais complexas e articuladas
entre si, "integradas", na terminologia de Chafe (1982 e 1986). O discurso falado mostra,
nas suas rupturas e nos mecanismos de controle do fluxo de informação, o processo de
produção; o discurso escrito é editável, o autor tem tempo e disponibilidade mental para
retomá-lo e reescrevê-lo, levando ao conhecimento do interlocutor apenas o produto final,
limpo das marcas do processo de criação.
Castilho (1989), já vimos, também leva em conta, na relação oral-escrito, esses
aspectos apontados por Chafe (1982 e 1986) e postula a organização do discurso oral em
"unidades discursivas" (UD), segmentos caracterizados semanticamente por preservar a
coerência temática da unidade maior e configurar-se como arranjo temático de um subtema
(mais ou menos correspondentes à noção de parágrafo do discurso escrito) e formalmente
estruturados em um núcleo e duas margens. O núcleo, entendo eu, seria composto de

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
141-
seqüências do que Chafe (1982 e 1986) considera a estrutura sintática das "unidades de
idéias", e seria responsável pela densidade semântica do discurso e por sua tessitura, em
termos de articulação tema-rema. As margens, segundo Castilho (1989: 254) são
constituídas de material tanto não verbal (gestos, olhar, expressão fisionômica) quanto
verbal (supra-segmentos, e segmentos pertencentes a diferentes classes) e, do ponto de
vista semântico-pragmático, veiculam avaliações do falante sobre as informações do
núcleo. A esquerda se constitui dos elementos a que Chafe (1986) atribui a função de
monitorar o fluxo de informação, os quais, para Castilho (1989:254), se orientam para a
elaboração do assunto e presidem a organização discursivo da UD. Já a margem direita
orienta-se para o interlocutor, constituindo-se de marcadores como "né?", "sabe?", "certo?",
elementos a que Chafe, em 1982, p. 47, atribui a mesma função de controle do fluxo de
informação e, em 1986, p. 117, reinterpreta como índices de envolvimento com o ouvinte.
Castilho (1989:254) localiza ainda na margem direita os 'afterthoughts' - "segmentos
ideados posteriormente à expressão do núcleo" e os antitópicos.
A organização sintático-semântico-pragmática das unidades da fala tem interesse
direto para minha pesquisa. Por exemplo, uma das atividades que formulei na tentativa de
ter acesso ao desenvolvimento da concepção de discurso escrito das crianças, foi gravar,
transcrever e ler para elas discursos que elas tinham produzido oralmente e pedir-lhes que
avaliassem a adequação deles para constarem, escritos, numa coletânea de discursos
produzidos por toda a turma. Um dos critérios que pretendo adotar na análise dos dados é
verificar se a criança percebeu e apontou, ou não, elementos típicos do discurso oral e que
não são usualmente escritos, como os integrantes das margens, as hesitações, os
"afterthoughts" , os antitópicos e alguns tipos de repetição.
Chafe (1986) lembra ainda outra distinção entre oralidade e escrita na escala
temporal, só que não mais em termos de segundos, mas em termos de décadas, séculos,
milênios. É a evanescência da fala frente à permanência da escrita. O discurso oral
desaparece assim que emitido, ao passo que o produto da escrita é um objeto estático e
duradouro. A percepção do sujeito quanto a essas diferenças no suporte e na trajetória
comunicativa (as condições de circulação) dos discursos orais e escritos tem repercussão
sobre os respectivos processos de produção. Por um lado, no léxico e na gramática, a
linguagem falada tende a ser inovadora e instável, propícia a mudanças, enquanto a escrita
tende a ser conservadora e estável. Por outro lado, quem fala tende a ser mais
descontraído, e quem escreve, mais cuidadoso, quanto à configuração do seu discurso.
Essa questão tem a ver com o problema da associação do dialeto de prestígio aos
21 Esses mesmos processos de composição do discurso oral de são interpretados de uma perspectiva não grafocêntrica por
Koch et alii (1990), como se verá adiante.

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
142-
discursos escritos, o que representa uma dificuldade a mais para aprendizes como os
sujeitos da minha pesquisa, em cujo cotidiano predominam as formas orais de interação
verbal, realizadas num dialeto não-padrão.
Outro fator fundamental na distinção fala-escrita considerado por Chafe (1982 e
1986) é a contraposição entre a situação de interação direta do falante com o ouvinte e a
condição de isolamento de quem escreve. Na interação face a face, os interlocutores
partilham, além dos conhecimentos prévios, muitas informações advindas do próprio
ambiente da conversação; o falante vai monitorando o efeito de sua fala na audiência e tem
a necessidade imediata de imprimir vivacidade ao seu discurso para conquistar a adesão
dos ouvintes e mantê-los atentos e interessados. Já o escritor, distante de seu público,
estaria mais comprometido com a logicidade e a consistência de seu discurso, para
imprimir credibilidade a seu trabalho, que permanecerá registrado e disponível à leitura e à
crítica por muito tempo.
O autor identifica três tipos de envolvimento, na produção do discurso oral: a) o
envolvimento do falante consigo mesmo e com seu próprio processo mental, cujas marcas
na fala são o uso da primeira pessoa (pronomes e, no português, flexão verbal) e de verbos
cogitandi (eu acho, eu estou pensando, eu não sei, etc ); b) o envolvimento com o ouvinte,
cujas manifestações são, por exemplo, o uso de vocativos, de pronomes de 2ª pessoa, o
jogo de pergunta e resposta e os elementos chamados fáticos, com os quais o falante
pretende requisitar, verificar e manter a atenção do interlocutor, como né?, tá me
entendendo?, sabe?, certo?, tá? e outros; c) o envolvimento do falante com o assunto,
manifesto através dos exageros, das exclamações, do vocabulário expressivo, de
operadores como realmente, simplesmente, até, só, justo, logo (= 'justamente'), e do
discurso direto na reprodução da fala de terceiros.
O último fator apontado por Chafe (1986:188-121) como distintivo da fala e da
escrita é o que ele chama, em inglês, "evidentiality" ,que tem a ver com a "atitude" do
produtor com relação ao conhecimento veiculado no discurso. As diferenças entre fala e
escrita na expressão da "evidentiality" são atribuídas pelo autor aos aspectos temporais e
interativos que distinguem as duas modalidades. O envolvimento do falante com a
audiência e as circunstâncias imediatas da interação, bem como o pouco tempo de
processamento de que dispõe, pelo fato de ser obrigado a manter o fluxo conversacional
no mesmo ritmo de sua capacidade de atenção e memória de curto termo, além da certeza
da fugacidade de suas palavras, acarretariam a tendência a um certo descompromisso, na
conversação, com a fidedignidade e a precisão dos conhecimentos veiculados e com a
coerência e a acuidade do raciocínio. As marcas dessa tendência, no discurso oral, seriam:

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
143-
a) operadores que indicam o contentar-se com a aparência, a similitude e a probabilidade,
como, por exemplo, pode ser, talvez, com certeza (= 'talvez'), ao invés dos modalizadores
mais típicos da escrita, que assinalariam a exatidão ou apontariam a consciência do
produtor quanto à imprecisão ou a relatividade dos conhecimentos que veicula; b) verbos
modais e expressões que denotariam a predominância, na fala, das declarações fundadas
na experiência, na evidência ou aparência, e do raciocínio dedutivo, como deve, parece, é
claro, tá na cara; c) verbos relativos à evidência sensorial, como ver, ouvir, sentir e
expressões que designam apropriação da experiência alheia, como ouvi dizer, me
contaram, estão dizendo; d) modalizadores que indicam imprecisão na categorização ou na
escolha lexical, como uma espécie de, tipo.
Resumindo, o autor contrapõe características dos processos de produção da fala e
da escrita que seriam responsáveis por diferenças formais e semânticas na configuração
das duas modalidades. São três diferenças básicas entre os modos de produção da
oralidade e da escrita, que determinariam as especificidades sintático-semânticas do
discurso falado por oposição ao discurso escrito.
Primeiro, a rapidez no processamento da fala em contraposição à lentidão da
produção da escrita. Essa questão fisiológica faz com que as unidades de idéia, na fala,
sejam curtas, simples e independentes (para Chafe, é a característica da fragmentação),
ao passo que na escrita as unidades de idéias tendam a ser longas, complexas e
articuladas em frases bem elaboradas (a característica da integração, para Chafe).
A segunda diferença básica é de ordem interativa e tem a ver com o fato de o
falante ter diante de si o interlocutor e precisar mantê-lo atento e interessado, enquanto o
escritor, ao contrário, trabalha solitário e longe dessa pressão. Daí, o discurso escrito é
editável, e o oral, não. Em função da premência da situação, o discurso oral é marcado
pelas "disfluências" (falsos começos, hesitações, pausas, repetições, "afterthoughts" ) e por
expressões que funcionam como comportas no controle do fluxo de informação (bem, olha,
agora). Já o discurso escrito é entregue ao leitor limpo e acabado, editado.
O terceiro aspecto que contrapõe a modalidade oral à escrita diz respeito à
natureza do suporte: a cadeia sonora e evanescente da fala e o registro físico permanente
da escrita, que transforma o discurso, produto desse processo, num objeto estático e
estável. A isso corresponde, em primeiro lugar, a mutabilidade e a instabilidade da
linguagem falada, por oposição ao conservantismo e à estabilidade da linguagem escrita,
em termos de gramática e vocabulário. Mas corresponde também, em associação às
diferenças interativas do processo de produção das duas modalidades, a um certo
descompromisso do falante com relação à elaboração lingüística, à fidedignidade e

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
144-
precisão dos conhecimentos veiculados, à acuidade e coerência do raciocínio. Além disso,
o falante, envolvido com a situação, desejoso de assegurar a atenção do ouvinte, prende-
se à vivência pessoal e à experiência sensorial e marca seu discurso pela pessoalidade e
por recursos sintático-semânticos com quais tenta envolver, impressionar e agradar a
audiência, lidando mais com a indução, ao passo que o escritor, distanciado temporal e
espacialmente do leitor, pode dedicar-se mais à elaboração discursiva, preocupando-se
com o grau de veracidade dos conhecimentos expostos e com a consistência, a logicidade
e a pertinência de seu raciocínio, preferencialmente dedutivo.
Chafe (1982 e 1986) tem o cuidado de ressalvar o caráter provisório de seu estudo
e de limitar a pertinência de suas comparações a dois estilos antagônicos - a conversação
descontraída e a prosa expositiva acadêmica. Para o autor, esses seriam os dois extremos
de um continuum, entre os quais se situariam tanto falas mais formais quanto escritas mais
informais. Entendo que cabem, ainda, três outras ressalvas.
A primeira é que as características lingüísticas dos discursos, orais e escritos,
variam também em função da “esfera social” em que circulam, do tipo de suporte e das
funções que pretendem cumprir, que vão redundar, afinal, no que Bakhtin chama de
gênero. Mesmo sendo ambos escritos, um romance e um editorial, por exemplo, são usos
diferentes da linguagem, e se distinguem na função e na forma.
A segunda ressalva diz respeito aos sujeitos da pesquisa de Chafe (1982 e1986),
todos eles adultos e letrados, estudantes universitários, capazes de produzir os dois tipos
de discurso examinados (a conversa informal e a prosa acadêmica). Se acreditamos que os
conhecimentos lingüísticos e de mundo dos interlocutores, função de sua inserção sócio-
cultural, são fatores decisivos na configuração discursiva, temos que considerar a
possibilidade de encontrar discursos orais e escritos com características sintático-
semânticas diferentes das apontadas pelo autor. A Psicolingüística, a Psicologia e a
Sociolingüística levam a acreditar que a expressão desses traços, os recursos lingüísticos
que os exprimem, tendem a variar conforme a faixa etária, correlacionada ao processo de
desenvolvimento lingüístico e cognitivo dos sujeitos, e conforme sua origem e situação
geográfica, sócio-histórica e cultural, fatores que são levados em conta nesta pesquisa.
Antes de desenvolver a terceira ressalva, devo comentar minha apropriação dos
artigos de Chafe. Meu interesse é obter instrumentos para a análise de discursos
produzidos oralmente (ainda que para serem transcritos para o código escrito pela
pesquisadora e poderem ser lidos por outrem). Por isso minha leitura de Chafe (1982 e
1986) focalizou as características da oralidade, quando, nos dois artigos, o foco está
centrado na descrição da modalidade escrita, cujas marcas são mais detalhadamente

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
145-
estudadas. A terceira ressalva, então, diz respeito à perspectiva grafocêntrica não
assumida mas implícita nos dois trabalhos, onde se pode identificar uma avaliação positiva
da linguagem escrita e negativa da linguagem falada, na medida em que o discurso oral é
caracterizado pela ausência de recursos presentes na escrita.
É diferente a posição de Koch et alii (1990:148-152), que reconhecendo no
discurso oral características apontadas por Chafe (1986), como a fragmentariedade e o
recurso a mecanismos que manifestam ou promovem o envolvimento interacional,
postulam que
os procedimentos da aparente desestruturação do discurso oral são passíveis de
receberem uma interpretação positiva que os associa à estratégia facilitadora da
compreensão movida pelo falante;
esses mesmos procedimentos, compreendidos no nível sintático como
perturbações, assumem, no nível pragmático, funções discursivas garantidoras
da interação comunicativa.
A perspectiva assumida neste trabalho coincide com a de Koch et alii (1990:151),
para quem “a língua oral, na sua modalidade tipicamente ou razoavelmente espontânea”
é relativamente não-planejável de antemão, em virtude das próprias condições
situacionais em que é produzida;
apresenta forte tendência para explicitar um processo contínuo de monitoração,
deixando à vista, em cada passo, os procedimentos envolvidos em sua
formulação;
manifesta descontinuidades no controle do fluxo de informação, que refletem o
grau reduzido de planejamento do discurso e o envolvimento interacional dos
interlocutores;
mobiliza, com maior ou menor intensidade, a capacidade ativa do locutor,
enquanto estrategista da comunicação.
Percebendo o discurso oral dialogado como um “processo de gerenciamento
verbal em curso”, mais do que como propriamente o resultado de um trabalho de
formulação (p. 180), os autores estudam a descontinuidade na progressão temática,
apontando procedimentos de inserção (elementos parentéticos e seqüências laterais) e de
reconstrução (repetições, reparos, paráfrases e afterthoughts) no interior da unidade

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
146-
discursiva, ressaltando sempre suas funções comunicativas e interacionais. Do mesmo
mirante teórico, Hilgert (1993) interpreta a repetição, a correção e a paráfrase como
atividades de formulação discursiva. Essas atividades se destinam a resolver problemas
que surgem no complexo processo de produção do discurso e são sinalizados por
alongamentos vocálicos e outros marcadores de hesitação, com os quais o falante
preenche lacunas e evita o risco de perder o turno.
A macroestrutura semântica do discurso oral dialogado é também abordada a
partir dessa perspectiva por Jubran, Urbano et alii (1992), que, estudando sua “organização
tópica”, concluem que “uma conversação é um fenômeno mais estruturado, coeso e
coerente do que tradicionalmente se admite” (p.366) e, “embora desenvolva uma
enormidade de pequenos assuntos aparentemente sem concatenação, é ordenada
cognitivamente, mesmo sem planejamento prévio” (p.395). Tomando como categoria de
análise o tópico discursivo, definido pelas propriedades de centração (concernência,
relevância e pontualização) e organicidade (hierárquica ou vertical e seqüencial ou linear),
os autores analisam como processos constitutivos da organização desse tipo de discurso
não só os procedimentos que promovem sua continuidade, como a mudança de tópico
quando se esgota o tema em foco, mas também aqueles que caracterizam a
descontinuidade. Entre esses, as digressões, baseadas no enunciado ou na interação, e a
alternância de tópicos. É a percepção da organicidade vertical que permite ver de outro
ângulo as perturbações da seqüencialidade linear e reconhecer a organização do discurso
oral:
A detecção dos dois planos de organização tópica - o seqüencial e o hierárquico -
permitiu verificar que a fragmentariedade, a descontinuidade que tem sido atribuída
ao texto oral ocorre, basicamente, no plano linear. No plano vertical, a aparente
incoerência se desfaz na medida em que, nele, muito do que se interpreta como
descontínuo no plano seqüencial não vai merecer tal interpretação: a seqüência
tópica, no plano vertical, evolui de maneira contínua, perdendo, destarte, o caráter
digressivo.
Portanto, torna-se possível afirmar - ao contrário do que comumente se pensa - que
o texto oral é altamente coerente, embora sua coerência se manifeste de modo
diferente daquela do texto escrito.
(Jubran, Urbano et alii, 1992:396)
Os autores levantam as marcas lingüístico-discursivas da delimitação tópica,
classificando-as segundo sua natureza prosódica (entonação), morfossintática

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
147-
(topicalização e deslocamento à esquerda), léxico-semântica (recursos que marcam a parte
final do tópico, como mecanismos de recorrência semântica - paráfrases e repetições -,
além de frases feitas e enunciados conclusivos introduzidos por então, pois é, etc.) ou de
outro tipo (marcadores conversacionais, perguntas, silêncio e pausas, hesitações).
Pertinentemente, ressalvam, no entanto, que essas marcas são facultativas, multifuncionais
(podem ocorrer com outras funções), co-ocorrentes, além de acumularem valores
sintáticos, semânticos e pragmáticos (como já apontava Castilho, 1989:265).
Ainda que tomando como objeto discursos orais dialogados desenvolvidos entre
adultos letrados, os estudos resenhados, do grupo dedicado à “organização textual-
interativa” do projeto Gramática do Português Falado, tratam de questões que interessam
de perto ao meu trabalho. Assim, quando necessário e pertinente, as categorias levantadas
nesses artigos serão aplicadas à análise dos dados desta pesquisa, ocasião em que se
cuidará da explicitação dos conceitos utilizados.
As diferenças entre o discurso oral e o escrito são estudadas também por Tannen
(1986), em artigo publicado na mesma coletânea que o de Chafe (1986), porém numa outra
perspectiva.
A autora, embora reconheça que há alguma coisa de típico da oralidade na
conversa coloquial e algo de típico da escrita na prosa expositiva acadêmica, afirma que
esses dois gêneros tipificam, mas não caracterizam exaustivamente os discursos oral e
escrito, que exibem, ambos, uma combinação de traços tradicionalmente atribuídos a
apenas uma das duas modalidades. Ela pretende demonstrar que a questão não se resolve
na oposição oral-escrito per se, mas na postura assumida pelo falante no evento interativo,
de maior ou menor focalização no envolvimento interpessoal ou na informação veiculada,
entendendo que a adoção de estratégias discursivas mais voltadas para um ou outro
objetivo, na oralidade ou na escrita, é que define as especificidades de cada discurso.
Assim, para ela, tanto há discurso oral basicamente focalizado na informação quanto
discurso escrito voltado para o envolvimento. Por outro lado, postula a autora, há sempre
um certo grau de focalização do envolvimento na base do sucesso na produção e na
compreensão de discursos orais como de escritos.
Tannen (1986:127-132) examina dois traços que têm sido tomados como
distintivos dos discursos oral e escrito, discutindo sua capacidade descritiva e
interpretando-os na perspectiva da focalização relativa no envolvimento. O primeiro é a
contextualização, que tem sido apontada como característica do discurso oral, por oposição
à descontextualização da escrita. O segundo é a diferença entre os recursos promotores da
coesão nos discursos orais e escritos.

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
148-
A autora contesta, com razão, a radicalização ou simplificação do contraponto
contextualização do discurso oral/descontextualização do discurso escrito, posto que, na
verdade, nenhum discurso, oral ou escrito, é descontextualizado, nenhum discurso pode
ser entendido sem o conhecimento de determinados fatores que circunstanciam sua
produção. O grau de dependência do contexto, afirma, é antes uma questão relacionada ao
gênero e às circunstâncias específicas de cada discurso do que uma característica definida
pela modalidade lingüística em si mesma. Esse argumento poderia ter sido ilustrado pela
menção à existência tanto de discursos escritos altamente dependentes das condições de
sua enunciação e, por isso, marcados também pela dêixis, pela implicitação e pela
incompletude sintático-semântica, como as cartas pessoais, as legendas de fotografia, os
rótulos e embalagens de produtos comerciais, quanto a de discursos orais produzidos em
situação formal e/ou de alto grau de descontextualização, de que podem ser exemplo
palestras, sermões, discursos públicos, conversas telefônicas ou programas de rádio, nos
quais o índice de exóforas e de informações implícitas deve ser baixo.
Tannen (1986:127-130) relativiza mas não descarta a hipótese da
contextualização, admitindo que a conversação face a face, em função da alta taxa de
conhecimentos partilhados pelo interlocutores, se marca pelos dêiticos ou exóforas e pela
pouca explicitação, ao contrário da prosa expositiva, em que a perda do contexto imediato
e redução da taxa de conhecimentos partilhados acarretam a necessidade de antecipar
dúvidas e questões do leitor e, daí, fornecer-lhe informações mais completas e explícitas.
Entretanto, para a autora, o fator chave na distinção dos discursos não é a oposição oral-
escrito, mas sim a focalização na relação interativa ou na mensagem. Os chamados
discursos "de mão dupla", centrados no envolvimento interpessoal, são plenos de
"metamensagens" - mensagens sem significado que servem para estabelecer e definir a
relação entre os interlocutores, posto que a importância do relacionamento é básica e
aguda demais para ser ignorada. Já os chamados discursos "de mão única" são centrados
na informação. Acontece que a conversa descontraída, face a face, constitui a fala mais
típica e, focalizando o envolvimento, se marca pelas metamensagens; enquanto que a
escrita, pela própria lentidão do ato de escrever, faz-se um meio impróprio para a
veiculação de mensagens não significativas e tende, tipicamente, a focalizar a informação.
Luria (1986), como se viu no capítulo 1, aponta particularidades similares às
levantadas por Tannen (1986) na caracterização dos discursos orais e escritos, chamando
os primeiros de “dramáticos”, em função de sua tendência ao “envolvimento”, e os
segundos, de “épicos”, em razão de sua tendência ao auto-centramento.

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
149-
Tannen (1986), no entanto, busca provar que a focalização no envolvimento ou na
informação não está associada exclusivamente à fala ou à escrita e aponta discursos orais
centrados na mensagem, como conferências e alguns programas de rádio e televisão, bem
como discursos escritos centrados no envolvimento, como cartas pessoais e bilhetinhos
entre colegas durante aulas e conferências.
Discutindo o segundo ponto - a hipótese da coesão -, Tannen (1986:130-132)
avalia como pertinente a postulação de estudiosos como Cook-Gumperz & Gumperz
(1981), Chafe (1982) e Gumperz, Kaltman & O'Connor (1984) no sentido de que no
discurso oral a coesão é obtida através de chaves paralingüísticas e prosódicas, enquanto
que no escrito ela precisa ser lexicalizada. A autora chama a atenção para a diferença
entre os meios que o produtor tem de mostrar sua atitude ou avaliação com relação ao que
diz. No discurso falado, através de recursos paralingüísticos, como os gestos e a expressão
facial, e prosódicos, como a entonação, o acento, o ritmo, a duração, se constróem as
interligações entre as idéias, mas também se indica sua relativa importância (e seu valor
ilocutório, eu acrescentaria). Na fala, dificilmente se consegue deixar de revelar a própria
disposição quanto àquilo que se diz. Ao contrário, na escrita, se o produtor franze a testa
ou faz cara feia enquanto escreve, esses traços não ficarão registrados no papel nem
serão conhecidos pelo leitor, o que torna necessário buscar outros mecanismos para
sinalizar as relações entre as idéias e as relações entre o autor e as idéias, papel que a
pontuação, a explicitação e a escolha lexical cuidadosa deverão cumprir.
Assim, Tannen (1986:131-132) considera como tipicamente oral o discurso em que
o significado e a avaliação do autor são expressos de forma indireta ou não verbal,
estratégias básicas (e só possíveis) na conversação face a face, através das quais se
busca o envolvimento interpessoal na medida em que se requisita o empenho do ouvinte
em deduzir informações e relações relevantes para o sentido do discurso a partir da
qualidade da voz e dos elementos paralingüísticos. Já o discurso que se assenta na
lexicalização de relações e valores ilocutórios conta menos com a participação do
interlocutor, recorre menos a conhecimentos culturalmente partilhados, vale dizer, utiliza
estratégias típicas de discursos escritos e é centrado na mensagem.
Acredito que essa linha de raciocínio poderia se estender à discussão anterior,
sobre a hipótese da contextualização, pois, nos discursos orais ou escritos "de mão dupla",
privilegiar a relação e buscar o envolvimento também tem a ver com levar em conta o
interlocutor, empenhá-lo no trabalho de produção de sentido, confiar na sua capacidade de
pressuposição e inferência, esperar sua cumplicidade, o que pode levar ao emprego de
recursos considerados marcas de contextualização, como a implicitação e a dêixis. Isso

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
150-
explicaria a presença desses traços na conversação e em discursos orais e escritos em
que são altas a confiança no parceiro e a disposição de envolvê-lo. Aliás, Tannen
(1986:132) apresenta um argumento interessante: falar redundantemente, verbalizando
informações presentes no contexto pode ofender o ouvinte e suscitar reações do tipo "eu
tenho olhos, eu estou vendo".
Estabelecida a distinção entre discursos centrados no envolvimento e discursos
centrados na mensagem, a autora relata uma pesquisa que teve como corpus 2:30 h de
gravação de conversa espontânea de seis amigos, professores universitários, em situação
de convivência informal (bate-papo na mesa de jantar). A partir da análise de dois traços -
(i) a tendência a usar a sobreposição (fala simultânea à do interlocutor) e a atitude com
relação a ouvintes que a adotam; (ii) o tipo de configuração temática do discurso -, Tannen
(1986:132-137) identifica, na conversação coloquial, um estilo de alto envolvimento, que
focaliza a relação interpessoal e a dinâmica da interação, e um outro estilo, de baixo
envolvimento, centrado nas informações e na mensagem.
Os falantes cujo estilo é de alto envolvimento sacrificam a clareza do
encadeamento das informações em favor da demonstração de engajamento na
conversação. Fazem e aceitam "sobreposições cooperativas", isto é, falas simultâneas que
não significam interrupção nem assalto ao turno, mas encorajamento e demonstração de
interesse, manifestos pela apresentação de perguntas e comentários e pela
complementação das frases do outro. Além disso, sua conversa é plena de narrações
relativas a experiências pessoais cujo núcleo freqüentemente não são eventos e sim os
sentimentos e impressões do narrador com respeito a eles. A coesão do discurso é obtida
menos por asserções sobre os eventos e mais pela dramatização, através do exagero nos
traços paralingüísticos e prosódicos, com mudanças expressivas no ritmo da fala e na
altura e tom da voz.
Aqueles cujo estilo é de baixo envolvimento usam e têm expectativa de que sejam
usadas na conversação estratégias normalmente associadas à escrita, que focalizam a
informação e a estruturação da mensagem, através da explicitação dos pontos importantes,
da definição clara de qual é o núcleo do discurso, da prevalência dos eventos e argumentos
sobre as impressões ou sentimentos do falante.
A autora observa, com pertinência, que estudos como Cook-Gumperz & Gumperz
(1981) e Collins & Michaels (1984) encontraram também entre crianças no início da
alfabetização dois estilos predominantes de construção de discursos narrativos, sendo que
ao chamado de baixo envolvimento corresponde o de alunos brancos com sucesso na
escola e ao chamado de alto envolvimento corresponde o de crianças negras que

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
151-
apresentaram dificuldades no processo de “aquisição” da escrita. A lingüista negra Geneva
Smitherman, citada por Michaels (1991:121), faz uma observação que explica a
impaciência de alguns dos sujeitos de Tannen (1986) com o estilo de seus interlocutores,
voltado para o envolvimento, bem como a impertinência das intervenções das professoras
brancas no discurso de alunos negros (conforme relatado por Michaels, 1991 e por Collins
& Michaels, 1991, que serão resenhados a seguir):
Falantes negros da língua inglesa transformarão suas observações gerais e abstratas
sobre a vida em uma narrativa concreta (...). Essas sinuosidades para longe da
"idéia" levam o ouvinte a jornadas episódicas e rotas retóricas (...). Embora
altamente louvado pelos negros, este estilo lingüístico narrativo é exasperante para
os brancos, que desejam que você seja direto e vá rapidamente ao assunto.
Tannen (1986) interpreta a tendência a privilegiar o envolvimento como um uso
lingüístico próprio da cultura oriental (por oposição à ocidental), citando como exemplo
árabes, japoneses e gregos, e de determinados grupos étnicos, entre os quais os negros e
os judeus, cuja cultura abriga uma tradição oral desenvolvida e ainda viva. Essa postura
isenta o estilo voltado para a inter-relação da pecha de errado ou inferior, na medida em
que analisa suas características formais do ponto de vista funcional e pragmático. A autora,
buscando entender o funcionamento da linguagem na perspectiva interacionista, postula
que a escrita e a leitura bem sucedidas não desprezam a dimensão interlocutiva, de troca
interpessoal, nem se centram exclusivamente no discurso e na informação. Mesmo o autor
de um discurso acadêmico ou científico precisa supor um leitor hipotético e dirigir-se a ele,
atentando para suas expectativas, o que significa, nesse caso, esforçar-se por construir
uma composição lógica, explícita, direta, objetiva. Em vista disso, Tannen (1986) assume
posição similar à dos pesquisadores citados (Cook-Gumperz, Gumperz, Collins, Michaels),
afirmando que o estilo do discurso oral da criança tem conseqüência no seu processo de
aquisição da escrita e que, desse modo, aquelas cuja fala é muito marcada pelo recurso
predominante à expressão paralingüística e à prosódia, que substituem parte do trabalho
de lexicalização, têm maior dificuldade para se assenhorar dos recursos sintáticos e
semânticos necessários na escrita.
O estudo de Tannen (1986) propõe uma interpretação da problemática oralidade-
escrita e formula categorias de análise que eu entendo compatíveis com o
encaminhamento dado a esta pesquisa. Minha convivência de um ano com as nove
crianças integrantes do grupo inicial da investigação me leva a considerar seu estilo de fala
como do tipo "voltado para o envolvimento", onde a gesticulação, a expressão facial e a

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
152-
entonação "dramática" têm função importante. Algumas das situações que eu previ para as
entrevistas destinaram-se a verificar em que medida as próprias crianças eram capazes de
perceber esses traços de sua enunciação oral e avaliar a adequação da permanência deles
num discurso produzido oralmente mas para ser registrado por escrito pela entrevistadora.
Por outro lado, em atividades de produção oral coletiva, de que participaram todos os
alunos da turma, às vezes me vi sem saber que atitude tomar diante do empenho deles em
se integrar na interlocução e, sobretudo, diante de seu estilo de entusiastas "cooperative
overlappers", como classifica Tannen (1986:126 e 133).
A oposição fragmentação-integração apontada por Chafe (1982 e 1986) entre as
unidades de idéia no discurso oral e no escrito é estudada também por Collins & Michaels
(1991) e por Michaels (1991), numa abordagem macroestrutural, em termos de "coesão
temática" e "seleção de tópico e organização da estrutura do discurso", respectivamente.
Collins & Michaels (1991) tomam como pressuposto que as diferenças lingüísticas
entre oralidade e escrita não se explicam exclusivamente pela modalidade de linguagem e
que só podem ser compreendidas se considerado o nível discursivo, porque as “tarefas” e
os eventos comunicativos nos quais se engajam falantes e escritores têm mais implicações
sobre a configuração do discurso do que a mudança de suporte. Para eles, as diferenças
não são absolutas e contam decisivamente, além desses, outros fatores pragmáticos e
culturais como os conhecimentos partilhados entre os interlocutores, sejam conhecimentos
de mundo ou lingüísticos (inclusive quanto a padrões prosódicos indicadores de inter-
relações semânticas e de valores ilocutórios), e as expectativas e atitudes quanto à
capacidade de inferência do ouvinte ou leitor.
Os autores afirmam que, na produção de discursos orais ou escritos, um problema
comum é como fazer o discurso coerente para o interlocutor, como sinalizar os vínculos de
conexão entre as partes do discurso, a função ou valor de cada uma e a perspectiva da
qual as informações estão sendo colocadas. Empenhados em estudar essa questão,
adotam o conceito de "coesão temática", que diz respeito aos recursos lingüísticos
utilizados para realizar tais sinalizações e tomam como objeto de investigação os
indicadores da "coesão temática" em narrativas22
orais de crianças brancas de classe
média e negras de classe baixa da 1ª série e em narrativas orais e escritas de crianças
brancas classe média e negras classe baixa da 4ª série. Seu interesse recai
particularmente na análise dos modos de combinação da prosódia (tom, volume de voz,
22 As narrativas são relatos verbais de um filme mudo sobre um homem que apanha peras, tem as frutas roubadas, sem que
ele veja, por um garoto de bicicleta e acaba julgando culpados outros meninos que passam por perto. Essa mesma tarefa
foi proposta por outros pesquisadores do mesmo grupo a vários outros informantes e a análise dos experimentos resultou
numa coletânea de artigos conhecida como The Pear Stories.

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
153-
duração e ritmo) com formas sintáticas e lexicais, que eles acreditam serem específicos de
grupos étnicos e sociais.
O estudo constata diferenças no estilo e nas estratégias de narrativa entre os dois
grupos raciais. Dentre as crianças da 1ª série, as brancas, em seus discursos orais,
empregaram, para sinalizar o tópico e as relações de co-referência, quando apresentavam
e reintroduziam personagens na narrativa, recursos que os autores classificam como
"sintaxe nominal complexa" - complementos nominais, orações relativas e complementos
encaixados -, ao passo que as crianças negras, apesar de usarem alguns dos mesmos
recursos, empregaram mais complementos verbais, tenderam mais ao uso de estruturas
apositivas quando apresentavam um personagem e recorreram preferencialmente a
indicadores prosódicos para sinalizar a reintrodução do personagem central da história. A
oposição entre os recursos usados preferencialmente por um e outro grupo vai, afinal,
corresponder a mecanismos apontados por Chafe (1982 e 1986) como responsáveis pela
integração e a fragmentação. Por exemplo, os complementos nominais contribuem para a
integração, porque expandem um argumento verbal sem ultrapassar os limites de uma
"unidade de idéia", ao passo que a informação trazida pelos complementos verbais com
freqüência acarretam a abertura de outra "unidade de idéias". Compare-se: "o homem
colhendo pêras viu um menino numa bicicleta" e "o homem estava colhendo pêras e veio
um menino de bicicleta e o homem viu".
Os discursos orais da 4ª série foram comparados com os escritos (sobre o mesmo
tema), com vistas à análise das possiblidades de transferências de mecanismos do
discurso oral para o escrito. Os alunos brancos tenderam a usar, em seus discursos orais,
indicadores prosódicos, lexicais e gramaticais (estruturas sintáticas variadas, "sintaxe
nominal complexa", vínculos anafóricos e marcadores temporais) superpostos, e, na versão
escrita, empregaram mecanismos lexicais e sintáticos similares e ainda recorreram ao jogo
entre oração principal e orações subordinadas, à paragrafação e à pontuação para indicar
continuidade e progressão temática, manutenção e mudança de perspectiva,
compensando, assim, a ausência das marcas prosódicas. Já os alunos negros, em suas
narrativas orais, tenderam a apoiar-se mais nos indicadores prosódicos para sinalizar a
hierarquização de informações e as mudanças de perspectiva e, como essas marcas não
têm correspondente na escrita, acabaram construindo discursos que tendiam à
ambigüidade, pois não souberam, em geral, compensar a perda dos recursos prosódicos
com sinalizadores gramaticais e gráficos. Estudando a relação prosódia-sintaxe, os autores
interpretam que o padrão prosódico das crianças brancas não se perde inteiramente na
transição para a escrita, na medida em que coincide com a segmentação em orações e,
sendo recobráveis pelo leitor (imerso numa cultura grafocêntrica em que a escrita está

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
154-
associada ao dialeto dos brancos, tomado como padrão, eu acrescentaria...), contribui para
a legibilidade do discurso. Por outro lado, entendem que o padrão prosódico dos alunos
negros comporta um "deslocamento de acento" que "contrasta com o padrão regular de
ênfase sobre o final da oração ao longo de toda a narrativa das crianças brancas" (p. 256),
o que acarreta dificuldade para as crianças negras em segmentar seus discursos em
unidades sentenciais.
A conclusão dos autores aponta exatamente para as dificuldades adicionais a
serem enfrentadas pelas crianças não falantes do dialeto padrão, inclusive quanto ao
padrão prosódico, na transição da fala para a escrita e no domínio da linguagem escrita
formal. Os problemas se agravam, segundo eles, porque o fato de as crianças usarem um
estilo de discurso oral que não corresponde ao modelo e às expectativas dos professores
acarreta ainda perda de qualidade e quantidade na interação professor-aluno durante as
próprias atividades de sala de aula que deveriam proporcionar práticas visando à aquisição
e ao domínio das estratégias do discurso escrito padrão (p. 258).
Os sujeitos de minha pesquisa são duas crianças, uma branca e outra negra,
pertencentes a setores especialmente desprivilegiados das camadas populares e não
falantes do dialeto padrão. A representação de discurso escrito que foram formando
durante seu primeiro ano escolar certamente é tributária dos padrões de estruturação
sintática e prosódica de discursos orais, padrões dos quais são usuárias e com os quais
estão familiarizadas. Uma estratégia adotada na segunda e na terceira entrevista - pedir
aos sujeitos que ouvissem a leitura da história que eles tinham me ditado, para avaliar sua
adequação - me possibilitou a verificação de aspectos levantados pelo estudo de Collins &
Michaels (1991), e também os de Chafe (1986), Tannen (1986) e Michaels (1991). Algumas
passagens em que os sujeitos, na primeira versão, utilizaram marcas exclusivamente
prosódicas para sinalizar, por exemplo, a troca de turno entre os personagens da história,
foram reformuladas, na segunda versão, pelo recurso à lexicalização e à sintaticização.
Michaels (1991) estuda narrativas orais apresentadas por alunos da 1ª série na
"hora da rodinha", comparando os recursos de estruturação discursiva utilizados por
crianças brancas e negras, a repercussão que eles têm na qualidade da relação interativa
estabelecida entre professora e criança e as implicações de tudo isso no aprendizado da
criança. A autora se apóia em estudos anteriores (Finnegan, 1981; Hymes, 1982;
MacCledon, 1977) que postulam que as narrativas orais tradicionais se constróem sobre
fórmulas semânticas, sintáticas e métricas e que dependem de recursos paralingüísticos,
tais como o acento, a entonação e o tom, para a transmissão de informações essenciais (p.
113). Esses elementos são básicos para a estruturação dos relatos das crianças negras,

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
155-
caracterizados pela "associação de tópicos" - uma série de segmentos ou episódios
implicitamente ligados, cuja conexão e valor ilocutório são estabelecidos por indicadores
prosódicos e paralingüísticos, sem o concurso de mecanismos lexicalizados de coesão (p.
122-130).
Na "hora da rodinha" as crianças deviam contar para a professora e os colegas
alguma coisa importante ou interessante acontecida, obedecendo a normas
preestabelecidas como levantar a mão e aguardar a própria vez de falar; colocar-se na
posição central, ao lado da professora, durante a fala; aceitar a "regência" da professora
sobre sua fala (comentários, orientação, avaliação, cessão e tomada da palavra); fazer
comentários curtos e relevantes à fala do colega, sem sair do próprio lugar. Nessas
circunstâncias, o estilo narrativo das crianças brancas tendia à composição de um discurso
compactamente organizado, centrado num único tópico ou numa série de tópicos
relacionados, cujo desenvolvimento temático encaminhava para uma resolução e era
sustentado por recursos de coesão lexicalizados e pela ordenação linear dos eventos.
Esse estilo, que se aproxima da prosa escrita, correspondia à concepção de
discurso que a professora tinha subjacente e, portanto, se adequava a suas expectativas.
Assim, ela entrava em sintonia com os autores, apresentando intervenções pertinentes na
hora certa. Já com as crianças negras, cujos padrões de entonação e de estruturação
discursiva ela desconhecia, sua interação era desastrosa. Incapaz de perceber conexões e
avaliações implícitas ou indicadas por marcadores prosódicos e não lexicais, ela
interrompia, fazia críticas, desconcertava e cassava a palavra dos alunos negros antes que
eles pudessem atingir o ponto alto de sua fala. A autora enfatiza a dimensão interativa da
linguagem, afirmando que o discurso de uma criança não pode ser analisado isoladamente,
mas tem que ser visto no quadro da interlocução, posto que o outro (no caso, o professor)
tem papel crucial na estruturação desse discurso (p. 120).
A conclusão de Michaels (1991) se assemelha à de Collins & Michaels (1991).
Para a autora, "não é a utilização de estratégias de associação de tópicos em si, ou o
basear-se preferentemente em indicadores prosódicos e nos itens lexicais, que faz com
que essas crianças tenham dificuldades em adquirir estratégias discursivas do tipo 'prosa'
(...), mas, pelo contrário, sua utilização de um estilo discursivo diferente do estilo e
expectativas do professor diminui a qualidade da interação em atividades fundamentais de
sala de aula que poderiam, de outra forma, proporcionar a estas crianças a prática
necessária para desenvolverem um estilo discursivo mais amplo e semelhante à prosa" (p.
135).

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
156-
Além dos aspectos estritamente lingüísticos, como a questão da organização do
discurso em tópicos, o artigo de Michaels (1991) ressalta outra dimensão para a qual estive
atenta na formulação das entrevistas e na interpretação dos dados: a estruturação
dialógica do discurso. Nos casos em que as crianças responderam como eu esperava às
situações de interlocução que eu previ, assim como naqueles em que elas não
corresponderam às minhas expectativas, minha atuação no "evento comunicativo" foi
analisada como um dos fatores determinantes do desempenho delas nas entrevistas.
Em suas grandes linhas, os trabalhos aqui resenhados apontam para a mesma
direção. Todos eles admitem que os discursos orais e os discursos escritos têm
características lingüísticas distintas (basicamente, aquelas levantadas por Chafe, 1986),
atribuíveis às especificidades de suas condições de produção mais típicas e do modo de
processamento que elas determinam. Entretanto, advertem que os traços lingüísticos
identificados devem ser pensados em termos de características que tendem a prevalecer
num ou noutro pólo do continuum composto pela diversidade de configurações possíveis
para a interação verbal e que essas características vão se manifestar mais ou menos
intensamente, se relativizar, se mesclar, em função de variáveis que têm a ver com o
ambiente sócio-histórico-cultural em que se inserem os sujeitos interlocutores e seus
discursos e com as circunstâncias imediatas específicas do processo de produção.
Na análise dos discursos produzidos nas entrevistas, focalizei as características
lingüísticas, macro e microestruturais, que me permitiram levantar hipóteses sobre a
representação de discurso escrito que os sujeitos foram desenvolvendo durante o ano
letivo, mas estive atenta às injunções interacionais que condicionaram a produção desses
discursos.

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS E PSICOLINGÜÍSTICOS
-
157-
4. ENFIM
Encerrando esse capítulo, quero mais uma vez explicitar a significação que atribuo
à longa trajetória percorrida. A necessidade de situar no horizonte teórico os instrumentos
de análise mais específicos, que me possibilitariam um olhar mais acurado sobre os dados,
me levou a caminhar de um quadro geral de discussão de uma concepção de linguagem
até as particularidades da caraterização lingüística das duas modalidades discursivas entre
as quais transitam os dados sobre os quais vou me deter. Com essa perspectiva é que
considerei possível e necessário reunir, na mesma tessitura teórica, autores aparentemente
incompatíveis como Ducrot e Chafe, por exemplo. O construto, no entanto, me parece, ao
final, coerente e adequado aos meus propósitos.

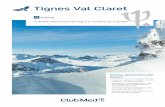
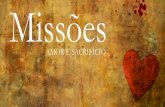


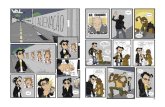






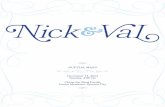

![Val gui_[1]](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/55c20e72bb61ebed7d8b4588/val-gui1.jpg)