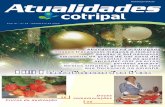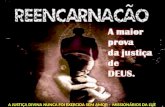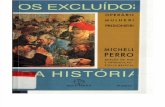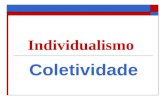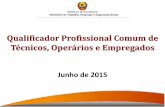de Reforma da Habitação Popular - teses.usp.br · 89 2. s “..., a classe pobre dos operários...
Transcript of de Reforma da Habitação Popular - teses.usp.br · 89 2. s “..., a classe pobre dos operários...

2

de Reforma da Habitação Popular

89
CA
PÍTU
LO 2. A
s Iniciativas
“..., a classe pobre dos operários ainda não encontrou em São Paulo - o centroeconômico mais próspero do país – quem lhe proporcionasse a propriedade de casaseconômicas. Nem capitalistas, nem fundações beneficentes, nem associaçõescooperativas, nem Governo, nem legislação adequada” (Doria, 1931, 51).
Uma prática muito comum nas primeiras décadas do séculoXX, em São Paulo, que foi justificada pelo intuito solucionar oproblema da carência de habitação, da proliferação de epidemias edo medo dos conflitos sociais foi a construção de moradias para ostrabalhadores pela iniciativa, sobretudo, de empresas construtoras ede indústrias. As primeiras tinham, como interesse, os grandesrendimentos que essa forma de aplicação possibilitava,principalmente por causa dos incentivos concedidos legalmente pelopoder público. As indústrias tinham, como objetivo, a estabilidadedo operário no trabalho e o controle de seu dia-a-dia, dentro e foradas fábricas.
As condições da habitação operária foram analisadas pelopoder público por meio de relatórios1 realizados pelas diversascomissões de saneamento instauradas nas cidades paulistas e nacapital. Neste sentido, o engenheiro Bruno Simões Magro indicava:
“É preciso não esquecer o acervo de trabalho de ordem technica,consubstanciado em projectos de toda ordem disseminados pormemórias e publicações diversas, que tem ecôado nos congressos dehygiene e de architectura” (Magro, 1931, 56).

90
O “
lar
conv
enie
nte”
Um exemplo disso foi a ‘Comissão de Exame e Inspecção dasHabitações Operárias e Cortiço no Distrito de Santa Efigênia’. Partindoda noção de que o meio infectado e insalubre fosse o centro dasepidemias que afligiam os grandes centros urbanos nacionais,procurou-se intervir nessa área localizada nas proximidades de bairrosresidenciais ocupados pela elite. Neste relatório foram propostasmedidas que foram estabelecidas, posteriormente, em leis quevisavam encorajar tanto companhias públicas, como privadas aconstruírem “vilas operárias higiênicas”, em terrenos localizados naperiferia da área central da cidade. Assim, dava-se prosseguimento auma segregação espacial que marcaria a configuração urbana de SãoPaulo. De um lado os bairros industriais e operários, como Brás,Bom Retiro, Moóca, Barra Funda, Água Branca, Cambuci,Belenzinho, Vila Cerqueira César, Bexiga, Liberdade, Vila Mariana,Ipiranga e Pari; do outro lado, os bairros onde se localizavam asgrandes residências e os palacetes da elite, como Campos Elíseos,Higienópolis, Avenida Paulista e os bairros-jardins da City.
Xavier Pereira analisou essas modificações na paisagem urbanae as transformações no mercado imobiliário. Em linhas gerais,definiu a forma de o capital incorporar a propriedade e transformá-la em mercadoria, segregando espacialmente as classes sociais emdiferentes territórios da cidade:
“a heterogeneidade das condições de acesso às vantagens dalocalização urbana implicava uma apropriação diferenciada dacidade. A moradia e o trabalho, como uso, transformação eprodução do espaço, à medida que se mostram desenvolvidas comopráticas concretas de apropriação do espaço e de realização dovalor lucrativo, transformam-se em elementos do processo desegregação do espaço urbano” (Pereira, 1988, 92)
Com o intuito de atender às demandas das fábricas e dereorganizar a vida dos trabalhadores pobres das cidades, vilas operáriasforam construídas por indústrias:
“Estes conjuntos de casas de baixo custo e planta freqüentementecoerente com princípios de higiene difundidos à época eramentendidos como um instrumento de saneamento da cidade e detransformação do cotidiano do pobre urbano, visto como marcadopela imoralidade e pela imundície. Em meio ao mundo tido comocaótico onde vivia o pobre, as vilas surgiam nestas representaçõescomo ilhas de ordem e bem-estar. Sua difusão dentro de cidadesexistentes e em pequenos núcleos criados por fábricas, minas e usinasno campo era concebida como uma conquista de territórios damiséria e da barbárie pela civilização. As vilas eram tidas como oambiente ideal para uma pobreza honesta, sadia, pacífica e obreira”(Correia, 1998, 10).
Os engenheiros, da segunda metade do século XIX ao iníciodo século XX, possuíam uma formação, principalmente, em escolas
1 Durante a pesquisa foramlevantados alguns relatórios, taiscomo: “Relatório dos serviçosrealizados pela Repartição de Obras,relativo durante o anno de 1919.Apresentado pelo Engenheiro-Chefeao Exmo. Sr, Dr. PrefeitoMunicipal de Campinas, BrunoSimões Magro em 1920”;“Relatório da Comissão deSaneamento e Melhoramentos deSantos, realizado pelo engenheirosanitarista, Francisco Saturnino deBrito, entre 1905 e 1910”;“Relatório da Diretoria de ObrasPúblicas e Viação da Prefeitura deSão Paulo, pelo engenheiro civilVictor da Silva Freire” e os diversosrelatórios da Companhia deEstradas de Ferro, enviados aoGoverno do Estado em ummomento no qual suas atividadeseram fiscalizada.

91
CA
PÍTU
LO 2. A
s Iniciativas
politécnicas, calcada em princípios “cientificistas”, tais como opositivismo, a economia política clássica, o evolucionismo, onaturalismo e o darwinismo social. O positivismo foi um paradigma,na ação dos engenheiros paulistanos que sustentavam a idéia de quea sociedade era organizada segundo uma “ordem social” caracterizadapela existência de duas “classes de indivíduos: de um lado o ‘proletariado’,isto é, aqueles que produzem, e de outro os que vivem desse trabalho”(Mendes, s.a.d., 7-8 apud: Turazzi, 1989, 36). Esta distinção rebatianaquela entre o engenheiro e o trabalhador que foi endossada peloengenheiro da casa Martins Barros & Cia, Emílio Teixeira, em umartigo publicado no Boletim do Instituto de Engenharia, em janeirode 1929, em que afirmou: “A diferença entre o trabalhador e oengenheiro é que aquele faz o que lhe é mandado e este diz como deveser feito. O engenheiro formula um meio engenhoso de fazer o trabalho”(Teixeira, jan. 1929, 23).
Neste capítulo, inicialmente, serão analisadas as vilasconstruídas por indústrias, depois, aquelas construídas por empresasconstrutoras para venda ou para aluguel e, no final, as edificadascom participação do Estado. Apesar de serem distintos pelo tipode iniciativa, esses conjuntos de moradias próximas ou não dasindústrias e pertencentes ou não a estas eram denominadas vilasoperárias:
“Sob a designação genérica de “vilas operárias” foram reunidas noBrasil experiências as mais diversas: conjuntos construídos por empresasimobiliárias para aluguel ou venda a proletários urbanos, por empresasferroviárias para seus funcionários, por indústrias, minas, frigoríficose usinas para seus operários, técnicos e administradores e pelo Estado”(Correia, 1998, 10).
Apesar das diversas experiências realizadas neste campo, aepígrafe do capítulo mostra como a solução da carência de habitaçõeseconômicas, salubres e higiênicas de propriedade do trabalhadorpobre, na cidade de São Paulo, parecia distante, em 1931. Entretanto,tratava-se de uma questão que preocupava especialistas e governantes.

92
O “
lar
conv
enie
nte”
Entre observadores europeus do século XIX, a relação entre aindústria e a cidade era vista como contraditória. Os problemasobservados no crescimento das cidades eram diversos: a aglomeraçãode um contingente grande de pessoas que gerava insegurança emrelação à questão social; o medo da violência e da imoralidadeatribuída aos costumes dos pobres; em termos sanitários, o medodas epidemias e da proliferação das doenças associadas, sobretudo,à moradia do pobre; a preocupante ameaça às instituições e aopatrimônio empresarial vinculada a esse ambiente urbano (Correia,1998). Ao mesmo tempo em que essa aglomeração indicava ainsegurança social, também representava a cooperação social notrabalho (Raymond Williams, 1989). Entretanto, a cidade ofereciaà indústria uma infra-estrutura comum e as vantagens decorrentesda proximidade dos mercados de bens, serviços e trabalho e de outrasempresas com as quais se poderia realizar trocas (Correia, 1998,25).
A provisão de uma habitação econômica, higiênica e salubreera vista como uma solução para diversos aspectos do problemaurbano. Diante da noção de que o meio insalubre era formador deum trabalhador enfermo, fraco e imoral, propunha-se amodificação dos espaços habitados pelos pobres. Desse modo, a
2.1. As Iniciativas Privadas de construção de casas populares
1.1.1. A moradia construída por patrões para seus empregados

93
CA
PÍTU
LO 2. A
s Iniciativas
reforma do espaço habitado seria um meio de reeducar ostrabalhadores, tornando-os mais capazes, competentes edisciplinados. Indústrias, sociedades filantrópicas, instituiçõespúblicas, companhias ferroviárias e empresas de construçãoenvolveram-se na edificação de casas saneadas para o proletariado(Correia, 1998, 37). Essas moradias não deveriam ser uma habitaçãocomum, mas um “espaço capaz de viabilizar e favorecer uma vidaregida pelas normas de higiene e da moral” (Correia, 1998, 38).
Bandeira Junior (1901) mostra como, nas últimas décadasdo século XIX, as indústrias de São Paulo procuravam construircasas para seus funcionários, principalmente para os maisgraduados. 400 moradias foram construídas pela Fábrica de Tecidose Aniagem de Antônio Penteado no Brás (rua Flórida), localizadasao lado dos edifícios da fábrica. Esse tipo de iniciativa, entretanto,não se generalizou na cidade:
“Primeiramente porque esse tipo de empreendimento demandavainversão relativamente alta de capital, possível somente aos grandesestabelecimentos industriais, que não eram maioria até o início dosanos 1930. Em segundo lugar, porque não houve necessidadepremente de fixar os trabalhadores não-especializados junto às fábricasou locais de trabalho. Geralmente as vilas operárias ou conjuntos dehabitações operárias de propriedade das indústrias se destinavam,na cidade de São Paulo, aos mestres e contramestres, que era necessárioreter e controlar junto à produção” (Decca, 1987, 59).
Outras indústrias, localizadas ao longo da linha férrea daPaulista, construíram casas para seus trabalhadores. Foi o caso daCompanhia Antártica, que edificou uma série de casas, somentepara os operários mais especializados. Outra foi a Companhia deCalçados Clark, também localizada no bairro da Moóca, queconstruiu casas para os mestres com projetos feitos pelo engenheiroagrônomo e construtor Samuel das Neves. O livro “Impressões doBrasil no Século XX” mostra que, nesta última, além das casas, foramconstruídos equipamentos coletivos, como um prédio para atenderaos interesses sociais, físicos e intelectuais, onde havia atividades derecreação e reuniões, além de vários campos para práticas de diferentesesportes, e uma escola onde professores recomendados peloMackenzie College instruíam os operários e seus filhos (Impressõesdo Brasil no Século XX, 1919, 689 apud: Decca, 1987, 59). Outroscasos, em São Paulo, foram: a Fábrica de Ferro Esmaltado Sílex,localizada no Ipiranga, com apenas 50 casas para seus empregados; aVidraria Santa Marina; o Cotonifício Rodolfo Crespi; CigarrosSudan; Chapéus Ramenzoni e Companhia Lacta, que todasmantinham algumas casas populares alugadas aos seus empregados(Decca, 1987, 61).
Algumas fábricas e suas vilas operárias2 estavam instaladas empontos distantes da área central de São Paulo3 ou no chamado
2 Segundo Correia (1998), essecaso de vila operária localizada nosubúrbio pode ser era identificadocomo uma situação intermediáriaentre a vila localizada na cidade eos núcleos fabris, que eram isoladosno campo. Neste tipo, é possível sepreservar uma certa autonomiaadministrativa e isolamento emrelação à administração urbana,possibilitando observar umaorganização muito parecida comos núcleos fabris. Estes, ao contráriodas vilas operárias localizadas nascidades, eram aglomeraçõesisoladas, autônomas e gerenciadascom grande liberdade pelaindústria (Correia, 1998, 75).
3 Outras indústrias implantadaspróximo à cidade de São Paulo,como em Sorocaba, onde foraminstaladas diversas fábricas têxteis(Fábrica de Fiação e Tecidos NossaSenhora da Ponte, em 1881;Companhia de Fiação e TecidosSanta Maria, em 1892; Fábricade Fiação e Tecidos Santa Rosália,em 1900 etc) e em Caieiras, ondefoi instalada uma fábrica deprodução de papéis e raiom(Companhia Melhoramentos deSão Paulo, em 1883) e uma deextração e beneficiamento decimento (Fábrica de CimentoRodovalho, em 1897).

94
O “
lar
conv
enie
nte”
subúrbio, como era o caso da Fábrica Falchi, que, desde 1890, haviaconstruído na Vila Prudente:
“grandes edifícios para as fábricas, casas para vivenda paraempregados, operários e pessoas estranhas a esses estabelecimentos,que aí mantém comercio e, de preferência habitam pela salubridadee aproximação da capital e da Estação Férrea” (Bandeira Junior,1901, 188 apud: Blay, 1988, 46-7).
Essa vila fabril possuía uma série de equipamentos de usocomum, como edifícios para comércio, escolas, templo e uma vilaoperária. Outra indústria também na Vila Prudente foi aCooperativa de Fábricas de Chapéu (Cia. Manufatora Paulista,Manufatora de Chapéu ítalo-brasileira, Souza Pereira e Cia, etc.)que mantinha uma vila operária em 1913.
No mesmo sentido, no ano de 1912, o empresário JorgeStreet4 iniciou a construção de uma vila operária localizada noBelenzinho, entre a avenida Celso Garcia e o rio Tietê. O programadesta vila era extenso e compreendia: seis tipologias de casas paraos operários (as maiores destinadas aos operários mais antigos ou àsfamílias mais numerosas e aposentos); para os solteiros, em prédiotérreo e comprido; uma igreja católica, escolas divididas por sexo,creche e jardim de infância; áreas de lazer e para prática de esportes.A vila, segundo Palmira Teixeira, era cortada por seis ruas principaise quatro transversais, tendo como fundo o rio Tietê (Teixeira, 1990,76). No ano de sua inauguração, em 1917, nos discursos de JorgeStreet sobre essa sua iniciativa, era perceptível a existência de umtom moralizador no projeto, associando-o com uma obra de justiçasocial:
“Morada sã, com bastante sol e luz, e os cômodos de acordo com asnecessidades das famílias operárias mais comuns. Dois, três e quatroquartos foram os tipos adotados, dando-se a eles um aspecto alegre econvidativo, construindo-se as casas em um só pavimento e em ruaslargas, tirando assim em aparência, e de fato, qualquer idéia depromiscuidade” (Street, 1917 apud: Teixeira, 1990, 81)
Em 1941, na Jornada de Habitação Econômica, o nome deJorge Street foi citado duas vezes5 como referência de uma pessoaque procurou solucionar o problema da habitação operária. Omédico Clemente Ferreira disse que a vila Maria Zélia era umadas iniciativas mais recentes de “vila operária com todos os requisitosde higiene e conforto, instalando ainda creches para os filhos de seusoperários” (Ferreira, 1941, 238), quando discutiu os subsídiosconcedidos pelo governo federal para o fomento da construção devilas operárias. Afirmava que, em “1886 e 1887, decretos 6 doGoverno Geral concediam favores oficiais às empresas e associações,propondo-se construir vivendas econômicas para operários” (Ferreira,1941, 237), possibilitando a algumas indústrias, como a Cia. ‘Luz
4 Jorge Luis Gustavo Street nasceuno Rio de Janeiro, filho de umaustríaco que veio ao Brasilconstruir a primeira estrada de ferroe de Heloísa Leopoldina SimonsenStreet. Formou-se médico na Escolade Medicina do Rio e estudou umperíodo na Europa. Sua atuaçãocomo empresário foi mais políticado que administrativa, participandodo debate em defesa da indústrianacional e em torno da questão daassistência social aos operários.
5 Pelo engenheiro civil e empresárioRoberto Simonsen e pelo médicoClemente Ferreira
6 Estes decretos foram: o nº. 9560,de 25 de fevereiro de 1886, que“concede favores a José Leite daCunha Bastos ou à empresa por eleorganizada os favores do decreto nº.3151 (09 dez. 1882), relativos aosedifícios que construir parahabitações de operários e classespobres, na cidade do Rio de Janeiroe seus arrabaldes”; e o nº. 9754, de19 de maio de 1887, “concede aAmérico de Castro, ou à empresapor ele organizada, os favores dodecreto nº. 3151 (09 dez. 1882),relativos aos edifícios que construirpara habitações de operários e classespobres (casas denominadas evôneas)na cidade do Rio de Janeiro e seusarrabaldes” (GAP, 1985, 29).
7 Backheuser, no Relatóriopublicado por uma Comissãoinstaurada em 1906, pelo Ministrodo Interior J.J. Seabra, agrupoutodas as iniciativas de construçãode casas operárias concretizadas ounão até o momento. Entre estas,citava esta fábrica como possuidorade “duas casas grandes, alojando aotodo 90 pessoas, e mais cinco casaspara famílias dos chefes de serviço,não cobrando aluguel algum”(Backheuser, 1906, 97). A ‘LuzSteárica’ ainda mantinha umaescola gratuita de primeiras letras,desenho e música.

95
CA
PÍTU
LO 2. A
s Iniciativas
Vista das fábricas localizadasna região do Brás da colina cen-tral, na década de 1920 (To-ledo, 1996, 100 apud: MaltaCampos, 2002, 91).
Propaganda da CompanhiaAntartica Paulista, que erapresidida por Asdrúbal doNascimento (Divisão do ArquivoHistórico apud: 100 anos deindustrialização, 1992, 11).

96
O “
lar
conv
enie
nte”
O edifício da Fábrica deCalçados Clark, localizada naMoóca, foi projetado por Samueldas Neves, que era pai doarquiteto Christiano Stocklerdas Neves (“São Paulo e seushomens no Centenário” apud:São Paulo: 100 anos deindustrialização, 1880-1990,1992, 11).
Projeto de habitação para osmestres da Fábrica de CalçadosClark, feito por Samuel dasNeves (Arquivo de projetos dabiblioteca da FAU-USP).

97
CA
PÍTU
LO 2. A
s Iniciativas
Vistas total e parcial da vilafabril Maria Zélia, em 1919,provavelmente projetada peloarquiteto francês Pedaurieux(Teixeira, 1990).
Vila operária Maria Zélia(Teixeira, 1990).

98
O “
lar
conv
enie
nte”
“Quando o apito da fábrica detecidos / vem ferir os meus ouvidos /eu me lembro de você”. Música deNoel Rosa, morador e sambista deVila Isabel.
Planta do bairro de Vila Isabelcom a localização da fábrica evila operária da Companhia deFiação e Tecidos Confiança In-dustrial, que foi construída em1884, na rua Maxwell, 300(Plantas (montagem): Abreu,1978 e Czajkowski, 2000) e(fotos da vila: Freitas, jul. 2005e foto da fábrica: Czajkowski,2000)
A fábrica da Companhia deFiação e Tecidos Concorvado noJardim Botânico, em fins doséculo XIX (Ferrez, 1964 apud:Abreu, 1978).

99
CA
PÍTU
LO 2. A
s Iniciativas
Steárica’ 7, a Companhia de Fiação e Tecidos Aliança8, a Fábrica deTecidos e Fiação Corcovado e São Félix9, construírem vilas operáriasde aluguel no subúrbio do Rio de Janeiro. Em São Paulo, duasindústrias aproveitaram esse incentivo: a Fábrica de Tecidos Sant’Anade Antônio Álvares Penteado – já citada - e uma Fábrica de Fósforo(Ferreira, 1941, 239).
Um exemplo de uma grande vila fabril implantada no Riode Janeiro, em um bairro de subúrbio, é a da Companhia de Fiaçãoe Tecidos Confiança Industrial. O bairro de Vila Isabel foi criadopelo Barão de Drummond10, um empresário de transportes urbano,depois de 1872. Ao analisar a evolução urbana do Rio de Janeiro,a partir das ações do Estado, o geógrafo Maurício de Abreu percebeuque existia uma relação entre as concessões para a exploração delinhas de transporte por burro e a ocupação da área urbana do Riode Janeiro, em direção a regiões distantes da cidade que seconformou no período colonial, delimitada pelos morros doCastelo, Santo Antônio, São Bento e Conceição. Em 1873, aCompanhia Arquitetônica, pertencente ao Barão, inaugurou oloteamento de Vila Isabel que se destacava dos demais da cidade,pelo seu desenho urbano: ruas largas chamadas de ‘boulevards’. Afábrica, que foi instalada em 1887, construiu uma vila operária11
composta por casas térreas e de dois pavimentos, dispostas emfileiras, com três a cinco cômodos cada uma. Backheuser,engenheiro civil e municipal do Rio de Janeiro, nos descreve essavila:
“Os prédios são alinhados nas frentes das ruas do arrabalde de Villa-Isabel, não dispondo, portanto, de jardins; nos fundos, porém, hásempre áreas ou quintaes para os usos domésticos. As construcções sãode alvenaria de tijolo. Tanto quanto pode ser exacta uma estimativaa olho, a Villa da Fábrica Confiança aloja para mais de 1.000indivíduos em cerca de 200 casas” (Backheuser, 1906, 98).
Esta vila fabril chegou a ser elogiada, pela imprensa operária,pelo espírito “filantrópico e esclarecido” que a teria originado,tecendo-se elogios ao presidente da Fábrica Confiança eexpressando a necessidade de “afirmação e reconhecimento públicoda autoridade patronal e do próprio ethos industrialista daquelasociedade” (Turazzi, 1989, 73).
Ao longo do século XX, as formas de controle do operárioforam sendo revistas para garantir uma maior subordinação dotrabalhador, o que para Turazzi (1989) visava diminuir as greves eamenizar os problemas sociais e econômicos. A normatização dosdireitos e deveres dos trabalhadores - a partir de 1932 - foi umaalternativa encontrada para se manter a “ordem social” já instaurada.
Antes de 1920, a idéia de paternalismo predominava emações como as de Jorge Street, que desconsiderava o “liberalismo
8 Essa companhia fornecia aos seusoperários 152 residências, umserviço de assistência médica, umafarmácia, duas escolas, uma crechee ainda um fundo de assistênciapara atender às pensões dos operáriosfalecidos (Rago, 1985, 35).Segundo descreve Backheuser(1906), a vila operária dessacompanhia, construída entre 1888e 1893, possuía aspectos mais‘atraentes’, do que a da “LuzSteárica” pois suas “edificações aolado da fábrica, [estendiam-se] dosopé do morro até a rua dasLaranjeiras, abrangendo umavasta área, dividida em quadras,com as ruas arborizadas e casinhasbem conservadas” (Backheuser,1906, 97).
9 As fábricas Carioca, São Felix eCorcovado, todas localizadas naGávea próximas a cursos de água,pois seus teares eram movidos porforça hidráulica, segundoBackheuser, receberam favores doGoverno para a construção dehabitações para seus operários. Oconjunto dessa fábrica eracomposto por duas escolas, umacreche, armazém de alimentos efarmácia. Havia também umedifício para o lazer dos operários,onde ocorriam os bailes erepresentações teatrais (Rago,1985, 35).
10 O Barão de Drummondestabeleceu uma linha de bondeque ligaria o centro com os bairrosdo Andaraí Grande (Andaraí, VilaIsabel, Grajaú e Maracanã), SãoFrancisco Xavier e Engenho Novo(Noronha Santos, 1965, 271-2apud: Abreu, 1987, 44),conhecida por ‘Companhia Ferro-Carril de Vila Isabel’,ultrapassando um obstáculonatural: o mangue do Saco de SãoDiogo. Para tal empreendimento,o Barão teve de realizar aterros econstruções de pontes na área doMangue próximo à foz do RioComprido.
11 De todas as vilas operáriasimplantadas no Rio de Janeiro, avila da Fábrica Confiança aindaexiste e está ocupada, apesar dadesativação da fábrica. No localonde ficava a fábrica funciona,atualmente, um supermercado.

100
O “
lar
conv
enie
nte”
fordista” pois julgava que o operário deveria ser tutelado pelos auxíliosconcedidos (Street, 1980, 75 apud: Turazzi, 1989, 77). A construçãode vilas operárias também foi pensada visando à fixação dotrabalhador, como foi observado pelo arquiteto carioca ÂngeloBruhns, em seu memorial12 para a vila operária da Companhia deNavegação e Comércio de Niterói13, publicado no Boletim do IEem meados de 1921:
“Compreenderam que a grande instabilidade no emprego, a constantemudança do operário, com a conseqüente perda de efficiencia, nãosomente estão prejudicando grandemente a classe, mas ainda são umamancha na sociedade uma ameaça à paz do paiz e um obstáculo àproductividade nacional. Compreenderam, enfim, que um homemdescontente é um mau operário enquanto que um contente, saudávele possuindo um lar decente, é um bom trabalhador” (Bruhns, jul.1921, 6).
Logo,
“Na edificação do universo industrial construíam-se simultaneamenteà fábrica e à vila operária, novo valores sociais onde o patronatoprocurava introjetar na mão-de-obra a vocação para o trabalho e acrença nas possibilidades de ascensão social abertas a todos osindivíduos dotados das virtudes consagradas pela sociedade burguesa”(Turazzi, 1989, 74-75).
Na quase totalidade dessas iniciativas de indústrias paraprovisão de habitação não foi possível, nesta pesquisa, identificara autoria de projetos por engenheiros e arquitetos em São Paulo,no período em análise. Para o projeto da vila Maria Zélia e dafábrica da Companhia Nacional de Tecidos de Juta, Jorge Streetcontratou o arquiteto francês Pedaurieux (Blay, 1885, 219; Teixeira,1990, 75). Telma Correia coloca que a atuação de engenheiros earquitetos neste tipo de projeto se deu, sobretudo, depois de 1930,com os projetos para Monlevade, Volta Redonda, Cidade dosMotores etc. Em 1925, o cotonifício Rodolfo Crespi realizou umconcurso para uma nova vila operária nas proximidades da fábrica.Apesar de possuir um pequeno agrupamento de casas operáriaslocalizadas na travessa Crespi, possivelmente, julgava-se necessárioa construção de novas unidades. Desse concurso participou aCompanhia Construtora de Santos, que selecionou para realizar oprojeto o ainda estudante em arquitetura na Escola Nacional deBelas Artes, Jayme da Silva Telles.
12 Este texto foi publicado três anosdepois da ConferênciaInternacional do Trabalho, onde foiproposto o estreitamento dos vínculosentre trabalhador e empresa pormeio de benefícios sociais e padrõesotimizados de habitação,procurando garantir a paz social,com a busca por um trabalhadorconsiderado fisicamente emoralmente sadio (Malta Campos,2002, 206).
13 Criada em 1835, a SociedadeNavegação de Nitheroy oferecia oserviço de translado de mercadoriasentre as duas margens da baía deGuanabara. Com a introdução danavegação a vapor, segundo Abreu(1987), houve a transformaçãoeconômica de Niterói, de produtorade víveres em estância balneária.Durante a década de 1920, aCompanhia foi reorganizada.

101
CA
PÍTU
LO 2. A
s Iniciativas
Durante sua conferência no I Congresso de Habitação,realizado em 1931, o engenheiro civil Henrique Doria nos mostroua habitação como uma forma de assistência social ao trabalhador,assim como eram as creches, escolas, hospitais e parques. Contudo,entendia que essa questão estava longe de ser resolvida. Doriajulgava as iniciativas das companhias imobiliárias e das companhiasconstrutoras existentes, tais como a Iniciadora Predial14, o LarBrasileiro15, o Lar Paulista, a City e a Companhia ImobiliáriaPaulista, ineficazes quando se tratava do problema de proverhabitação para uma população de pequenos rendimentos. De fato,ele constatou que estas companhias se voltavam à construção decasas residenciais somente às classes médias (Doria, 1931, 51).Defendia a ação conjunta dos poderes públicos e todos osprofissionais atuantes no problema da habitação, por meio de umaComissão Permanente de Habitação Econômica.
Nos anos anteriores a 1931, a construção de casas popularesfoi uma iniciativa muito lucrativa, pois os rendimentos com acobrança de aluguéis eram consideráveis. Essa situação eraincentivada pelo Estado que, por meio de concessões de isençãode taxas urbanas e impostos sobre materiais de construção ou porceder terrenos públicos para tais empreendimentos, acabou porbeneficiar uma grande quantidade de empresas construtoras. Em1908, depois de um período marcado, no âmbito do poder públicolegislativo, pela falta de discussões sobre a questão da habitaçãopopular, uma lei foi promulgada concedendo favores como isençõesfiscais, concessão de terrenos municipais, além da intercessão juntoao governo federal para pedir a:
“autorização às Caixas Econômicas16 para empregarem a quinta partedo seu fundo de reserva em empréstimos hipothecários às sociedadesde construção de casas hygienicas e baratas e às sociedades de crédito,que tenham por fim facilitar a compra ou construção dessas casas, eainda a indivisibilidade dessas casas” (Lei 1.098 de 1908 apud:Bonduki, 1982, 90).
Esta ação permitiu vantagens na produção de habitaçãooperária por construtoras, sociedades e companhias que tinham,como objetivo, a obtenção de lucro pela inversão do dinheiro naconstrução de casas a serem alugadas ou vendidas a futurosmoradores. Essas firmas podiam ser empresas construtorasespecializadas em loteamentos e em construção de casas operárias,como a Empreza Immobiliária de São Bernardo, do engenheiro civile arquiteto Hippolito Pujol Junior, em sociedade com Boris Sterberg;a J. M Malheiro & Cia, companhia que era fruto da sociedadeentre o engenheiro civil José Luiz de Mello Malheiro e o engenheiro-arquiteto Carlos Alberto Gomes Cardim, que construiu dois
1.1.2. A moradia construída por Empresas Construtoras para venda ou aluguel
14 A Companhia IniciadoraPredial estava registrada comofirma no CREA, em 1938, e estavasob a responsabilidade dosengenheiros-arquitetos Luiz deAnhaia Mello (eng.-arq. Poli1913) e Ricardo Severo. SegundoAuxiliadora Decca (1987), essaCompanhia seria responsável pelaconstrução de grupos de habitaçõesde um só pavimento e também desobrados do tipo popular, onde oaluguel era pequeno, nos anos 1912e 1913 (Impressões do Brasil noSéculo XX, 1913, 669 apud:Decca, 1987, 58).
15 O Lar Brasileiro S/A eraadministrado pelo engenheiro civilformado pela Escola de Engenhariado Mackenzie College, em 1926,Boanerges C. Garcia. Existe umapropaganda publicada no “OEstado de São Paulo”, em maio de1931.
16 Essas Caixas Econômicas foramcriadas em 1917, em São Paulo,Campinas, Ribeirão Preto e Santos,pela lei nº. 2.765 que estabeleceuos regulamentos.

102
O “
lar
conv
enie
nte”
conjuntos de casas operárias, uma em estilo neocolonial, na ruaJosé do Patrocínio (Ficher, 2005, 218), na Vila Mariana e outrogrande conjunto de casas econômicas na Moóca (Boletim doInstituto de Engenharia, abr. 1931).
Outra forma de organização empresarial neste tipo deempreendimento foram as Companhias “mutualistas”, empresasde capital aberto que reuniam acionistas com a finalidade de investirna construção de casas para aluguel, como a Mútua Brasil, “AEconomizadora Paulista”, a União Mútua e a Cooperativa ConstrutoraPredial (Sampaio, 1994, 21). Estas estavam implantadas na cidadede São Paulo enquanto, o ‘Banco Operário’ ou a ‘Companhia TechnicaConstrutora’, no Rio de Janeiro. Esse tipo de organizaçãoempresarial deve ter sido extinto na década de 1930, pois não háregistros de nenhuma mútua entre as firmas registradas noConselho Regional de Engenharia e Arquitetura, em 1938. Entreas mútuas se destaca a ação da “A Economizadora Paulista”. Fundadapelo médico Cláudio de Souza, era composta por representantesda elite paulistana como o Barão de Duprat, Ignácio Penteado eoutros. Ao todo foram três as vilas economizadoras construídas,uma no bairro da Luz, outra no Cambuci e outra em Perdizes.Dessas três, somente a primeira continua existindo, constituídainicialmente por 147 casas, sendo 20 atrás de lojas que serviam dearmazéns e 127 residências de vários tipos, que atendiam adiferentes tipos de inquilinos conforme a renda. A princípio, estascasas foram habitadas, sobretudo, por funcionários do Liceu deArtes e Ofícios ou por gente que trabalhava na Estação Sorocabanae, mais tarde, por atacadistas do Mercado Municipal (Ferraz, out.1978, s.p.d).
Existiam, também, como instituição econômica organizadapara atender a tal demanda, as cooperativas de construção, queeram composta por proletários. Esse tipo de organização foiincentivado depois de 1925:
“O exemplo que se tomava era o do movimento das “Habitations àBon Marché” que desde o início do século em toda a Europa e EstadosUnidos havia assegurado a construção de milhares de moradiasoperárias. O cooperativismo era definitivamente pensado como umasaída, além de econômica, de conciliação e colaboração entre as classessociais no sentido de resolverem a questão habitacional” (Lira, 1996,121).
Ainda em 1906, o engenheiro Backheuser questionava a faltade mobilização dos trabalhadores em favor da construção demoradias. Considerava que os operários oscilavam “entre oindiferentismo doentio dos seus mais directos interesses e osdesregramentos das manifestações de baixa politicagem” (Backheuser,1906, 123). Segundo essa visão, Backheuser recomendava aosoperários a formação de uma ‘cooperativa de construção’ 17, como as
17 O engenheiro Bruno Rudolfer,em sua palestra na Jornada deHabitação Econômica promovidaem 1941, colocou uma questãoimportante que deve ser consideradanesse debate. Em se tratando deresolver a questão da habitação, ascooperativas de construção, ou o queficou conhecido como fundos depensão e aposentadoria, seriam ummeio de resolver o problema dahabitação operária, segundo umadireção técnica e financeira, senão oproblema seria resolvido na base daassistência social (Rudolfer, 1941,58).

103
CA
PÍTU
LO 2. A
s Iniciativas
Grande conjunto de casaseconômicas construído pelaconstrutora J. M. Malheiros &Cia, dos engenheiros José Luizde Mello Malheiro e CarlosAlberto Gomes Cardim. Esteconjunto estava localizado nobairro da Moóca (Boletim doInstituto de Engenharia, abr.1931).
Prédio de casas econômicas narua Barão de Jaguaré, na Moóca,construído pela Camargo &Mesquita (Boletim do Institutode Engenharia, abr. 1931).
Pequeno conjunto de casaseconômica na avenida doEstado, construído pelaCamargo & Mesquista, dosengenheiros José Rangel deCamargo e José Mesquita(Boletim do Instituto deEngenharia, abr. 1931).

104
O “
lar
conv
enie
nte”
Vila econômica construída na ruaPamplona, no Jardim Paulistano,pela Sociedade Comercial eConstrutora Ltda, dosengenheiros Heitor PimentelPortugal, Luiz Fernando doAmaral, arquiteto Elisiário daCunha Bahiana e Ferrucio JulioPinotti (Boletim do Instituto deEngenharia, abr. 1931).
Prédio construído pela SociedadeComercial e Construtora Ltda(Boletim do Instituto deEngenharia, abr. 1931).
Pequeno conjunto de casaseconômica em estilo neocolonialconstruído na rua José doPatrocínio, pela J.M. Malheiros& Cia (Boletim do Instituto deEngenharia, abr. 1931).

105
CA
PÍTU
LO 2. A
s Iniciativas
Vila operária construída pelaSociedade Construtora e deImmóveis na rua do Hipódromo,340 (Albúm da SociedadeConstrutora e de Immóveis,1928).
Conjunto de casas de rendaconstruído pela SociedadeConstrutora e de Immóveis,sociedade entre os engenheiros:Cícero da Costa Vidigal, GastãoVidigal, Alcides da Costa Vidigal,Álvaro da Costa Vidigal, Cássioda Costa Vidigal, Cícero daCosta Vidigal e Verano Pontes.Firma fundada em 1923 (Albúmda Sociedade Construtora e deImmóveis, 1928).

106
O “
lar
conv
enie
nte”
Conjuntos de casas popularesconstruídas pelo engenheiroarquiteto Rudolf Kolde em SãoPaulo. O conjunto de casa, naparte superior da página, trata-se do conjunto mostrado nacapa desta dissertação demestrado. Os dois conjuntos, aolado, são de casas em série(Kolde, 1929).

107
CA
PÍTU
LO 2. A
s Iniciativas
“Buildings Associations” inglesas ou as instituições norte-americanos,francesas e alemãs:
“O machinismo para o funccionamento dessas associações, a quesymbolicamente se póde dar o expressivo título de ‘Pedra do lar’, ésimples. Reunindo um grupo de pessoas, essas que o compõem entrammensalmente com uma quota calculada de accôrdo com o valor doprédio a adquirir. Logo que se obtenha a importância necessária aaquisição da primeira casa – e esse tempo será tanto mais curto quantomaior for o número de sócios – ella será attribuída a um dos sócios,nos termos estabelecidos nos estatutos. As sociedades inglesas eamericanas põem geralmente em leilão essa quantia e ao licitanteque mais offerecer de juro será ella attribuida. Nas sociedades allemãse francezas a sorte regula o direito de posse. Poder-se-á tambémadoptar um systema misto, fazendo a attribuição parte pela sorte eparte pela antiguidade dos sócios. (...) Uma vez, possuindo a sociedadealguns prédios ou a sua hypotheca, poderá levantar o capital necessárioà construcção de outros. A machina accelerará então o seu movimento.De um lado o dinheiro entrado por este meio e sempre levantado àproporção que outras casas se forem construindo e de outro amensalidade constante dos demais associados. Em pouco tempo, pois,poderão ser erguidas muitas e muitas moradias salubres, confortáveise principalmente baratas” (Backheuser, 1906, 124).
Esse tipo de organização, onde os operários seriam osresponsáveis pela gestão dos recursos empregados na construçãode habitações, somente seria viabilizado em 1923, com a criação,por meio de um decreto federal (nº. 4.682), de uma Caixa deAposentadoria e Pensões destinada aos funcionários das Estradasde Ferro do país. Essa lei, conhecida por “Lei Eloi Chaves”, foi ocomeço para a organização de instituições de gestão do segurosocial no Brasil. Na década de 1930, através dos Institutos deAposentadoria e Pensões, foram produzidas diversos conjuntos dehabitações operárias em várias cidades brasileiras (Bonduki, 1998).
Outra experiência, concretizada em Santos, foi a realizadapela Companhia Santista de Habitação Econômica e construídapela Companhia Construtora de Santos, cujo diretor era oengenheiro civil formado na Politécnica paulista em 1909, RobertoCochrane Simonsen.
Estas iniciativas particulares de construção de casas operárias,realizadas em São Paulo, foram reconhecidas em publicações deoutros estados, como foi publicado no “Diário de Pernambuco”:
“Falta-nos a iniciativa particular que auxilia os governos nosempreendimentos mais úteis à coletividade como sucede em SãoPaulo, por exemplo (...) Existe ali Companhias de Construção decasas para todas as classes sociais, com meios fáceis de aquisição”(Diário de Pernambuco, 5.09.1931, 3 apud: Lira, 1996, 195)

108
O “
lar
conv
enie
nte”
O Bairro Modelo da Companhia Santista de Habitação Econômica
Ainda no século XVIII, devido ao crescimento das atividadesexportadoras do Estado de São Paulo, fez-se necessário areestruturação do território calcada no eixo de exportação e depenetração. Primeiramente, foi criada uma ligação entre Santos eSão Paulo, centralizando, em um único porto18 – o de Santos -,todo o sistema de exportação. Foi criada toda uma malha ferroviáriaque adentrava rumo ao oeste paulista e, mais tarde, ao sudoeste,em direção ao Paraná. Os engenheiros, por meio do setor de obras,exerceram um papel predominante na implantação dessa infra-estrutura:
“Interesses econômicos e políticos combinaram-se, portanto, para oestabelecimento de uma estrutura centralizadora e expansionista,configurada na rede ferroviária que ligava o planalto ao porto e seirradiava pelo interior” (Malta Campos, 2002, 43-44).
Mas a ligação entre as cidades de São Paulo e Santos ia maisalém da conexão física. Até o ano de 1929 – ano do “crack” dabolsa de Nova York –, o crescimento das duas cidades apresentavaimportantes pontos de semelhança. Santos não era somente saneadapela sua Comissão de Saneamento, como também era modernizadapela sua arquitetura. Vários engenheiros-construtores, engenheiroscivis e arquitetos formados nas escolas de São Paulo e de outrosestados trabalharam na cidade, entre os quais podemos citarRoberto Simonsen e seu colega de turma na Politécnica, FranciscoTeixeira da Silva Telles.
Simonsen começou trabalhando na construção da SouthernBrazilian-Railway, depois passou a ser engenheiro-chefe daComissão de Melhoramentos do município de Santos. Conformelembraria mais tarde, a maioria dos engenheiros, naquela época,fazia parte dos “quadros de funcionalismo técnico” dos serviçospúblicos, atuando como profissional assalariado nas obras deabastecimento de água, esgotos, iluminação, calçamentos etc. Apósdeixar a Prefeitura, em 1912, Simonsen passou a atuar comoengenheiro-proprietário ao fundar, como principal acionista ediretor-superintendente, a Companhia Construtora de Santos que,nas palavras de Heitor Ferreira Lima, foi a “célula mater das [suas]empresas, permanecendo na sua direção até 1940” (Lima, 1963, 54apud: Silva, 2000, 66).
Uma viagem, neste período, para os Estados Unidos, foiimportante para seu projeto de estruturação da empresa, baseadonos princípios da administração científica. Desse país trouxe as idéiasde F. Winston Taylor19 para o Brasil: “Ao recordar, (...), ter sido aCompanhia Construtora de Santos uma das pioneiras, entre nós, naorganização científica do trabalho, cujos métodos procurou aplicar hámais de 25 anos,...” (Simonsen, 1942, 13-14). Essa organização foi
18 A existência de um único portosubstituía todos os outros o quedefiniria somente um trajeto: SãoPaulo a Santos (ver: CAMPOS,Cândido Malta (2002). Rumos dacidade, urbanização emodernização em São Paulo. SãoPaulo, Editora SENAC).
19 Em linhas gerais, os princípiosformulados por F. W. Taylor esintetizados em sua obra “Theprinciples of scientific managment”(1911) referiam-se ao controle,pela gerência, das decisões tomadaspela mão-de-obra no desempenhode suas tarefas, através dadissociação do processo de trabalhodas especialidades dostrabalhadores; da separação entrea concepção dos métodos e técnicasde trabalho e a sua execução; e,finalmente, da seleção e dotreinamento ‘científico’ (pelagerência) do trabalhador (ver:Taylor, F. W. Princípios daadministração científica, e, Rago,Margareth e Moreira, Eduardo. Oque é taylorismo?).

109
CA
PÍTU
LO 2. A
s Iniciativas
Planta de Santos com alocalização de todos osempreendimentos daCompanhia Construtora deSantos, no ano de 1917(Companhia Construtora deSantos, 1918).
Foto de uma das casas operáriasconstruídas pela CCS para aCompanhia Santista deH a b i t a ç ã oE c o n ô m i c a ( C o m p a n h i aConstrutora de Santos, 1918).

110
O “
lar
conv
enie
nte”
Propaganda da CompanhiaCerâmica São Caetano, outraempresa que Roberto Simonsencriou para o conglomerado daCompanhia Construtora deSantos (Ä Construção em SãoPaulo, 1924).
Propaganda da CCS publicada narevista “A Construcção em SãoPaulo”(“A Construção em SãoPaulo, 1925).
Propaganda da firma “LarBrasileiro”, publicada no jornal“O Estado de São Paulo”, em 01de junho de 1931.

111
CA
PÍTU
LO 2. A
s Iniciativas
mostrada e enaltecida como iniciativa “pioneira”, na manchete decapa do periódico A Tribuna de Santos, de 2 de janeiro de 1914. ACCS era formada pela centralização em uma empresa de diversossetores, tais como pedreira, serralharia e carpintaria, oficina demecânica, funilaria, depósito de materiais (“materiais usadosimportados da Bélgica, Alemanha, Inglaterra, França, Estados Unidos,Itália e Suíça”), depósito de mecanismos e ferramentas, seção detransportes e escritório técnico (A Tribuna de Santos, 2 jan. 1914,3).
Apesar da crise do setor durante a Primeira Guerra, osmembros do Conselho Fiscal salientaram que, em 1917, a empresaatingiu “notável grau de desenvolvimento e aperfeiçoamento”, sendoainda aquele o ano de maior expansão desde sua fundação. Istoocorreu por Roberto Simonsen ter “encaminhado para a Companhiaos serviços de outras grandes empresas que estão sob sua direção, nestacidade” (Companhia Construtora de Santos, Balanço geral de 13de dez. de 1917 apud: Silva, 2000, 66). Tal expansão deve-se, emgrande medida, a outros empreendimentos subsidiários quecriaram, na expressão de Ferreira Lima, “uma espécie de ‘mercado’para as realizações da CCS”, surgindo, assim, ao longo dos anos, aCompanhia Santista de Habitação Econômica, a CompanhiaParque Balneário, a Companhia Brasileira de Calçamento e aCompanhia Frigorífica de Santos, “todas elas desempenhando umafunção na expansão econômica ou topográfica de Santos” (Lima, 1963,36 apud: Silva, 2000, 66).
Este desenvolvimento espetacular, antes e durante a guerra,deveu-se ao apoio e favores dispensados pelo poder municipal. Deacordo com a investigação de Coraly Gará Caetano:
“segundo a Lei Orgânica dos Municípios, Lei 1.038, foi concedida aprimazia por cinqüenta anos para esta empresa dirigir as obraspúblicas, com a isenção de impostos industriais, prediais e profissionais.Não sendo preciso, ainda, a abertura de concorrência pública”(Caetano, 1994, 29 apud: Silva, 2000, 67).
Tal interferência confirma-se na leitura dos documentos daprópria Prefeitura20 que tratavam da construção de casas destinadasa operários. Esta ação foi fruto de concessão pelo poder municipalà Companhia Santista de Habitação Econômica, criada porSimonsen em 1912, mesmo ano da lei. Simonsen assinalou, trintaanos depois dessa iniciativa, que o objetivo dessa ação, em conjuntocom as ações do médico e higienista - Dr. Guilherme Álvaro -, eracombater os cortiços e as habitações insalubres de Santos, do iníciodo século XX, através da edificação de um “bairro operário modelo”.O engenheiro analisou em seu relatório da CCS, relativo ao ano de1917:
20 A lei 01, de julho de 1912,votada na Câmara Municipal,concedeu alguns favores para oscapitais que se empregassem naconstrução de vilas operárias. A VilaBelmiro adotou o nome do Prefeitode Santos que promulgou a lei.

112
O “
lar
conv
enie
nte”
“onde fossem observados os mais rigorosos preceitos technicos, desdea locação até a construção de seus mínimos detalhes – casava-se asua solução perfeitamente com os interesses de nossa empresa; poisteríamos assim uma grande construção de caráter permanente,permitindo, talvez, equilibrar as sinuosidades do diagrama querepresentava os trabalhos a nós confiados, causadas naturalmentepela intermitência das iniciativas dos particulares em matéria deconstrução, ao mesmo tempo amparando a novel empresa econcorrendo para o fornecimento de habitantes para a villaoperária” (Simonsen, 1919, 39).
Para tal, Simonsen aproveitou-se das condições cambiais domomento e abriu concorrência no meio especializado nos EstadosUnidos, entre construtores e fabricantes de materiais de construção,visando obter habitações econômicas que seriam edificadas em sériee por processo ‘maquinizado’ 21. Por essas razões, a VilaEconomizadora de Simonsen ficou conhecida como “Casas Ford”.O nome Ford, na época, era sinônimo de produção industrial,cujo maior símbolo eram os automóveis produzidos por essamontadora.
A concorrência foi atendida com inúmeras propostas, sendoa vila construída com materiais de construção e projetos norte-americanos: “A primeira habitação coletiva do bairro foi construídacom o esqueleto em concreto armado, composto de elementos adquiridosem uma das firmas que se apresentaram nessa concorrência”(Simonsen, 1919, 40). Esta primeira habitação constituiria a“célula” de um sistema de moradia. Localizava-se em “terrenos altos,amplamente ventilados e pitorescamente dispostos, de fácil acesso,...”(Simonsen, 1919, 39-40). O arruamento foi organizado, segundoum projeto que obedecia
“aos mais modernos preceitos da ‘Town-planning’; as primeirashabitações coletivas, constituindo as cellulas dos grandes quarteirõese os exemplos de casas para aquisição direta dos mutuários, empequenas prestações, lá estão à vista de todos, e provando também,pelo modesto interesse com que retribuem o capital já gasto, que nãosão positivamente as “decantadas villas” os frutos inesgotáveis de rendasfabulosas” (Simonsen, 1919, 40).
Entretanto, logo se percebeu que o problema para ocapitalista não estava no custo da construção, na técnica ou nosmateriais empregados, mas no retorno dos capitais invertidos queera precário diante da pouca remuneração da massa trabalhadora.Sobre esse assunto, disse em 1919:
“A experiência que colhemos das construções já feitas nos levou àconvicção de ser impossível, à vista das exigências legais, a edificaçãode vilas operárias econômicas por particulares, comportando umajusta remuneração do capital empregado” (Simonsen, 1919, 41).
21 Tal termo foi o usado porSimonsen em seu discurso inauguralda Jornada de HabitaçãoEconômica, promovida peloIDORT, que ocorreu em 1941.

113
CA
PÍTU
LO 2. A
s Iniciativas
Vinte anos depois, reafirmou esta avaliação:
“Podem os arquitetos e construtores se esmerar no estudo deconstrução, projetada com as máximas tolerâncias admissíveis,quanto a dimensão, materiais e equipamentos utilizados, e nãoconseguirão obter um tipo de moradia cuja amortização e jurosestejam ao alcance da grande massa operária e das classes menosfavorecidas” (Simonsen, 1942, 15).
E concluiu: “Daí os cortiços, as favelas, os mocambos, os‘querozenes’ das nossas cidades, e as casas de barro cru e de palha, denosso homem do campo” (Simonsen, 1942, 15). Parte do fracassodessa iniciativa envolveu um conflito entre métodos: aadministração científica versus o empirismo das práticas correntesda construção civil. Também se relacionou com os limites deretorno financeiro diante da baixa remuneração do trabalhador.Para Simonsen, esta empreitada seguiu passo a passo todas as regrasde um bom empreendimento, no entanto, tal procedimento nãoimpediu que o custo da habitação ficasse acima do possível aotrabalhador.
Para ter um resultado mais rápido e momentâneo, a Prefeiturade Santos preferiu construir casas de madeira, mais baratas eacessíveis. Cada um teria a sua “casinha” isolada, ao invés das“habitações coletivas” ou das “casinhas Ford” construídas pelaCompanhia Santista de Habitação Popular na Vila Belmiro. ParaSimonsen, esta solução envolveu a questão de educação e de higiene,já que as casas de madeiras eram de qualidade inferior e insalubres.
Empreendimentos como esse marcaram as ações da iniciativaprivada nas décadas de 1910 e 1920, em São Paulo. Em 1930, essaprática já se mostrava em fase de esgotamento. Nesse momento, aação do poder público em relação ao problema da habitação popularficou restrita à promoção de incentivos e favores a companhiasparticulares, associações e indivíduos. Deste modo, a construçãode “vilas operárias” se revelou uma oportunidade de realizar bonsnegócios, pela rentabilidade alcançada com auxílio dessesincentivos, que visavam, por um lado, permitir a acessibilidadedos proletários às casas construídas e, por outro, incentivar osempreendimentos de tal caráter. No entanto, esses incentivos nãoexigiam das empresas garantias que obrigassem a tornar as moradiasacessíveis ao poder aquisitivo médio do operariado. Normalmente,a acessibilidade dos operários a essas habitações era permitida somenteàqueles que tinham benefícios maiores. Aos outros restavam as“habitações coletivas”, cortiços e casas de cômodos.