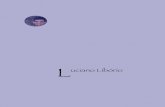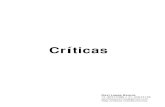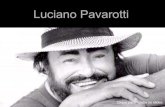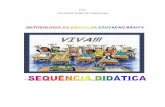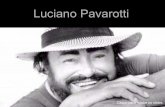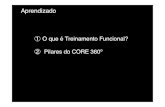Descosturando para construir: Contribuições para a ... · 3 Essas críticas à produção...
Transcript of Descosturando para construir: Contribuições para a ... · 3 Essas críticas à produção...
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO
Discente: Milena de Mayo Ginjo
Orientador: Prof. Dr. Sergio Nojiri
Descosturando para construir: Contribuições para a elaboração de novas perspectivas para o ensino
jurídico no Brasil
RIBEIRÃO PRETO 2013
MILENA DE MAYO GINJO
Descosturando para construir: Contribuições para a elaboração de novas perspectivas para o ensino
jurídico no Brasil
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob orientação do Professor Doutor Sérgio Nojiri.
RIBEIRÃO PRETO
2013
Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.
FICHA CATALOGRÁFICA
Ginjo, Milena de Mayo Descosturando para construir: contribuições para a elaboração de novas perspectivas para o ensino jurídico no Brasil. / Milena de Mayo Ginjo – Ribeirão Preto, 2013. 60 p. Trabalho de Conclusão de Curso – Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo Orientador: Sérgio Nojiri
À Antônia, minha avó, que será sempre meu
exemplo. Na certeza de que me acompanhará em
todos os caminhos.
AGRADECIMENTOS
Apesar do risco de incorrer no sentimentalismo próprio de final de curso, farei uso
desse espaço para exercer um pouco de subjetividade em um conjunto que se pretende, ao
menos um pouco, objetivo.
Agradeço ao meu orientador, Professor Sérgio Nojiri, que ao tratar sempre nós alunos
como iguais, nos possibilita a confiança para alçar voos filosóficos sem que tenhamos que
nos preocupar com a queda antes mesmo de considerar o salto. Por não nos subestimar,
também não nos poupa das críticas, provavelmente por confiar em nossa capacidade em
lidar com elas. Obrigada pela confiança, apoio e entusiasmo nos últimos anos, e
principalmente durante a execução desse trabalho. Ao final desses (quase) cinco anos, além
de professor, será sempre um amigo.
Ao Professor Paulo Eduardo, que ao resignificar o até então formalista e dogmático
Processo Civil, me conduziu a novas possibilidades de pensar o direito. O contato com as
discussões sobre ensino, a princípio, e o posterior envolvimento com a pesquisa empírica
em direito, foram fundamentais para chegar ao final do curso com mais entusiasmo do que
frustrações. Obrigada pelas oportunidades de descobrir um novo caminho de reflexões.
Aos amigos, Charles, Larissa, Heloísa, Gabriel, Ricardo, Vinícius e Nina. Por mais
que nossas relações se deem no campo da informalidade, seria incompleto não considerar
vocês aqui. O exercício diário e incansável do diálogo resignificou os espaços da minha
formação. O nosso convívio faz valer a ideia de que não há educação, no bonito sentido
Freiriano, sem experiência, sem subjetividade. Obrigada por darem sentido (ou sentidos) ao
meu mundo. Também ao Alan, que foi apoio fundamental da introdução ao ponto final
desse trabalho. Obrigada por me inspirar a seguir sempre os caminhos mais sinceros.
Ao meu pai, mãe e irmão, agradeço por terem vislumbrado desde o início que
Ribeirão Preto era uma escolha que guardava boas surpresas para mim. Esse olhar
visionário, amparado de confiança, foi fundamental para abrir meus olhos para as
possibilidades desse caminho inesperado. Somos prova de que família não é unida por
espaço geográfico, e sim por laços de afeto.
Menos é mais. Para não cometer execessos (se já não os cometi), deixo muitos de
fora. Não faltarão oportunidades (espero que não em outro TCC) para dizer meu obrigada a
quem de alguma forma contribuiu para esse trabalho.
‘’ Cada nação e cada povo possuem a universidade que merecem.
Acabaremos muito mal, neste terreno,
se não soubermos o que queremos e, principalmente,
se não soubermos lutar pelo que queremos.
Clarificar nosso pensamento a esse respeito
vem a ser parte de uma situação de luta,
na qual não poderemos ser poupados e nem nos poderemos poupar.’’
(FERNANDES, Florestan. 1979, p.29-30)
SUMÁRIO
1INTRODUÇÃO................................................................................................................11
2 DIAGNÓSTICO CRÍTICO SOBRE O ENSINO JURÍDICO NO BRASIL NA
PERSPECTIVA DA SOCIOLOGIA JURÍDICA............................................................15
2.1 De onde viemos? Considerações gerais sobre o processo de constituição da
tradição na qual nos inserimos……………………………………………....…………..15
2.2 O olhar da sociologia jurídica……………………………….………....…………….18
3 DESDOBRAMENTOS DO DIAGNÓSTICO: ALGO MUDOU?...............................25
3.1 Ensino jurídico como uma tarefa política...................................................................27
3.2 Ensino jurídico e o espaço do direito nas pautas institucionais................................28
3.3 O ensino jurídico frente as novas demandas internacionais.....................................30
4 RELAÇÕES ENTRE VISÕES DE CIÊNCIA E VISÕES DE ENSINO: UM
OLHAR SOBRE A EXPERIÊNCIA DO DIREITO.......................................................33
4.1 Método Kingsfield.........................................................................................................34
4.2 Contraponto: o método Keating..................................................................................36
4.3 Tentativa de síntese.......................................................................................................40
5 RELAÇÃO ENTRE PESQUISA E ENSINO: COMO A PESQUISA EM DIREITO
PODE CONTRIBUIR PARA ENSINO JURÍDICO?.....................................................43
CONSIDERAÇÕES FINAIS.............................................................................................53
6.1 Uma escolha consciente................................................................................................53
6.2 Uma escolha ‘’inconsciente’’........................................................................................55
6.3 Coletividade como necessidade....................................................................................56
REFERÊNCIAS..................................................................................................................57
ANEXO................................................................................................................................59
11
1 INTRODUÇÃO
É novidade falar-se em ‘’crise do ensino jurídico’’? Certamente, não. Os elementos
centrais do diagnóstico da ‘’crise’’ consolidaram-se, no Brasil, já na década de 1970.
Resumidamente,
‘’(...) o diagnóstico da crise expressava a incompatibilidade entre o que eram
percebidas como práticas tradicionais do ensino do direito e as necessidades de uma
sociedade em processo de democratização e desenvolvimento, e de um mercado de
operadores do direito em expansão. Estudavam-se as regras (e até casos, mas sempre
como formas de aprender regras), de maneira enciclopédica (na maior parte,
seguindo códigos), individualista (predominantemente, por aulas-conferência) e
acrítica (isto é, privilegiando a assimilação)’’. (FALCÃO, RODRIGUEZ, 2005, p.
4)
Alguns pontos evidenciam os reflexos dessa crise: a constatação de uma baixa
qualidade dos trabalhos científicos desenvolvidos na área1 é um exemplo recorrente. Entre as
causas apontadas, está a constatação de que o ensino não acompanhou as profundas
transformações pelas quais a sociedade brasileira passou nas últimas décadas. Apegado a um
formalismo anacrônico, a avaliação feita é a de que o ensino tradicional adotado pelas
universidades precisava de uma urgente reformulação2.
Embora esse diagnóstico seja conhecido há anos, as poucas soluções adotadas até
agora – como a flexibilização curricular e a introdução de maior número de disciplinas
teóricas – não surtiram os resultados esperados (GUSTIN, 2010).
Por que então insistir em discutí-lo? Por que importa ainda pensar o ensino do direito
1Em prefácio do livro ‘’(Re)pensando a Pesquisa Jurídica’’, o Professor José Eduardo Faria afirma que ‘’os julgamentos dos projetos de pesquisa em Direito no âmbito CNPq, dos quais participo como integrante do comitê assessor nessa área, têm sido monocórdios e recorrentes. Invariavelmente, a cada sessão 90% dos pedidos são rejeitados logo de início, por falta de um rigzor metodológico. (...) Este problema é de caráter estrutural e está ligado à má qualidade do ensino jurídico, tanto na graduação quanto, em alguns casos, na própria pós-graduação’’. (GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa, DIAS, Maria Tereza Fonseca. 3 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010.) 2‘’Excessivamente formalista e restrito ao aprendizado de códigos ultrapassados, ele [o ensino jurídico] não 2‘’Excessivamente formalista e restrito ao aprendizado de códigos ultrapassados, ele [o ensino jurídico] não acompanhou as sucessivas transformações sofridas pelas instituições de Direito no âmbito de uma sociedade marcada pela velocidade, intensidade e profundidade de suas mudanças. Acima de tudo, o ensino jurídico se destaca pelo flagrante envelhecimento de seus esquemas cognitivos e pelo esgotamento de seus paradigmas teóricos. Por isso, tornou-se incapaz de identificar e compreender a extrema heterogeneidade dos novos conflitos sociais, a enorme complexidade técnica das novas normas, as interdependências cada vez mais presentes no funcionamento da economia, os valores, as demandas e as expectativas por ela gerados na sociedade e a emergência de um sem-número de novas fontes do Direito com a preeminência dos conglomerados transnacionais como atores internacionais’’. (GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa, DIAS, Maria Tereza Fonseca. 3 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010.)
12
no Brasil? Que novas reflexões foram elaboradas desde o diagnóstico de 1970-1980? São
essas as perguntas que estruturam o problema de pesquisa do presente trabalho.
Para desenvolvê-lo, optei por uma abordagem teórica de vertente jurídico-sociológica,
por entender o direito como variável dependente da sociedade. Em relação ao tipo de
investigação, pode ser compreendida entre o tipo jurídico-compreensivo, por buscar a
decomposição de um problema jurídico em seus diversos aspectos, relações e níveis
(GUSTIN, 2010).
Partindo das constatações levantadas a partir da revisão de literatura, estruturei o
trabalho da seguinte forma. No capítulo 2, busco compreender o diagnóstico sobre a crise do
ensino do direito elaborado nas décadas de 1970 e 1980. Para isso, fui buscar primeiramente
referências sobre o processo de consolidação das faculdades de direito no Brasil. Em um
segundo momento, para entender os contornos do diagnóstico, fui à sociologia jurídica das
décadas de 1980 e 1990.
O primeiro objetivo é entender, portanto, o contexto ao qual as críticas encontradas a
partir da revisão de literatura se relacionam. Como as transformações das condições sociais,
políticas e econômicas do País influenciaram para a constatação de que a maneira tradicional
de se ensinar o direito já não era suficiente?
No capítulo 3, o objetivo foi contextualizar, nos dias de hoje, o diagnóstico então
apontado no capítulo anterior. A pergunta central é: por que ainda importa pensar sobre o
ensino do direito no Brasil?
Tendo em vista que as críticas recorrentes ao formalismo, às aulas expositivas, à
monodisciplinariedade, ao fracasso da conciliação entre teoria e prática, não foram capazes de
sozinhas provocar transformações efetivas no modo de se pensar o direito em sala de aula,
busquei abordagens que parecem oferecer novos elementos para a reflexão.
Nesse sentido, no capítulo 4, apresento as ideias do Professor José Garcez Ghirardi em
torno das relações entre visões de ciência e visões de ensino na perspectiva do direito. Para o
professor, é muito difícil negar a relação entre os modos de pensar uma ciência e o modo de
ensiná-la, entre os modos de pensar o direito e a maneira de ensiná-lo.
No capítulo 5, a partir da abertura de perspectiva dada no capítulo anterior, parte-se da
proposta de Joaquim Falcão e Caio Rodriguez de que para se pensar uma transformação no
ensino do direito há que se pensar em diversas frentes inovações, desde a forma de
recrutamento de professores até a forma de relação do aluno com a escola. Partindo dessa
constatação, exploro a perspectiva da inovação a partir da pesquisa jurídica. De que forma a
pesquisa jurídica pode contribuir para a renovação do ensino do direito?
13
Para finalizar, no capítulo 6, exponho as considerações finais do trabalho. A intenção é
apresentar os caminhos que parecem viáveis e construtivos para a tarefa de se pensar uma
possível reversão do quadro de crise do ensino jurídico no Brasil.
Advirto o leitor, desde já, que não me proponho com esse trabalho fazer uma nova
avaliação do ensino do direito no Brasil, ou apresentar soluções definitivas para o que os
teóricos apontam como problemas. Na ambição que cabe a um trabalho de conclusão de curso
de uma ‘’pesquisadora’’ de primeira viagem, busquei ao máximo sistematizar minhas
indagações em relação ao tema para propor um trabalho que tentasse desviar das falhas
usualmente atribuídas não só ao ensino, mas também às pesquisas jurídicas: formalismo,
desconexão com a realidade, reverencialismo, carência de críticas, etc3 . Espero que tenha
chegado próxima dessa tarefa.
Feitas essas observações, espero que a leitura desse trabalho possa contribuir para a
reflexão dos leitores a respeito do ensino jurídico, tanto quanto muito contribuiu para mim o
processo de realizá-lo.
3 Essas críticas à produção acadêmica no campo do direito são exploradas no texto de Luciano Oliveira, ‘’Não me fale no Código de Hamurabi’’, ensaio publicado no livro Sua Excelência o Comissário, de 2004, editora Letra Legal.
15
CAPÍTULO 2
DIAGÓSTICO CRÍTICO: UM OLHAR DA SOCIOLOGIA JURÍDICA SOBRE AS TRANSFORMAÇÕES DO DIREITO NO BRASIL E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA O ENSINO JURÍDICO
‘’O presente é insatisfatório, o futuro é promissor’’. (CAMPILONGO, FARIA, 1991) 2.1 De onde viemos? Considerações gerais sobre o processo de constituição da tradição
na qual nos inserimos
Parece importante tentar entender o percurso do ensino do direito no Brasil para
compreender o diagnóstico de crise apontado na revisão de literatura. Para isso, inicio o
capítulo traçando considerações gerais sobre o trajetória do ensino jurídico no Brasil com o
objetivo de compreender a tradição na qual as faculdades de direito estão inseridas no País. Já
que um dos problemas do ensino parece ser o ‘’ensino tradicional’’ do direito, nada mais justo
do que tentar esclarecer quais são os contornos desse tradicionalismo, suas influências e suas
resistências. Para isso, me fundamentei majoritariamente em uma parte do texto de Oscar
Vilhena Vieira, ‘’Desafios do ensino jurídico num mundo em transição: o projeto da Direito
GV’’.
Há dois grandes modelos de ensino jurídico que até hoje se encontram nas diversas
partes do mundo. Estabelecidos, de um lado, pelas modernas escolas de direito que se
constituíram na Europa, na América Latina e em países como Japão e China, com base no
então novo direito codificado napoleônico, e de outro, nos Estados Unidos, com base no
método de caso implantado por Langdell4. O primeiro, tem seu ensino baseado na letra da lei
e em suas interpretações doutrinárias, ministrado em aulas expositivas em que se busca
privilegiar o raciocínio dedutivo por parte dos alunos. Ou seja, dá-se a regra e pede-se a
solução. No segundo, o ensino é baseado em casos e em suas interpretações doutrinárias, as
aulas são ministradas com um caráter inquisitorial ou socrático, nas quais se busca favorecer o
raciocínio indutivo dos alunos. Nesse caso, dá-se o problema (e as diferentes soluções) e
buscam-se as regras (VIEIRA, 2012).
Para explicar o ‘’surgimento’’ do modelo de educação dogmática, Vieira explica que
as primeiras escolas de direito, que remontam à Universidade de Bolonha, no século XI,
4 O Professor Christopher Columbus Langdell lecionava aulas de direito contratual em Harvard em 1870, e a ele é atribuída a adoção do método de casos nas universidades norte-americanas. Apesar de que há evidências de que não foi o primeiro a usar esse método, ele teve a oportunidade de moldar o programa da influente Escola de Direito da Universidade de Harvard o que inevitavelmente irradiou para as demais programas de direito nos Estados Unidos. Em: http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Langdell,+Christopher+Columbus acesso em 22 de agosto de 2013. Tradução livre.
16
estavam diretamente associadas ao método escolástico e a glosa, o que levou necessariamente
essas escolas para longe da prática do direito. Devido ao contexto no qual os alunos
provinham de diversos lugares, nos quais o direito vigente era distinto e fragmentado, grande
parte das escolas deixou às corporações, aos operadores e ocasionalmente às próprias cortes a
função de introduzir os alunos ou aprendizes no mundo real do direito (BRUNDAGE, 20085
apud VIEIRA, 2012). Surge desse contexto um modelo de educação jurídico dogmático que
repercute até hoje no continente europeu, e também na América Latina (MONTOYA, 20106,
apud VIEIRA 2012) e em países asiáticos de civil law. Mesmo com as demandas
subsequentes do processo de formação dos Estados modernos e da expansão do
mercantilismo, que colocaram mais pressão para que as escolas de direito preparassem
funcionários, juízes, promotores e, subsidiariamente, advogados, parte da formação prática
sempre foi deixada do lado de fora da escola (VIEIRA, 2012).
No Brasil, Segundo Vieira, esse é o modelo que seguimos. Tradicionalmente, o ensino
se focou no estudo das leis, por intermédio da doutrina. Joaquim Falcão aponta, entretanto,
que a criação dos cursos de direito no Brasil em 1827 era mais orientada à prática e
diretamente condicionada à formação de profissionais que pudessem servir ao Estado em
formação e aos negócios que impulsionavam a economia.
O bacharel era preparado para múltiplas funções de poder, não apenas a de advogado. Vieira
afirma que por isso se deu a introdução do estudo de economia e política nos currículos. Nas
suas origens, os cursos eram, portanto, mais instrumentais do que teóricos. Para Falcão, se
tornaram voltados mais para a teoria na medida em que não se atualizaram e se distanciaram
da realidade, passando a ser autorreferentes (FALCÃO, 1974). Conforme a tradição europeia,
a face mais operacional da educação jurídica ficaria sob a responsabilidade dos que
empregavam esses bacharéis.
Noa Estados Unidos, até meados do século XIX, poucas universidades ofereciam aulas de
direito. Em 1871, Oliver W. Holmes descreve o ensino de direito em Harvard como uma
‘’desgraça’’ (MINOW, 20107, apud VIEIRA 2012). O cenário ganhou novos contornos com
Langdell, que inspirado na reforma do ensino universitário na Alemanha e buscando criar
uma ciência pura do direito, fundou o que se denominou a moderna escola de direito norte-
5 BRUNDAGE, James. The medieval origins of the legal profession: canonists, civilians, and courts. Chicago: Chicago University Press, 2008. 6 MONTOYA, Juny. The current state of legal education reform in Latin America: a critical appraisal. Journal of Legal Education, Los Angeles, v. 59, n. 4, p. 545-566, 2010 7 MINOW, Martha. Legal education: past, present and future. Conferência realizada na Harvard Law School. abr. 2010. Disponível em: <http://www.law.harvard.edu/news/spotlight/classroom/related/ legal- education-past-present-and-future1.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2012.
17
americana. O método de caso8 foi a saída encontrada para um sistema que não dispunha de um
corpus de leis positivas, como os franceses ou alemães. Langdell entendeu ser preciso
debruçar-se sobre decisões judiciais para encontrar os princípios de sua ciência do direito.
Para o professor, assim como os estudantes de biologia dissecavam organismos para
compreender suas estruturas, os estudantes de direito deveriam dissecar decisões judiciais
para entender seus princípios (FRANK, 19479 apud VIEIRA, 2012).
Com a progressiva inserção das escolas de direito no ambiente universitário e com a
criação de uma carreira acadêmica mais estável, as escolas norte-americanas foram
negligenciando o ensino prático. Nas escolas de elite, passou a prevalecer o interesse dos
professores em se tornarem aceitos como acadêmicos. Essas escolas passaram a ser duramente
criticadas pelo seu deslocamento da realidade, pois não permitiam a formação paralela de seus
alunos pelas corporações de advocacia.
Entretanto, essa crítica ofusca um aspecto importante do ensino por intermédio do
caso10. Para Vieira, sem o método de caso, dificilmente teríamos o surgimento do realismo
jurídico, ao menos da forma como ele se configurou, em contraste e oposição ao formalismo
langdelliano. A crítica realizada pelos realistas, associada à crise do modelo liberal de Estado,
com a quebra da bolsa em 1929 e o surgimento de um Estado intervencionista e regulador,
impôs às escolas de Direito norte-americanas a necessidade de repensar suas estratégias de
ensino. O autor nos conta que na Faculdade de direito da Universidade Columbia,
simultaneamente ao movimento realista, surgiu a tentativa de treinar os alunos de direito para
que pudessem operar as políticas públicas do Estado regulador e de bem-estar (LASSELL;
MCDUGALL, 194311, apud VIEIRA, 2012). A conclusão era de que as escolas de direito não
mais poderiam permanecer alienadas à inflação legislativa e regulatória, o que forçava uma
mitigação da exclusividade do método do caso.
No Brasil, o bacharelismo era encarnado por Rui Barbosa, que na opinião de Oliveira
Vianna, propunha soluções ingênuas baseadas em uma concepção formalista e abstrata de
direito, que era na maioria das vezes importada (VIANNA, 197412 apud VIEIRA 2012). Para
8 ‘’o método do caso, que equivocadamente é tomado, por muitos, como expressão máxima do ensino prático de direito, tinha uma finalidade completamente distinta’’. (VIEIRA, 2012, p. 24) 9 FRANK, Jerome. A plea for lawyer-schools. The Yale Law Journal, New Haven, v. 56, n. 8, p. 1303-1344, 1947. 10 ‘’As discussões encontradas dentro de acórdãos oferecem uma enorme oportunidade para que os estudantes convivam com uma dimensão real do direito e descubram que argumento morais, políticos e econômicos também povoam decisões judiciais’’. (VIEIRA, 2012, p. 25) 11 LASSWELL, Harold; MCDUGALL, Myers. Legal education and public policy: professional training in the public interest. The Yale Law Journal, New Haven, v. 52, n. 2, p. 203-295, 1943. 12 VIANNA, Francisco José de Oliveira. Instituições políticas brasileiras. Rio de Janeiro: Record, 1974. 2 v.
18
Vieira, apesar do alinhamento político conservador de Oliveira Vianna, ele estava afinado
com o pensamento jurídico crítico de seu tempo13.
Em 1955, San Tiago Dantas proferiu uma aula inaugural sobre a educação jurídica e a
crise brasileira que repercutiu de uma maneira polida e tangencial o acirrado debate que
estava ocorrendo na Europa e nos Estados Unidos e que, no Brasil, não havia encontrado tanto
eco, mesmo com os argumentos de Oliveira Vianna e com as necessidades colocadas pela
mudança de nosso modelo econômico e político. San Tiago Dantas apontou, no contexto
brasileiro, crise similar àquela experimentada pelo ensino jurídico europeu, que se distanciou
da realidade social, focando-se na produção e na difusão de conhecimento doutrinário.
Apesar de algumas experiências de ‘’modernização’’ realizadas nos anos 1960 e 1970,
manteve-se no Brasil, assim como em grande parte da América Latina, o modelo de educação
dual, com ensino de doutrina nas faculdades e da prática nos escritórios e repartições públicas
(BOHMER, 199914 apud VIEIRA 2012). A longevidade dos dois modelos tradicionais, que
têm sido apenas relativamente modernizados, é impressionante. Para Vieira, confirmam em
certa medida a proposição de Douglass North de que uma vez estabelecidas as instituições, é
muito difícil alterar sua natureza (NORTH,199115 in VIEIRA, 2012, p. 28).
2.2 O olhar da sociologia jurídica
Aparentemente, foram os sociólogos do direito que deram início ao processo de
questionamento do ensino jurídico, levantando questões que até hoje são postas em debate
quando se pensa, criticamente, o que acontece dentro das faculdades de direito16.Tendo em
vista os contornos gerais do processo de estabelecimento do ‘’modelo tradicional’’ de ensino
do direito no Brasil, esse entendido a partir de sua dualidade entre ensino teórico e prática, em
que o primeiro é ensinado nas faculdades e o segundo nos escritórios, passo a apresentar as
análises da sociologia jurídica em relação a esse modelo e suas interações com a sociedade.
13 O autor faz menção a Geny, Houriou, Ehrlich, Pasukanis e Schmitt na Europa, e Llewellyn e Frank nos Estados Unidos. ‘’Para esses autores, havia a necessidade de uma completa reformulação das bases teóricas pelas quais se deveria tanto estudar como ensinar o direito P. 26 (LOPES; GARCIA NETO, 2009)’’. 14 BÖHMER, Martin. La enseñanza del derecho y el ejercicio de la abogacía. Barcelona: Gedisa, 1999. 15 NORTH, Douglass. Institutions. The Journal of Economic Perspectives, Nashville, v. 5, n. 1, p. 97-112, 1991. 16 ‘‘Curiosamente, grande parte dos trabalhos sobre ensino jurídico publicada no Brasil, ao longo dos anos 1980, foi basicamente produzida ou por professores de sociologia jurídica ou por pesquisadores simpáticos a um ensino com uma orientação sociológica do direito. Isso poderia conduzir à falsa ideia de que tais autores seriam suspeitos para fazer a defesa do ensino da sociologia jurídica - em termos gerais, aqui definida como a disciplina que não apenas concentra sua atenção na experiência jurídica (...), mas que também estuda e avalia as implicações sociais inerentes ao direito positivo, especialmente o que tem escapado da monodisciplinariedade e das categorias tradicionais dos paradigmas normativos, concentrando sua análise no fluxo e refluxo da regulamentação social e da regulamentação jurídica’’. (FARIA, CAMPILONGO, pag. 27)
19
A Fundação do Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) reuniu em julho de
1987 um grupo de professores de algumas das mais renomadas escolas de direito de São
Paulo para formular um diagnóstico sobre a situação da pesquisa e do ensino jurídico: ‘‘Ele nem é profissionalizante nem humanista, destacando-se por seu caráter
retórico, por seu distanciamento da realidade socioeconômica, por seu excessivo
formalismo operacional e metodológico e por seu apego ao ‘‘senso comum’’, cujas
falsas certezas mascaram a ausência de uma reflexão científica.(...) É preciso enfatizar
um ensino mais formativo e preocupado em fornecer ao corpo discente um
background cultural mais rigoroso, a partir de um enfoque multidisciplinar e sensível
aos problemas socioeconômicos emergentes que, nos últimos tempos, têm exigido
institutos jurídicos novos, menos formais e mais plásticos – como, por exemplo,
institutos relativos aos direitos humanos, ao direito à subsistência e ao direito à
previdência. A avaliação da pesquisa constatou que não há (a) padrões mínimos de
avaliação qualitativa, (b) reflexão metodológica dotada de um mínimo de
credibilidade, (c) orientações precisas e modernas, (d) massa crítica, capaz de abrir
caminho para uma autocrítica científica, (e) critério de seletividade dos temas, (f)
disposição de se fazer algo mais a não ser a repetição dos velhos trabalhos de caráter
exegético. Daí a necessidade de se enfatizar, às agências institucionais, um empenho
direcionado à recuperação dos cursos de pós-graduação, sem o que o problema de
pesquisa no âmbito do Direito não será equacionado. De acordo com o grupo, a pós-
graduação em Direito precisa ser mais investigativa, mais formativa, mais
multidisciplinar, mais preocupada com temas novos, mais teórica e mais afastada do
excesso de academismo impregnado de uma vulgata positivista e normativista, que
julga ser ciência aquilo que é mera técnica legal. A conclusão é a de que a perspectiva
histórica, a densidade crítica, o rigor metodológico, a ênfase multidisciplinar e a
imposição de padrões qualitativos mínimos estão associados à necessidade de uma
pós-graduação mais sólida em seus aspectos eminentemente formativos (Filosofia do
Direito, Teoria do Direito, Sociologia Jurídica, História do Direito, Hermenêutica,
etc.) e mais rigorosa em seus aspectos basicamente dogmáticos (Direito Civil,
Comercial, Penal, Processual, etc., preferencialmente examinados a partir de seus
problemas fundamentais). Mas, para tanto, será necessário rever o conceito tradicional
de ciência do direito, questionar as concepções juridicistas sobre a lei e a coerção,
negar a visão reducionista que apreende o direito como um discurso punitivo e
moralmente comandado, captar as funções políticas e ideológicas das concepções
juridicistas sobre o Estado, e propor uma análise apolítica e formalista do Estado. ’’17
17 p. 30 - cf. Fundação de Amparo à pesquisa, área de ciências humanas e sociais, subárea: direito, 18/06/1987 In FARIA, CAMPILONGO
20
A partir desse diagnóstico, o objetivo será entender o contexto que gerou sua
elaboração. Para tentar compreender os motivos que ensejaram as críticas ao ensino presente
no trecho acima, segui a análise apresentada por José Eduardo Faria e Celso Fernandes
Campilongo no livro ‘’A sociologia jurídica no Brasil’’.
Mais do que percorrer os caminhos da sociologia jurídica no Brasil, o objetivo é poder
visualizar, a partir desses caminhos, a gestação do processo de questionamento do direito por
esse campo do conhecimento. A contribuição dos sociólogos do direito para a compreensão
das interações entre as transformações sociais e o direito é, portanto, parte essencial para essa
tarefa.
Para discutir a sociologia jurídica no Brasil, os autores contextualizam a profissão
jurídica no cenário político, econômico e social do País a partir do regime de 1964 até o
período de redemocratização. Desnecessário aqui refazer o caminho traçado. Parece
importante o ponto final da análise, no qual afirmam que como decorrência da complexidade
socioeconômica fruto do veloz processo de industrialização pelo qual o País passou na
segunda metade do século XX, as atividades práticas dos advogados passaram a exigir novos
graus de especialização funcional e técnica em sua formação profissional. Uma das razões
apontadas é o fato de que, ao lado de suas preocupações de natureza profissional, muitos
desses advogados também estavam assumindo uma postura eminentemente política,
engajados em movimentos sindicais, comunitários e populares, valendo-se dos aspectos
ambíguos e contraditórios do direito positivo para uma ‘‘praxis liberadora’’ das estruturas
normativas, em busca de uma efetiva justiça material. Como resultado desse processo,
identificam que as especializações comuns e unidisciplinares passaram a ceder espaço a novas
especializações mais ligadas à moderna produção agrícola, industrial, comercial e de serviços
e aos novos conflitos dela decorrentes, o que requeria um saber crescentemente
multidisciplinar e antiformalista (CAMPILONGO, FARIA, 1991).
O formalismo se mostra mais uma vez questionado no período de transição política
que decorreu na Assembleia Constituinte em 1987, no qual a profunda crise organizacional do
Estado conviveu, e de certa forma permitiu, o que os autores denominaram a gestação do
novo direito. Esse Estado havia se convertido numa ampla e desarticulada arena de conflitos
sociais, os quais por serem cada vez menos absorvidos pelos canais tradicionais de
representação política e pelos mecanismos judiciais em vigor - tal a dificuldade do
formalismo jurídico de conjugar mudança e permanência de modo controlado e de colocar em
perspectiva democrática os fenômenos socioeconômicos recentes - exigiram soluções
institucionais inovadoras e criativas nos domínios da relação entre capital e trabalho, da
21
estrutura fundiária, da eliminação da pobreza, do equacionamento da violência, da
reorganização da produção e da vida comunitária, etc. (CAMPILONGO, FARIA, 1991)
O desafio da Constituinte era, portanto, lidar com as complexidades decorrentes do
processo de profundas e rápidas transformações econômicas, políticas e sociais das últimas
décadas, que além de produzir uma nova e mais complexa composição de classes, gerou
também conflitos inéditos para os quais as leis e seus respectivos procedimentos judiciais não
forneciam mais respostas satisfatórias e eficazes.
Apesar, ou mesmo devido a essa crise, os novos modos de juridicidade emergentes
passaram a se descolar paulatinamente dos critérios de racionalidade formal do ordenamento
tradicional, ao mesmo tempo em que também foram consolidando uma práxis decisória cada
vez mais orientada pela racionalidade substantiva dos novos interesses de classe em confronto
(CAMPILONGO, FARIA, 1991). O papel dos sociólogos era, portanto, encarar essa realidade
a partir de seu universo jurídico:
‘’Diante desse amplo cenário de tensões, conflitos e contradições, não pode existir
para o sociólogo do direito um campo de observação mais fascinante e carente de
análises. Trata-se de uma realidade que, encarada a partir de seu universo jurídico,
revela dimensões flagrantemente paradoxais’’ (CAMPILONGO, FARIA, p.24)
Como exemplos dessas dimensões, apontam situações contraditórias que estavam em pauta à
época - e talvez estejam até hoje -, como o fato da criminalidade e da violência urbanas
atingirem níveis alarmantes, apesar dos rigores da lei penal; da Constituição haver criado
reservas indígenas e tornado obrigatória sua proteção, ao mesmo tempo em que garimpeiros
invadiam essas terras e comprometiam seu equilíbrio ecológico com sua atividade predadora e
predatória; ou o fato de ter assegurado os mais variados direitos sociais aos segmentos
desfavorecidos da população, entretanto, sem eficácia devido à falta de regulamentação.
Diante deste contexto, surge a questão: qual é de fato a utilidade de um ensino jurídico
de natureza exclusivamente lógico-formal? Para que serve uma sofisticada formação de
caráter dogmático se a eficiência do profissional de direito, ao longo década de 1980, como
foi visto, passou a exigir uma intrincada combinação de conhecimento técnico da legislação
com a sensibilidade político-social?
No início da década de 1990, o currículo mínimo oficial dos cursos de direito não
incluía a obrigatoriedade da disciplina sociologia jurídica, apenas a de sociologia geral. O
enfoque sócio-jurídico passou a ser adotado nos cursos de Filosofia e Teoria Geral do Estado
por professores adeptos de teorias até então pouco influentes. É o caso da teoria geral realista,
22
cujos paradigmas são Alf Ross, Karl Olivecrona e Karl English; da teoria geral analítica, cujo
marco referencial é a obra de Herbert Hart; de uma teoria geral do ‘‘discurso jurídico’’,
baseado em Theodor Vieheg e Chaim Perelman, e de uma teoria geral voltada à semiologia do
poder, inspirada num certo momento histórico por Luís Alberto Warat. Mesmo com as
diferenças de métodos e pressupostos filosóficos, os adeptos dessas correntes tinham como
denominador comum o desejo de avaliar as normas também a partir de um ângulo externo
para compreendê-las na sua história e nos seus efeitos, ou seja, ir além das regras internas de
produção do discurso jurídico (CAMPILONGO, FARIA, 1991).
Apesar de não descartarem a especificidade do direito como sistema de controle social
distinto de outros sistemas, a importante contribuição dos adeptos da filosofia analítica e da
filosofia da linguagem em matéria de filosofia e teoria geral do direito foi a de questionar as
várias versões e justificações do positivismo normativista, uma vez que se passou a questionar
a pretensão da dogmática jurídica de se apresentar como o único conhecimento possível do
direito.
O que os autores identificaram à época foi um enorme obstáculo epistemológico por
parte do discurso dogmático, o qual, para os autores, consistia em resistências intelectuais que
travavam e desnaturavam a produção de conhecimentos científicos. Entretanto, o
reducionismo dessas posturas formalistas começou a dar sinais de esgotamento. Esgotamento
esse consequência de alguns fatores, como os movimentos pela ampliação do acesso ao
Judiciário, que ao introduzir as classes populares no universo jurídico, criaram problemas
judiciais até então inéditos e para os quais a dogmática não contava com respostas prévias. E
até mesmo por parte dos próprios juízes, que pressionados por essas novas demandas de
solução de conflitos, passaram a solicitar aos doutrinadores um reexame dos métodos
tradicionais de interpretação jurídica e a reivindicar uma hermenêutica alargada e sensível às
questões de racionalidade material - o que começou a abrir caminho para uma revisão teórica
nas disciplinas mais técnicas.
É o caso, por exemplo, do que se denominou ‘‘Nova Escola Processual de São
Paulo’’. Composta majoritariamente por professores da Faculdade de Direito da USP que
começaram a imprimir em suas pesquisas uma orientação interdisciplinar que procurava
conciliar as tendências do método técnico-científico e do sociológico para estudar os
problemas da efetividade do processo, de sua aderência à realidade social, do acesso à justiça,
23
da informação e da participação popular no processo (GRINOVER, 199018, apud
CAMPILONGO, FARIA, 1991).
Outra iniciativa é a do Programa Especial de Treinamento (PET), patrocinado pela
Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior (Capes), que em convênio
com diversas universidades brasileiras, teve uma orientação na área jurídica de ser voltado
para uma visão interdisciplinar e abrangente do fenômeno jurídico. Nas palavras dos autores
‘‘trata-se de uma estratégia, a longo prazo, de renovação de mentalidades e superação daquela
perspectiva ‘‘abstrata’’ e ‘’ingênua’’, típica da tradição normativista brasileira’’
(CAMPILONGO, FARIA, 1991, pag. 36).
Os autores identificaram à época que a situação dos cursos de pós-graduação não era
muito diferente. Mencionam que em 1989, Aurélio Wander Bastos, através de dados colhidos
na CAPES, constatou que havia 16 cursos de Pós-graduação em Direito, sendo que
institucionalmente a mentalidade dominante nos estudos jurídicos estava voltada para estudos
aprofundados de reprodução dos institutos jurídicos e não para sua crítica.
Como se percebe, não é simples traçar os caminhos do ensino jurídico nas
universidades brasileiras nas últimas décadas. As complexidade das situações vivenciadas
pela pesquisa e pelo ensino no Brasil, da qual este levantamento é síntese incompleta, não
permite rotulações apressadas. As observações feitas por Campilongo e Faria em 1991 ainda
se revestem de atualidade. As rotulações não são compatíveis com um País que, como
observado, acha-se em crescimento tão rápido que toda estatística e todo relatório já estão
atrasados quando impressos (ZWEIG, 1941, apud CAMPILONGO, FARIA, 1991)
18 Novas tendências do direito processual, Rio de Janeiro, Forense Universitária 1990.
25
CAPÍTULO 3
DESDOBRAMENTOS DO DIAGNÓSTICO: POR QUE AINDA PENSAR O ENSINO JURÍDICO?
No dia 9 de agosto deste ano, os alunos da Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo entraram em greve. O estopim para a mobilização, segundo os próprios estudantes,
foi um problema com a matrícula (muitos deles corriam o risco de não se formar por não
haverem conseguido se matricular na quantidade de matérias necessárias e muitos estavam
cansados de ter a sua grade horária definida sem a consideração de suas preferências). A
mobilização em torno desse problema deflagrou um estado de questionamento a respeito de
uma série de elementos presentes nas práticas de ensino da tradicional instituição.
Em carta encaminhada aos professores da instituição assinada pelos estudantes em greve no
dia 27 de agosto de 201319, os estudantes afirmam:
‘’A situação atual nas Arcadas, entretanto, é inaceitável: nosso modelo pedagógico é
uma colcha de retalhos. O aprendizado do direito todo não pode ser compreendido
em cinco anos de disciplinas forçadas, entre obrigatórias e “optatórias”. Isso nega ao
aluno seu papel ativo na construção do conhecimento. Insistir nisso é ineficiente e
leva à conhecida falta de interesse entre estudantes e mesmo entre professores.’’
A greve dos alunos é simbólica. A ‘’Velha e Sempre Nova Academia de Direito’’, como
costuma ser referida por seus membros, com seus 186 anos de história, reconhecida por sua
tradição e tida como exemplo de excelência para as faculdades de direito do País, presencia
nas últimas semanas um movimento que questiona os alicerces pedagógicos de suas famosas
arcadas.
A Faculdade de Direito da USP, ‘’desde sempre destinada a confundir-se com a História de
São Paulo e do Brasil’’20, vive os reflexos de um modelo de ensino que há anos perdeu o
sentido, embora siga agonizando em um cenário pouco aberto a transformações. A descrição
parece verossímil. Realmente, parece que mais uma vez a história do Largo se confunde com
a história do país. A greve dos alunos não representa uma situação isolada e exclusiva desta
faculdade. Ao reivindicarem uma escola que vá além das aulas sem diálogo, de mera ‘’leitura
de código’’ descolada da realidade, em que a extensão e a pesquisa não são valorizadas21,
levanta-se o debate sobre a crise do ensino jurídico no Brasil. Se ainda não há alunos de 19 A íntegra da carta pode ser lida no anexo 1 do presente trabalho. 20 http://www.direito.usp.br. Acessado em 30 de agosto de 2013. 21 Trecho extraído da carta elaborada pelos estudantes (anexo 1).
26
outras faculdadess de direito do país em greve ou se mobilizando de alguma forma para
reivindicar uma mudança no ensino jurídico, talvez seja apenas uma questão de tempo.
Apesar da declaração do então diretor Paulo Borba Casella de que ‘’a faculdade não vive uma
crise grave’’22, a análise aqui proposta vai nono sentido contrário. Sim, há uma crise - e grave
- na Faculdade de Direito da USP e na maioria das faculdades de direito do país. E como já
foi apontado, esse diagnóstico não é inédito, e tampouco recente. E é sobre as ressignificações
dessa crise que se buscará discutir nesse capítulo.
A greve dos alunos faz surgir uma série de questões. Qual é o problema do ensino do
direito no país? Se esse problema foi diagnosticado anos atrás, por que ainda estamos
insatisfeitos? Se houve mudanças, quais foram? É corriqueiro se deparar com discursos
críticos ao modelo atual que reivindicam pela realidade em sala de aula. Que realidade é essa?
Por que o ensino está tão distante dessa realidade desejada?
O Brasil de hoje não é o mesmo analisado por Campilongo e Faria em 1991. Em
decorrência de uma série de reformas, o país vem se reinserindo no plano internacional numa
posição de proeminência23. O direito tampouco é o mesmo24. E o ensino? Será que podemos
afirmar que o ensino jurídico hoje é definitivamente diferente do que teve seu diagnóstico
traçado na década de 1980? Quais são os desafios que esse novo Brasil e esse novo direito
colocam para as escolas de direito? Por que ainda importa refletir sobre o ensino jurídico? São
essas perguntas que me servem de base pra desenvolver esse capítulo. Mais uma vez, sem a
pretensão de chegar em respostas definitivas para cada uma das questões, minha intenção é
entender e, se possível, sistematizar, alguns pontos a respeito do que os pesquisadores
dedicados a refletir e escrever sobre o ensino jurídico estão debatendo atualmente.
Busquei então sistematizar em três eixos os argumentos mais apontadas em relação a
por que importa repensar o ensino jurídico na maneira que é praticado majoritariamente hoje
no Brasil (como já dito anteriormente, a ideia de ‘’ensino tradiconal’’). Primeiro, exponho os 22 Paulo Borba Casella renunciou o cargo, com a justificativa de que não poderia tomar a maioria das decisões exigidas pelos alunos até o final de seu mandado, em março de 2015. Fonte: http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,apos-greve-de-alunos-diretor-interino-da-faculdade-de-direito-da-usp-renuncia,1064732,0.htm. Acesso em 29 de agosto de 2013. 23 ‘’(...) o Brasil vem se reinserindo no plano internacional numa posição de proeminência. Como decorrência de um conjunto de reformas econômicas, financeiras e do setor público, levadas a efeito nos anos 1990, do fortalecimento de políticas de natureza social e da recuperação da capacidade de investir e formular políticas de crescimento, o País criou, nos últimos anos, condições para se reposicionar no cenário econômico internacional. As projeções são de que até o final da década o Brasil ocupe a posição de quinta maior economia do mundo. Evidente que esse otimismo não pode encobrir as enormes fragilidades nos campos econômico, político e, especialmente, social, que comprometem a qualidade e a sustentabilidade de nosso desenvolvimento’’. (Oscar Vilhena Vieira, 2012, p.17) 24 ‘’ Se do final do século XIX ao final do século XX houve um enorme esforço para tornar o direito um campo de conhecimento autônomo da política, da economia, da administração e da moralidade, no mundo pós-moderno essas fronteiras vêm se tornando cada dia mais tênues’’. (idem p. 35)
27
argumentos que apontam para o fato do ensino dodireito ser uma tarefa política, pois implica
uma série de escolhas frente a importantes questões em relação a educação, e nesse sentido, o
papel do docente representa uma responsabilidade que vai além do espaço da universidade; b)
segundo, coloco o debate em torno do fato dos juristas terem perdido espaço para outros
profissionais no estabelecimento das pautas institucionais do País; c) por último, finalizo com
os argumentos em relação às necessidades de se repensar a formação do profissional do
direito frente as novas complexidades colocadas pela globalização.
3.1 Ensino jurídico como uma tarefa política
O impacto do docente vai além do espaço da universidade. Existe uma
responsabilidade pela construção do aluno como sujeito. Essencialmente porque ’’os modos
como os alunos aprende a pensar o mundo em sala exercem forte influência sobre o modo
como pensarão fora dela’’ (GHIRARDI, 2012, p.13).
Nesse sentido, o ensino do direito é uma tarefa política. Principalmente no Brasil em
que o acesso ao terceiro grau é restrito e desigual25. Implica posicionar-se sobre a função
social do ensino superior, ou seja, sobre a própria razão de ser da universidade (GHIRARDI,
2012). Implica, portanto, tomar decisões e posicionar-se frente a questões importantes: a
universidade deve privilegiar o conhecimento especulativo, prioritariamente conceitual e
abstrato, ou deve dar maior ênfase ao conhecimento aplicado, voltado a maximizar sua
possibilidade de utilização prática? Ela deve formar um número necessariamente restrito de
alunos, de modo que a competição selecione os cidadãos mais bem formados e
intelectualmente mais capazes, ou deve abranger o maior número possível de interessados,
ainda que com desequilíbrio nas formações de base, de modo a fazer coexistir diferentes
formas de saber dentro de seus muros? Deve ser pública e gratuita para todos? Para alguns?
Deve ser pública, mas não gratuita? Nem pública, nem gratuita? Por quê? (GHIRARDI,
2012).
Para Garcez, o modo como essas perguntas são respondidas revela as crenças que se
tem sobre a universidade, sobre a ciência, sobre o ensino e, no caso dos cursos jurídicos, sobre
o direito. As respostas também revelam a visão que se tem do país. Essas perguntas são
facilmente esquecidas no dia a dia, ou então tidas como secundárias ou abstratas frente as
situações do quotidiano. Entretanto, têm grande relevância prática, uma vez que afetam, por
exemplo, as opções de fundo feitas pelos professores ao lecionar um curso. Afetam um
25 O percentual de acesso dos jovens ao ensino superior abrange 19% na faixa etária de 18 a 24 anos (PNAD, 2009)
28
conjunto de outras questões: o que ensinar? Quando ensinar? Quanto e com que profundidade
ensinar? Como avaliar? (GHIRARDI, 2012).
3.2 Ensino jurídico e o espaço do direito nas pautas institucionais
O segundo eixo de análise parte das reflexões a respeito do papel do direito no
estabelecimento de pautas políticas no país. Importa ainda pensar sobre o ensino jurídico
devido ao fato da reflexão jurídica estar se tornando (ou tornou-se) secundária nas formas de
se pensar o país. Basicamente, o país tem sido pensado por economistas. As reflexões
jurídicas são instrumentais para realizar decisões que tem uma racionalidade política por trás.
Muitos dos conflitos que estamos vivendo no país hoje vem dos limites dessa lógica
econômica e do direito ter aceitado um papel secundário nesse debate. Isso é injusto com o
país.A dimensão da justiça e da ordem, que são constitutivas do discurso jurídico, devem estar
presentes no centro das discussões de governo. Mas não tem gente competente pra fazer
isso26.
Em alguma medida, a resistência das escolas de direito em se modernizar, no final do século
XIX início do século XX, deu início a um processo de decadência do papel do bacharel na
sociedade brasileira, abrindo espaço para novos engenheiros sociais (VENANCIO FILHO,
1977 apud VIEIRA, 2012, P. 26). O tradicionalismo do ensino jurídico resultou lenta e
cumulativamente na marginalização dos advogados e juristas brasileiros do debate nacional.
Eles deixaram de ser participantes centrais e tiveram seus postos tomados majoritariamente
por economistas, que mesmo através de um prisma estreito e destorcido, parecem tratar dos
problemas do país. A função da política parece que se tornou portanto viabilizar a economia27.
Os juristas de elite ficaram reduzidos à condição de técnicos a serviço de quem realmente
detém o poder hoje. Mangabeira Unger ilustra essa condição: ‘’’Há uma medida provisória a editar? Vamos pô-la em linguagem com mais
perspectiva de sobreviver a dúvidas e contestações. Há um negócio a realizar?
Vamos enquadrá-lo dentro das formalidades da lei’. Esse papel de amanuense, de
escriba passivo e obediente, contrasta, de maneira chocante, com o papel norteador
que os advogados e juristas desempenham em outros períodos da história
brasileira’’. (UNGER, 2005, p. 22) 26 Transcrição a partir da fala de José Garcez Ghirardi, em encontro promovido pela Direito GV sobre o programa de mestrado acadêmico da instituição. Disponível em: http://direitogv.fgv.br/processos-seletivos/mestrado-academico Acesso em 27 de julho de 2013. 27 Transcrição a partir da fala de José Garcez Ghirardi, em encontro promovido pela Direito GV sobre o programa de mestrado acadêmico da instituição. Disponível em: http://direitogv.fgv.br/processos-seletivos/mestrado-academico Acesso em 27 de julho de 2013.
29
Preocupar-se com a substituição da influência de um grupo profissional por outro
importa. O fato do país estar sendo pensado fundamentalmente por economistas produz
consequências. Primeiro porque o direito é necessário em todas as esferas da vida nacional.
Como já mencionado, a dimensão da justiça e da ordem que são constitutivas do discurso
jurídico devem estar presentes no centro das discussões de governo28, afinal,
‘’os esforços para acabar com a impunidade, para desprivatizar o Estado para criar
mecanismos que permitam aos governos superar a escolha entre o ‘‘laissez-faire’’ a
rendição às clientelas, para resguardar trabalhadores e investidores, para identificar e
combater as formas mais ou menos veladas de opressão e exclusão na sociedade
brasileira - tudo exige uma cultura jurídica capaz de ir ao encontro da realidade
social, de imaginá-la e reconstruí-la como direito’’. (UNGER, 2005, p.22)
Além disso, está o fato de a vocação do direito em uma democracia, ademais dos
contornos da praxis do advogado, é pensar alternativas institucionais no acercamento diário
dos problemas imediatos e das possibilidades próximas (UNGER, 2005).
É devido a esses fatores que Unger defendia, à época que escreveu essas ponderações,
uma reforma prática do ensino do direito, que capacitasse o aluno para a prática mais
valorizada na nova realidade econômica do paíse do mundo, e trouxesse o direito de volta
para o centro do debate nacional. Para o autor, essa reforma poderia surtir efeitos intensos e
rápidos sobre outras escolas de direito no Brasil.
Garcez, no mesmo sentido, defende a necessidade de pensar o direito de uma forma diferente
para depois ensiná-lo de forma diferente. Para isso, é necessário formar um nova geração para
pensar o direito, uma nova forma de pensar o lugar do direito na sociedade brasileira.
Problematiza se é possível construir hoje um marco jurídico inteligente para dar conta do
crescimento do país: ‘’Muito tem sido dito sobre os gargalos para o desenvolvimento. Pontes,
aeroporto, isso se constrói em três anos. Entretanto, uma classe jurídica competente não. E
isso é problema nosso29’’.
28 Transcrição a partir da fala de José Garcez Ghirardi, em encontro promovido pela Direito GV sobre o programa de mestrado acadêmico da instituição. Disponível em: http://direitogv.fgv.br/processos-seletivos/mestrado-academico Acesso em 27 de julho de 2013. 29 Transcrito pela autora a partir da fala de José Garcez Ghirardi, em encontro promovido pela Direito GV sobre o programa de mestrado acadêmico da instituição. Disponível em: http://direitogv.fgv.br/processos-seletivos/mestrado-academico
30
3.3 O ensino jurídico frente as novas demandas internacionais
O terceiro eixo se estrutura sobre a ideia de que nos últimos anos o Brasil se tornou
mais ativo nas negociações de grandes temas de interesse global, como por exemplo
comércio, propriedade intelectual e aquecimento global. Não é portanto uma frivolidade que
uma escola de direito tenha a ambição de se tornar um centro internacional de excelência no
campo do ensino e da pesquisa em direito e, em especial, na área de direito e desenvolvimento
(VIEIRA, 2012).
Para Vieira, o atual contexto internacional não se limita apenas entre a competição
entre empresas. Os Estados e, portanto, o direito, passam a ser elementos integrais dessa
competição pelo crescimento, podendo atuar de diversas formas em relação aos agentes
privados30. Por isso, defende que se uma comunidade jurídica não tiver capacidade de pensar
com autonomia, de compreender suas necessidades, de inovar juridicamente, de criar sua
própria agenda de pesquisa, imediatamente passará a ocupar uma posição secundária no plano
internacional (VIEIRA, 2012). E é nesse contexto que se faz premente para Vieira a
realização de pesquisa de ponta no direito e a formação de jovens que compreendam e sejam
capazes de operar o direito nas suas múltiplas dimensões e num ambiente de forte competição
internacional (VIEIRA, 2012).
Joaquim Falcão ressalta o ensino jurídico em uma perspectiva da globalização. Ao
afirmar que o impacto da globalização sobre o ensino jurídico não é trivial, enumera as
crescentes iniciativas voltadas para a produção do conhecimento e formação de advogados no
que chama de mundo global31. Ao mesmo tempo, cresce também a crítica sobre a
inadequação da formação que o sistema de ensino oferece. Parece que o atual ensino global
não corresponde às necessidades práticas dos negócios globais. Os advogados globais não
estão sendo formados nas faculdades, mas nos próprios escritórios e empresas. Frente a uma
inevitável inserção global do direito, Falcão questiona: para que servem, então, as faculdades
de direito no mundo global? Quais os principais problemas que se enfrenta e enfrentará? Para
tentar responder essa última questão, estrutura uma resposta através de três eixos.
Primeiro: a demanda da globalização é majoritariamente por advogados de negócios,
incluindo profissionais para arbitragens internacionais. Esse mercado tende a exigir duplas
30 ‘’São parceiros dos empreendedores (ou obstáculos a eles), regulando, criando entraves ou incentivos jurídicos arquitetados e operados pela comunidade jurídica’’. (VIEIRA, p. 20). 31 ‘‘ Da Universidad de Los Andes, à Tilburg Law School, Harvard University, ou à Universidade de Pequim. Nunca houve tantos intercâmbios de alunos e professores, listas de discussão globais, congressos e seminários, visiting professors, mestrados e doutorados sobre e com pretensão de validação global’’. (Cadernos FGV Direito Rio. vol 7. p.97)
31
certificações, uma em direito e outra em outra área, como economia, finanças, estatísticas,
matemática, política, engenharias, etc. Falcão sintetiza o que seria essa demanda: ‘’obtenham
duplas ou triplas certificações e a prática profissional global faz o resto’’ (FALCÃO, p. 98).
Para o autor, o problema está na rigidez unidisciplinar da regulação do Ministério da
Educação (MEC), que impede a flexibilização transdisciplinar.
O segundo problema a ser enfrentado diz respeito ao que chama de processo de
colonização cultural. Esse é um risco quando os formandos brasileiros vão fazer mestrados e
doutorados no exterior, pois raramente têm opção já amadurecida sobre o que fazer. Como
resultado, acabam sendo influenciados por temas, métodos e modas das faculdades de direito
estrangeiras. Passam então, um, dois ou cinco anos pesquisando temas, teorias e métodos que
se adequam muito mais à pauta do professor orientador do que à demanda interna ou
globalizada. E é nesse contexto que corre-se o risco de haver, em busca de uma formação
global, um sutil e inconsciente processo de colonização cultural. Isso pode ocorrer, por
exemplo, devido a ausência de bibliotecas e bancos de dados especializados em Brasil, ou a
disponibilidade de um orientador32. Para Falcão, esse é um risco evitável quando dele se há
ciência.
Por último, Falcão aponta o problema na definição das pautas da pesquisa jurídica que
se pretende global. Hoje, com o sistema de peer review, os professores escrevem para seus
próprios pares. Uma endogenia que pode conduzir a autofagia (FALCÃO, 2012). A regulação
das faculdades pela Capes, MEC, CNPq se fundamenta no sistema fechado de publicações
que pretendem, para Falcão, burocraticamente dirigir o sentido, a política e a qualidade da
criação da comunidade acadêmica. O autor afirma que isso é um erro fundamental, que
incorre em atraso global. Um estímulo ao autismo disciplinar e submissão cultural científica.
Os temas que interessam às revistas de direito no exterior se focam, majoritariamente, nos
interesses de seus Países e comunidades acadêmicas, diferentemente do que ocorre no Brasil.
Por exemplo, em direito ambiental, a desconsideração judicial da personalidade
jurídica como ameaça aos investidores é muito mais prioritária no exterior do que a
desconsideração legislativa da pessoa jurídica como eventual proteção ao trabalhador. ‘’A
inserção global de nossos professores começa e termina pela participação na escolha da
agenda global do direito’’ (FALCÃO, 2012, p. 99). Produzir sobre a pauta jurídica,
32 Falcão ilustra uma situação comum nesse contexto: ‘’ Não é por menos que um jovem professor de direito constitucional fique mais familiarizado com o os leading cases da Suprema Corte americana do que com os grandes julgamentos do Supremo Tribunal Federal’’. (FALCAO, 2012, p.98)
32
brasileiramente global, esse é o desafio que se coloca a alunos, professores e faculdades que
objetivam participar do ensino jurídico global.
Tendo em vista essas perspectivas, Unger afirma que uma reforma prática do ensino
do direito, que capacite o aluno para a prática mais valorizada na nova realidade econômica
do País e do mundo, e traga o direito de volta para o centro do debate nacional, pode surtir
efeito intenso e rápido sobre as outras escolas de direito no Brasil. E pode, em pouco tempo,
atrair muitos dos melhores professores e alunos granjear uma reputação ‘‘hors concours’’ no
meio profissional e no conceito público (UNGER, 2005).
33
CAPÍTULO 4
RELAÇÕES ENTRE VISÕES DE CIÊNCIA E VISÕES DE ENSINO: UM OLHAR SOBRE A EXPERIÊNCIA DO DIREITO
‘’os medievais, parecendo repetir, inovavam. Os modernos, parecendo inovar, repetem’’. (ECO,2010)
Nesse capítulo busco explorar a possível relação entre o modo de pensar a ciência e o
modo de ensiná-la, focando principalmente no que diz respeito ao direito. Parte do
questionamento: será que a ideia que se tem sobre o que é ciência influencia na maneira em
que se ensina? A intenção com essa reflexão é agregar esse ponto de vista à discussão sobre
ensino jurídico, tendo como ponto de partida as poderações do professor José Garcez
Ghirardi.
Não há dúvidas a respeito da universidade ser um espaço no qual se constrói e
transmite conhecimento. As dúvidas surgem na hora de definir o que se entende por
conhecimento. Há mais de uma forma de conhecer? Mais de um tipo de conhecimento? Se
acreditamos que sim, é necessário perguntar-se também sobre que tipo de conhecimento
acreditamos que deva caracterizar o ensino superior. Quando se pensa no caso do direito, há
ainda que posicionar-se em relação à ideia do direito como ciência. O debate é antigo,
entretanto isso não significa que esteja superado, nem que possa ser evitado. A necessidade de
enfrentar esse debate está no fato de que tanto o conhecimento como a ciência são crenças que
moldam o objeto que se vai ensinar (GHIRARDI, 2012).
E por que importa discutir e pensar o modo como se entende a articulação entre
conhecimento, ciência e ensino no direito? Garcez propõe uma resposta a partir da ilustração
de um cenário: ‘’[no direito] quando alguém diz , por exemplo, ‘isto não cabe ao curso de Direito
Civil’, ‘esse argumento caberia a uma aula de Teoria Política, não de Direito
Constitucional’, ou ‘esta é uma razão moral, não jurídica’, não está fazendo
referência a um conceito anterior objetivo, não está descrevendo algo que existe no
mundo independentemente de nosso discurso. Ele está definindo, implícita ou
explicitamente, o próprio sentido de Direito Civil, de Teoria Política, de Direito
Constitucional, de Moral e de Direito. Isto é, está construindo o objeto no momento
mesmo de ensiná-lo. Os dois processos são indissociáveis’’.
Ou seja, quando se discute metodologia de ensino, o debate não é a respeito de
diferentes formas de ensinar a mesma coisa. Ao contrário, o objeto a ser ensinado se constitui
34
apenas no momento que se fala sobre ele, em que são definidas as suas fronteiras, que se elege
seus traços constitutivos. (GHIRARDI, 2012) E por isso que importa pensar na articulação
mencionada.
Para seguir com o debate, Garcez analisa duas concepções de ensino e conhecimento
no espaço universitário através de dois filmes. Compara dois persongens, professores
universitários, para entender melhor as virtudes e os limites de cada uma das concepções de
ciência e, consequentemente, de ensino, representadas.
4.1 O método Kingsfield
No filme The Paper Chase (O Homem que eu escolhi, em português), John Houseman
interpreta Kingsfield, um tirânico professor de Harvard conhecido por seu brilhantismo
intelectual e por humilhar publicamente os alunos despreparados. Adepto do método
socrático, submete os alunos a perguntas cada vez mais complexas, e os que não logram
respondê-las satisfatoriamente são expostos como ignorantes frente aos demais alunos.
Kingsfield acredita que sua missão é ensinar aos alunos pensar de maneira correta e
tem para si que nem todos estejam aptos a aprender. O que isso significa?
Através da observação do método de ensino empregado, é possível aferir que acredita
que haja uma única maneira correta de pensar, e que é possível ensiná-la. Essa visão reflete a
ideia de que o verdadeiro pensamento científico é o que segue um procedimento lógico
rigoroso, metodicamente construído. Uma forma específica de pensar, que objetiva a
formulação de conceitos abstratos universais. Em última análise, essa forma específica de
pensar é o conhecimento que deve ser transmitido aos alunos na universidade.
Há um caráter objetivo nesse modo. A experiência concreta das pessoas é secundária.
Não importa os conhecimentos ou saberes adquiridos por cada aluno ao longo de suas vidas -
se é um artista, um atleta profissional ou se teve experiências com outras culturas -, o que
importa para esse ambiente universitário é a verdade dos conceitos; o saber específico é o
conhecimento acadêmico. Ou seja, a noção de determinado instituto jurídico será
independente da experiência concreta dos indivíduos.
Garcez vai então colocar esse professor de Harvard ao lado do que se entende por
noção procedimental da verdade científica, na qual se acredita que a ciência, o saber, está
sobretudo no método. é o que determina se o conhecimento é científico ou não. A substância
de que se fala também importa, mas não é determinante. E essa é a ideia que constitui um dos
fundamentos da forma de conhecer da Modernidade, ideia que se desdobra em um série de
corolários. Para seguir pensando sobre as relações entre visões de ciência e visões de ensino,
35
não vai ser preciso entrar nos detalhes desse antigo debate. Garcez nos aponta algumas
características dessa visão moderna sobre o conhecimento científico: ‘’OBJETIVO: não se altera segundo os valores, desejos ou crenças de sociedades e indivíduos. As verdades científicas são supraculturais e supraindividuais. Isto é, a verdade científica não se altera porque gostamos dela ou não, porque ela nos faz felizes ou infelizes. Elas derivam dos fatos e estes não se curvam às nossas vontades; NEUTRO: como não reflete uma escolha do sujeito, o conhecimento científico é moralmente neutro. Suas aplicações práticas poderão ser morais ou imorais, mas a forma de indagação, de teorização e de comprovação científicas não comportam nenhuma dimensão ética; UNIVERSAL: é o mesmo para todos os seres humanos, em qualquer lugar do mundo. Se todos raciocinarmos corretamente, fatalmente chegaremos às mesmas conclusões; ABSTRATO: embora examine eventos concretos, o conhecimento científico não o faz senão para extrair deles uma teoria geral. O episódico e o anedótico são, assim, não científicos enquanto não forem reduzidos a uma lei geral que os apresente como manifestações pontuais de uma verdade mais ampla; PROCEDIMENTAL: o conhecimento científico reflete a ordem subjacente a todo o universo. Cada elemento na natureza está judiciosamente posicionado no lugar perfeito para o todo. Os eventos no mundo estão ligados segundo uma relação de causa-efeito racionalmente compreensível e axiologicamente neutra. A razão humana é capaz de compreender essa ordem e, a partir dela, de formular hipóteses e leis gerais. O conhecimento científico espelha esse padrão e se constitui em procedimento ou modo de pensar; EFICIENTE: os eventos na natureza são perfeitamente concebidos pelo Supremo Arquiteto (novamente, uma imagem do século XVIII) para servir a um propósito específico. Eles revelam a eficiência máxima do desenho universal e servem de paradigma para o pensamento científico. O conhecimento deve progredir, igualmente, afirmando apenas o que é objetivamente necessário.’’ (GHIRARDI, 2012, p.30)
Essa visão adotada por Kingsfield condiciona sua forma de ensinar e isso é previsível
na medida em que seu entendimento sobre a função da universidade (transmitir o
conhecimento científico) faz com que seja necessário estabelecer um método de ensino
coerente com esse propósito. A análise das práticas adotadas pelo professor sob o prisma
dessa visão filosófica evidencia alguns aspectos: (i) o professor é depositário do saber; (ii) o
aluno está na condição de não saber; (iii) a relação que se dá é, portanto, vertical com um
fluxo de informação unidirecional, de professor para aluno.
Essa objetividade é viabilizada apenas porque o objeto de ensino-aprendizagem tem
fronteiras claramente delimitadas, em que, por exemplo, as condições de um contrato válido
são x e y, vício de vontade é isso e aquilo, e assim por diante. Ou seja, não há espaço para
incertezas ou dúvidas não metódicas (GHIRARDI, 2012).
A previsibilidade do objeto ainda se reflete na possibilidade de avaliações objetivas.
No final de um semestre dedicado a uma disciplina, o professor consegue
36
mensurar/quantificar se o aluno sabe 20, 50 ou 100% sobre um determinado tema. Isso
também torna possível estabelecer um limite mínimo para a aprovação, em que aqueles que
não o alcançaram são reprovados ‘’justamente’’ pois não aprenderam o mínimo suficiente
para progredir.
Essa lógica também produz efeitos sobre a ideia de qual deve ser o objetivo do aluno.
Ela parece sugerir que esse objetivo deve ser o de igualar-se ao mestre, para depois buscar
superá-lo. Isso constrói a imagem do professor envolto em uma excelência soberana, única,
que causa uma mistura de temor, inveja e admiração nos demais, e é o que permite que a
geração representada por Kingsfield se perpetue. Com ela, se perpetua também a ideia do
professor como a principal figura na sala de aula, sempre pairando acima dos alunos.
Inspirando-os, mas sempre à frente, sempre melhor (GHIRARDI, 2012).
4.2 Contraponto: o método Keating
Não é, entretanto, com o professor inflexível que o público tende a se identificar.
Quem desperta a simpatia dos espectadores é o jovem Hart, representação do aluno-problema,
que parece simbolizar valores mais importantes que o conhecimento abstrato: a liberdade, a
afirmação da própria singularidade, a possibilidade de expressar e viver seus próprios afetos,
etc. A reação do público em relação a Kingsfield evidencia que, ao contrário do que pode
parecer, a ideia que representa não é aceita sem maiores incômodos. Durante todo o filme o
personagem provoca um sentimento ambíguo - é admirado por seu brilhantismo intelectual,
mas odiado por sua arrogância e prepotência -, o que indica um sentimento de desconforto em
relação a seu método e também em relação à noção de ciência que lhe serve de fundamento
(GHIRARDI, 2012).
Para Garcez, essa reação dos espectadores está em sintonia com um movimento mais
amplo, chamado por alguns de crise da modernidade e por outros de pós-modernidade ou
modernidade tardia. Na esfera da ciência, este movimento é caracterizado pela desconfiança
em relação ao modo que Kingsfield constrói seu pensamento; problematiza-se as lógicas de
reflexão e ação que têm por fundamento categorias abstratas e de valor supostamente
universal. Assim como o debate sobre a concepção moderna de ciência, esse debate também é
longo e complexo (GHIRARDI, 2012).
E o que caracteriza o conhecimento científico em sua acepção pós-moderna? Em
linhas gerais, Garcez define que é marcado por sua dimensão:
37
‘’SUBJETIVA: as circunstâncias individuais do observador (físicas, psicológicas,
morais, etc.) impactam inevitavelmente a forma como ele percebe, descreve e valora
os fenômenos. Isto impugna a pretensão de objetividade moderna, isto é, a tese de
que seja possível estabelecer um distanciamento absoluto entre o sujeito que observa
e o objeto observado;
CULTURAL: as formas de perceber o mundo se alteram segundo a matriz cultural
que as articula, isto é, segundo os valores, crenças e instituições das diferentes
sociedades e grupos. As verdades científicas são, assim, inevitavelmente marcadas
pelas condições culturais a partir das quais e para as quais emergem e não derivam
cristalinamente das características intrínsecas ao objeto;
POLÍTICO-MORAL: como o conhecimento científico reflete o sistema de crenças
daquele que o postula, ele se reveste, inevitavelmente, de um caráter político e
moral, em sentido amplo. As próprias premissas que estruturam o pensamento, as
hipóteses e perguntas que orientam a observação, já trazem em si pressupostos e
constantes culturais que dirigirão o olhar e orientarão os resultados para um lado ou
para outro, para um valor ou para outro;
LOCALIZADA: as construções teóricas elaboradas em um contexto específico não
se traduzem imediata e necessariamente a outros contextos. Sua validade não se
aplica imediatamente a todos os seres humanos, mas tem os limites historicamente
determinados da cultura e das crenças que lhe servem de fundamento. Sua verdade é
antes consensual (em sentido amplo) que objetiva.’’ (GHIRARDI, 2012, P.38-39)
Essa visão parte da interpretação de que o modelo anterior, totalizante de pensamento
e de ação, foi e é incapaz de lidar com dois grandes aspectos do mundo moderno: a
individualidade e o direito à diferença: ‘’De fato, muitos atribuem vários dos problemas que hoje enfrentamos na política e no
direito a essa tentativa de impor modelos universais supostamente neutros a realidades
locais muito diferentes. Quantos conflitos emergem, por exemplo, da interferência de
grandes potências – e à tentativa de imposiçnao de seu modelo cultural – em
diferentes partes do mundo e quanto embates estarão talvez ligados ao suposto
universalismo das controversas receitas do FMI e do Banco Mundial?’’ (GHIRARDI,
2012, P. 37)
Portanto, para Garcez, preferir o aluno Hart ao professor Kingsfield, é uma escolha
que expressa a adesão a uma visão de mundo em detrimento de outra. Fazer essa escolha
representa aderir, de modo mais ou menos consciente, a um conjunto de valores e crenças que
se tornou, ao menos em uma parte considerável do mundo ocidental, prevalente a partir do
século passado (GHIRARDI, 2012).
38
Essa visão, assim como a anterior, também terá um impacto relevante na forma de se
pensar o ensino. Afinal, uma nova concepção do que seja conhecer conduz necessariamente a
um novo modo de construir o saber e a um novo modo de transmiti-lo. Se então o
universalismo abstrato e austero de Kingsfield já não é o paradigma absoluto para a docência,
então que tipo de professor estaria implícito nessa nova concepção de ciência?
Para ilustrar esse outro ‘‘lado’’, Garcez utiliza mais uma vez do cinema, dessa vez
com o filme Sociedade dos poetas mortos (1989), no qual Robin Williams interpreta o
professor nada ortodoxo John Keating33. O personagem pode ser analisado como o oposto de
Kingsfield, e a ideia em compará-los é justamente para permitir entender melhor as virtudes e
os limites de cada uma dessas concepções de ensino.
Keating reverte justamente a premissa básica de Kingsfield, de que o objeto a ser
conhecido é exterior àquele que conhece; para ele, Keating, o centro e o fundamento de
qualquer processo - seja científico, econômico, social, político, educacional - é sempre o
indivíduo, cuja diferença e singularidade devem ser estimuladas, não destruídas nem
aplainadas. Garcez atenta para o fato do roteiro do filme apresentar o professor, desde a
primeira cena, como o campeão da liberdade individual. Ele será o paladino do direito à
autoexpressão e à diferença, efrentando com coragem um sistema educacional frio e
desumano. Para enfatizar essa dimensão do personagem, a escola é apresentada como um
ambiente de opressão e violência psicológica, sem espaço para a manifestação de
individualidades: ‘’os alunos têm de utilizar uniformes, impecavelmente conservados e sem
qualquer adereço adicional que os diferencie; não têm direito à palavra e ao questionamento;
devem mostrar deferência absoluta a seus mestres; dever guardar silencio e baixar a cabeça
quando admoestados, etc’’ (GHIRARDI, 2012, p.40).
A análise que Garcez faz é a de que essa construção faz com que o público creia que
os alunos se submetem a essa opressão de suas individualidades, pois parece-lhes evidente
que aquilo que são - personalidade, desejos, esperanças e crenças – deve ficar em suspenso
durante todo o tempo que estiverem na condição de alunos.
Esse é o cenário que Keating buscará reverter. Desde o princípio, adota uma
perspectiva radicalmente diferente da dos demais professores da escola (muito mais
simpáticos ao que Kingsfield representa). Exemplo desse contraste é sua primeira aula, na
qual pede aos alunos que desconsiderem as teorias como fontes primárias de verdade e os
instiga a tentar comprová-las ou refutá-las a partir de suas experiências pessoais, e os estimula 33 Para Garcez, o estrondoso sucesso do filme baseou-se, em grande parte, no fascínio que o grande público sentiu pelo professor pouco ortodoxo e por seu modo revolucionário de ensinar (GHIRARDI, 2012, p.39)
39
a confiar, acima de tudo, naquilo que têm de mais idiossincrático e particular. ‘’Em minha
sala de aula, vocês aprenderão a pensar por si mesmos novamente’’34. Essa frase sintetiza a
escolha do professor e, de certa forma, a concepção a qual se vincula no campo da ciência.
E quais são as consequência da adoção dessa escolha para o ensino, para a sala de
aula? Garcez vai dizer que a decisão por centrar o processo de ensino-aprendizagem nas
peculiaridades do sujeito que aprende surte efeitos práticos concretos. Por exemplo, as
relações professor-aluno e aluno-aluno se modificam; a importância do programa se
relativiza; os instrumentos e os modos de avaliação se alteram, etc.
E o que se quer dizer com a análise desses filmes? Para Garcez, fazer essa comparação
com base em produtos da cultura de massa - no caso, os filmes de Hollywood - permite
perceber como questões teóricas complexas vão sendo apropriadas e naturalizadas (muitas
vezes sem grande reflexão) pelo senso comum. Perceber esse processo de naturalização,
entendido como o ‘’processo pelo qual matrizes ideológicas, construídas a partir de leituras de
mundo, são articuladas como se fossem a natureza das coisas, desvinculadas da vontade e do
interesse humano’’, é fundamental para aqueles que desejam fazer da educação um espaço de
alargamento da consciência crítica (GHIRARDI, 2012, p.39-40).
Importante dizer que as alegorias expostas partem de um debate real. Garcez nos conta
que a tensão entre propostas radicalmente opostas e desenhos institucionais concorrentes que
‘’Sociedade dos poetas mortos’’ ilustra tornou-se motivo para disputas educacionais acirradas
no decorrer do século XX (GHIRARDI, 2012).Defensores de cada um dos modelos têm se
degladiado na tentativa de impor um ou outro modo de ensinar. E quais os argumentos? De
um lado, os proponentes do modelo tradicional são acusados de oferecer um ensino ineficaz e
alienante, que tende a reproduzir e reforçar os mecanismos de dominação hierárquica que
estruturam a sociedade, e também de tolher a criatividade e a imaginação em detrimento do
conformismo e da padronização. De outro, os que defendem modelos alternativos, são taxados
de propor um ensino sem substância, de adotarem uma visão equivocada da individualidade
como valor absoluto, o que impede a efetiva transmissão intergeracional do saber. São
também acusados de formar ignorantes autocomplacentes, incapazes de atuar produtivamente
no âmbito coletivo.
Essas acusações, tão caricatas quanto Kingsfield e Keating, são poderosas
simplificações que, na opinião de Garcez, ‘’talvez tenham sido mais eficientes em convencer-nos dos defeitos alheios do que
dos méritos próprios. O resultado é um sentimento de fracasso do projeto educacional
34 Trecho do filme ‘’Sociedade dos Poetas Mortos’’.
40
como um todo, da incapacidade absoluta de os modelos existentes oferecerem uma
resposta satisfatória às necessidades do mundo contemporâneo. Em toda parte,
repetem-se quase sem variação os lamentos sobre a queda da qualidade do ensino e
sobre a indigência intelectual de cursos e egressos. Nos termos de Lyotard35, há uma
sensação de que faliu a grande narrativa que dava sentido à educação’’. (GHIRARDI,
2012, p.43-44).
3.3 Tentativa de síntese
Os embates entre os modelos apresentados geraram propostas de síntese que buscavam
aproveitar os achados e enganos de cada um. Muitas dessas propostas sustentavam que esta
síntese entre a prevalência do objeto universal e a liberdade do sujeito singular deveria se dar
na estruturação do sistema educacional como um todo e de cada instituição em particular a
partir do ponto de vista daquele que aprende36 (GHIRARDI, 2012).
Nessa visão, o objetivo do professor passa a ser criar condições para que o aluno
aprenda por si mesmo e que desenvolva suas próprias estratégias para construir o saber.
Passa-se a falar, portanto, em estratégias de aprendizagem, mais do que de ensino, já que o
objetivo do professor transformou-se, o que o transforma também em um motivador ou
facilitador, alguém que oferece oportunidades de aprendizagem. Garcez alerta, entretanto, que
para serem efetivas, essas oportunidades necessitam de um movimento de apropriação por
parte do aluno.
Há uma longa reflexão sobre esse papel proativo do aluno e a problematização do
papel da prática em sua formação. A discussão ganha ainda mais corpo quando se fala do
papel da prática na formação do jurista. Apesar de muita relevância, não dedicarei esse espaço
para aprofundar esse debate. Sigo com um ponto que me parece se relacionar com a discussão
sobre concepções de conhecimento. A atenção volta-se para o papel do professor no processo
de ensino.
‘’A concepção do professor sobre o objeto de ensino define os caminhos
metodológicos que adotará em suas aulas’’(GUIRARDI, 2012, p.52). Com base nessa ideia,
Garcez coloca o foco em um ponto que parece ser pouco explorado quando se pensa no
ensino jurídico. Muito se critica a postura formalista dos professores de direito e suas aulas
expositivas. Em contraponto, propõem-se métodos de ensino alternativos, que sejam
participativos, criativos, etc. Entretanto, parece haver uma espécie de vácuo nesse discurso. 35 LYOTARD, Jean-François. The postmodern condition: a report on knowledge. Minneapolis: University of Minnesota, 1984. 36 Paulo Freire, John Dexey, Jean Piaget e Lev Vygotsky são exemplos de teóricos que formularam sua reflexão sobre educação a partir dessa perspectiva.
41
Entre a postura do professor e o método de ensino adotado em sala de aula há um espaço
decisório que, na maioria das vezes, fica ofuscado. Garcez chama atenção para esse espaço,
ocupando-o com as escolhas definidoras do objeto de ensino:‘’é importante que, ao
desenharmos cursos inteiros ou aulas individuais, tenhamos clareza da opção que, como
professores, fazemos em relação a cada momento. (...) estas opções não são uma
consequência de nosso objeto, mas sim definidores desse objeto’’ (GHIRARDI, 2012, p. 52).
É portanto o olhar do professor que define a substância daquilo que ensina, por isso
importa de modo muito significativo ter claro qual é esse olhar, quais seus fundamentos e
fazê-los claros para os alunos.
Para o autor, a concepção do objeto pode apresentar três dimensões prioritárias: a de
um saber, um fazer e um olhar. Se o professor adota prioritariamente a concepção de um
saber, ele provavelmente priorizará em suas aulas a transmissão de informações, uma vez que
para ele o objeto é o repertório conceitual da disciplina. Isto o fará priorizar um determinado
tipo de método de ensino em sala de aula, que possivelmente será, por exemplo, a exposição,
leitura e explicação. Se ele acreditar que o objeto seja principalmente um fazer, possivelmente
o que desejará desenvolver em seus alunos será uma capacidade. Para isso, a informação será
entendida como um instrumento para alcançar esse objetivo, e não uma preocupação central.
Essa visão refletirá em suas escolhas metodológicas; talvez haja uma priorização de
atividades práticas e exercícios. No entanto, se o professor apreende o objeto como
fundamentalmente um olhar, há grande chance de que a intenção seja desenvolver nos alunos
uma habilidade, um modo de pensar. Para isso, seu repertório de métodos, provavelmente
assumirá a configuração de um problema ou de uma simulação.
O que fazer diante dessas possibilidades? Qual olhar o professor deve adotar na
elaboração de seus cursos? As respostas não são definitivas. Garcez conduz a um caminho ao
afirmar que: ‘‘assim como outras construções teóricas que se desdobram em práticas, eles
[métodos de ensino específicos] exigem uma apropriação crítica cuidadosa e uma estratégia
de implementação que dê conta das peculiaridades de cada contexto’’ (GHIRARDI, 2012, p.
53).
As escolhas também são essenciais no momento do professor elaborar avaliações.
Etapa fundamental dentro do processo de ensino-aprendizagem, a avaliação apresenta as
mesmas características que dão forma às outras dimensões desse processo: também ela resiste
a simplificações, a fórmulas mágicas, a receitas prontas. Exige, pelo contrário, que cada
docente formule suas próprias soluções e que seja capaz de justificá-las como as melhores
para o curso concreto que ministra. Para Garcez, as opções individuais serão necessariamente
42
diferentes e revelarão a diversidade de olhares e o antagonismo de crenças que tornam tão
rico o debate sobre a educação e a prática de sala de aula. Entretanto, assim como ocorre
quanto às outras dimensões desse processo, ela também nos proíbe – sob pena de
empobrecermos irremediavelmente nossa atuação como docentes – que a tomemos como um
não problema, como uma atividade neutra a ser implementada de forma mecânica ou acrítica.
Ela reflete nossos valores educacionais fundamentais e revela, de modo inequívoco, o modo
como nos posicionamos frente ao processo educativo e ao papel que nele devemos
desempenhar (GHIRARDI, 2012).
43
CAPÍTULO 5
RELAÇÃO ENTRE PESQUISA E ENSINO: COMO A PESQUISA EM
DIREITO PODE CONTRIBUIR PARA ENSINO JURÍDICO?
Retomando as ideias apresentadas no capítulo 2, não é novidade falar-se na ‘’crise do
ensino jurídico’’. Como foi apresentado, os elementos centrais do diagnóstico da ‘’crise’’
consolidaram-se já na década de 1970 no Brasil e, em linhas gerais, apontavam para a
incompatibilidade entre o que eram percebidas como práticas tradicionais do ensino do direito
e as necessidades de uma sociedade em processo de democratização e desenvolvimento. A
demanda era por profissionais do direito aptos a resolver e redescrever problemas, o que
significa escolher e enunciar prioridades (em ambiente de escassez de recursos), trabalho em
equipe (entre professores e alunos, e entre as pessoas em cada um desses grupos) e
transformação de entendimentos e instituições estabelecidas (FALCÃO, RODRIGUEZ,
2005).
Tal diagnóstico é coerente com os fatos já antecipados na época e posteriormente
confirmados: a falta de prestígio das faculdades de direito, mesmo as tidas como sérias, e a
expansão do aprendizado on the job (estágio e treinamento em escritórios de advocacia, por
exemplo) e de programas de aperfeiçoamento e atualização (cursos de preparação para
concursos e especializações lato sensu). Parte desse processo é também a proliferação37, no
mercado brasileiro, de faculdades de direito de qualidade duvidosa – já que nada parece mais
natural do que um curso de graduação pouco rigoroso, porque, como reflexo da crise, o ensino
que parece importar de fato está depois da faculdade (FALCÃO, RODRIGUEZ, 2010).
Com exceção de algumas iniciativas sérias, embora isoladas, não se pode dizer ainda
que as práticas de ensino do direito tenham se alterado substancialmente para melhor desde a
formulação do diagnóstico. ‘’A novidade não é a crise, nem o diagnóstico, mas a persistência,
quase intocada, do problema’’ (FALCÃO, RODRIGUEZ, 2005, p. 4).
Fica então a pergunta: o que faltou?
Para Joaquim Falcão e Caio Rodriguez, faltou provavelmente uma visão concreta e
prática capaz de identificar uma oportunidade nessa divergência entre práticas, de um lado, e
interesses e ideais, de outro. Uma oportunidade que se efetivasse pela afirmação, e não pela
negação. Para os autores, com exceção da ‘’interdisciplinaridade’’, cujo conteúdo concreto
tem sido desenvolvido em proporção inversa à frequência com que é pronunciada, as palavras 37 O número de faculdades de Direito no Brasil teve um crescimento sem paralelo nas últimas duas décadas, partindo de 165 escolas em 1991 e chegando a 1.080 em 2008 (INEP, 2010).
44
de ordem na mudança foram predominantemente mais negativas do que positivas: não ao
formalismo, não à aula-conferencia, não aos manuais, não à dogmática, e por aí vai.
Faltou uma oportunidade que também se concretizasse através de uma compreensão
abrangente da tarefa. Oportunidade capaz de conciliar a dimensão acadêmica voltada para a
discussão, a crítica e os experimentos sobre didática, metodologia, direito, instituições e
mercado de trabalho numa sociedade em desenvolvimento, com a dimensão operacional
voltada para a viabilidade financeira, a adequação mercadológica e a eficiência gerencial do
projeto (FALCÃO, RODRUIGUEZ, 2005).
A partir desse contexto, o objetivo dos professores no texto aqui utilizado de
referência passa a ser justificar e contextualizar o projeto de criação da Escola de Direito do
Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas. Apesar de muito interessante, não entrarei aqui
nos aspectos específicos que tangenciam a inserção da Escola na sociedade brasileira (os
motivos da criação, a forma como se estabeleceu, etc). Optei por expor os aspectos da
experiência relatada que podem servir de contribuição para uma reflexão mais abrangente
sobre a pergunta do ‘’que faltou’’ para avançarmos no debate sobre ensino jurídico no País.
Nesse sentido, os autores alertam para a necessidade de uma estratégia de múltiplas e
integradas inovações. Há que se pensar a inovação em seu todo e não apenas limitada à
didática ou às relações de direito e prática jurídica com a sociedade. Para isso, é preciso
inovar em diversas frentes. Afirmam a necessidade de inovar, por exemplo, na forma de
recrutamento, seleção e capacitação de professores, rompendo inclusive a polarização tempo
integral e tempo parcial. Teríamos assim o que Falcão e Rodriguez chamam de professores-
referência, professores-gestores e professores de disciplinas.
Inovação também na estrutura curricular, diminuindo o peso das aulas em favor de
atividades complementares diversas - o que já é permitido pela lei - tais como o trabalho
voluntário e estágios de diversas práticas jurídico-profissionais. Inovar no vínculo do aluno
com a escola, através da exigência de um compromisso ético e de tempo integral, por
exemplo. O desafio, é, portanto, integrar as múltiplas possibilidades e limites das diversas
áreas onde a inovação se faz necessária (FACAO, RODRUIGUEZ, 2005).
Mario da Silva Neto e Paulo Todescan Lessa Matos apresentam uma possibilidade de
diálogo com o que até agora foi discutido. Afirmam que só é possível pensar em reforma do
ensino jurídico se essa estiver acompanhada por um ciclo de renovação em pesquisa. A tese é
de que ‘’apenas com a mudança de postura dos professores do direito em face do seu objeto
de estudo e com a diversidade de perspectivas sobre esse objeto, será possível imaginar uma
reforma consistente do ensino jurídico’’ (MATTOS, NETO, 2007, p. 3). A partir dessa
45
constatação, propõem-se avaliar como poderia ser um ‘’novo diagnóstico’’, com maior foco
no que parece para os autores ser um componente fundamental do problema da reforma do
ensino jurídico no Brasil: ‘’a crise da pesquisa em direito’’. Há, portanto, dois pontos – que se
interrelacionam - a serem explorados: o que seria a mudança de postura dos professores de
direito em face do seu objeto de estudo e o que consiste na diversidade de perspectivas sobre
esse objeto.
Mattos e Neto apontam para o fato de que, atualmente, a pesquisa em direito realizada
no País, tem natureza predominantemente descritiva do ordenamento jurídico e dos conceitos
dogmáticos nele estabelecidos. A reconstrução dogmática, que se baseia em categorizações e
taxonomias orientadas para a ‘’organização’’ lógica do ordenamento jurídico, é considerada
etapa necessária da pesquisa jurídica. Essa reconstrução é em geral feita assumindo o sistema
jurídico como sendo fechado e estático, ou seja, sem que haja incorporação de elementos
explicativos das condições (dinâmicas) de operação do direito ou normativos no sentido de
formular alternativas de desenho das instituições relacionadas à operação do direito.
Em decorrência disso, pode-se notar que há três tipos de trabalhos identificados como
predominantes38 nas faculdades de direito no Brasil: (i) trabalhos de reconstrução doutrinária
sobre conceitos descritivos de normas e sistemas normativos (em geral com a apresentação do
posicionamento de diversos autores sobre cada conceito), (ii) descrição legislativa
(apresentação do quadro normativo formado pelas constituições federal e estaduaisis, leis e
regulamentos) e (iii) descrição de julgados (decisões judiciais ou administrativas que afirmam
posicionamentos sobre a aplicação do quadro normativo).
Essas categorias de trabalhos exemplificadas são, em geral, rotuladas pelos críticos
como representativas de um certo tipo de ‘’formalismo jurídico’’ e caracterizados de forma
negativa.
Entretanto, para os autores o problema não reside no fato de serem trabalhos
‘’formalistas’’: ‘’O problema central está na ausência de compreensão, inclusive por parte dos
próprios críticos, das razões que levam à prevalência quase absoluta deste tipo de
trabalho (e metodologias de pesquisa que os orientam), em relação a todos os
demais, assim como das consequências negativas dessa prevalência’’. (MATTOS,
NETO, 2007, p. 4)
38 Apesar fazerem tal afirmação de forma quase intuitiva, já que não partiram de dados sistematizadas, afirmam ainda que ‘’a grande maioria das teses de doutorado e dissertações de mestrado produzidas em escolas de direito de prestígio representam um desses três tipos, ou uma combinação deles’’(MATTOS, NETO, 2007, p. 4).
46
Na visão dos autores, o atual estado da pesquisa jurídica no Brasil é consequência de
um ciclo vicioso, o qual impede o desenvolvimento de um ambiente de inovação, formado
através de duas armadilhas, uma teórica e outra institucional.
A primeira tem a ver com o status epistemológico da pesquisa jurídica brasileira, uma
vez que prevalecem teorias analítico-descritivas e hermenêuticas-interpretativas, centradas na
reconstrução da dogmática jurídica como elemento essencial da investigação acadêmica, em
detrimento de pesquisas realizadas com base em outras metodologias, em que se busca avaliar
as condições de formação do conteúdo de normas e seus efeitos sobre o funcionamento das
diversas esferas sociais. Essas tendem a ser ignoradas pela academia jurídica por não serem
‘’pesquisa jurídica’’, uma vez que partem de metodologias de pesquisa ‘’externas’’ à
reconstrução dogmática do ordenamento jurídico.
Na perspectiva da estrutura de reprodução do conhecimento e da abertura para
inovações, há uma armadilha institucional. Na academia brasileira, estruturada de modo a
estimular a perpetuação dos métodos analítico-descritivos e hermenêutico-interpretativos de
reconstrução dogmática, há pouco espaço de abertura para inovações. Ao mesmo tempo, as
próprias instituições (Poder Judiciário, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil,
por exemplo) reforçam a atual crise de pesquisa em direito. Pouco permeáveis a investigações
que fujam aos padrões tradicionais, mantém inovações em pesquisa afastadas do núcleo de
conhecimento da profissão. Os autores argumentam, portanto, que a compreensão de tais
armadilhas é fundamental para pensar em alternativas para escapar delas e abrir um campo
para a inovação em pesquisa jurídica. Para eles, esse ciclo de inovação em pesquisa deveria
ser o propulsor principal para as novas iniciativas de reforma do ensino jurídico.
Diante disso, Mattos e Neto não se propõem a defender um modelo definitivo para
combater ou solucionar a crise da pesquisa jurídica no Brasil, uma vez que acreditam que a
crise atual reside justamente na hegemonia de um único enfoque epistemológico. O
‘’argumento central é em favor do pluralismo de métodos na academia jurídica, sendo
essencial discutir a viabilidade deste tipo de pluralismo no atual contexto teórico e
institucional’’. (MATTOS, NETO, 2007, p. 6).
Antes de explorar esse ponto a respeito do pluralismo de métodos na academia
jurídica, os autores apontam que, para entender a predominância do formalismo jurídico no
Brasil, é necessário investigar os modelos teóricos que lhe servem de base e que formam uma
certa ideia de unidade epistemológica da pesquisa em direito: o modelo analítico hartiano e o
modelo hermenêutico dworkiniano. Da perspectiva epistemológica, esses modelos permitem
47
avaliar os dois tipos de concepção de investigação de fenômenos jurídicos que fazem parte da
formação de pesquisadores em direito no Brasil39.
Mattos e Neto ressaltam que, apesar das diferenças, em ambos a reconstrução
dogmática é assumida como etapa necessária da pesquisa, o que na prática implica a
afirmação da cientificidade e da especificidade da pesquisa jurídica em relação às demais
metodologias de pesquisa em ciências sociais. No caso brasileiro: (...) esse tipo de afirmação da especificidade do direito tem limitado sensivelmente o
potencial de a pesquisa jurídica apresentar uma análise critica das condições de
operação do direito e dos efeitos das normas sobre as diversas esferas sociais. Da
mesma maneira, fica bastante restrita a discussão de reformas institucionais a partir
de trabalhos jurídicos’’. (MATTOS, NETO, 2007, P. 12)
Diante da ideia de que a especificidade do direito limita o campo de análise e o
potencial transformador da pesquisa jurídica, afirmam ser necessária uma abertura
epistemológica para métodos que vão além do analítico-descritivo e do hermenêutico-
interpretativo. Para os autores, essa abertura não implicaria um estado de tensão entre os
referidos métodos, mas sim a aceitação de que o direito pode ser investigado a partir de
metodologias que não tem como etapa fundamental da pesquisa a reconstrução dogmática. A
questão que se colocam é se a ausência de reconstrução dogmática na pesquisa em direito
acarretaria uma perda de especificidade do direito enquanto ciência. Entendendo o direito e os
fenômenos jurídicos como objetos de pesquisa, acreditam que não há perda de especificidade,
uma vez que ‘’se existe alguma especificidade do direito, tal especificidade reside no objeto e
não no método de pesquisa’’ (MATTOS, NETO, 2007, P. 13).
Esse ponto da especificidade do direito parece marcar um importante ponto de tensão
quando se pensa na possibilidade de abertura epistemológica no campo do direito. Do que foi
possível mapear para a realização deste trabalho, pude notar dois posicionamentos. (i) ‘’o
direito é marcado pela decidibilidade, por isso não pode ser estudado por metodologias de
outras ciências sociais’’; (ii) a decidibilidade não impede a adoção de outras metodologias
para investigar fenômenos jurídicos, não descaracteriza o fenômeno jurídico.
Para entender os pontos de vista em conflito nesse debate, Marcos Nobre nos oferece
uma útil contribuição. Em um texto40 que busca explicar por que o direito, como disciplina
39 Optei por não descrever os modelos apontados, pois seria necessário dedicar um espaço que poderia comprometer o foco da discussão a respeito da relação entre pesquisa e ensino jurídico. Caso haja interesse, sugiro a leitura do texto dos autores (referências). 40 NOBRE, Marcos. In: NOBRE, Marcos. (Org.). O que é pesquisa em direito? São Paulo: Quartier Latin, 2005.
48
acadêmica, não acompanhou o vertiginoso crescimento qualitativo da pesquisa em Ciências
Humanas no Brasil nos últimos trinta anos, analisa qual seria a natureza do objeto de
investigação do direito tendo em vista dois fatores hipóteses de sua questão, o isolamento do
direito em relação a outras disciplinas das Ciências Humanas e a confusão entre prática
profissional e pesquisa acadêmica. Para não desviar do propósito imediato de refletir sobre a
decidibilidade, optei por não aprofundar esses temas no presente momento, apenas no que
seria essencial para a construção da ideia de Nobre em relação a natureza do objeto de
investigação do direito.
Para o autor, a confusão entre prática profissional e pesquisa acadêmica, ou elaboração
teórica, provoca um bloqueio para que não se implante no direito uma concepção nova de
pesquisa. A isso está relacionado o fato de que o padrão de o que é pesquisa em direito no
Brasil passou a ser o parecer, que se tornou modelo de pesquisa. Como parecer, o autor
entende um material que não procura no seu conjunto um padrão de racionalidade e
inteligibilidade, para posteriormente formular uma tese explicativa - o que é o padrão de um
trabalho acadêmico em Direito. Há uma resposta antes da formulação da própria pergunta; e o
que significa ter a resposta antes da formulação da pergunta? Para esclarecer esse ponto,
considera necessário discutir qual seria o objeto de investigação científica e acadêmica no
campo do Direito.
Para isso, sem a intenção de ser original ou de estabelecer consensos, afirma que a
dogmática é um núcleo da investigação científica no direito. Defende que há um objeto
específico de investigação no âmbito do direito, e por isso, não acredita que a investigação
científica nesse campo significa submeter a disciplina à perspectiva da sociologia ou da
economia. Há um objeto específico de investigação no campo do direito e é preciso trabalhar
sobre ele. Mesmo no caso da Sociologia Jurídica, a investigação dogmática é um ponto
central, mas tem um objetivo diferente do de uma reconstrução em alguns ramos do direito.
Portanto, há que se perguntar o que é a dogmática. Para isso, utiliza um texto do professor
Tercio Sampaio Ferraz (um trecho da conclusão de ‘’A ciência do direito’’), que Nobre afirma
‘’ter a mais poderosa reflexão sobre a dogmática jurídica que dispomos no Brasil’’ (NOBRE,
2005, p.33). ‘’A mera técnica jurídica que, é verdade, alguns costumam confundir com a
Ciência do Direito, e que corresponde à atividade jurisdicional no sentido amplo – o
trabalho dos advogados, juízes, promotores, legisladores, pareceristas e outros -, é
uma dado importante, mas não é a própria ciência. Esta se constitui como uma
arquitectônica de modelos, no sentido aristotélico do termo, ou seja, como uma
atividade que os subordina entre si tendo em vista o problema da decidibilidade (e
49
não de uma decisão concreta). Como, porém, a decidibilidade é um problema e não
uma solução, uma questão aberta e não um critério fechado, dominada que está por
aporias como as da justiça, da utilidade, da certeza, da legitimidade, da eficiência, da
legalidade etc., a arquitetônica jurídica (combinatória de modelos) depende do modo
como colocamos os problemas. Como os problemas se caracterizam como ausência
de uma solução, abertura para diversas alternativas possíveis, a ciência jurídica se
nos depara como um espectro de teorias, às vezes até mesmo incompatíveis, que
guardam sua unidade no ponto problemático de sua partida. Como essas teorias têm
uma função social e uma natureza tecnológica, elas não constituem meras
explicações dos fenômenos, mas se tornam, na prática, doutrina, isto é, elas ensinam
e dizem como deve ser feito. O agrupamento de doutrinas em corpos mais ou menos
homogêneos é que transforma, por fim, a Ciência do Direito em Dogmática Jurídica.
Dogmática é, nesse sentido, um corpo de doutrinas, de teorias que têm sua função
básica em um ‘’docere’’ (ensinar). Ora, é justamente este ‘’docere’’ que delimita as
possibilidades abertas pela questão da decidibilidade, proporcionando certo
‘’fechamento’’ no critério de combinação dos modelos. A arquitectônica jurídica
depende, assim, do modo como colocamos os problemas, mas esse modo está
adstrito ao ‘’docere’’. A Ciência Jurídica coloca problemas para ensinar. Isso a
diferencia de outras formas de abordagem do fenômeno jurídico, como a Sociologia,
a Psicologia, a História, a Antropologia, etc., que colocam problemas e constituem
modelos cuja intenção é muito mais explicativa. Enquanto o cientista do direito se
sente vinculado, na colocação dos problemas, a uma proposta de solução, possível e
viável, os demais podem inclusive suspender o seu juízo, colocando questões para
deixá-las em aberto.’’
Marcos Nobre reconhece que o texto tem vários aspectos complexos41, mas não se
propõe a desenvolver todos. Retoma seu raciocínio e, primeiramente, concorda com Tercio
quando este ressalta a distância entre o que chama de mera técnica jurídica - atividade
jurisidicional no sentido amplo, ou seja, o trabalho do advogados, juízes, promotores,
legisladores, pareceristas e outros - e a Ciência do Direito. Entretanto, questiona a ideia de
que o que distingue a Ciência do Direito da técnica jurídica é a decidibilidade em relação a
uma decisão concreta, uma vez que isso conduz a ideia de que é a decidibilidade a marca
distintiva da Ciência do Direito em comparação a outras disciplinas das Ciências Humanas.
Nobre não se propõe a explicar a sua discordância ou questionamento, simplesmente se limita
a dizer que essa é uma ideia que tem dificuldade de entender, uma vez que, pensando dessa
forma, haveria um movimento de tecnicização da ciência, já que a decidibilidade exprime o
41 a questão do direito enquanto ciência é um desses aspectos complexos. Como já apontado no capítulo anterior, é um debate que tem uma longa e complexa trajetória, e que não me propus a descrever no trabalho.
50
que Tércio chama de estatuto tecnológico, que faz da Ciência do Direito uma doutrina
dogmática. Diz ainda, como conclusão, que apesar de não ter clareza quanto à posição de
Tercio, considera que os termos permitem avançar teoricamente na definição do objeto, e
particularmente no que diz respeito às diferenças do Direito em relação a outras disciplinas
das Ciências Humanas.
Ainda em diálogo com o texto transcrito acima, afirma que a especificidade do Direito
(sem dizer claramente qual seria para ele) não deveria impedir que a Ciência do Direito possa
ser explicativa, desde que se mantenha com vigor a distinção entre técnica e ciência.
Acrescenta ainda que essa especificidade não deveria estar direcionada unicamente a
propostas de solução, sendo possível, portanto, a realização de reconstruções dogmáticas que
não tenham compromisso com soluções e com a decidibilidade, mas que busquem unicamente
compreender o estatuto de determinado instituto na prática jurisprudencial, que iria para
primeiro plano. Outra divergência está no fato de discordar que a dogmática deva se limitar a
sistematizar a doutrina; ao contrário, para delimitar cada vez mais a distância entre técnica
jurídica e ciência, deve-se distinguir dogmática e doutrina.
Diante do cenário que delimitou, Nobre propõe que se quisermos implantar um novo
modelo de pesquisa, a primeira coisa que se deve fazer é exigir uma dedicação integral à
pesquisa, ao ensino e à extensão de uma parte substancial dos docentes de um curso de
Direito.
Retomando as ideias de Mattos e Neto, eles afirmam que a exigência de decidibilidade
é característica da operação do direito diante da necessidade de regulação das esferas sociais.
Um ordenamento jurídico é formado e reformulado ao passo em que as condições (dinâmicas)
das esferas sociais demandam normas para resolução de conflitos organização institucional. E
nesse sentido, a reconstrução dogmática é sim um dos elementos necessários à decidibilidade.
Trata-se, portanto, de um enfoque a partir do qual se pode analisar o direito enquanto objeto,
mas não é etapa fundamental de toda e qualquer pesquisa jurídica (MATTOS, NETO, P.13)
Fechando então a ideia em relação ao que os autores colocaram como armadilha
teórica, voltamos o olhar para o que identificaram como armadilha institucional42.
Esse componente institucional apresenta duas interfaces: ‘’De um lado, a estrutura das faculdades de direito e o mercado editorial de obras
jurídicas funcionam como filtro que contribuem para a prevalência de trabalhos
formalistas. De outro, as diversas instituições que compõem os círculos profissionais
42 Neste ponto os autores alertam para o fato da literatura ser praticamente inexistente, sendo que o ensaio consiste em tentativa inicial e exploratória de reflexão sobre os aspectos institucionais que reforçam a hegemonia do formalismo na pesquisa jurídica brasileira (MATTOS, NETO, 2007, p. 18).
51
(e.g. Poder Judiciário, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil)
reforçam a posição central do formalismo baseado nos métodos analítico-descritivo
e hermenêutico-interpretativo’’. (MATTOS, NETO, 2007, p.18)
Na perspectiva das faculdades de direito, vários incentivos estimulam a
reprodução do método hegemônico em detrimento do estímulo à inovação e ao pluralismo
metodológico. Na graduação, por exemplo, é muito comum que, mesmo nas escolas de
prestígio, os alunos estejam habituadas a reproduzir em exames as opiniões de seus
professores a respeito da articulação em abstrato de conceitos dogmáticos. Essa prática se
estende na pós-gruadução, em que os mestrandos e doutorando na maioria das vezes elaboram
seus trabalhos seguindo a mesma linha dos trabalhos de seus orientadores. As bancas de pós-
gradução também estimulam a reprodução de trabalhos de caráter formalista, com pouco
espaço para inovações metodológicas, o que também ocorre nas bancas de concursos para
seleção ou ascensão na carreira de professores nas principais universidades do País. A
expectativa dos examinadores, que são na maioria das vezes professores mais antigos, é
justamente a de um trabalho formalista que ofereça contribuições para a ‘’doutrina’’ através
de uma discussão abstrata sobre conceitos dogmáticos. Trabalhos que, por exemplo,
apresentam métodos empíricos, são vistos com desconfiança e merecem censuras (MATTOS,
NETO, 2007). O mercado editorial também atua para desestimular inovações. A demanda é
focada majoritariamente em trabalhos descritivos ou interpretativos da dogmática jurídica.
Manuais abrangentes com debates abstratos sobre ramos inteiros da dogmática jurídica
(manual de Direito Civil, Manual de Direito Penal, etc), são rapidamente consumidos pelo
crescente número de estudantes de direito no País43 (MATTOS, NETO, 2007).
Há ainda o papel das instituições jurídicas, que reforçam a posição central dos
trabalhos formalistas de cunho descritivo. Os juízes, por exemplo, fazem isso ao realizarem
raciocínios analíticos interpretativos abstratos com o objetivo de fundamentar suas decisões.
As cortes, reforçando essa prática, igualmente tendem a citar os referidos trabalhos
formalistas como suporte de autoridade intelectual para justificar decisões (MATTOS, NETO,
2007). 43 Na época em que o trabalho foi publicado, havia no Brasil mais de 1.000 cursos de Direito reconhecidos pelo Ministério da Educação. São formados no Brasil aproximadamente 45.000 bacharéis de Direito por ano (cf.– Ministério da Educação). Em 2009, havia mais de 650 mil alunos matriculados em cursos de Direito no Brasil (INEP, 2010)
52
Cria-se, portanto, o que os autores denominam de ecossistema institucional,
responsável por atribuir enorme utilidade à pesquisa jurídica do tipo analítico-descritivo ou
hermenêutico-interpretativo. Resumindo: ‘’Trata- se de uma “elite de bacharéis” que produz e reproduz a chamada “doutrina”,
na forma de manuais de direito, de pareceres jurídicos, de decisões judiciais, bem
como influencia, dado o seu conhecimento técnico especializado e a sua “rede de
relações profissionais”, a produção legislativa do País’’. (MATTOS, NETO, p. 20)
São essas armadilhas apresentadas que criam as condições para manter a hegemonia
do que foi descrito como formalismo, em detrimento de uma abertura de novos enfoques
sobre o direito. Os métodos de pesquisa em ciências sociais, por exemplo, segundo os
autores, podem ser úteis para a compreensão das condições de formação do conteúdo de
normas e seus efeitos sobre as esferas sociais.
Cabe apontar para algumas iniciativas que se propuseram oferecer um contraponto ao
modelo formalista. Tendo como ponto de partida o movimento realista norte-americano44, os
autores mencinam o law and economics e o critical legal studies45. O primeiro passou a ter
uma enorme influencia enquanto modelo teórico de análise do direito, não só em termos de
produção acadêmica, mas também em termos de influência sobre as práticas nos tribunais dos
Estados Unidos. Segundo os autores, o modelo firmou-se como uma alternativa metodológica
aos modelos analíticos-descritivos e hermenêuticos.
O critical legal studies se constitui como negação da compreensão do direito como um
sistema normativo fechado que poderia ser descrito a partir de uma coerência lógica e
metodológica. Enfatizou a abertura e a indeterminação dos conceitos normativos, e com isso,
apontava para a impossibilidade dos juízes determinarem se uma decisão é ou não correta ter
termos de aplicação e interpretação do direito (UNGER, 1983, apud MATTOS, NETO, 2007).
Sem aprofundar nos aspectos de cada uma das linhas, passo a análise dos autores. Para
eles, o law and economics e o critical legal studies não devem ser compreendidos como
alternativas completas aos modelos analítico-descritivos e hermenêutico-interpretativos e,
muito menos, como soluções à crise da pesquisa jurídica no Brasil. A análise proposta é a de
que cabe avaliar os limites e as condições analíticas proporcionadas por cada metodologia de
44 Em linhas gerais, o movimento realista era uma reação ao descolamento entre o direito e a realidade que o circundava (MATTOS, NETO, 2007). 45 Ambos os movimentos tornaram-se proeminentes nas escolas de elite dos Estados Unidos a partir da metade nos anos 1970. (idem)
53
pesquisa, assumindo o direito como objeto e afastando a reconstrução dogmática como etapa
fundamental da pesquisa jurídica.
Aos aspectos usualmente atribuídos ao diagnóstico de crise do ensino jurídico no
Brasil, deve-se, portanto, agregar o aspecto da crise da pesquisa jurídica. Para Mattos e Neto,
sem uma profunda transformação no atual quadro de pesquisa, a reforma do ensino tende a ser
superficial, ‘’atribuindo novas cores e algum dinamismo a aulas que continuarão sendo
essencialmente a reprodução de uma visão formalista do direito’’ (MATTOS, NETO, 2007,
p.24). Nesse cenário, não bastam novas metodologias de ensino frente à ausência de
investigações que possibilitem criar novas condições de explicação e de transformação de
conteúdos normativos e das instituições relacionadas à operação do direito.
55
CAPÍTULO 6
CONSIDERÇÕES FINAIS ‘’Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva”
(ANDRADE, 2001)
Nos capítulos antecedentes, busquei sistematizar algumas das transformações no
estatuto do ensino jurídico no Brasil. No início, pontuei aspectos do processo de consolidação
do que hoje entendemos como o ‘’modelo tradiconal’’ de ensino do direito. Vimos como os
processos econômicos, políticos e sociais no decorrer da segunda metede do século XX
provocaram mudanças significativas nas relações sociais; mudanças que foram responsáveis
por gerar demandas até então inéditas para o universo jurídico. Verificamos que a crescente
complexidade do cenário atual nos obriga a repensar velhos conceitos e a buscar novas
respostas – ou, pelo menos, a reformular as perguntas de modo mais preciso e eficaz. Já não
podemos insistir na reiteração das críticas feitas vinte, trinta anos atrás. Para vislumbrar
mudanças no caminho do ensino praticado nas faculdades de direito, é necessário agregar
novas ideias ao debate.
E o que considerar nesse espaço destinado às considerações finais? Bom, em primeiro
lugar, partindo da premissa que grande parte dos leitores desse trabalho terá alguma ligação
com o ensino do direito, creio que todos, ou pelo menos a maioria, concordarão que ‘’do jeito
que está não dá pra ficar’’. Todos temos uma opinião. Cada um enxerga o problema e
vislumbra soluções através de sua própria lente construída por suas experiências pessoais.
Para os alunos, o problema pode estar nos professores, pouco entusiastas em suas exposições;
para os professores, o problema pode estar nos alunos, mais preocupados em se dedicar aos
estágios do que às aulas. Alguns dirão que o problema está nos currículos, precisamos de mais
disciplinas zetéticas; outros dirão que está na falta de flexibilidade, precisamos de menos
disciplinas obrigatórias. Os escritórios querem um perfil, o governo quer outro. Enfim, sem
incorrer em mais obviedades, o que quero dizer é que nesse contexto de múltiplos
‘’quereres’’, parece impossível transformar o que existe. Nos conformamos então com o
sentimento expressado por Drummond, e ‘’adiamos para o outro século’’ a possibilidade de
fazer – e experienciar– algo diferente.
6.1 Uma escolha consciente
Nesse sentido, considero, no que seria o segundo ponto dessas considerações, mais
uma contribuição de Garcez. Frente às dificuldades para transformar o que existe, o autor
propõe uma alternativa à adesão resignada a um projeto já estabelecido.
56
Há sempre a opção por agir sobre essas estruturas para que se tornem mais próximas
daquilo que se acredita que devam ser. Isto obriga os professores, em primeiro lugar, a ter um
objetivo de fundo, uma proposta central em que acreditem. Sem isso, não há como propor
manutenção ou mudança de rumos. Concordo com Garcez quando afirma que grande parte do
fracasso dos esforços de renovação metodológica vem do pouco tempo de dedicação para
esclarecer e definir esse ponto. Gasta-se muito mais tempo discutindo como ensinar e o que
ensinar, do que por que ensinar. Essa é a questão central.
Seguir, portanto, um modelo tradicional de ensino é uma escolha, assim como é uma
escolha recusá-lo ou alterá-lo. Garcez provoca a reflexão: ‘’Se eu ensino utilizando os
mesmos métodos de que meus mestres se serviram há dez, vinte ou trinta anos, é porque
desejo que seja assim, porque acredito que não haja modo melhor de ensinar. Mas é uma
escolha minha’’ (GHIRARDI, 2012, p.17). Mesmo nas instituições mais resistentes a novas
abordagens, sempre há algum grau de discricionariedade docente. Ou seja, não só é possível,
como é imprescindível fazer escolhas, assim como é imprescindível explicitá-las.
Adotar essa perspectiva como central pode contribuir para a instauração de uma nova
lógica na implementação de mudanças para o ensino do direito.
Desde o diagnóstico de crise apontado em 1970-1980, algumas mudanças foram
implementadas nos currículos. Para muitos, a portaria de 1886, de 30/12/1994, do Ministério
da Educação, marca o início de um futuro promissor para o ensino. A exigência de produção
de trabalhos de conclusão de curso de caráter científico para a formação do bacharel e a
inclusão da disciplina de metodologia de pesquisa em direito, por exemplo, para alguns fez
com que as escolas de direito intensificassem o interesse pela produção de conhecimento
jurídico, abrindo o caminho para novas transformações.
Sem me propor a fazer uma avaliação da efetividade dessas medidas, quero apenas
ressaltar que não basta focarmos os esforços em pensar mudanças ‘’de cima para baixo’’, via
resoluções do MEC. As inicitativas por parte das comissões institucionais destinadas a propor
reformas para o ensino do direito – Como a Comissão de Especialistas de Ensino do Direito
(CEED/SESu/MEC) em parceria com a OAB – são sem dúvidas importantes. Mas não podem
centralizar o papel propositivo para o ensino. Essas iniciativas tem todas as limitações que
qualquer tentativa de pensar soluções abrangentes a partir um pequeno grupo possui. Por mais
óbvio que isso possa parecer, é importante ter em mente as limitações dessa lógica. Não é raro
ouvir em conversas informais sobre os problemas do ensino, o discurso que atribui ao MEC o
papel de propor soluções efetivas. Reverter essa lógica, ou ao menos agregar uma nova
perspectiva na direção das transformações, passa, portanto, por considerar a sala de aula como
57
um espaço (muito) viável para pensar novas maneiras de se lidar com velhos problemas.
Nesse sentido, o professor, a partir das escolhas que faz, tem inegável responsabilidade nesse
processo.
6.2 Uma escolha ‘’inconsciente’’
A reflexão que Garcez faz, inspirado no pensamento de Florestan Fernandes, em
relação à educação no ensino superior, também pode ser feita ao pensarmos a educação
jurídica: ‘’O consenso (ao menos no discurso) sobre a importância da educação, em geral, tem
camuflado um dissenso de fundo que não pode ser solucionado apenas por referências a
critérios supostamente técnicos’’ (GHIRARDI, 2012, p. 22). Com isso, quer dizer que o modo
como diferentes grupos se posicionam frente a questões inerentes a universidade
(universalização do acesso ao ensino superior, autonomia universitária, financiamento de
pesquisa, etc) deriva das crenças desses grupos em determinado modelo de universidade e de
sua função na vida do País (GHIRARDI, 2012).
Isso não é trivial. Se os problemas do ensino jurídico estão sendo apontados a partir da
perspectiva do mercado de trabalho, há que se pensar quais as implicações que a adoção desse
ponto de vista pode ocasionar. Se a análise é a de que as faculdades de direito no País não
preparam os alunos para exercer as funções exigidas pelo mercado de trabalho do século XXI,
e pautamos então o ensino de acordo com as necessidades desse mercado, estamos talvez
admitindo uma sujeição da educação a um conjunto de valores que pode ser bastante
questionável. Não é dizer que o mercado não importa. As escolas de direito devem sim
preparar (e bem) seus alunos para ocuparem os postos de um mercado cada vez mais exigente
e complexo. Entretanto, há que se pensar no risco que se corre caso essa seja a única
preocupação ao apontar as falhas do modelo vigente e propor novas mudanças no ensino.
Por esse ângulo, ainda há que se questionar a influência que alguns grupos
profissionais exercem no estabelecimento do que seriam as prioridades para o ensino. A
advocacia, uma entre as dezenas de carreiras entre as quais o bacharel pode optar, parece
homogenizar um grupo diversificado, e com isso toma para si a responsabidade de representá-
lo. Para Faria e Campilongo:
‘’o ‘exame da Ordem’, requisito para o exercício regular da advocacia, é um
exemplo do caráter profissionalizante da formação jurídica, uma vez que abre
caminho pra um comprometimento da autonomia universitária e para uma perigosa
corporativização do ensino em direito, tendendo a torná-lo despreparado para atuar
como formulador de novas opções de pensamento alternativo com relação tanto às
58
teorias e doutrinas jurídicas quanto às soluções legislativas e decisões judiciais
vigentes.’’ (CAMPILONGO, FARIA, p. 13)
O acordo de cooperação firmado entre MEC e OAB em 11 de março desse ano, que tem como
escopo elaborar uma nova política regulatória do ensino jurídico no País, alerta para a necessidade de
envolvimento de toda a comunidade jurídica nas audiências públicas que se realizarão pelo País. E
indica, mais uma vez, a influência da OAB na pauta das discussões sobre ensino.
6.3 A coletividade como necessidade
Diante do tamanho do esforço necessário para dimensionar um problema em toda sua
complexidade, qualquer um pode se sentir pequeno. É bom que seja assim. Os juristas
precisam se libertar do legado profissional que os estimula a trabalharem isoladamente, de
modo autoral, como se um bom jurista fosse capaz de resolver tudo sozinho. No mundo
complexo em que vivemos, as melhores soluções costumam vir do trabalho em equipe e em
redes. O mundo atual é um sistema de redes interligadas; e a maior rede de todas é a
informação. Ignorar esse fato, ou posicionar-se contra ele de modo reativo, serve apenas para
minar qualquer possibilidade de mudar o sistema46.
E é por isso que pensar o ensino jurídico é uma tarefa que exige o diálogo coletivo. As
contribuições individuais são sim importantes. Entretanto, não faz sentido teorizarmos
soluções e propormos mudanças tendo apenas o papel como instrumento de transmissão de
ideias. Professores, alunos e comunidade precisam conversar. Os espaços de diálogo coletivo
– comissões de discussão de projeto pedagógico, grupos de estudos sobre ensino jurídico e,
inclusive, as audiências públicas organizadas pela OAB e Ministério da Educação - são
fundamentais para a construção de um projeto (ou talvez vários) de escola de direito, que
deixe de pensar em ensino e caminhe para pensar em educação. Para ser educação. Arrisco
aqui dizer que qualquer transformação que se pretenda efetiva depende do grau de
coletividade das tomadas de decisões.
46 Parte dessa reflexão é feita por Rafael Cardoso, no livro ‘’Design para um mundo complexo’’ (Cosacnaify, 2012). As discussões que propõe no livro, como a necessidade de se repensar o design frente às complexidades geradas no que é chamada era pós-industrial, continuam fazendo muito sentido se trocamos ‘’design’’ por ‘’direito’’. Isso parece evidenciar a falta de sentido do esforço empenhado em compartimentar o conhecimento de modo tão hermético. O mundo é o mesmo para todos, e provoca ‘’tumultos’’ em todas os campos do saber quando resolve transformar-se repentinamente. Não há porque não considerar as contribuições de outras áreas, mesmo que aparentemente tão distantes do direito.
59
REFERÊNCIAS ANDRADE, Carlos Drummond de. Elegia 1938. Sentimento do mundo. Rio de Janeiro: Record, 2001.
DEAD Poets Society. Direção: Peter Weir. EUA: Walt Disney Video, 1998. 1 DVD (129 min.).
ECO, Umberto. Arte e beleza na estética medieval. Rio de Janeiro: Record, 2010.
GHIRARDI, José Garcez. O instante do encontro: questões fundamentais para o ensino jurídico. São Paulo: Fundação Getulio Vargas, 2012.
GUSTIN, Miracy Barbosa. (Re)Pensando a pesquisa jurídica. 2 ed. 2006. Del Rey.
FALCÃO, Joaquim de Arruda. Ensino jurídico e currículo mínimo. In: Cadernos da PUC: A reforma do ensino jurídico. Rio de Janeiro: PUC, 1974.
RODRIGUEZ, Caio Farah; FALCÃO, Joaquim. O projeto da Escola de Direito do Rio de Janeiro da FGV. Rio de Janeiro : Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2005. Cadernos FGV Direito Rio.
FERNANDES, Florestan. A universidade brasileira: reforma ou revolução? São Paulo: Alfa-Omega, 1979.
OLIVEIRA, Luciano. Não fale do Código de Hamurábi! A pesquisa sócio-jurídica na pós-graduação em Direito. Sua Excelência o Comissário e outros ensaios de Sociologia Jurídica.2004. Letra Legal.
NOBRE, Marcos. Apontamentos sobre a pesquisa em Direito no Brasil. In: Cadernos Direito GV, no. 1, 2004. São Paulo, EDESP/FGV.Disponível em: http://www.cebrap.org.br/v1/upload/biblioteca_virtual/NOBRE_Apontamentos%20sobre%20a%20Pesquisa%20em%20Direito%20no%20Brasil.pdf
NOBRE, Marcos. In: NOBRE, Marcos. (Org.). O que é pesquisa em direito? São Paulo: Quartier Latin, 2005.
PEREIRA NETO, Caio Mario da Silva; MATTOS, Paulo Todescan Lessa. A crise da pesquisa em direito no Brasil: armadilhas e alternativas ao formalismo jurídico. Versão preliminar a ser submetida para apresentação no Seminário SELA, Yale Law School, Puerto Rico, 2007.
FRAGALE FILHO, Roberto. VERONESE, Alexandre. A pesquisa em Direito: diagnóstico e perspectivas. In: RBPG. Revista Brasileira de Pós-Graduação. Brasília (DF), v. 2, 2004.
FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio, A ciência do direito. 2 ed. São Paulo. Atlas, 2006.
THE PAPER Chase. Direção: James Bridges. EUA: 20th Century Fox, 2003. 1 DVD (113 min.).
VENÂNCIO FILHO, Alberto. Das arcadas ao bacharelismo. São paulo: perspectivas, 1982.
60
UNGER, Roberto Mangabeira. Uma nova faculdade de Direito no Brasil. . Rio de Janeiro :
Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2005. Cadernos FGV
Direito Rio.
61
Anexo 1
UM NOVO PACTO
Quando se sente bater No peito heróica pancada, Deixa-se a folha dobrada Enquanto se vai morrer…
Prezada professora, prezado professor,
Estamos em greve desde o dia 9 de agosto. A matrícula foi o estopim para a mobilização
(afinal, centenas de estudantes corriam o risco de não conseguir vagas em quantidade mínima
de disciplinas), mas o que nos motivou não foi só essa questão imediata. Paramos porque
estamos convictos de nossa responsabilidade: nossa Faculdade pode ser muito mais. Deve ser
muito mais. Devemos isso à nossa história e ao povo que sustenta nossa educação.
Numa academia de 186 anos, mudanças lentas, muitas vezes com um passo em frente e dois
passos atrás, são de se esperar. A situação atual nas Arcadas, entretanto, é inaceitável: nosso
modelo pedagógico é uma colcha de retalhos. O aprendizado do direito todo não pode ser
compreendido em cinco anos de disciplinas forçadas, entre obrigatórias e “optatórias”. Isso
nega ao aluno seu papel ativo na construção do conhecimento. Insistir nisso é ineficiente e
leva à conhecida falta de interesse entre estudantes e mesmo entre professores.
O pior: essa base curricular contraditória pune, ao invés de incentivar, justamente os mais
persistentes estudantes, que buscam a formação possível, que permita ao discente o
conhecimento do direito a partir da reflexão sobre questões relevantes e sobre problemas
práticos de relevância social que despertem sua atenção. Pesquisa e extensão, marcas da
excelência acadêmica, são colocadas em segundo plano. A academia se divorcia de sua
missão; o currículo (do latim curriculum, “lugar em que se corre”) – que deveria ser caminho
– se transforma num obstáculo a ser transposto.
É por conta disso que paramos. Estamos certos de que chegou o momento em que toda a
comunidade acadêmica do Largo deve assinar um novo pacto. Um compromisso de levar a
sério as questões burocráticas e dificuldades de consenso que nos impedem de fazer jus à
nossa tradição e à nossa dívida com a população que custeia estas Arcadas. Um compromisso
de não se furtar ao debate, de construir conjuntamente o que podemos – e devemos – ser: uma
escola que vá além das aulas sem diálogo, desestimulantes, de mera “leitura de código”
descolada da realidade; uma escola em que a extensão e pesquisa, dever de uma universidade
pública, também tenham seu devido lugar. Acreditamos que não faz sentido voltar às aulas
62
enquanto esta Faculdade não for capaz de dar prova inequívoca de respeito a esse
compromisso.
Essa demonstração de determinação renovada começa pela aprovação de algumas medidas
imediatas. Novamente, essas demandas urgentes são apenas uma parte de nossa mobilização,
os primeiros passos na reconstrução de nossa escola. Ainda assim, não deixam de ser
prementes e devem ser adotadas no mais breve possível:
1. Racionalização da matrícula. O sistema precisa de critérios de seleção claros (período
ideal e média ponderada) e deve possibilitar ao estudante se reorganizar caso não seja
selecionado em sua primeira opção, com vagas para o contraturno ou mesmo o oferecimento
de uma disciplina obrigatória no mesmo horário em mais de uma sala.
2. Mais créditos livres. A baixa oferta de eletivas em nossa unidade, somada à necessidade
de se valorizar as atividades de extensão, pesquisa e monitoria, bem como o estudo
interdisciplinar, exigem a expansão dos atuais 12 “créditos livres”.
3. Não à junção das salas. A recomendação da CG (transformar as quatro salas de 60 alunos
em duas de 120) foi tomada de forma inesperada e sem o necessário diálogo com os
estudantes. Essa medida, que nunca esteve em nossa pauta, é apenas paliativa e, como não há
garantia de oferecimento de mais optativas em contrapartida, não deve resultar na melhora
almejada.
Além dessas demandas, é imprescindível assegurar que ninguém seja prejudicado
simplesmente por ter feito sua parte nessa mobilização, uma luta desgarrada de interesse
próprio. Muitos dos atuais estudantes dificilmente terão a chance de viver essas
transformações. Esse é especialmente o caso dos quintanistas (turma 182). Não se pode
admitir que sua colação de grau seja atrasada.
Essas medidas são o sinal de compromisso que esperamos para que finalmente possamos
conversar sobre uma nova fase da mobilização, com o retorno às aulas. Temos certeza que
nossas bandeiras são compartilhadas por toda a comunidade acadêmica (estudantes,
funcionários e professores). Sabemos da dificuldade de aprovar as reformas necessárias às
mudanças que defendemos. Nosso movimento deve ser visto justamente como uma
oportunidade de compreender a gravidade da situação e de abrir as portas dos espaços
deliberativos para as atitudes decisivas desse novo pacto no Largo de São Francisco.