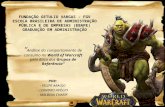Dissertação_MARCIO_Neske_2009_Versão FINAL
-
Upload
marcioneske -
Category
Documents
-
view
15 -
download
0
Transcript of Dissertação_MARCIO_Neske_2009_Versão FINAL
-
1UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SULFACULDADE DE CINCIAS ECONMICAS
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL
MRCIO ZAMBONI NESKE
ESTILOS DE AGRICULTURA E DINMICAS LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO
RURAL: o caso da Pecuria Familiar no Territrio Alto Camaqu do Rio Grande do
Sul
Porto Alegre2009
-
2MRCIO ZAMBONI NESKE
ESTILOS DE AGRICULTURA E DINMICAS LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO
RURAL: o caso da Pecuria Familiar no Territrio Alto Camaqu do Rio Grande do
Sul
Dissertao submetida ao Programa de Ps-Graduao em Desenvolvimento Rural da Faculdade de Cincias Econmicas da UFRGS como requisito parcial para obteno do grau de Mestre em Desenvolvimento Rural.
Orientador: Prof. Dr. Lovois de Andrade Miguel
Porto Alegre2009
-
3MRCIO ZAMBONI NESKE
ESTILOS DE AGRICULTURA E DINMICAS LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO
RURAL: o caso da Pecuria Familiar no Territrio Alto Camaqu do Rio Grande do
Sul
Dissertao submetida ao Programa de Ps-Graduao em Desenvolvimento Rural da Faculdade de Cincias Econmicas da UFRGS como requisito parcial para obteno do grau de Mestre em Desenvolvimento Rural.
Aprovada em Porto Alegre, em 14 de julho de 2009.
Banca Examinadora:
___________________________________________Prof. Dr. Lovois de Andrade Miguel PresidenteFaculdade de Cincias Econmicas - PGDR/UFRGS
___________________________________________Prof. Dr. Eduardo Ernesto Filippi Faculdade de Cincias Econmicas - PGDR/UFRGS
___________________________________________Dr. Marcos Flvio Silva BorbaEmbrapa Pecuria Sul - Bag
___________________________________________Prof. Dr. Oscar Agustn Torres FigueredoFacultad de Ciencias Agrarias/UNA - Paraguai
-
4 minha me amada Gelsi,obrigado pelo amor e carinho de todas as horas;
obrigado por ter transmitido os valores e os princpiosque me permitiram chegar at aqui.
-
5AGRADECIMENTOS
Esse trabalho consolida mais uma etapa da minha trajetria pessoal e profissional, e
abre novos caminhos e desafios para serem percorridos e vencidos daqui para frente. No
entanto, nessa caminhada nunca estive sozinho e abandonado, pois sempre estiveram ao
meu lado pessoas especiais para compartilhar os momentos de alegria e dificuldades.
Dedico aqui algumas palavras de profundo agradecimento as pessoas que sempre
estiveram comigo e tambm quelas que tive a oportunidade e o privilgio de conhecer ao
longo dessa caminhada e fortalecer as minhas relaes sociais de laos fortes. Por isso so
essas pessoas merecedoras do meu agradecimento, admirao e respeito.
Inicialmente agradeo DEUS pela vida e por todas as oportunidades de novas
realizaes.
minha famlia que, mesmo em meio distncia geogrfica, sempre estiveram to
pertos. Obrigado me, irmos, sobrinhos.
Ao professor Lovois por ter aceitado essa orientao e por ter oportunizado momentos
de convivncia bastante agradveis. Obrigado pela amizade, pela simplicidade e pelos
conhecimentos transmitidos durante a orientao desse trabalho.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ao Programa de Ps-Graduao em
Desenvolvimento Rural (PGDR), onde tive a oportunidade de alar vos mais altos. Agradeo
a todos os professores e funcionrios.
A todos os colegas de Mestrado e Doutorado da turma 2007. Com certeza os
momentos de estudo e a vida pessoal em Porto Alegre foram mais agradveis na presena de
vocs, onde o que sempre prevaleceu foi o esprito de amizade. Sem ordem de importncia,
um agradecimento especial aos amigos Adilson, Camilista (Camilo), Evander, Sandra, Ju,
Josi, Stella, Otvio, Pati, Elvis, Vika, Maria, Regina, Armando, Dilvan, talo e Remy.
Ao CNPq pela concesso de bolsa durante o perodo de mestrado.
-
6Um agradecimento especial ao amigo e pesquisador da Embrapa Pecuria Sul Marcos
Borba, pois sua motivao, incentivo e entusiasmo junto ao trabalho com a pecuria familiar
contriburam para dar origem concepo desse trabalho de pesquisa.
Ao amigo Jos Pedro, pesquisador da Embrapa Pecuria Sul, o qual sempre mostrou-
se disposto em colaborar com esse trabalho.
Embrapa Pecuria Sul por ter disponibilizado toda a sua estrutura (recursos
humanos e materiais) durante a realizao da pesquisa, pois certamente muitas etapas no
seriam alcanadas sem esse apoio institucional. Meus sinceros agradecimentos aos excelentes
funcionrios e amigos Harry e Manzke.
Agradeo aos amigos Leonardo Pompeu, Lidiane Boavista e Mariliane Bento que
auxiliaram no trabalho de campo.
Ao amigo Aluzio Guedes, professor da UERGS, que ofereceu valiosas contribuies
na etapa da pesquisa de campo.
amiga Raquel Cardoso por ter me recebido em Porto Alegre e tambm pela
disposio em colaborar durante vrias fases da pesquisa.
Aos escritrios municipais da Emater dos municpios de Pinheiro Machado e Santana
da Boa Vista.
Ao Sindicato Rural dos trabalhadores de Pinheiro Machado e Santana da Boa Vista.
Aos pecuaristas familiares do Alto Camaqu. Muito obrigado pela acolhida calorosa
em suas residncias.
-
7A pecuria familiar no melhor nem pior que os outros tipos de pecuria,
apenas diferente.
Palavras de um dos atores sociais do Territrio Alto Camaqu
-
8RESUMO
A reproduo das concepes homogeneizantes preconizadas pela modernizao da agricultura, caracterizada, sobretudo, pela crescente mercantilizao dos fatores de produo, no operou da mesma maneira e intensidade sobre as relaes sociais de produo e trabalho familiares. Essa a condio observada em relao pecuria familiar do territrio Alto Camaqu localizado na metade sul do estado do Rio Grande do Sul, pois muitas das caractersticas do contexto socioeconmico, cultural e ecolgico dos pecuaristas familiares mostraram-se incompatveis as proposies contidas no projeto de modernizao. O objetivo geral orientador dessa pesquisa identificar e analisar como a mercantilizao inseriu-se nos sistemas produtivos dos pecuaristas familiares do territrio Alto Camaqu, e como esse processo foi responsvel pela constituio de estilos de agricultura diferenciados. A operacionalizao da pesquisa emprica adotou como base metodolgica a Anlise-Diagnstico dos Sistemas Agrrios (ADSA), tendo como principal pressuposto captar a diversidade dos tipos de agricultura observveis a partir de um contexto agrrio especfico, e identificar os condicionantes histricos, socioeconmicos, polticos, culturais e ambientais responsveis por essa diferenciao entre os grupos sociais. Mesmo estando os pecuaristas familiares inseridos num ambiente com caractersticas socioeconmica, cultural e ambiental semelhantes, a aparente homogeneidade revela-se heterognea a partir das distintas formas que a mercantilizao encontra-se presente junto aos sistemas produtivos. Assim, foram aparecendo estratgias diferenciadas de reproduo social a partir dos modos que os pecuaristas lograram insero aos mercados, o que determinou a existncia de estilos de agricultura diversificados. No entanto, a mercantilizao da agricultura no desconstituiu a trade terra, famlia e trabalho, pois essas categorias representam uma totalidade e permanecem imbricadas no modo de viver dos pecuaristas familiares. Sendo a mercantilizao um processo que se estabelece em diferentes graus, operando em algumas etapas da produo (antes, dentro e depois da porteira) de acordo os interesses individuais dos agricultores, procurou-se verificar em que medida as relaes existentes entre os estilos de agricultura com a natureza contribuem para a autonomia das unidades familiares. Demonstrou-se que condio tributria aos estilos de agricultura dos pecuaristas familiares do territrio Alto Camaqu, estratgias produtivas que so baseadas e dependentes mais dos intercmbios realizados com a natureza do que as relaes estabelecidas com os mercados.
Palavras-chave: Pecuria Familiar. Estilos de Agricultura. Territrio Alto Camaqu.
-
9RESUMEN
La reproduccin de las concepciones homogenizantes preconizadas por la modernizacin de la agricultura, caracterizada, sobretodo, por la creciente mercantilizacin de los factores de produccin, no opero de la misma manera e intensidad sobre las relaciones sociales de produccin y trabajo de las unidades familiares. Esa es la condicin observada en relacin a la produccin pecuaria familiar del territorio Alto Camaqu, localizado en la mitad sur del estado de Rio Grande do Sul, donde muchas de las caractersticas del contexto socioeconmico, cultural y ecolgico de los productores pecuarios familiares se mostraron incompatibles a las proposiciones contenidas en el proyecto de modernizacin. El objetivo general de esta investigacin es identificar y analizar como la mercantilizacin se insiri en los sistemas productivos de estos productores y como ese proceso fue responsable por la constitucin de estilos de agricultura diferenciados. La operacionalizacin de la investigacin adopt como base metodolgica el Anlisis-Diagnostico de los Sistemas Agrarios (ADSA), teniendo como principal objetivo captar los diferentes tipos de agricultura observables en un contexto agrario especifico, e identificar los condicionantes histricos, socioeconmicos, polticos, culturales y ambientales responsables por esa diferenciacin entre los grupos sociales. As los productores pecuarios familiares estn inseridos en un ambiente con caractersticas socioeconmicas, culturales y ambientales semejantes, la aparente homogeneidad se revela heterognea a partir de las distintas formas en que la mercantilizacin se encuentra presente junto a los sistemas productivos. De esta manera, aparecieron estrategias diferenciadas de reproduccin social a partir de los modos por medio de los cuales los productores pecuarios lograron la insercin en los mercados, lo que determin la existencia de estilos de agricultura diversificados. Sin embargo, la mercantilizacin de la agricultura no desarticul la triada tierra, familia y trabajo, pues esas estrategias representan una totalidad y permanecen imbricadas en el modo de vivir de los productores pecuarios familiares. Siendo la mercantilizacin un proceso que se da en diferentes grados, operando en algunas etapas de la produccin (antes, dentro y despus de la cerca) de acuerdo a los intereses individuales de los agricultores, se procur verificar en que medida las relaciones existentes entre los estilos de agricultura con la naturaleza contribuyen para la autonoma de las unidades familiares. Se demostr que es condicin tributaria a los estilos de agricultura de los productores pecuarios familiares del territorio Alto Camaqu, el desarrollo de estrategias productivas las cuales estn basadas mas en los intercambios realizados con la naturaleza que en las relaciones establecidas con los mercados.
Palabras clave: Pecuaria familiar. Estilos de agricultura. Territorio Alto Camaqu.
-
10
LISTA DE FIGURAS
FIGURA 1 - Esquema da condio camponesa. .....................................................................42
FIGURA 2 - Esquema de reproduo relativamente autnomo e historicamente garantido. .44
FIGURA 3 - Reproduo dependente do mercado..................................................................45
FIGURA 4 - Principais processos do metabolismo entre a sociedade e a natureza .................49
FIGURA 5 Diagrama de fluxos de emergia de um sistema de produo genrico...............69
FIGURA 6 - Mapa de localizao dos municpios que compem a Bacia Hidrogrfica do
Alto Camaqu, com destaque para os municpios de Pinheiro Machado e Santana da Boa
Vista..........................................................................................................................................72
FIGURA 7 - Mapa da leitura da paisagem com as respectivas zonas agroecolgicas
considerando o agrupamento dos municpios de Pinheiro Machado e Santana da Boa Vista,
Rio Grande do Sul, Brasil.........................................................................................................80
FIGURA 8 - Caractersticas socioeconmicas e ambientais da zona agroecolgica Planalto 82
FIGURA 9 - Caractersticas socioeconmicas e ambientais da zona agroecolgica Serra.....83
FIGURA 10 - Caractersticas socioeconmicas e ambientais da zona agroecolgica Arenito 84
FIGURA 11 - Caractersticas socioeconmicas e ambientais da zona agroecolgica Campos
de Vrzea ..................................................................................................................................85
FIGURA 12 - Imagens ilustrativas com algumas das caractersticas dos sistemas de produo
do Estilo de Agricultura 1.......................................................................................................110
FIGURA 13 - Diagrama dos inputs/outputs socioeconmicos e ambientais do Estilo de
Agricultura 1...........................................................................................................................111
FIGURA 14 - Imagens ilustrativas com algumas das caractersticas dos sistemas de produo
do Estilo de Agricultura 2.......................................................................................................132
-
11
FIGURA 15 - Diagrama dos inputs/outputs socioeconmicos e ambientais do Estilo de
Agricultura 2..........................................................................................................................133
FIGURA 16 - Imagens ilustrativas com algumas das caractersticas dos sistemas de produo
do Estilo de Agricultura 3.......................................................................................................138
FIGURA 17 - Diagrama dos inputs/outputs socioeconmicos e ambientais do Estilo de
Agricultura 3...........................................................................................................................139
FIGURA 18 - Valores percentuais dos fluxos emergticos da natureza (R+N) e da economia
(S+M) que entram nos sistemas produtivos dos diferentes estilos de agricultura..................150
-
12
LISTA DE QUADROS
QUADRO 1 - Sistemas de criao identificados entre os estilos de agricultura dos pecuaristas
familiares do territrio Alto Camaqu...................................................................................121
QUADRO 2 - Itinerrio tcnico do sistema de criao bovinocultura de corte cria Estilo
de Agricultura 1 ......................................................................................................................122
QUADRO 3 - Itinerrio tcnico do sistema de criao bovinos de corte cria/recria Estilo
de Agricultura 1 ......................................................................................................................126
QUADRO 4 - Itinerrio tcnico do sistema de criao ovinos Estilo de Agricultura 1......127
QUADRO 5 - Itinerrio tcnico do sistema de criao caprinos Estilo de Agricultura 1...129
QUADRO 6 - Itinerrio tcnico do sistema de criao bovinos de corte recria/terminao
Estilo de Agricultura 3...........................................................................................................147
-
13
LISTA DE TABELAS
TABELA 1 - Caracterizao dos municpios de Pinheiro Machado e Santana da Boa Vista de
acordo com a populao total, populao na bacia hidrogrfica, rea total e na bacia na bacia
hidrogrfica...............................................................................................................................73
TABELA 2 - Representatividade da cobertura vegetal dos municpios Pinheiro Machado e
Santana da Boa Vista................................................................................................................74
TABELA 3 - Evoluo da populao rural e urbana do Rio Grande do Sul e dos municpios
de Pinheiro Machado e Santana da Boa Vista, RS. ..................................................................76
TABELA 4 - Estrutura fundiria dos municpios de Pinheiro Machado e Santana da Boa
Vista, RS...................................................................................................................................77
TABELA 5 - Nmero de estabelecimentos agropecurios dos municpios de Pinheiro
Machado e Santana da Boa Vista, RS. .....................................................................................77
TABELA 6 - Produto Interno Bruto (PIB) per capita e estrutura do Valor Agregado Bruto
(VAB) dos municpios de Pinheiro Machado, Santana da Boa Vista e do estado do Rio
Grande do Sul. ..........................................................................................................................78
TABELA 7 - Relao de nmero de estabelecimentos agropecurios e efetivo de animais nos
municpios de Pinheiro Machado e Santana da Boa Vista, RS. ...............................................78
TABELA 8 - Estratificao da idade/sexo dos membros e do nmero de membros que
compem as famlias analisadas dos pecuaristas familiares segundo os estilos de agricultura.
..................................................................................................................................................96
TABELA 9 - Estratificao da Unidade Trabalho Familiar (UTH f), Total (UTH t) e
Contratada (UTHc) dos pecuaristas familiares analisadas segundo os estilos de agricultura. .99
TABELA 10 - Formas de acesso terra das famlias dos pecuaristas familiares analisadas
segundo os estilos de agricultura ............................................................................................102
-
14
TABELA 11 - Se tivesse dinheiro sobrando hoje, quais seriam as prioridades de
investimento?..........................................................................................................................103
TABELA 12 - Estratificao segundo as forma de uso da terra entre as famlias dos
pecuaristas familiares analisadas segundo os estilos de agricultura.......................................105
TABELA 13 - Estratificao segundo formas de uso da terra, conforme a amostragem total
das famlias analisadas do Estilo de Agricultura 1 ................................................................109
TABELA 14 - Indicadores agroeconmicos de avaliao de eficincia, conforme a
amostragem total Estilo de Agricultura 1 ............................................................................113
TABELA 15- Formas de uso da terra representada pela relao SAU da pastagem nativa/SAU
pastagem total, conforme a amostragem total encontrada no Estilo de Agricultura 1 ...........116
TABELA 16 - Relao do Produto Bruto Comercializado sob o KI animal, taxa de desfrute,
ndices de lotao bovinos por rea e lotao total, conforme a amostragem total Estilo de
Agricultura 1...........................................................................................................................117
TABELA 17 - Relao do PB animal, vegetal e autoconsumo sob o PB total, conforme a
amostragem total encontrada Estilo de Agricultura 1 ........................................................119
TABELA 18 - Estratificao segundo formas de uso da terra, conforme a amostragem total
das famlias analisadas do Estilo de Agricultura 2 ................................................................131
TABELA 19 - Indicadores agroeconmicos de avaliao de eficincia, conforme a
amostragem total encontrada no Estilo de Agricultura 2 .......................................................134
TABELA 20 - Formas de uso da terra representada pela relao SAU da pastagem
nativa/SAU pastagem total, conforme a amostragem total - Estilo de Agricultura 2 ............135
TABELA 21 - Relao do Produto Bruto Comercializado sob o KI animal, taxa de desfrute,
ndices de lotao bovinos por rea e lotao total, conforme a amostragem total - Estilo de
Agricultura 2...........................................................................................................................136
TABELA 22 - Relao do PB animal, vegetal e autoconsumo sob o PB total, conforme a
amostragem total encontrada Estilo de Agricultura 2 .........................................................137
-
15
TABELA 23 - Estratificao segundo formas de uso da terra, conforme a amostragem total
das famlias analisadas do Estilo de Agricultura 3 ................................................................138
TABELA 24 - Indicadores agroeconmicos de avaliao de eficincia, conforme a
amostragem total Estilo de Agricultura 3 ............................................................................140
TABELA 25 - Formas de uso da terra representada pela relao SAU da pastagem
nativa/SAU pastagem total, conforme a amostragem total encontrada no Estilo de Agricultura
3 ..............................................................................................................................................142
TABELA 26 - Relao do Produto Bruto Comercializado sob o KI animal, taxa de desfrute,
ndices de lotao bovinos por rea e lotao total, conforme a amostragem total Estilo de
Agricultura 3...........................................................................................................................143
TABELA 27 - Relao do PB animal, vegetal e autoconsumo sob o PB total, conforme a
amostragem total encontrada Estilo de Agricultura 3 .........................................................144
TABELA 28 - Participao individual dos diferentes fluxos emergticos da natureza (R+N) e
da economia (S+M) que entram nos sistemas produtivos dos estilos de agricultura
identificados (valores mdios)................................................................................................151
TABELA 29 - Comparaes dos ndices emergticos dos estilos de agricultura dos
pecuaristas familiares do territrio Alto Camaqu, com os sistemas de produo de lavoura
arroz e pecuria de corte e cultivo de soja convencional .......................................................155
-
16
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
ADSA Anlise Diagnstico de Sistemas AgrriosCI Consumo IntermedirioEA Estilo de AgriculturaEER Taxa de Intercmbio EmergticoEIR Razo de Investimento EmergticoEMATER Empresa de Assistncia Tcnica e Extenso RuralEMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa AgropecuriaEYR Razo de Produo EmergticaFAO Organizao das Naes Unidas para a Agricultura e
AlimentaoFEE Fundao de Economia e Estatstica IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e EstatsticaICMS Imposto sobre Circulao de Mercadorias e prestao de ServiosINCRA Instituto Nacional de Colonizao e Reforma AgrriaPB Produto BrutoPBt Produto Bruto TotalR Renovabilidade EmergticaRA Renda AgrcolaRAA Rendas das Atividades No-AgrcolasRT Renda TotalSAU Superfcie Agrcola tilSR Sindicato RuralSTR Sindicato dos Trabalhadores RuraisST Superfcie TotalUFRGS Universidade Federal do Rio Grande do SulVAB Valor Agregado BrutoVAL Valor Agregado Liquido
-
17
SUMRIO
1 INTRODUO ...................................................................................................................20
2 DIVERSIDADE PRODUTIVA E MERCANTILIZAO DA AGRICULTURA ......24
2.1.1 As interfaces entre sistemas agrrios e territrio para o estudo de realidades
complexas.................................................................................................................................24
2.1.2 Desenvolvimento territorial: ruptura epistemolgica ou o mais do mesmo?...30
2.2 MERCANTILIZAO E DIVERSIDADE PRODUTIVA ..............................................36
2.2.1 A mercantilizao tradicional e a mercantilizao diferenciada ..........................36
2.2.2 Da relao mercantil antes da porteira e depois da porteira determinao
reprodutiva da unidade familiar dentro da porteira ......................................................41
2.2.3 Estilos de agricultura como expresso da heterogeneidade social e produtiva .......45
2.2.3.1 A base de recursos naturais garantidos pela produo familiar............................48
3 ASPECTOS METODOLGICOS DA PESQUISA ........................................................53
3.1 Delimitao da rea de estudo............................................................................................53
3.2 As etapas do estudo ............................................................................................................54
3.2.1 Coleta e tratamento dos dados secundrios existentes...............................................55
3.2.2 Leitura da paisagem ......................................................................................................56
3.2.3 Resgate da histria agrria...........................................................................................57
3.2.4 Tipologia dos Estilos de Agricultura............................................................................58
3.2.5 Anlise agroeconmica e ambiental dos Estilos de Agricultura ...............................60
3.2.5.1 Anlise agroeconmica...............................................................................................60
3.2.5.2 Anlise ambiental .......................................................................................................68
-
18
4 CARACTERIZAO E EVOLUO DOS SISTEMAS AGRRIOS DO
TERRITRIO ALTO CAMAQU ....................................................................................72
4.1 Localizao e caracterizao ambiental e socioeconmica do territrio............................72
4.2 Populao e estrutura fundiria .........................................................................................75
4.3 Economia e produo agropecuria....................................................................................78
4.4 Zoneamento Agroecolgico do Territrio Alto Camaqu.................................................80
4.5 Evoluo e diferenciao dos sistemas agrrios do territrio Alto Camaqu ...................85
4.5.1 Sistema agrrio indgena (at 1756).............................................................................85
4.5.2 Sistema agrrio estncia (1756 1900)........................................................................86
4.5.3 Sistema agrrio pecuria tradicional (1900 1970) ...................................................88
4.5.4 Sistema agrrio agropecuria moderna (1970 presente) ........................................90
5 ESTILOS DE AGRICULTURA E ESTRATGIAS PRODUTIVAS NO
TERRITRIO ALTO CAMAQU ....................................................................................93
5.1 Relaes (re)produtivas no contexto da pecuria familiar no territrio Alto Camaqu: terra, trabalho e famlia.............................................................................................................94
5.2 Estilo de agricultura 1: Pecuaristas familiares no-especializados e pluriativos ..........109
5.2.1 Sistema de criao bovinocultura de corte cria .....................................................121
5.2.2 Sistema de criao bovinocultura de corte cria/recria..........................................125
5.2.3 Sistema de criao ovinos ciclo completo ...............................................................127
5.3 Estilo de agricultura 2: pecuaristas familiares no-especializados e dependentes de transferncias sociais ..............................................................................................................131
5.4 Estilo de agricultura 3: pecuaristas familiares especializados ......................................137
5.4.1 Sistema de criao: bovinocultura de corte cria/recria ........................................146
5.4.2 Sistema de criao: bovinocultura de corte recria/terminao............................146
5.4.3 Sistema de criao ovinos ciclo completo ...............................................................147
-
19
5.5 Avaliao emergtica em perspectiva comparada dos estilos de agricultura dos pecuaristas familiares do territrio Alto Camaqu....................................................................................148
5.6 A dimenso simblica/cultural como representao da identidade territorial..................160
6 CONSIDERAES FINAIS............................................................................................164
REFERNCIAS ...................................................................................................................169
APNDICE A - Roteiro de entrevista ................................................................................181
APNDICE B - Smbolos da linguagem do fluxo de energia para representar sistemas
................................................................................................................................................197
APNDICE C - Base de dados para o clculo dos fluxos emergticos do Estilo de
Agricultura 1 .........................................................................................................................201
APNDICE D - Base de dados para o clculo dos fluxos emergticos do Estilo de
Agricultura 2 .........................................................................................................................204
APNDICE E - Base de dados para o clculo dos fluxos emergticos do Estilo de
Agricultura 3 .........................................................................................................................207
-
20
1 INTRODUO
No mbito do debate terico-analtico recente voltado ao tema do desenvolvimento
rural, tm sido recorrente encontrar tanto nas prticas acadmicas como nos discursos
proferidos pela esfera poltica-institucional a idia de que os espaos rurais j no se
restringem mais como o local que exerce a funo exclusiva de produo de alimentos para
abastecer os espaos urbanos. Nesse contexto, novas atribuies e oportunidades tm sido
institudas s exploraes agrcolas familiares a partir de um suposto reconhecimento do
carter multifuncional que essa categoria social pode desempenhar na perspectiva do
desenvolvimento rural sustentvel. Entre as atribuies e oportunidades reconhecidas, estaria
o papel exercido pelas unidades familiares na preservao e manuteno da paisagem e
biodiversidade, para a segurana alimentar, a gerao de empregos e ocupaes, entre outras.
No epicentro dessa renovao epistemolgica que vm buscando novos referenciais
para repensar o desenvolvimento rural, encontram-se questes tericas e analticas que
renem elementos que convergem para contestar os impactos e as limitaes do modelo de
modernizao da agricultura implementado a partir da segunda metade do sculo passado. De
certa forma, h um consenso na literatura dos estudos rurais que a modernizao da
agricultura foi o elemento responsvel por acelerar a diferenciao social e econmica no
processo de produo agrcola atravs da submisso dessa atividade ao modelo capitalista,
caracterizado, sobretudo, pela crescente mercantilizao dos fatores de produo.
Numa viso clssica, a modernizao da agricultura pode ser interpretada como um
processo que foi inspirado na ideologia da noo de desenvolvimento como sinnimo de
crescimento econmico (ALMEIDA, 1997). A idealizao desse processo tinha como uma
das premissas norteadoras a transformao das sociedades ditas tradicionais ou atrasadas
em sociedades modernas ou avanadas mediante ao progresso tcnico-cientfico da
agricultura. No caso do Rio Grande do Sul, a modernizao representou um condicionante
importante que foi responsvel por criar padres diferenciados e especficos de
desenvolvimento conforme as particularidades socioeconmicas, culturais e ambientais de
cada contexto agrrio.
Desse modo, com o advento da revoluo verde observa-se a consolidao de
modelos exgenos de desenvolvimento em certas regies, sobretudo, a partir da
especializao da produo e a integrao mercantil dos agricultores ao mercado global de
-
21
commodities agrcolas, derivando num processo crescente de mercantilizao das agriculturas
de base familiar. Esse o caso de regies como o norte e noroeste do Rio Grande do Sul, onde
os agricultores familiares que ocuparam e colonizaram aquele espao agrrio tiveram as suas
formas tradicionais de reproduo social transformadas na medida em que a
mercantilizao da agricultura adentrou densamente sobre as relaes de produo e
trabalho (CONTERATO, 2004; NIEDERLE, 2007).
Por outro lado, em meio s concepes homogeneizantes preconizadas pela
modernizao da agricultura, em outros espaos agrrios do Rio Grande do Sul a repercusso
e reproduo da modernizao sobre as relaes sociais de produo e trabalho de algumas
formas familiares foi diferenciada em decorrncia de sua menor intensidade. Essa a
condio observada em relao pecuria familiar1 do territrio Alto Camaqu localizado na
metade sul do estado Rio Grande do Sul, pois muitas das caractersticas do contexto
socioeconmico, cultural e ecolgico dos pecuaristas familiares mostraram-se incompatveis
as proposies contidas no projeto de modernizao. Assim, a ausncia de tais condies
necessrias para a transformao produtiva de uma condio de atraso condio
moderna caracterizou um processo de modernizao incompleto da pecuria familiar
(BORBA, 2006). Trata-se, portanto, de uma categoria social que instituiu a sua identidade
sociocultural baseada na atividade produtiva da pecuria de corte, e mesmo co-existindo com
as foras dominadoras do capitalismo, ainda mantm nos dias atuais muitas caractersticas
produtivas pr-modernas ao no ter incorporado ipsis literis os padres tecnolgicos
normativos proclamados pela modernizao da agricultura.
Portanto, embora o territrio Alto Camaqu seja um espao agrrio aparentemente
homogneo no que se refere as suas caractersticas ambientais e tambm quanto as relaes
scioculturais e produtivas consolidadas a partir da pecuria de corte, a mercantilizao no
operou no mesmo nvel e num sentido nico. Esse comportamento uma das expresses de
que a mercantilizao no transcorre na mesma intensidade, pois mesmo num ambiente
mercantilizado, os agricultores so responsveis por construir seus espaos de manobra em
relao s imposies do capitalismo, pois desenvolvem estratgias desde um repertrio
1Verifica-se atualmente, por parte dos estudiosos ligados ao tema do desenvolvimento rural, um grande interesse
de estudos e pesquisas voltados para a categoria social que tm sido designada como pecuarista familiar. Do ponto de vista terico, esses trabalhos tm demonstrado que o pecuarista familiar um tipo de agricultor familiar criador de gado, ou seja, a sua principal atividade produtiva representada pela produo da pecuria de corte (COTRIM, 2003; SANDRINI, 2005; RIBEIRO, 2009). Dessa maneira, ao tratarmos dessa categoria social, estamos nos remetendo definio conceitual presentes nesses estudos.
-
22
cultural especfico visando busca pela autonomia quanto s relaes mercantis (PLOEG,
1993, 2003, 2008). De tal modo, ainda que a mercantilizao seja responsvel por conduzir ao
processo de diferenciao social e econmica, ao mesmo tempo, tambm responde pela
ampliao da diversificao dos estilos de agricultura, pois esses so expresses das respostas
adaptativas adotas pelos agricultores nas suas relaes estabelecidas no somente com os
mercados, mas tambm com o universo sociocultural e ecolgico que esto envolvidos.
O carter incompleto de modernizao da pecuria familiar do territrio Alto
Camaqu anteriormente comentado, caracterizado, sobretudo, pela baixa interferncia humana
sobre os ecossistemas naturais, demonstra a existncia de dinmicas produtivas especficas
que so determinadas por relaes construdas entre o homem-cultural local e a natureza.
Tal comportamento revela padres produtivos, que de modo geral, esto assentados no uso de
recursos locais no-mercantilizados, por exemplo, o uso de mo-de-obra familiar, os recursos
reproduzidos dentro da prpria unidade de explorao agrcolas ou ento, as trocas
realizadas com a natureza.
Diante desta contextualizao apresentada, a problemtica de pesquisa definida com
a seguinte questo: como o processo de mercantilizao da agricultura configura diferentes
estilos de agricultura em um contexto com caractersticas socioeconmica, cultural e
ambiental semelhantes?
Como forma de contribuir para responder a problemtica definida, trs hipteses de
pesquisa foram estabelecidas. A primeira hiptese considera que a mercantilizao da
agricultura conduziu emergncia de diferentes estilos de agricultura da pecuria familiar do
territrio Alto Camaqu. Sustenta-se que os pecuaristas familiares construram diferentes
respostas individuais na relao com o processo de mercantilizao, caracterizando, assim, a
existncia de diferentes estilos de agricultura. Como segunda hiptese considera-se que
mercantilizao no transformou a constituio da trade terra, famlia e trabalho. Ou seja,
sustentamos que, embora a mercantilizao tenha adentrado as relaes de produo e
transformado algumas das caractersticas da base tcnica e da relao de produo e trabalho,
esse processo no alterou o modo de viver dos pecuaristas familiares, baseados em relaes
constitudas entre os elementos terra, a famlia e o trabalho. A terceira hiptese parte do
princpio de que condio tributria aos estilos de agricultura dos pecuaristas familiares do
territrio Alto Camaqu, estratgias produtivas que so baseadas e dependentes mais dos
intercmbios realizados com a natureza do que as relaes estabelecidas com os mercados.
Fundamentalmente considera-se que tais estratgias foram construdas num processo histrico
-
23
e constituem aes planejadas dos pecuaristas familiares, tendo em vista a busca pela
autonomia.
Ligado ao quadro de hipteses, o objetivo geral orientador dessa pesquisa identificar
e analisar como a mercantilizao inseriu-se nos sistemas produtivos dos pecuaristas
familiares do territrio Alto Camaqu, e como esse processo foi responsvel pela constituio
de estilos de agricultura diferenciados. Alm disso, o objetivo geral complementado por trs
objetivos especficos: 1) interpretar o processo histrico de formao e diferenciao dos
sistemas agrrios no territrio; 2) identificar a heterogeneidade de sistemas produtivos e suas
relaes com a constituio dos estilos de agricultura; 3) examinar em que medida as relaes
existentes entre os sistemas produtivos e os recursos naturais criam condies que
possibilitam o distanciamento dos mercados.
A anlise emprica dessa pesquisa faz parte de um enquadramento terico dos estudos
da sociologia rural que tm dado nfase as formas distintas de como as unidades familiares
esto envolvidas no processo mais geral da mercantilizao e como elas desenvolvem
estratgias diferenciadas visando construo da autonomia do grupo familiar. No entanto,
ainda so necessrios estudos que ampliem os conhecimentos acerca da heterogeneidade de
estilos de agricultura em diferentes contextos agrrios, evidenciando as rotas histricas
percorridas na sua evoluo e diferenciao e que deram origem a estratgias de
desenvolvimento genuinamente endgenas.
Alm desse captulo introdutrio, o trabalho est organizado e estruturado em mais
quatro captulos, juntamente com as consideraes finais, referncias bibliogrficas e
apndices. O segundo captulo apresenta as bases tericas que serviro de orientao ao longo
do restante do trabalho, analisando como eixo central as contribuies dos estudos
sociolgicos clssicos e contemporneos ligados ao tema da mercantilizao da agricultura e
estilos de agricultura. O terceiro captulo dedica-se aos aspectos metodolgicos, onde so
apresentadas as etapas que permitiram identificar os diferentes estilos de agricultura do
territrio. Na seqncia, o quarto captulo apresenta uma caracterizao do territrio e adentra
na histria agrria do territrio Alto Camaqu, reconstituindo as grandes etapas da evoluo e
diferenciao dos sistemas agrrios at os dias atuais. Por fim, o ltimo captulo analisa os
diferentes estilos de agricultura, demonstrando s particularidades presentes no domnio
produtivo e os condicionantes que deram origem a estilos de agricultura diversificados.
-
24
2 DIVERSIDADE PRODUTIVA E MERCANTILIZAO DA AGRICULTURA
Nesse captulo apresentado o referencial terico-analtico orientador desse trabalho
de pesquisa. Assim, inicialmente a discusso envolve as representaes da abordagem
conceitual dos sistemas agrrios no estudo da diversidade na agricultura, focando de maneira
especial, os processos histricos responsveis pela diferenciao das categorias de
agricultores. Dentro dessa discusso, procura-se identificar os pontos de convergncia
conceituais e metodolgicos entre sistemas agrrios e territrio para o estudo de diferentes
realidades agrrias. Assim, o esforo reunir elementos que possam contribuir para a
apreenso da diversidade produtiva da pecuria familiar presente no territrio Alto Camaqu.
Com a utilizao de autores referenciais da sociologia rural, buscam-se contribuies
que permitam pontuar o debate sobre a insero das unidades familiares de produo em
ambientes mercantilizados e a constituio de diferentes estilos de agricultura.
Fundamentalmente, consideram-se as proposies que tratam dos estudos envolvendo as
racionalidades produtivas (econmica e ecolgica) e os comportamentos socioculturais das
unidades familiares no que se refere anlise da diversidade de estilos de agricultura e modos
de vida no meio rural.
2 AS EXPRESSES DA DIVERSIDADE AGRRIA
2.1.1 As interfaces entre sistemas agrrios e territrio para o estudo de realidades
complexas
A histria agrria da humanidade demonstra que o desenvolvimento das diferentes
sociedades sempre esteve associado a contextos espaciais especficos circunscritos por
complexas relaes produtivas, socioeconmicas e culturais juntamente com o ambiente
natural. Antes mesmo do surgimento da agricultura no perodo neoltico (cerca de 10.000
anos antes do presente), a sobrevivncia das populaes primitivas nmades (caadoras,
coletoras e pescadoras) dependia de contnuos processos de desterritorializao e
reterritorializao em determinados espaos geogrficos, onde executavam as atividades
-
25
necessrias at atingirem os limites daquilo que era possvel explorar de forma que garantisse
a sua reproduo biolgica. A revoluo agrcola neoltica caracterizou a primeira grande
revoluo agrria da histria da humanidade, pois se caracteriza como o perodo que marcou o
surgimento e a expanso2 para todas as partes do mundo das primeiras prticas de agricultura
geradoras de excedentes denominadas de protocultura e protocriao de gado (MAZOYER &
ROUDART, 2001).
O que se pretende evidenciar com essa passagem histrica por alguns desencaixes3
sociais que caracterizaram as sociedades agrrias antigas, reconhecer e demonstrar que,
geograficamente distribudas em todas as regies continentais, a diversidade e a complexidade
observvel que caracterizam os processos produtivos agrcolas atuais, as suas diferenciaes
sociais, econmicas e culturais e formas de relaes com o sistema natural, so expresses
que advm da herana agrria onde encontram-se inseridas.
Desse modo, conforme Mazoyer & Roudart (2001), a anlise da dinmica dos sistemas
agrrios nas diferentes partes do mundo e nas diferentes pocas permite-nos compreender o
movimento geral de transformao no tempo e de diferenciao no espao das sociedades
agrrias. Assim concebido, cada sistema agrrio:
a expresso de um tipo de agricultura historicamente constitudo e geograficamente localizado, composto de um ecossistema cultivado caracterstico e de um sistema social produtivo definido, permitindo este explorar duradouramente a fertilidade do ecossistema cultivado correspondente (MAZOYER & ROUDART, 2001: 43).
Todo sistema agrrio , portanto, o produto de um processo coevolucionrio entre
sociedade e natureza, no sentido de evoluo integrada entre cultura e meio ambiente. De
acordo com Mazoyer (1987) citado por FAO/INCRA (1999:20), um sistema agrrio envolve,
portanto, uma combinao de um conjunto de variveis, quais sejam:
2
Conforme Mazoyer & Roudart (2001:67) a agricultura expandiu-se por todas as regies do globo terrestre a partir dos chamados centros de origem irradiantes, onde cada centro correspondia a uma rea de expanso particular. Os autores descrevem seis centros de origem, sendo quatro entre eles que foram centros largamente irradiantes: o centro prximo-oriental, que se constituiu na Sria-Palestina e mais latentemente no conjunto do Crescente frtil, entre 10.000 e 9.000 anos antes da atualidade; o centro centro-americano, que se estabeleceu no Sul do Mxico entre 9.000 e 4.000 anos antes da atualidade; o centro chins, que se constituiu inicialmente h 8.500 anos na China do Norte e depois completou-se ao estender-se para nordeste e sudeste, entre 8.000 e 6.000 anos antes da atualidade; o centro neoguineense, que teria emergido em Papua-Nova-Guin h cerca de 10.000 anos.Outros dois centros de origem, pouco ou nada irradiantes, tambm teriam se formados prximo mesma poca: centro sul-americano, possivelmente desenvolvido nos Andes peruanos ou equatorianos h mais de 6.000 anos antes da atualidade; centro norte-americano, que se instalou na bacia do mdio Mississipi entre 4.000 e 1.800 anos antes do presente.
3 Giddens (1991: 29) define desencaixe referindo-se ao deslocamento das relaes sociais de contextos locais de interao e sua reestruturao atravs de extenses indefinidas de tempo-espao.
-
26
o meio cultivado o meio original e as suas transformaes histricas; os instrumentos de produo as ferramentas, as mquinas, os materiais biolgicos
(as plantas cultivadas, os animais domsticos, etc.) - e a fora de trabalho social (fsica
e intelectual) que os utiliza;
o modo de artificializao do meio que disso resulta (a reproduo e a explorao do ecossistema cultivado);
a diviso social do trabalho entre a agricultura, o artesanato e a indstria que permite a reproduo dos instrumentos de trabalho e, por conseguinte;
os excedentes agrcolas, que, alm das necessidades dos produtores, permitem satisfazer as necessidades dos outros grupos sociais;
as relaes de troca entre os ramos associados, as relaes de propriedade e as relaes de fora que regulam a repartio dos produtos do trabalho, dos bens de produo e
dos bens de consumo e as relaes de troca entre os sistemas (concorrncia).
O arcabouo conceitual e metodolgico dos sistemas agrrios permite compreender,
de forma inteligvel, os processos histricos que conduziram formao da heterogeneidade
social e diversidade produtiva dos produtores. Entretanto, a anlise de um sistema agrrio
requer a aproximao dialtica com bases epistemolgicas interdisciplinares que possam
contribuir com a interpretao dos nveis de organizao e funcionamento de realidades
agrrias to diversas.
Nesse sentido, o conceito de territrio uma varivel importante que apresenta sua
interface com os sistemas agrrios no que refere ao entendimento de como se manifestam
diferentes dinmicas scio-culturais, econmicas, polticas e ambientais a partir de um
contexto histrico especfico em constante evoluo. Dito de outra forma, do ponto de vista
da investigao emprica, o territrio um referencial conceitual que contm elementos
analticos sem os quais a apreenso da diversidade e complexidade de um determinado
sistema agrrio seria incompleta. Dessa maneira procurar-se- demonstrar ao longo desse
trabalho que a categoria social de pecuaristas familiares presente no territrio Alto Camaqu
a expresso natural de um processo (inacabado) de diferenciao social decorrente das
diferentes etapas da evoluo e transformaes dos sistemas agrrios. Trata-se ento de
analisar as formas de uso do espao no sentido atribudo por Santos (1994), e identificar as
relaes sociedade-espao que deram origem s formas de apropriao e transformao do
espao vivido e das diferentes caractersticas que configuraram estilos de agricultura
diversificados.
-
27
O conceito de territrio ostenta na literatura uma acepo polissmica, tendo assumido
heuristicamente significados e conceitos prprios em diferentes disciplinas na rea das
cincias humanas e sociais4. No caso da geografia, origem do conceito, para grande parte dos
gegrafos o territrio faz meno ao espao e as relaes de poder nele existente (BECKER,
1983; SACK, 1986; RAFFESTIN, 1993; SOUZA, 1995; HAESBAERT, 1997; SANTOS,
1994, 2000; SAQUET, 2003, 2007).
O gegrafo brasileiro Milton Santos (1994) utiliza o conceito de territrio usado
dentro de uma concepo materialista (econmica), em que o uso dos territrios deve ser
entendido como um conjunto interligado de sistemas de objetos que representam
materialidade da sociedade e da natureza, e sistemas de aes representadas pelas relaes
sociais. Assim, para o autor
[...] o territrio no apenas o resultado da superposio de um conjunto de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem [...] O territrio a base do trabalho, da residncia, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. Quando se fala em territrio deve-se pois, de logo, entender que se est falando em territrio usado, utilizado por uma dada populao (SANTOS, 2000:96).
Para Claude Raffestin (1993), um dos gegrafos contemporneos mais influentes na
literatura internacional que contribuiu para a elaborao do conceito de territrio, o territrio
se forma a partir do espao, onde se projetam formas de trabalho e relaes de poder.
Desde uma perspectiva da representao de campo5 de Bourdieu (2000), podemos
compreender o territrio como o campo de foras onde se manifestam diferentes relaes de
poder baseados em valores e prticas especficas. possvel, ento, identificar relaes de
poder ou poderes (econmico, poltico, simblico) a partir da distino de uso do territrio
realizada por Santos (2000) entre territrio como recurso e territrio como abrigo, onde
enquanto para os atores hegemnicos o territrio constitui-se um recurso como garantia de
realizaes de seus interesses, para os atores hegemonizados o territrio constitui-se um
4
Esse polissemismo em torno do conceito de territrio certamente renderia uma extensa reviso da literatura especializada. No objetivo nosso fazer uma reviso do estado da arte sobre territrio, mas sim, evidenciar as principais concepes tericas do termo que serviro de orientao para esse trabalho. No caso do Brasil, algumas contribuies profcuas sobre as diferentes acepes de territrio presentes na literatura brasileira e internacional podem ser encontradas em Haesbaert (2004), Schneider e Tartaruga (2004), Saquet (2007), Schneider (2008).
5 Segundo Bourdieu (2000), campo pode ser definido como uma configurao relacional de foras em disputa pelo que considerado importante no campo, um espao de conflitos e de concorrncia no qual os concorrentes lutam para estabelecer o monoplio sobre a espcie especfica de capital pertinente ao campo.
-
28
abrigo onde existem processos adaptativos e recriao de estratgias que garantem sua
sobrevivncia. A partir dessa abordagem de territrio enquanto campo de poder entre
territrio-recurso e territrio-abrigo, pode-se analiticamente compreender as
transformaes da agricultura desde o seu processo de modernizao at as mudanas mais
atuais provocadas pela reestruturao da agricultura e dos espaos rurais e intensificadas pelo
processo de globalizao.
Outro autor brasileiro que, no nosso entendimento, tem oferecido contribuies
significativas aos estudos geogrficos territoriais atuais Rogrio Haesbaert (1997), onde a
partir de uma compilao das principais vertentes tericas clssicas e contemporneas,
elabora e prope uma abordagem integradora do territrio entre as dimenses materialista,
idealista e naturalista, o que seria possvel evidenciar as diferentes manifestaes que o
espao apresenta. Haesbaert (1997:39; 2004:40) concebe o territrio atravs de quatro
dimenses bsicas:
poltica (referida s relaes espao-poder em geral) ou jurdico-poltica (relativa as relaes espao-poder institucionalizada), em que o territrio visto como um espao
delimitado e controlado por um determinado poder (muitas vezes relativo as poder
poltico do Estado);
cultural ou simblico-cultural, a qual prioriza a dimenso simblica e mais subjetiva, onde o territrio visto como o produto da apropriao/valorizao simblica de um
grupo em relao ao seu espao vivido;
econmica, a qual enfatiza a dimenso espacial das relaes econmicas, sendo o territrio uma fonte de recursos.
natural, que utiliza a noo de territrio como forma de analisar as relaes entre sociedade e natureza.
Essa abordagem integradora proposta por Haesbaert visa suplantar a concepo
cartesiana do territrio, por exemplo, da etologia que estuda apenas o comportamento
territorial dos animais, da cincia poltica envolvida somente com o papel do espao na
construo de relaes de poder, ou ento, da antropologia em analisar as relaes simblicas
em diferentes grupos sociais.
A construo da definio de territrio para Haesbaert (1997, 2004) est centralizada
em relaes de poder envolvendo processos de dominao e apropriao da sociedade-espao6
6 O conceito de territrio em Haesbaert (1997) desenvolvido a partir dos conceitos de apropriao e dominao elaborados por Henri Lefebvre (1986). Conforme Lefebvre citado por Haesbaert (1997:41), a apropriao refere-
-
29
ao longo de um continuum entre a dominao poltica-econmica mais concreta e
funcional apropriao mais subjetiva e/ou cultural/simblica. Segundo o autor:
o territrio produto e condio da territorializao, e envolve, sempre, ao mesmo tempo [...], uma dimenso simblica, cultural, atravs de uma identidade territorial atribuda pelos grupos socais, como forma de controle simblico sobre o espao onde vivem (sendo tambm, portanto, uma forma de apropriao), e uma dimenso mais concreta, de carter poltico-disciplinar: a apropriao e ordenao do espao como forma de domnio. (HAESBAERT, 1997:42).
Para Haesbaert (1997, 2004), a dominao e apropriao do espao sempre envolvem
a criao de novos processos de desterritorializao (destruio ou excluso de antigos
territrios, ou a des-integrao de novos espaos numa rede econmica globalizada) e (re)
territorializao (formao de novos territrios atravs de uma reapropriao poltica e/ou
simblica do espao). No escopo desse referencial, um caso emblemtico apresentado pelo
prprio Haesbaert (1997) ao analisar a coexistncia da desterritorializao e a
reterritorializao no cerrado do nordeste brasileiro provocada pela migrao sulina a partir
do final da dcada de 1970. Enquanto a primeira foi promovida por redes nacionais-globais
dos complexos agroindustriais capitalistas e pelo prprio fluxo migratrio dos gachos para o
nordeste, a segunda acabou sendo conseqncia da primeira, sobretudo, na dimenso poltica
e cultural atravs do mantimento de alguns enraizamentos culturais do sul e com o controle
sobre os grupos sociais locais. Situao semelhante marcada por conflitos histricos
fundirios e scio-ambientais sobre um mesmo espao agrrio entre quem chegava e quem
j estava, provocando desenraizamentos tanto geogrfico como cultural, foi retratada
recentemente por Torres Figueredo (2008) ao analisar a formao do territrio brasiguaio7 no
espao produtivo do Paraguai atravs da introduo e expanso da sojicultura no leste e
sudeste do Pas por brasileiros.
Portanto, decorrente de uma estrutura social complexa, tanto a desterritorializao
como a reterritorializao devem ser entendidas como processos indissociveis,
multidimensionais e multiescalares e que constituem a existncia de multiterritorialidades, ou
seja, a sobreposio de territrios hierarquicamente encaixados (HAESBAERT, 2004,
2005), ou ento os territrios do territrio (FERNANDES, 2008:276). se a um processo de territorializao, envolvendo uma dimenso concreta (funcional) e outra simblica e afetiva. A dominao do espao origina territrios essencialmente utilitrios e funcionais, sem que haja sentido socialmente compartilhado e/ou relao de identidade. 7
Segundo Torres Figueredo (2008:59), brasiguaio so genericamente considerados os brasileiros que vivem no Paraguai, pertencendo a distintas classes sociais e que trabalham em diversos setores da economia.
-
30
A perspectiva integradora do territrio vinculada s condies de gerao de
desterritorializao e reterritorializao sobre o espao dominado e apropriado ,
heuristicamente, nosso referencial conceitual para o estudo dos sistemas agrrios do Alto
Camaqu. Enquanto um sistema agrrio permite apreender os diferentes estilos de agricultura
e explorar a sua ao prtica, reconstituindo as grandes etapas da sua evoluo, o territrio
delimita o espao de ao onde transcorrem as manifestaes das relaes scio-culturais,
econmicas e polticas e que determina (tempo-espao) transies entre novas e velhas
territorialidades, desterritorialidades e reterritorialidades.
Assim, deve-se considerar que, independente do momento histrico, todo sistema
agrrio est circunscrito por tramas territoriais, ou seja, um sistema agrrio pode ser formado
por vrios territrios (multiterritorialidades), constituindo camadas sobrepostas ( ex. unidade
de produo, comunidade, municpio, estado, pas, etc). Desse modo, tanto territrio como
sistema agrrio so construes objetivas/subjetivas de um espao, no entanto, analiticamente
deve-se recorrer estratificao da realidade em diversas dimenses ou escalas de acordo com
a perspectiva terico-metodolgica utilizada, conforme sugerido por Fernandes (2008).
2.1.2 Desenvolvimento territorial: ruptura epistemolgica ou o mais do mesmo?
O desenvolvimento rural ao longo das ltimas cinco dcadas passou por constantes
processos de metamorfoses em suas concepes tericas e propostas analticas de interveno
no mbito acadmico e poltico-institucional. Recuperar a gnese e a evoluo de tais
concepes tericas um exerccio em que o risco de simplificao elevado. Ao que se
observa, no entanto, percebe-se que a discusso mais recente sobre o que vm a ser o
desenvolvimento rural conduz h interpretaes de um processo inacabado de diferentes
arcabouos terico-analticos, mas que desde a dcada de 1990 o termo vm passando por um
renovado conjunto de noes e idias. Expresses como sustentabilidade, territorialidade,
ruralidade, pluriatividade, multifuncionalidade so triviais do debate atual sobre
desenvolvimento rural como demonstraes do reconhecimento de algumas novas
atribuies desempenhadas pelos processos produtivos e os espaos rurais.
De modo geral, a discusso sobre o desenvolvimento rural, tanto no mbito nacional
como internacional, tem atribudo agricultura um papel para alm da produo de alimentos
-
31
e fibras, como tambm um conjunto de funes como a gesto dos recursos naturais, a
conservao da biodiversidade e paisagens naturais e a contribuio para a viabilidade
socioeconmica para zonas rurais (RETING et al., 2009; GUZMN CASADO et al., 2000;
PLOEG et al., 2000). A decorrncia mais imediata dessa nova postura epistemolgica est
no reconhecimento e na (re)valorizao das estratgias endgenas do desenvolvimento, onde
os atributos locais e territoriais dos processos produtivos passaram a ser considerados
referenciais conceituais e operacionais importantes para o desenvolvimento rural.
Nesse sentido, atribui-se a globalizao um papel que reala as dinmicas locais e
territoriais. Segundo Marsden (1995), a reestruturao capitalista da agricultura a nvel global
ultrapassa as fronteiras das unidades produtivas individuais e passa a operar tambm no
espao rural como um todo, gerando uma ruralidade diferenciada responsvel por uma
reestruturao da prpria diviso social do trabalho em que espao rural tambm estaria sendo
mercantilizado. No caso brasileiro e latino-americano, conforme Schneider (2008), a
ruralidade diferenciada seria decorrente do processo crescente de mercantilizao, e tem
modificado as dinmicas das relaes rural-urbana atravs do incremento dos servios, do
turismo e da pluriatividade das famlias.
No seio do debate voltado aos estudos rurais parasse haver consenso que o divisor
dgua entre as velhas e novas abordagens tericas est na constituio de uma possvel
superao do paradigma da modernizao que dominou prticas, polticas e teorias nas
ltimas dcadas e na emergncia de um novo paradigma de desenvolvimento rural. Para
Ploeg et al. (2000) o desenvolvimento rural passa a ser um processo multi-nvel, multi-ator e
multifacetado como respostas emergentes aos problemas e limitaes decorrentes do
paradigma da modernizao. O novo paradigma deve partir do reconhecimento global que
na inter-relao entre agricultura e sociedade o rural deixa de ser apenas o espao dedicado a
fornecer matria-prima a preos baixos para os centros urbanos. Segundo os autores
necessrio tambm definir um novo modelo agrcola para o desenvolvimento rural j que at a
dcada de 1990 a intensificao e especializao produtiva em larga escala era o parmetro
que circunscreviam o desenvolvimento do setor agrcola. Deve-se, ento, criar estratgias que
valorizem as sinergias e a coeso dos espaos rurais, sobretudo, entre diferentes atividades
(agrcolas e no-agrcolas), produtos e servios e estilos de agricultura especficos juntamente
com os ecossistemas locais. O desenvolvimento um processo multi-ator, pois o rural deve
deixar de ser visto apenas como monoplio do agricultor e passar a integrar diferentes
mecanismos de coordenao que envolva todos os atores da sociedade. Outra questo
-
32
importante diz respeito ao nvel multifacetado do desenvolvimento envolvendo as questes
ambientais, pois necessrio criar diferentes prticas que estejam interconectadas em relao
ao uso e manejo sustentvel dos recursos naturais. Entre estas, estariam gesto das paisagens
naturais, o agro-turismo, e a produo de alimentos com qualidade diferenciada associada
imagem de regies especificas.
Nesse escopo terico a noo de territrio vm favorecendo o avano dos estudos
rurais no que se refere compreenso das dinmicas e as trajetrias de desenvolvimento em
diferentes contextos socioeconmico, culturais e ambientais. As discusses acerca da
abordagem territorial do desenvolvimento tm sido ampliadas nos ltimos anos justamente
como tentativa da criao de um novo referencial que possa reorientar o modelo de
desenvolvimento rural, tanto no que se refere s discusses envolvendo a prpria sociedade
civil (movimento sociais, entidades no-governamentais, etc), assim como, no plano
acadmico e tambm nos novos papis que o Estado e as polticas pblicas devem assumir. A
dimenso espacial de uso do territrio , portanto, o locus de anlise e interveno estratgica
para o desenvolvimento rural.
Conforme Abramovay (2003), o enfoque territorial do desenvolvimento rural
compreende as razes histricas de um territrio e seu capital social, que valoriza as tradies
e o potencial do espao local. Um caso emblemtico para as condies latino-americanas em
que o territrio define-se como a referncia para o desenvolvimento, planejamento e gesto de
territrios rurais encontrado no trabalho de Schejtman & Berdegu (2003), onde elaboram
uma proposta de aes poltico-institucional visando o combate da pobreza rural. Assim,
definem o desenvolvimento territorial rural como um processo de transformao produtiva e
institucional num determinado espao rural, com o propsito de reduzir a pobreza rural. Para
os autores, existem sete elementos que devem ser considerados como o novo enfoque de
desenvolvimento territorial rural:
1. A competitividade determinada pela ampla difuso do progresso tcnico e do
conhecimento condio necessria sobrevivncia das unidades produtivas. No
entanto, para ser competitivo quando se tem a perspectiva da superao da pobreza,
deve-se entender competitividade como capacidade de melhores empregos e auto-
empregos, que conduzam a um incremento sustentvel de renda e melhoria na
qualidade de vida das famlias rurais.
2. A inovao tecnolgica em processos, produtos e gesto o ponto chave para elevar a
produtividade do trabalho e a renda da populao rural.
-
33
3. A competitividade um fenmeno sistmico, ou seja, no um atributo de empresas
ou unidades de produo individuais ou isoladas, mas depende das caractersticas dos
ambientes e dos territrios.
4. A demanda externa ao territrio o motor das transformaes produtivas, essencial
para incrementar a produtividade e o emprego.
5. Os vnculos urbano-rurais so essenciais ao desenvolvimento das atividades agrcolas
e no-agrcolas no interior do territrio.
6. O desenvolvimento institucional decisivo para o desenvolvimento territorial. Por ele
se d a relao com o funcionamento de redes de relaes sociais de reciprocidade
baseada na confiana, nos elementos culturais e na identidade territorial, e nas redes
com atores externos ao territrio. Esses fatores facilitam a aprendizagem coletiva.
7. O territrio uma construo, ou seja, um conjunto de relaes sociais que do origem
e expressam uma identidade e um sentido de propsitos compartilhados por mltiplos
agentes pblicos e privados (SCHEJTMAN & BERDEGU, 2003:04).
De acordo com Schneider (2004), no campo dos estudos rurais a abordagem territorial
promoveu a superao do enfoque setorial das atividades econmicas (agricultura, indstria,
comrcio, servios) e suplantou a dicotomia espacial entre o rural versus urbano. Conforme o
autor, no existe qualquer tipo de determinismo ou evoluo pr-determinada, pois a
viabilizao dos territrios depender de relaes particulares e especficas de acordo com as
aes, estratgias e trajetrias que os atores (indivduos, empresas ou instituies) adotam
visando a reproduo social e econmica.
Para Sabourin (2002:24) o enfoque territorial considera a valorizao coletiva e
negociada das potencialidades das localidades e coletividades (individuais e institucionais),
chamadas de atributos locais ou de ativos especficos. Dessa forma, o desenvolvimento cada
vez mais dependente de relaes territoriais seja por proximidade (geogrfica, social, cultural)
ou por inter-conhecimento por meio de redes econmicas e scio-tcnicas. Nesse sentido, o
territrio pode ser visto como uma configurao mutvel, provisria e inacabada, e sua
construo pressupe a existncia de uma relao de proximidade dos atores (PACQUEUR,
2006), mas que tenha como base o princpio da especializao de ativos (fatores em
atividade), ou seja, a busca pelos recursos prprios ao territrio que permitiro a
diferenciao em relao aos territrios vizinhos antes que seja necessrio a concorrncia por
produtos padronizados (PACQUEUR, 2005).
-
34
Carrire & Gazella (2006) apresentam uma perspectiva similar a Marsden (1995)
sobre a mercantilizao do espao, pois no processo de especializao visando qualificao
e diferenciao de recursos, produtos e servios, gera-se uma renda de qualidade territorial,
ou seja, o prprio territrio o produto comercializado.
Nesse cenrio de reformulao das noes e conceitos acerca do desenvolvimento
rural, tm-se ampliado as possibilidades para a apreenso e valorizao da diversidade dos
processos produtivos agrcolas associados dimenso territorial envolvendo a agricultura
familiar. Questes importantes para reflexo podem ser extradas, sobretudo, a partir dos
estudos franceses.
Mollard (2006) trabalha com o conceito de multifuncionalidade e externalidades
territoriais avaliando os servios ambientais ou ecolgicos fornecidos pelos processos
produtivos agrcolas. Citando Picard (1998), para Mollard a noo de externalidade permite
caracterizar situaes onde as decises relativas consumo e produo de um agente afetam
diretamente a satisfao (bem-estar) ou o lucro (benefcio) de outros agentes, sem que o
mercado avalie e faa pagar ou retribua o agente por essa interao. Assim, o autor elabora
uma tipologia de externalidades que permitem avaliar a multifuncionalidade da agricultura. O
primeiro tipo so as externalidades diretas decorrentes do carter compsito dos produtos e/ou
dos fatores de produo agrcola e so resultantes da complementariedade tcnica envolvendo
produtos ou fatores (o papel da agricultura para manuteno ou degradao dos recursos
naturais), ou a partir de relaes econmicas associados ao processo produtivo (custo relativo
dos fatores de produo e substituio entre fatores, economias de escala, preos dos
produtos).
O segundo tipo so as externalidades indiretas, as quais so mais difceis de serem
apreendidas por possurem uma relao com a agricultura mais fraca. Por exemplo, a
agricultura pode contribuir para a promoo da biodiversidade e manuteno das paisagens,
por conseguinte, influenciar o turismo, ou o adensamento social pelos empregos gerados, mas,
no entanto, essas externalidades no so valorizadas e nem valorizveis, tratando-se apenas de
um estoque de recursos. Por fim, as externalidades de localizao referem-se a integrao
geogrfica ou de proximidade, pois na medida em que a maioria dos recursos naturais
necessrios agricultura esto localmente disponveis nos territrios, os efeitos ligados a sua
imobilidade podem ser qualificados de externalidades territoriais no sentido de que o seu
benefcio poder ser valorizado apenas localmente.
-
35
Outra contribuio importante presente na literatura internacional, o trabalho de
Pecqueur (2006), onde elabora uma anlise de diferenciao dos processos e produtos
territoriais a partir do conceito de cesta de bens. Para o autor a hiptese da cesta de bens
pode ser verificada, quando num momento de aquisio de um produto de qualidade
territorial, o consumidor descobre a especificidade de outros produtos procedentes da
produo local e determina sua utilidade do conjunto de produtos oferecidos (cesta)
(PACQUEUR, 2006:143). Empiricamente o autor demonstra que os processos produtivos de
um determinado territrio podem colocar em prtica uma estratgia voltada para uma oferta
ao mesmo tempo diversificada (integrando vrios tipos de bens e servios) e situada (
vinculada a um territrio especfico, aos processos histricos e culturais). O autor cita como
exemplo a produo do leo de oliva (produto lder) de Nyons na Frana que tambm induz
a compra de outros produtos do mesmo territrio, como vinhos, leos essenciais, alm da
utilizao turstica de terraos de oliveiras. Portanto, segundo Pecqueur (2005:14):
[...] uma diferenciao durvel, isto , no suscetvel de ser ameaada pela mobilidade dos fatores, s pode nascer verdadeiramente dos nicos recursos especficos, que no podem existir sem as condies nas quais foram gerados. O desafio das estratgias de desenvolvimento dos territrios consiste, portanto, essencialmente em se apropriar dessas condies e buscar o que constituiria o potencial identificvel de um territrio. Essas condies no poderiam ser definidas no abstrato. Elas dependem do contexto no qual se inscreve o processo heurstico de onde nascem os recursos especficos.
Desde a perspectiva at aqui discutida, sugere-se que as prticas de produo e
trabalho no mbito das unidades familiares sejam abordadas e entendidas a partir do conceito
de estilos de agricultura (PLOEG, 1994, 2003), ou seja, como um modo especfico de relao
e interao entre os elementos scio-culturais, econmicos e os processos naturais que, num
contexto histrico, mantm uma continuidade de modos de vida e produo agrcola ligada a
dimenso espacial (territorial). Dessa forma, o conceito de estilos de agricultura adotado
nesse trabalho privilegia o local onde estes esto inseridos, pois como ser visto no decorrer
desse trabalho, as relaes de produo e trabalho da pecuria familiar do territrio Alto
Camaqu esto enraizadas em circuitos do prprio territrio nas prticas historicamente
construdas.
-
36
2.2 MERCANTILIZAO E DIVERSIDADE PRODUTIVA
2.2.1 A mercantilizao tradicional e a mercantilizao diferenciada
A segunda metade da dcada de 70 e incio dos anos 80 do sculo XX marcam o
revigoramento dos estudos rurais acerca do entendimento da relao das unidades familiares
frente ao capitalismo nas sociedades avanadas. O perodo desencadeia no pensamento social
a retomada das discusses do papel das formas familiares de produo no capitalismo e as
razes da sua perseverana a partir da vertente neomarxista que vai, fundamentalmente,
resgatar as bases e as idias no revolucionrias de Marx e dos marxistas do sculo XIX.
Os estudos neomarxistas tiveram iniciou nos Estados Unidos por um conjunto de
autores que mais tarde formaram a escola conhecida como sociologia da agricultura. Uma
discusso aprofundada sobre o pensamento terico-metodolgico da sociologia da agricultura
norte-americana pode ser observada em Schneider (1997), onde segundo o autor, a sociologia
da agricultura pode ser definida pela negao aos pressupostos da "rural sociology" [...] e
caracteriza-se por uma clara preocupao com o estudo da "estrutura da agricultura" a partir
de uma "perspectiva crtica" [...](grifos no original), principalmente em oposio ao
difusionismo.
Para alm da dificuldade de definio8 do referencial terico-metodolgico da
economia poltica da sociologia da agricultura, alguns autores neomarxistas vo resgatar as
proposies de Kautsky no que se refere aos estudos rurais. Conforme Schneider (1997: 239),
os autores neo-kautskista [...] acreditam que a estrutura agrria tende a consolidar um
modelo dual: de um lado, persistir uma diversidade de formas familiares de produo e, de
outro, como plo hegemnico, se consolidar a industrializao e a mercantilizao da
agricultura [...] (grifos no original).
Portanto, no limite, os autores da escola sociolgica americana associados
perspectiva neomarxista vo orientar seus estudos analisando, de forma desvinculada do
8 Schneider (1997:238) citando Buttel et al. (1991), demonstra que na viso desse autor, a sociologia da agricultura segue duas orientaes: por um lado, esto os autores que procuram a partir de Marx demonstrar que o progresso tcnico segue uma orientao da penetrao do capitalismo na agricultura; e por outro, os autores que acreditam que o capitalismo tende a industrializar a agricultura igualmente ao processo de produo de mercadorias como outro qualquer. Alm disso, outros autores seguem uma terceira via analtica caracterizada pela fuso das duas perspectivas anteriores.
-
37
marxismo ortodoxo9, as transformaes da agricultura em face subordinao das unidades
familiares frente penetrao do capitalismo.
Nesse contexto, as formas de insero das unidades familiares de produo junto aos
mercados se constituem um ambiente com as condies necessrias para os neomarxistas
avaliarem as diferentes estratgias de reproduo desses agricultores no capitalismo.
Friedmann (1978) recupera o conceito de Marx de produo simples de mercadoria e afirma
que as formas familiares de produo esto inseridas num processo de acumulao capitalista
como produtor simples de mercadoria e no como produtor ampliado (produo de mais
valia). Para a autora mesmo numa condio de fragilidade enquanto produtores simples de
mercadoria, a permanncia desses agricultores no capitalismo assegurada, de um lado, por
certos comportamentos internos da unidade familiar como as relaes de parentesco e o ciclo
demogrfico, e nesse caso corrobora com a perspectiva de Chayanov. Por outro lado, segundo
a autora, a interveno do Estado assume um papel fundamental, j que alimento uma
mercadoria estratgica para a manuteno da estabilidade social de uma nao e, portanto,
interessa ao Estado.
Situando no tempo - mesmo que brevemente - a corrente analtica do neomarxismo, na
dcada de 1980 e 1990 a sociologia da agricultura norte americana impetrou novos adeptos
junto aos estudos das cincias sociais na Europa para analisar as transformaes no
capitalismo. Destacam-se as contribuies de Norman Long, Terry Marsden, e Jan Douwe
Van der Ploeg, respectivamente numa perspectiva da antropologia, geografia e sociologia. O
grupo neomarxista europeu vai propor a anlise da relao das unidades familiares e os
mercados a partir do debate que ficou conhecido como mercantilizao da agricultura.
Opondo-se a posio estruturalista de interpretao das transformaes das unidades
familiares nas sociedades capitalistas avanadas a partir do paradigma da modernizao e da
economia poltica, na escola europia, sobretudo em Long e Ploeg, possvel encontrar uma
posio epistemolgica de ordem culturalista baseada na perspectiva orientada ao ator para
analisar a mercantilizao e sua incluso adjacente as formas familiares de produo.
Analisando a mercantilizao num plano mais macro, para alm da unidade
produtiva, para Marsden (1995:293) a mercantilizao:
9 Esses autores embora faam um resgate das idias de Kautsky contidas em Marx, ver Goodman e Redclift (1990) por exemplo, rejeitam a perspectiva revolucionria marxista de Lnin pelo fato desse considerar que os camponeses iriam se proletarizar e, desse modo, iriam formar uma classe social revolucionria.
-
38
[...] represents a variety of social and political processes by which commodity values are constructed and attributed to rural and agricultural objects, artifacts and people. It does not represent one all-encompassing process which, for instance transforms agricultural labour processes [...] it is a diversely constructed phenomenon around which development processes coalesce and then diffuse.
Na concepo do autor a mercantilizao representa uma variedade de processos
sociais e polticos no restritivos somente a atividade produtiva agrcola, mas se configura e
avana sobre os espaos rurais, mercantilizando a paisagem, cultura e os modos de vidas.
Por outro lado, os estudos da mercantilizao a partir da perspectiva orientada ao ator
iro ratificar que mesmo estando os agricultores inseridos ao capitalismo, a forma como tal
processo acontece, no necessariamente decorre exclusivamente enquanto o capitalismo
sendo uma estrutura externa que determina e orienta por completo a vida desses agricultores.
De acordo com Long (1998), mesmo que certas mudanas estruturais resultam do impacto de
foras externas, teoricamente insatisfatrio basear uma anlise no conceito de determinao
externa, pois todas as formas de interveno externa necessariamente entram nos mundos de
vida dos indivduos e grupos sociais afetados, e desta maneira, so mediados e transformados
por estes mesmos atores e estruturas locais.
A mercantilizao se configura como um processo em que o capitalismo exerce foras
de fora sobre os agricultores ( tecnologias, sistemas de preo, polticas pblicas etc), mas
nela tambm existem espaos de manobra onde os agricultores estabelecem suas estratgias
de resistncia (SCOTT, 1987), pois possuem capacidades de agncia (LONG, 2006) e
habilidades cognitivas para interferir, se necessrio, no fluxo de eventos sociais ao seu
entorno. Assim, a abordagem dos atores permite explicar respostas diferenciais para
circunstncias estruturais similares, mesmo se as condies parecerem relativamente
homogneas (LONG & PLOEG, 1994). Ou seja, pode-se assumir que os padres diferenciais
que emergem so, em parte, criaes dos prprios atores (coletivos ou individuais).
De acordo com Long (1998):
[...] la mercantilizacion no solo cubre los procesos por los cuales se atribuye valor a los bienes en el mercado, sino tambien incluye el como las relaciones y el valor de las mercancias influyen en los patrones, los valores y el comportamiento del consumo, de la produccion, de la distribucion, del intercambio, de la circulacion y de la inversion[...].
A perspectiva orientado ao ator, torna-se ento, uma tentativa de interpretao
diferenciada para abordar os processos sociais e entender como os valores mercantis e outros
-
39
valores sociais involucrados fazem parte das prticas agrrias e influenciam as prticas
sociais dos agricultores.
O referencial adotado por Ploeg junto perspectiva orientada ao ator, conduziu esse
autor a uma aproximao dialtica com alguns autores campesinistas (Chayanov, Shanin,
Mendras, Wolf, Toledo, Sevilla-Guzmn, entre outros). Tal comportamento justifica-se pela
tentativa de reunir elementos explicativos culturais para demonstrar justamente que o
comportamento e/ou as formas de insero dos agricultores junto ao processo mais geral da
mercantilizao, no pode ser compreendido simplesmente rotulando esses agricultores como
atores sociais que esto completamente orientados a lgica mercantil e subordinados a sua
rigidez. Dessa forma, o que Ploeg ir demonstrar em seus estudos que as formas familiares
possuem um conjunto de racionalidades e estruturas internas de organizao e
funcionamento que permitem essas famlias estabelecer relaes de proximidade e
distanciamento dos mercados, diferenciando-as das empresas capitalistas de produo.
Enquanto para Friedmann (1978) as unidades familiares so estruturas homogneas
inseridas em contextos mercantis rgidos, para Ploeg (1993) esses agricultores encontram-se
em ambientes marcados por uma mercantilizao multi-nvel e com distintos graus de
mercantilizao da explorao agrcola, ou seja, os agricultores podem mercantilizar
diferentes etapas do processo de produo e encontrar-se em diferentes graus de
mercantilizao. Fundamentalmente esse ser o contexto analtico que Ploeg se situa, por um
lado, para contestar e refutar as hipteses tericas marxistas que anunciavam o
desaparecimento do campesinato e, por outro, para demonstrar que as unidades familiares,
tanto nos pases desenvolvidos quanto perifricos, ao invs de desaparecem esto se
fortalecendo constituindo o que Ploeg (2006, 2008) conceitualmente vm chamando de
recampenizao.
Desta forma, para Ploeg (1993) a mercantilizao no pode ser considerada um
processo uniforme ou acabado, pois a complexidade de atividades produtivas e reprodutivas
que compem a agricultura capaz de internalizar elementos que podem transforma-se ou no
mercantilizados. Nessa perspectiva, portanto, o grau de mercantilizao agrcola representar
um resultado negociado pelos interesses dos agricultores (ibid.). Uma segunda perspectiva da
mercantilizao analisada por Ploeg refere-se ao conceito de cientifizao, entendido como a
reconstruo sistemtica das atuais prticas agrcolas segundo as pautas marcadas por
desenhos de carter cientifico (1993:154). Por meio da cientifizao se cria uma estrutura
-
40
que permite ao capital um controle direto sobre processo de trabalho agrcola, acelerando
desta forma o processo de mercantilizao.
Os elementos estruturais do que Ploeg chamou de cientifizao e suas relaes com o
capitalismo receberam desde o advento da modernizao da agricultura inmeras
contribuies satisfatrias de anlise e interpretao dos seus processos mais gerais, por
exemplo, os trabalhos de Goodman et al. (1990), Romeiro (1998), Gomes (1999), Graziano
da Silva (1999), Rosset (2000), Altieri (2001), Toledo (2006).
De acordo com Graziano da Silva (1999), o progresso da cincia e sua relao com a
agricultura tm um papel definido no capitalismo, qual seja, o desenvolvimento de tcnicas
que permitem fortalecer a dominao do capital sobre o processo produtivo, permitindo assim
incrementar a extorso de mais-valia, seja ela absoluta ou relativa. Crtico da industrializao
da agricultura, o trabalho de Goodman et al. (1990) ganhou relevncia na literatura
internacional ao demonstrar as vias pelas quais o progresso tcnico se tornou o responsvel
por mediar a apropriao por parte da indstria do processo de produo agrcola. Segundo os
autores, diante das limitaes estruturais da produo agrcola (limitaes da natureza, tempo
de crescimento das plantas/animais), os capitalistas industriais reagiram adaptando-se as
limitaes e especificidades da produo natural atravs do processo de apropriacionismo e
do substitucionismo10. Essa perspectiva corrobora com a crena da tese de Kautsky (1986)
que acreditava que o progresso tcnico seria o grande responsvel por transformar a
agricultura e, estando os camponeses inseridos nesse processo, no teriam capacidade para
acompanhar o progresso tcnico da agricultura.
Mesmo nesses contextos onde a cientifizao est a servio dos preceitos do
capitalismo, a mercantilizao da atividade agrcola no segue uma trajetria determinada a
priori e, tampouco, se constitui como uma condio necessria para a reproduo social dos
agricultores. Pelo contrrio, na perspectiva de alguns autores, como Ellis (1998), a insero
das famlias em ambientes mercantilizados passam por uma integrao parcial a mercados
incompletos. Tal comportamento segundo Abramovay (2007), deve-se porque o ambiente
10Segundo Goodman et al. (1990:02), apropriacionismo se refere a ao empreendida pelos capitais industriais
para reduzir a importncia da natureza na produo rural, e o substitucionismo criao de setores de acumulao nas fa