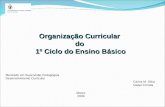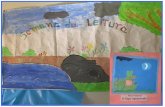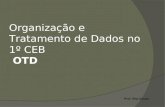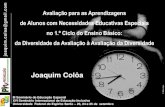EDUCAÇÃO ESPECIAL: distanciamento entre teoria e prática ... · Com a Resolução CNE/CEB Nº 2,...
Transcript of EDUCAÇÃO ESPECIAL: distanciamento entre teoria e prática ... · Com a Resolução CNE/CEB Nº 2,...

E s c r i t o s e E s c r i t a s n a E J A | N . 5 | 2 0 1 5 . 2 | 55
EDUCAÇÃO ESPECIAL: distanciamento entre teoria e
prática na inclusão escolar
Mónica Molero Carriconde [email protected]
RESUMO: Este trabalho apresenta algumas problematizações e reflexões supracitadas a partir de inquietudes presenciadas na prática docente, realizada em uma turma de EJA, durante o estágio curricular do sétimo semestre do curso de graduação em Pedagogia, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com alunos que necessitam de Atendimento Educacional Especializado (AEE). Nesta experiência em Docência compartilhada, numa Escola da Rede Estadual de Ensino no primeiro semestre do ano de 2016, pude visualizar algumas questões no campo da inclusão, da legislação vigente e da formação docente. Nesta perspectiva, viso neste artigo problematizar esse distanciamento, por vezes quase contraditório, entre o real e o legal, buscando dialogar com minhas percepções e reflexões diárias feitas ao logo desse processo de estágio. Nesta direção, busco elucidar e problematizar os grandes desafios profissionais diante da inclusão e da necessidade de uma formação permanente. Para tanto, em meio aos avanços legais, discuto que para existir inclusão é preciso muito mais do que normas e do que a oferta. É preciso entender que além de garantir o direito ao acesso é preciso propiciá-lo com qualidade, visando a permanência, e que para isso é necessária uma instrumentalização e atenção no campo da formação docente.
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão Escolar. Educação de Jovens e Adultos. Educação Especial.

E s c r i t o s e E s c r i t a s n a E J A | N . 5 | 2 0 1 5 . 2 | 56
INTRODUÇÃO
“*...+ a inclusão não se dá “incluindo” os corpos das crianças nas classes regulares. A inclusão se dá quando se devolve ao coletivo aquilo que foi individualizado no corpo do sujeito”. (MACHADO, 2015, p.128).
Este artigo apresenta uma experiência de prática pedagógica realizada durante
o estágio curricular do sétimo semestre do curso de graduação em Pedagogia da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no primeiro semestre do ano de 2016,
numa turma de EJA (Educação de Jovens e Adultos) totalidade 1 e 2 (anos iniciais do
ensino fundamental). Na turma havia apenas uma estudante dentre os oito que a
frequentavam, que não tinha deficiência12, considerando que os outros sete eram
educandos que necessitavam de Atendimento Educacional Especializado (AEE). Isto
requer que lhes seja ofertado um espaço com infraestrutura, mobiliário, materiais
didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade, e equipamentos específicos.
Torna-se necessário um conjunto de atividades complementares à escolarização nas
classes comuns do ensino regular, para assegurar-lhes pleno acesso ao currículo
escolar em igualdade de condições com o outro estudante.
A partir do que visualizei no cotidiano dessa turma e das reflexões feitas a fim
de repensar minha ação docente naquele contexto, me apoiei no que elucida a Política
Nacional da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva,
A escola historicamente se caracterizou pela visão da educação que delimita a escolarização como privilégio de um grupo, uma exclusão que foi legitimada nas políticas e práticas educacionais reprodutoras da ordem social. A partir do processo de democratização da escola, evidencia-se o paradoxo inclusão/exclusão quando os sistemas de ensino universalizam o acesso, mas continuam excluindo indivíduos e grupos considerados fora dos padrões homogeneizadores da escola. Assim, sob formas distintas, a exclusão tem apresentado características comuns nos processos de segregação e integração, que pressupõem a seleção, naturalizando o fracasso escolar. (BRASIL, 1994, p.1).
Levando isso em consideração e na contramão do que comumente
presenciamos nas salas de aula, que é a inclusão de um ou dois alunos, numa turma de
vinte oito a trinta educandos, nesta turma a lógica se inverte, o que torna a docência
12
Segundo a ONU, a definição de pessoa com deficiência é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividades, dentro do padrão considerado normal para o ser humano.

E s c r i t o s e E s c r i t a s n a E J A | N . 5 | 2 0 1 5 . 2 | 57
intensamente desafiadora. Estes desafios dizem respeito ao fato de que numa turma
com esse contexto, a (as) professora(s) precisam acolher seus alunos na sala de aula
com disponibilidade, para criar possibilidades de desenvolver práticas pedagógicas,
que efetivamente contribuam para a aquisição do conhecimento, dentro da vasta
pluralidade de deficiências existentes na turma, em meio a medos, dúvidas e
ansiedades.
Inquietei-me com essa realidade, o que me levou a algumas reflexões e
questionamentos durante a prática docente, relativos ao distanciamento entre a teoria
e a prática da inclusão escolar, ponto de partida do presente artigo.
A partir dessas percepções pontuo a importância dos avanços legais, mas
problematizo a questão dessa visão romantizada que temos diante de textos
normativos. Cheguei nessa turma e deparei-me com uma gama de especificidades e
ritmos que a lei não contemplava, pois, além de ser uma turma composta
predominantemente por estudantes com deficiência, ela também apresentava
características de uma modalidade pouco assistida que é a Educação de Jovens e
Adultos. Sendo assim, no destaque da discussão proporcionada por este artigo,
problematizo a questão incluir para que? Para quem? É preciso muito mais do que
normas, é necessário ofertar, garantir e propiciar o acesso de qualidade para que
assim possamos conduzir e trazer para o plano das concretudes a permanência e
consequentemente uma educação de qualidade e inclusiva de fato.
Busco aqui também discutir a necessidade da instrumentalização e da
formação docente, na busca de profissionais, escolas e espaços educativos inclusivos e
que visem à qualidade e permanência, seja de estudantes deficientes, em situação de
vulnerabilidade e de diferentes faixas econômicas. Em suma, igualdade de acesso e
permanência.
Quando no início do semestre sentamos minha colega de docência e eu para
pensar no planejamento semestral para essa turma, após duas semanas de observação
e entrevistas com os alunos e a professora titular, fizemos algumas reflexões buscando
construir um planejamento adequado para aquela turma, para aquela realidade que ali
se apresentava, desafiando-nos logo de início.

E s c r i t o s e E s c r i t a s n a E J A | N . 5 | 2 0 1 5 . 2 | 58
Lembramos então, da fala da professora titular, em resposta à nossa pergunta
sobre os alunos. A respeito disto, elucidou: “[...] Eles precisam ter alguém que acredite
e valorize eles como seres humanos”. (Professora da turma, março de 2016).
Essa fala nos instigou muito, e entendemos naquele momento, que seria um
caminho possível para iniciar o percurso. Possível e necessário. Precisávamos
desempenhar um papel docente que levasse em consideração um olhar e uma escuta
muito especial a aqueles alunos, a fim de resgatar possibilidades de crescimento tanto
na área cognitiva quanto afetiva e comportamental.
A partir daí ficou nítido que é necessária uma reflexão, um olhar investigativo
para que possamos entender esses sujeitos e assim pensar intervenções e práticas
pedagógicas pertinentes para a concretude do processo de ensino e aprendizagem.
Por isso, devemos propor ações que auxiliem e facilitem esse processo, com
intervenções pedagógicas decorrentes da perspectiva de que o professor deve “*...+
planejar sua instrução educativa de acordo com os problemas e as necessidades”
(MARCHESI, 2006, p.46) do aluno.
Nessa mesma perspectiva Jesus (2015) alerta que “*...+ faz-se necessário
trabalhar com os profissionais da educação, de maneira que eles, sendo capazes de
compreender as próprias práticas e de refletir sobre elas, sejam também capazes de
transformar lógicas de ensino.” (p.97).
Legislação x a prática
Nas últimas décadas, a educação especial encontra-se em transformação. Há,
cada vez mais, movimentos em prol da abertura de espaços para viabilizar que as
pessoas com deficiência, saiam das escolas especiais e das oficinas de trabalho a fim de
que passem a frequentar escolas regulares e assumam postos de trabalho. Isto implica
uma significativa mudança na função pedagógica da educação especial, o que trata de
uma mudança de conceito. Antes estabelecida basicamente nas escolas especiais,
educação especial passa a atender os alunos nas escolas regulares. Em suma, uma

E s c r i t o s e E s c r i t a s n a E J A | N . 5 | 2 0 1 5 . 2 | 59
quebra de paradigma que descentralizou a educação especial, indicando um novo
norte para a educação das pessoas com deficiência.
"Todos os alunos devem aprender juntos, sempre que possível, independente
das dificuldades e diferenças que apresentem". (Declaração de Salamanca, 1994). Esse
é o princípio relatado na Conferência Mundial Sobre Necessidades Educativas
Especiais: Acesso e Qualidade, realizada pela UNESCO.
A educação especial se constitui como proposta pedagógica de toda a escola,
articulada com ensino comum, tendo a finalidade de orientar professores em geral,
para que sejam atendidas as necessidades específicas do educando em seu processo
de desenvolvimento global (MEC/SEESP, 2006). Nesse sentido, concordo com JESUS
(2015) quando salienta que “(...) a escola precisa assumir uma postura de
desconstrutora de igualdades, visando incluir na tessitura social aqueles que vêm
sendo sistematicamente excluídos” (p.97).
Com a Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de 2001, que instituiu as
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, houve um avanço na
perspectiva da universalização e atenção à diversidade, na educação brasileira, com a
seguinte recomendação: Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos,
cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para a educação de
qualidade para todos. No entanto a realidade desse processo inclusivo ainda é bem
diferente do que a proposta pela legislação, e requer muitas discussões sobre o
assunto.
A atuação do docente é um ponto importante de se levar em conta, sabe-se
que não é fácil, ter que remodelar aquilo que habitualmente se vem fazendo; implica
em um novo jeito de pensar numa perspectiva de pluralidade que precisa ser
construída para dar oportunidade à ação inclusiva, e isso necessariamente envolve o
apoio e a interação com a instituição escola, estruturada e acostumada a trabalhar
com a uniformidade e não com a diversidade. Considero relevante investir em
capacitação e atualização dos professores para aprofundar as discussões teórico-
práticas, para a melhoria do processo de ensino aprendizagem.

E s c r i t o s e E s c r i t a s n a E J A | N . 5 | 2 0 1 5 . 2 | 60
A respeito disso, é importante ressaltar que a capacitação dos educadores vem
ao encontro de aliar a qualidade do atendimento ao tato pedagógico docente, visando
novas alternativas para os estudantes, assim como desenvolver novas competências
profissionais. (NÓVOA, 1992).
Portanto, pontuo que a proposta inclusiva é bem-sucedida ao propor uma visão
contrária às práticas vivenciadas na história da educação especial em nosso país, já que
repudia as práticas excludentes tanto nos âmbitos escolar quanto no social. Sendo
assim, a escola passa a introduzir técnicas e alternativas metodológicas que
possibilitam ao indivíduo atendimento através do qual sejam respeitadas suas
características de aprendizagem. Dito de outra forma, a educação inclusiva
“(...) avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias
históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola”. (BRASIL, 2008, p. 5).
Na realidade das escolas públicas estaduais gaúchas, o que temos vivenciado é
a instituição recebendo os alunos para cumprir com a legislação, e “transferindo” a
responsabilidade para os professores, que, por sua vez, sentem-se incapazes,
despreparados e clamam por apoio da escola. Os docentes consideram que lhes falta
capacitação específica, que não sabem o que vão fazer para poder atender a esse
aluno especial. Sentem-se impotentes frente à inclusão, com um sentimento misto de
frustração e desvalorização. No entanto, para a proposta inclusiva acontecer, muitas
vezes bastaria aos professores quebrarem o paradigma do preconceito, que os leva a
alimentar angústias que não lhes permitem visualizar o caminho da inclusão,
buscando, como se possível fosse, um “manual de instruções” ou uma “receita” pronta
para cada caso, o que acaba atrapalhando a ação inclusiva.
Por sua vez, a escola também precisa promover mudanças que acolham às
necessidades educacionais dos seus alunos, atendendo suas especificidades, ao invés
de exigir que eles se adaptem aos padrões da normalidade; contribuindo assim, com o
processo inclusivo.
Jesus (2015) afirma que:
É preciso que a escola como organização, repense a sua função curricular, a sua forma de gestão, as formas de aprendizagem a partir das inovações

E s c r i t o s e E s c r i t a s n a E J A | N . 5 | 2 0 1 5 . 2 | 61
metodológicas e didáticas na sua organização das turmas, dos tempos e dos espaços da escola, com vistas a atender crianças e jovens provenientes de culturas cada vez mais diversificadas nas complexas sociedades atuais. (2015-p.98).
Neste sentido, a Secretaria de Estado da Educação – SEDUC desenvolve ações
que objetivam melhorar o funcionamento do serviço ofertado à população escolar,
buscando introduzir uma nova mentalidade que consolide a operacionalidade das
atividades no âmbito escolar, focando no desenvolvimento qualitativo das ações,
administrativas e pedagógicas no contexto escolar. No entanto, para o êxito de tal
serviço, é necessário o verdadeiro comprometimento e a capacitação dos gestores das
instituições escolares.
É notável o avanço na área legal, tanto que a partir de 2007 é lançado pelo MEC
o “Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e programas” que
compreende que a educação especial deve seguir a transversalidade, isto é perpassar
todos os níveis da educação básica, confirmando, assim, o paradigma inclusivo. A partir
dessa concepção a educação especial seria repensada como fundamento de toda a
escola. Mas ainda é necessário tencionar a importância de se ver isso na realidade,
falta ver essa ação presente nas instituições.
Para Silva (2003), “*...+ a formação continuada dos profissionais da educação se
faz crítica e mandatória e deve ter como ponto de partida as dificuldades, as lacunas
que sintam em sua formação”. (p. 67).
A construção de uma proposta educativa inclusiva requer a produção de
conhecimentos científicos aliados às demandas sociais, para que seja possível elaborar
políticas públicas capazes de suprir efetivamente as necessidades da escola.
As mudanças são importantíssimas para a inclusão, o que exige um esforço
comum, para que a escola possa ser vista, na realidade, como um ambiente de
construção de conhecimento, abandonando a discriminação de idade e capacidade. É
preciso que o professor também mude de postura, além da redefinição de papeis,
viabilizando o processo de inclusão.

E s c r i t o s e E s c r i t a s n a E J A | N . 5 | 2 0 1 5 . 2 | 62
Para que a inclusão seja uma realidade, será necessário rever uma série de
barreiras, além da prática pedagógica e da formação profissional do professor, que é
relevante para aprofundar as discussões teórico-práticas, proporcionando subsídios
com vistas à melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Assessorar o professor
para resolução de problemas no cotidiano na sala de aula, criando alternativas que
possam beneficiar todos os alunos, é fundamental para o processo inclusivo. Propor
currículos e metodologias flexíveis, levando em conta a singularidade de cada aluno,
respeitando seus interesses, suas ideias e desafios para novas situações, também é
imprescindível. Assim como investir na proposta de diversificação de conteúdos e
práticas que possam melhorar as relações entre professor e alunos. Avaliar de forma
continuada e permanente, dando ênfase na qualidade do conhecimento e não na
quantidade, oportunizando a criatividade, a cooperação e a participação, são
princípios fundamentais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Há que mudar se quisermos, de fato, a construção de uma sociedade inclusiva.
Para desenvolver-se o aluno precisa de um ambiente variado e da ajuda de todos,
podendo atuar dentro de uma sociedade sem limitações. É necessário criar um
ambiente onde os educandos, a partir da interação com o professor, construam o
conhecimento segundo a capacidade de cada um, tendo a liberdade de expressar as
suas ideias e oportunidade de participar das tarefas de ensino desenvolvendo-se
enquanto cidadãos, dentro das suas diferenças e pluralidades, esse deve ser o alvo da
escola inclusiva.
Para Machado (2015), “o desafio que temos é criar rupturas na lógica que
intensifica a exclusão social e que submete os sujeitos às leis da melhor competência,
das categorias e das medições”. (p. 132). De nada serve termos um aluno com
deficiências transitando pelo cotidiano escolar, se encontra-se cercado pelo
preconceito dentro da própria instituição.
Por outro lado, várias foram as nomenclaturas utilizadas para referir-nos às
crianças com necessidades educativas especiais (NEE). Já foram chamadas de “crianças

E s c r i t o s e E s c r i t a s n a E J A | N . 5 | 2 0 1 5 . 2 | 63
com distúrbios de aprendizagem”, “crianças especiais” e “portadores de necessidades
educacionais especiais“. Atualmente tornaram-se as “crianças de inclusão. A esse
respeito Machado (2015) afirma que, “ao mesmo tempo em que se conquista e se
potencializa uma prática política que visa à educação para todos, essa palavra de
ordem, presente no plano das leis, vai de encontro à dura realidade do despreparo
geral da educação e da saúde para tal tarefa”. (p. 132).
O cotidiano escolar nos sinaliza que tão importante quanto proporcionar apoios
específicos aos alunos com necessidades educativas especiais é a formação dos
professores na perspectiva da inclusão.
O professor de uma escola inclusiva não pode desempenhar um papel de mero
executor de currículos, programas predeterminados e homogeneizados. O papel deste
profissional tem que ser de alguém que seja capaz de planejar e desenvolver
atividades diferenciadas, inovadoras e específicas para um fazer docente adequado
que contribua para o desenvolvimento e aprendizagem de seus alunos, dentro de suas
especificidades. Pois como bem defende Carneiro (2015), *...+ “ter em sala de aula um
grupo de alunos com diferentes possibilidades exige que pensemos a aprendizagem de
forma coletiva e diferenciada do modelo de escola que temos hoje”. (p. 151).
Espero que as escritas aqui apresentadas possam nos conduzir a uma reflexão
sobre as transformações necessárias para que a escola retome o seu objetivo de
trabalho: o ensinar e o aprender de maneira inclusiva.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Ministério da Educação, Ministério da Justiça, UNESCO, 2006.
BRASIL. Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais. Brasília: UNESCO, 1994.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Direito à educação: subsídios para a gestão dos sistemas educacionais – orientações gerais e marcos legais. Brasília: MEC/SEESP, 2006.

E s c r i t o s e E s c r i t a s n a E J A | N . 5 | 2 0 1 5 . 2 | 64
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Brasília: MEC/SEESP, 2001.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação Especial. Brasília: MEC/SEESP, 1994.
CARNEIRO, Maria Sylvia Cardoso. A deficiência mental como produção social: de itard à abordagem histórico-cultural. In: BAPTISTA, Cláudio Roberto (Org.) Inclusão e Escolarização: Múltiplas perspectivas. Porto Alegre: Ed. Mediação, 2015. P. 137-152
JESUS, Denise Meyrelles de. Inclusão escolar, formação continuada e pesquisa-ação colaborativa. In: BAPTISTA, Cláudio Roberto (Org.) Inclusão e Escolarização: Múltiplas perspectivas. Porto Alegre: Ed. Mediação, 2015. P. 95-106
MACHADO, Adriana Marcondes. Educação inclusiva: de quem e de quais práticas estamos falando? In: BAPTISTA, Cláudio Roberto (Org.) Inclusão e Escolarização: Múltiplas perspectivas. Porto Alegre: Ed. Mediação, 2015. P. 127-136
MARCHESI, A. Alunos com dificuldades de aprendizagem. In: Marchesi, A. O que será de nós os maus alunos. POA: Artmed 2006, p. 31 – 58.
NÓVOA, Antônio. Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, A. (Org). Os professores e sua formação. Lisboa: Nova Enciclopédia, 1992. P. 97-121.
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 2006
SILVA, M.O.E. da. A análise de necessidades na formação contínua de professores: um contributo para a investigação e inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais no ensino regular. In: RIBEIRO, M.L.S.; BAUMEL, R.C.R. de C. (Orgs).Educação especial: do querer ao fazer. São Paulo: AVERCAMP, 2003. P. 52-70.