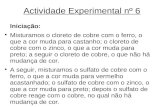Enlinh@ nº 6
-
Upload
es-adolfo-portela -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
description
Transcript of Enlinh@ nº 6
-
enlinh@
Revista Digital da Escola Secundria com 3 Ciclo do Ensino Bsico
de Adolfo Portela
PRXIMA PARAGEM: EXCELNCIA
O ESPETRO DO ACASO As diferenas na repetio
de duas vozes sobre um tema.
CENSOS 2011 - Primeiros resultados revelam ligeiro crescimento da populao.
VISITA DE ESTUDO A CONMBRIGA, PENELA E
RABAAL
SER QUE OS ANIMAIS TM DIREITOS?
-
"Para alcanar conhecimento, adicione alguma coisa todos os dias. Para alcanar sabedoria, elimine alguma coisa todos os dias." (Lao Ts)
Perto do final de mais um ano letivo, o tempo de balano. O que podia ter feito e no fiz? O que fiz alm do que imaginava ser capaz? O que devia ter feito de outra maneira? Seja qual for a interrogao, ser benfico ponderar o que ganhmos em conhecimento e o que ganhmos em sabedoria. A diferena, aparentemente pequena, , no entanto, significativa.
O conhecimento tem, sobretudo, utilidade prtica e instrumental. ele que nos fornece as bases objetivas para ler, escrever e contar, para construir pontes, computadores, medicamentos sobretudo o conhecimento que encontramos discriminado nos programas escolares, a ele que dedicamos a maior parte do tempo na sala de aula e nas avaliaes.
Esse conhecimento til e importante, mas no , em si mesmo, bom nem mau. Se no vejamos: a mesma nitroglicerina usada no tratamento de doenas cardacas usada no fabrico de explosivos. Por sua vez, esses mesmos explosivos podem ser usados tanto para abrir tneis e construir estradas quanto para matar. O que se pretende evidenciar que o prprio conhecimento que sustenta o progresso pode tambm comprometer o nosso equilbrio fsico, emocional e social. aqui que entra a sabedoria.
O conhecimento sem a sabedoria cego. Pode at trazer benefcios imediatos, mas com consequncias imprevisveis a mdio e longo prazo. Somente pela sabedoria, enquanto capacidade de usar o conhecimento de forma eticamente vlida para o bem comum, podemos solucionar esses desequilbrios. Sendo assim, por que razo a sabedoria perdeu importncia e deu lugar a uma sociedade da informao, predominantemente tecnolgica?
Provavelmente porque a informao mais fcil de ser adotada, usada e at manipulada. A sabedoria pressupe o conhecimento de si, implica eliminar tudo o que suprfluo para se chegar ao essencial. E, como sabemos, essa tarefa a mais difcil.
Sendo assim, a par da transmisso de conhecimento, essencial acautelar que nada incuo, que qualquer ao tem a sua influncia e tudo tem consequncias. E dar o exemplo.
Boas frias, plenas de profcuos balanos e sbios recomeos!
Professora Lusa Alcntara
NDICE
03 04 06 08 10 12 13 14 15 16 19 22 23 25 28 29
Projeto Secundrio Superior Secundrio Superior em ao Censos 2011 Visita de estudo a Conmbriga, Penela e Rabaal Histria geolgica da Regio Trnsito de Vnus e a mente brilhante de Jeremiah Horrocks As atividades da Moral ESAP tetra campe nacional em andebol feminino Na ESAP, os dias so todos lgicos O jogo das diferenas no espetro do acaso Ser que os animais tm direitos? Porqu? Eu gosto, mas ser Arte? Blade Runner: 30 anos depois, um filme de culto Poesia Estrias Colocao dos pronomes pessoais tonos
FICHA TCNICA Edio: 6 Data de publicao: junho 2012 Coordenadores: Alda Rita, Lusa Alcntara Publicao da Escola ES/3 de Adolfo Portela Rua Joaquim Valente de Almeida 3750-154 GUEDA / Tel. 234.623.808
Todas as formas de colaborao dos leitores (alunos, encarregados de educao, professores, funcionrios)
devem ser enviadas para: [email protected]
PRAZO DE RECEO DE MATERIAIS PARA A PRXIMA EDIO: DEZEMBRO 2012
Editorial
2
-
PROJETO SECUNDRIO SUPERIOR
Trata um homem de acordo com o que ele e ele continuar na mesma; trata-o de acordo com o que pode e deve ser, e ele converter-se- no que pode e deve ser.
(J. W. Goethe)
Chegamos ao final deste ano letivo com os olhos postos no prximo. E o prximo exige que no sejamos apenas melhores, que no faamos apenas melhor. Exige que no tenhamos medo das palavras e que sejamos ambiciosos nas aes para responder adversidade com rigor e exigncia. Exige que sejamos capazes de traar um rumo claro para responder generalizada falta de horizonte de sentido. Exige que sejamos excelentes.
O projeto Secundrio Superior no mais um projeto. um verdadeiro programa de ao que permitir no apenas combater o insucesso mas promover a excelncia. esse o rumo, esse o futuro que queremos e vamos construir.
Naturalmente, ningum est, nem poder estar, de fora pertencer ESAP , mais do que nunca, partilhar desta ambio e contribuir para a sua concretizao. Professores (no ativo e aposentados), pais e encarregados de educao, alunos, pessoal no docente, todos estamos em linha e na linha da frente.
Apostar nos melhores alunos no esquecer os outros, assim como garantir um ensino secundrio de qualidade no esquecer o ensino bsico. Alis, a aposta na qualidade e na excelncia do ensino secundrio (pres)supe um ensino bsico igualmente exigente o projeto Turma Mais no s no ser abandonado como continuar a permitir a transferncia das boas prticas entretanto integradas e aperfeioadas. Querer ser melhor querer melhorar o todo; se alguns forem excelentes todos sero melhores.
Hoje, muitos alunos escolhem frequentar a ESAP porque querem garantir uma slida preparao para a frequncia do ensino superior. O desafio que, j para o ano, muitos mais alunos possam dizer que maximizaram as suas potencialidades e desenvolveram as suas competncias porque frequentaram a nossa escola; que so os melhores porque tiveram os melhores professores e as melhores oportunidades. Que soubemos responder s suas necessidades e corresponder aos seus interesses. Que aqui se transformaram, tornando-se no que podiam e deviam ser.
O Diretor
Escola
3
-
ESAP SECUNDRIO SUPERIOR EM AO Se esperamos que os alunos desenvolvam e ampliem competncias de pensamento crtico, temos de tornar as nossas aes consistentes com as nossas intenes. Para isso temos, de facto, de os treinar sistematicamente para compreenderem a profunda interrelao da linguagem com a lgica, que conduzir depois capacidade de analisar e avaliar ideias, de pensar de forma dedutiva e no-dedutiva e de alcanar concluses cogentes a partir de inferncias livres de proposies ambguas e crenas injustificadas. O mnimo que se pode exigir que os bons alunos sejam cada vez mais capazes de distinguir facto de opinio, conhecimento de mera crena e que revelem competncia nos processos dedutivos e no-dedutivos, incluindo a compreenso das falcias formais e informais da linguagem e do pensamento.
Um pensamento crtico eficaz um pr-requisito para participar eficazmente nos assuntos quotidianos, para alcanar uma educao de nvel superior e para ser bem sucedido num mundo cada vez mais competitivo. Pensadores crticos competentes so capazes de: identificar e esclarecer de forma clara e precisa problemas vitais; selecionar e processar eficazmente informao, utilizando um pensamento abstrato para a interpretar; apresentar concluses pensadas suscetveis de serem submetidas a uma avaliao criteriosa; possuir um esprito aberto no interior de outros sistemas de pensamento, reconhecendo e avaliando, como deve ser, os seus pressupostos, as suas implicaes e as suas consequncias prticas; e comunicar eficazmente com os outros, indo alm do ego e do sociocentrismo, para alcanar solues concretas, slidas e criativas para problemas complexos.
A certeza de que os momentos formais e ritualizados de exerccio das competncias de pensamento crtico na sala de aula so insuficientes obriga-nos a olhar outra vez, a pensar diferente e a acreditar que, se a escola proporcionar aos alunos momentos informais para promoverem estas competncias, ento estes estaro mais habilitados para pensar e decidir de forma informada e crtica. Assim, iniciar-se- em setembro a 2 edio do Concurso de
Debate DIA - LGICO, que passar a incluir um pequeno curso preparatrio com vista a treinar as equipas concorrentes no domnio dos princpios da argumentao e do debate. E inicia-se agora, com a publicao neste jornal do respetivo regulamento, a 1 edio do Prmio ENSAIO FILOSFICO ESCOLA SECUNDRIA DE ADOLFO PORTELA.
Este prmio uma iniciativa do Grupo Filosofia, apoiada pela Direo e pela Associao de Pais e Encarregados de Educao da ESAP, e visa proporcionar comunidade escolar um prmio inteiramente dedicado ao ensaio filosfico e exclusivamente assente numa avaliao do mrito de textos submetidos anonimamente a concurso.
A frmula deste prmio - premiar a melhor resposta, dada num prazo definido, a uma questo filosfica - simples e bem conhecida da tradio filosfica e permite estabelecer uma competio saudvel, transparente, sem qualquer condicionalismo a no ser o do prprio mrito, que incentive os alunos a explorarem uma possibilidade de reconhecimento pblico e potenciar a capacidade de afirmar a pertinncia do contributo filosfico para as grandes questes do nosso tempo.
Professor Vtor Oliveira
Magritte, Clear Ideas
4
-
PRMIO ENSAIO FILOSFICO
ESCOLA SECUNDRIA DE ADOLFO PORTELA REGULAMENTO DA 1 EDIO 2012-2013
Art. 1 - Descrio
O Prmio Ensaio Filosfico Escola Secundria de Adolfo Portela, prmio anual de ensaio filosfico, uma iniciativa do Grupo de Filosofia da ESAP.
Art. 2 - Objetivo
O Prmio Ensaio Filosfico Escola Secundria de Adolfo Portela tem como objetivo eleger, sob um critrio de mrito absoluto, o melhor ensaio, submetido anonimamente a concurso, sobre um problema filosfico previamente publicitado.
Art. 3 - Problema a concurso
A deciso da temtica geral a concurso da responsabilidade do Jri do Prmio.
a) Compete ao Jri do Prmio especificar, dentro da temtica geral, o problema filosfico a concurso.
b) O problema ser publicitado sob a forma de uma questo.
Art. 4 - Condies de admisso
Sero admitidos ao Prmio Ensaio Filosfico Escola Secundria de Adolfo Portela quaisquer ensaios, desde que:
a) sejam da autoria de alunos dos cursos regulares do ensino secundrio matriculados na ESAP nos anos letivos 2011/12 e 2012/13;
b) sejam originais no editados;
c) tenham autor nico;
d) se apresentem em lngua portuguesa;
e) no excedam as 1500 palavras;
f) venham acompanhados de resumo que no exceda as 150 palavras.
Art. 5 - Apresentao de candidaturas
A apresentao das candidaturas ao Prmio Ensaio Filosfico Escola Secundria de Adolfo Portela dever ser feita para o Diretor da ESAP por e-mail, para [email protected] , da seguinte forma:
a) O nome do autor e o e-mail de contacto devem ser indicados apenas no corpo da mensagem e em caso algum dever constar no corpo do texto a concurso;
b) O assunto da mensagem deve ser Ensaio Filosfico Escola Secundria de Adolfo Portela;
c) Os originais para apreciao do jri devero ser enviados em ficheiro anexo em formato pdf.
O Diretor da ESAP assegurar que os ensaios admitidos cheguem ao Jri de forma que o anonimato seja mantido.
Art. 6 - Jri
O Jri do Prmio Ensaio Filosfico Escola Secundria de Adolfo Portela ser constitudo pelo Adjunto do Diretor, professor Antnio Mendes, e pelos Professores Paula Bastos e Vtor Joo Oliveira.
Art. 7 - Prmio
O Prmio Ensaio Filosfico Escola Secundria de Adolfo Portela:
a) ser unitrio, podendo, no entanto, o jri deliberar sobre a atribuio de menes honrosas;
b) o ensaio vencedor receber um prmio em livros no valor de 150 Euros e um cheque no valor de 100 Euros, sendo posteriormente publicado na revista enlinh@ e num jornal local.
O Prmio poder no ser atribudo, sempre que o jri assim o delibere.
Art. 8 - Prazos
a) O problema a concurso ser publicitado aquando da publicao do presente regulamento na pgina da ESAP e nos locais habituais.
b) As candidaturas devero ser apresentadas at 31 de dezembro de 2012.
c) O jri reunir durante o ms de janeiro de 2013 e as suas deliberaes sero publicitadas na pgina da ESAP durante a primeira semana de fevereiro de 2013.
d) A cerimnia de entrega do Prmio ocorrer no final do ano letivo 2012-2013, em data a definir.
Art. 9 - Casos Omissos
Todos os casos omissos neste Regulamento sero resolvidos pelo Jri.
Art. 10 - Recurso
As decises do jri no so passveis de recurso.
Problema a concurso para a
edio de 2012-2013:
SER QUE VALE TUDO?
5
-
CENSOS 2011- RESULTADOS PROVISRIOS (Os Resultados Definitivos sero publicados no quarto trimestre de 2012)
Em 2001 ramos 10 356 117, hoje somos 10 555 853. O Instituto Nacional de Estatstica divulgou os primeiros resultados dos Censos 2011, revelando que a populao regista um ligeiro crescimento em relao a 2001, data dos ltimos censos.
De acordo com os resultados preliminares dos Censos 2011, verificou-se em Portugal um ligeiro crescimento da populao em relao a 2001: a populao residente cresceu cerca de 1,9% e a populao presente cerca de 3,2%.
Em dez anos, Portugal ganhou 199 700 residentes, 17 600 habitantes devido ao saldo natural entre nascimentos e bitos. O saldo migratrio, entre os que entraram e saram de Portugal, responsvel por 182 100 novos habitantes.
Concluses gerais:
Somos mais e continuamos um pas de imigrao; Estamos mais velhos e temos um nvel de
escolaridade mais elevado; Vivemos em famlias de menor dimenso; Existem cada vez mais alojamentos para utilizao
secundria e vagos; Os alojamentos onde habitamos possuem, quase
todos, as infraestruturas bsicas.
Os Resultados Provisrios abrangem um conjunto alargado de informao sobre a Populao e a Habitao, referente a 21 de maro de 2011 (momento censitrio), nos seguintes domnios:
Populao Por grupo etrio, estado civil e nvel de escolaridade; Famlia Nmero e tipo de famlias, segundo a sua dimenso; Habitao Caractersticas do edifcio: dimenso, tipo, idade e tipo de utilizao; Alojamentos Forma de ocupao, regime de propriedade e condies de habitabilidade.
PRINCIPAIS TENDNCIAS EVIDENCIADAS PELOS RESULTADOS PROVISRIOS DOS CENSOS 2011 POPULAO E FAMLIA
Os resultados provisrios indicam que a populao residente em Portugal cresceu cerca de 2%, fixando-se em 10 555 853. Em termos regionais, o Alentejo volta a perder populao na ltima dcada (-2,5%) e a regio Centro regista igualmente uma ligeira reduo (-1%). O Algarve e a Regio Autnoma da Madeira registam acrscimos de populao bastante expressivos, face a 2001, respetivamente +14,1% e +9,3%. Na regio Norte, a populao estabilizou e a Regio Autnoma dos Aores apresenta um ligeiro acrscimo de 2%.
O pas acentuou o padro de litoralizao da dcada anterior e reforou o movimento de concentrao da populao junto das grandes reas metropolitanas de Lisboa e Porto. A maior parte dos municpios do interior perdeu populao. Em 2011, so 198 os municpios que registam decrscimos populacionais face a 171 municpios, em 2001.
O fenmeno do duplo envelhecimento da populao, caracterizado pelo aumento da populao idosa e pela reduo da populao jovem, agravou-se na ltima dcada. Os resultados dos Censos 2011 indicam que 15% da populao residente em Portugal se encontra no grupo etrio mais jovem (0-14 anos) e cerca de 19% pertence ao grupo dos mais idosos, com 65 ou mais anos de idade. O ndice de envelhecimento da populao de 129, o que significa que por cada 100 jovens h hoje 129 idosos. Em 2001 este ndice era de 102. As Regies Autnomas dos Aores e da Madeira apresentam os ndices de envelhecimento mais baixos do pas, respetivamente, 74 e 91. Em contrapartida, as regies do Alentejo e Centro so as que apresentam os valores mais elevados, respetivamente 179 e 164.
Na ltima dcada, verificou-se igualmente o agravamento do ndice de dependncia total, que passou de 48 para 52. Em 2011, este ndice de 52, o que significa que, por cada 100 pessoas em idade ativa, existem 52 dependentes. O
6
Sociedade
-
agravamento do ndice de dependncia total resultado do aumento do ndice de dependncia de idosos, que subiu de 24, em 2001, para 29, em 2011. O ndice de dependncia de jovens teve, no mesmo perodo, um comportamento contrrio, assinalando uma diminuio de 24 para 23.
Em 2011, o maior grupo da populao (47%) constitudo por indivduos casados. O grupo dos indivduos solteiros representa 40% e as restantes categorias do estado civil, divorciado e vivo, aparecem com muito menor expresso, respetivamente 6% e 7%. O estado civil de casado predomina tanto no grupo dos homens como no das mulheres e o grupo dos solteiros o segundo mais importante estado civil, tambm em ambos os sexos.
A populao divorciada concentra-se sobretudo no Sul do pas e nos municpios do litoral. A Regio Norte tem a menor percentagem de populao divorciada, apenas 4,5%. Lisboa e Algarve apresentam as taxas mais elevadas, respetivamente 7,5% e 7,2%. As Regies Centro e Alentejo, bem como as Regies Autnomas, apresentam valores semelhantes, da ordem dos 5%.
O nvel de instruo atingido pela populao em Portugal progrediu de forma muito expressiva na ltima dcada. A populao que hoje possui o ensino superior completo quase duplicou, face a 2001, passando de 674 094 pessoas com curso superior para 1 262 449, ou seja, cerca de 12% da populao.
Nos restantes nveis de ensino, os Censos 2011 indicam que 13% da populao possuem o ensino secundrio completo, 16% o 3 ciclo e 13% o 2 ciclo. O ensino bsico 1 ciclo corresponde ao nvel mais elevado e concludo por 25% da populao. A populao sem qualquer nvel de ensino representa ainda 19%.
As mulheres possuem qualificaes mais elevadas do que os homens. Cerca de 61% dos licenciados do sexo feminino. Lisboa a regio do pas com maior percentagem de licenciados (37%), seguindo-se a regio Norte, com 30%, e a regio Centro, com 19,6%.
Entre 2001 e 2011, o nmero de famlias clssicas aumentou cerca de 10,8%, atingindo os 4 044 100. As famlias so hoje de menor dimenso. A sua dimenso mdia , em 2011, de 2,6, enquanto que, em 2001, era de 2,8. Aumentou o peso das famlias com 1 e 2 pessoas. As famlias de maior dimenso tm vindo a perder expresso: em 2011 as famlias com 5 ou mais pessoas representavam 6,5%, face a 9,5% em 2001 e a 15,4%, em 1991.
PARQUE HABITACIONAL
O parque habitacional volta a registar um forte crescimento na ltima dcada, embora mais moderado do que na dcada de noventa. Os resultados dos Censos 2011 indicam que, face a 2001, se observou um crescimento de respetivamente 12,1% e 16,3% no nmero de edifcios e de alojamentos, fixando-se em 3 543 595 edifcios e 5 877 991 alojamentos.
A dimenso mdia dos edifcios (nmero de alojamentos por edifcio) tem vindo sempre a crescer: 1,7 alojamentos por edifcio em 2011, 1,6 em 2001 e 1,5 em 1991.
A larga maioria dos edifcios (90,7%) foi estruturalmente construda para possuir 1 ou 2 alojamentos. Os edifcios construdos para possuir 3 ou mais alojamentos representam 8,2%.
O ndice de envelhecimento dos edifcios de 1,9, o que significa que o nmero de edifcios construdos at 1960 menos do dobro daqueles que foram construdos aps 2001.
A maioria dos alojamentos (68,2%) de residncia habitual. As residncias secundrias e os alojamentos vagos representam 19,3% e 12,5% do total. Face ltima dcada, estes resultados traduzem um aumento muito significativo no nmero de alojamentos vagos (+35,1%), de residncias secundrias (+22,6%) e da residncia habitual (+11,7%).
A maioria dos alojamentos de residncia habitual (73,5%) ocupada pelo proprietrio. Os alojamentos arrendados representam 19,7%.
Nas ltimas dcadas, as condies de habitabilidade dos alojamentos melhoraram significativamente. As infraestruturas bsicas, como gua canalizada, esgotos e casa de banho com banho e duche, esto hoje presentes em praticamente todos os alojamentos. Em termos nacionais, a percentagem de alojamentos que ainda no dispem de gua canalizada de 0,59% (23 579 alojamentos), a falta de sistema de esgotos afeta 0,45% dos alojamentos (17 966) e a falta de casa de banho com instalao de banho ou duche ocorre em 1,92% dos alojamentos (76 924).
A maior parte dos alojamentos de residncia habitual dispe de lugar de estacionamento (54,4%). A regio de Lisboa surge bastante abaixo deste indicador mdio, com 33,8%. No municpio de Lisboa, apenas dos alojamentos dispe de lugar de estacionamento enquanto, no Porto, este rcio cerca de 40%.
Grupo de Geografia Fonte: INE
7
-
VISITA DE ESTUDO A CONMBRIGA, PENELA E RABAAL
No final do 3 Perodo (12 de Junho), os alunos do 7 ano realizaram uma visita de estudo Villae Romana do Rabaal (Penela), ao Castelo de Penela e s Runas de Conmbriga (visita ao Museu Monogrfico e s Runas).
Comemos por visitar o Museu e a estao arqueolgica do Rabaal, onde podemos viajar no tempo, e observar os belos e preciosos mosaicos da famosa Villae.
De seguida, encarnmos o papel de cavaleiros cristos e fomos conquistar o Castelo de Penela, que se apresenta imponente e desafiador, capaz de resistir a qualquer investida. Aps termos tomado as muralhas, necessitmos de retemperar as foras e fomos almoar nas suas encostas.
A terceira parte, a mais desejada, consistiu na visita Estao Arqueolgica de Conmbriga. Ao chegarmos, temos a distinta impresso de realizar uma viagem intertemporal, um retorno Flvia Conmbriga dos sc. I-II d.C. O passado e o presente confundem-se no percurso pelas vias e pelos edifcios romanos, que culminou com a visita majestosa Casa dos Repuxos.
A nossa visita terminou com a observao dos tesouros histricos do Museu Monogrfico, que se encontram distribudos por duas salas.
Esta visita de estudo teve como objetivos: compreender a romanizao do territrio portugus; conhecer, na romanizao da Pennsula Ibrica, os instrumentos de aculturao das populaes submetidas ao domnio romano; reconhecer o carter urbano da civilizao romana; conhecer a arquitetura militar medieval; identificar uma cidade medieval de fronteira; compreender a importncia do castelo num contexto de fronteira; assimilar o processo de Reconquista Crist; sensibilizar a comunidade escolar para o patrimnio histrico; sensibilizar para a preservao do patrimnio histrico nacional; conhecer o trabalho realizado pelos arquelogos e historiadores; dinamizar culturalmente o meio escolar.
VILLAE ROMANA DO RABAAL A Villae romana do Rabaal chamada pelo nome da atual povoao. Est situada a 12 Km a Sul de Conmbriga, parte integrante do territrio da antiga civitas, junto via romana que ligava Olisipo a Bracara Augusta.
Neste espao, da villae (quinta agrcola), podemos verificar a existncia de uma residncia senhorial e de uma rea de alojamento para os servos e a frumentaria (celeiro, lagar e estbulos).
Os motivos figurativos dos mosaicos (estaes do ano, quadriga, figura feminina sentada) e mesmo algumas composies geomtricas e vegetalistas no tm semelhanas com o que existe em Portugal. No conjunto formam um grupo estilstico novo.
A cronologia da villae assenta no estudo da coleo de dezenas de moedas a descobertas datadas de vrios perodos do sculo IV d.C.. A circulao de longa durao das emisses monetrias da poca tardo-romana chegou ao momento das invases de 409-411, aos raides suevos de 465-468 e mesmo at depois.
Villae Romana do Rabaal
Castelo de Penela
Runas de Conimbriga (Casa dos Repuxos)
8
Histria
-
CASTELO DE PENELA A reconquista, aos muulmanos, da regio onde se encontra o Castelo de Penela atribuda a Fernando Magno, por volta de 1064. H indicaes de o Castelo ter sido edificado em 1097, contrariando as hipteses de existncia de uma fortificao em Penela no perodo da ocupao rabe, ou de existir, j anteriormente, um forte romano.
Parece certo, todavia, que D. Afonso Henriques reconquistou esta regio depois de, em 1117, ter sido de novo ocupada pelos rabes, j que, em 1137, o rei atribui Carta de Foral ao castelo e seus domnios.
Penela foi residncia do rei Afonso IV, que reinou at 1357. Foi-lhe concedida a elevao a condado, em 1465.
Durante o terramoto de 1755, o castelo sofreu bastantes danos, nomeadamente com a queda da Torre de Menagem.
O castelo foi construdo sobre um macio rochoso, aproveitando, no desenho das muralhas, parte da disposio natural dos penedos. No seu interior encontra-se a Igreja de So Miguel e podem tambm ser vistas sepulturas cavadas na rocha.
RUNAS DE CONMBRIGA O Stio de Conmbriga ter sido habitado desde o Neoltico e tem presena humana segura na Idade do Bronze. certo que os Celtas a estiveram: os topnimos terminados em briga so testemunho claro dessa presena. Conmbriga era um castro quando os Romanos em 138 a.C. aqui chegaram e se apoderaram do oppidum (povoao principal).
O conjunto das Runas de Conmbriga, do Museu Monogrfico construdo na sua imediata proximidade e do castellum de Alcabideque consubstanciam um complexo arqueolgico de peso, que permite reconstituir uma clula importante do grandioso imprio romano. A imponncia e o pragmatismo da arquitetura romana esto aqui bem representados, assim como a superioridade da sua ao civilizadora, que sobreleva dos mais diversos pormenores do quotidiano
Apesar de ter sido habitada desde tempos muito recuados, a fundao de Conmbriga e da maioria das construes nela erigidas remonta ao tempo do Imperador Augusto (sculos I a.C. I d.C.).
As escavaes arqueolgicas puseram a descoberto uma parte muito significativa do traado desta cidade, possibilitando ao visitante das Runas a comprovao de uma planificao urbanstica laboriosa e atenta a todas as necessidades: o frum, o aqueduto, os bairros de comrcio, indstria e habitao, uma estalagem, vrias termas, o anfiteatro, as muralhas para circunscrio e defesa da cidade. Deste conjunto, sobressai um bairro de ricas casas senhoriais que se ope diametralmente s insulae da plebe, pela complexidade da sua construo e requinte decorativo donde se destaca A Casa dos Repuxos, de grande peristilo ajardinado e pavimentada com mosaicos policromos, preservados no local, exibindo motivos mitolgicos, geomtricos, ou representando, muito simplesmente, a vida quotidiana.
Grupo de Histria da ESAP
9
-
HISTRIA GEOLGICA DA REGIO ALUNOS DA ESAP COLABORAM EM PROJETO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Os alunos de Geologia do 12 C da ESAP foram convidados a colaborar num projeto desenvolvido pela professora Edite Bolacha, investigadora no Centro de Geologia da Faculdade de Cincias da Universidade de Lisboa, que tinha por objetivo reconstituir e compreender uma parte da Histria Geolgica da regio com o apoio da Modelao Anloga.
O projeto envolvia a escolha da formao de uma bacia de pull-apart geneticamente associada Zona de Cisalhamento Porto-Tomar-Ferreira do Alentejo (ZCPTFA), o que permitia destacar a evoluo de uma regio que prxima e familiar dos alunos. Durante duas aulas consecutivas, os alunos sentiram-se verdadeiros gelogos investigadores tentando responder questo-problema: Como se ter gerado a bacia a Norte de gueda (entre Telhadela e Arrancada do Vouga) e os segmentos adjacentes, na dependncia da Zona de Cisalhamento Porto-Tomar-Ferreira do Alentejo?
Esta Zona de Cisalhamento Porto-Tomar-Ferreira do Alentejo (ZCPTFA) conta uma longa histria geolgica. Inicialmente, a ZCPTFA era uma falha transformante, que viria a atravessar parte do territrio nacional continental e cuja movimentao, no passado, ter contribudo para os distintos tipos de relevo, principalmente da zona Centro litoral do pas, bem como para o condicionamento da rica e intrincada rede hidrogrfica da mesma regio (Gomes, 2008).
Aps anlise de dados, que podiam ser recolhidos na carta geolgica de Portugal e em textos fornecidos pela Professora Edite Bolacha, houve acesa discusso entre os vrios elementos da turma, que l foram tentando, com alguma dificuldades inerentes a principiantes, passar para papel a resposta final, isto , a relao entre a bacia de pull-apart de Valongo do Vouga (Gomes, 2008) e as movimentaes ocorridas na ZCPTFA ao longo dos tempos geolgicos.
Seguidamente, passou-se a outra fase do projeto e para tal, no passado dia 18 de maio, a professora Edite Bolacha e o Prof. Doutor Paulo Fonseca deslocaram-se ESAP para realizarem a simulao da formao da bacia de pull-apart situada a Norte da cidade de gueda, atravs de um modelo anlogo, fornecendo assim uma viso da Histria da Terra atravs de reas tradicionais da Geologia, como so a Sedimentologia e a Tectnica, muitas vezes dissociadas pelos prprios gelogos.
Cincia
10
-
A modelao anloga uma metodologia utilizada em Geologia que permite apoiar, contradizer ou modificar a teoria e o modelo pr-estabelecido a partir de observaes a diversas escalas, em que a principal a do afloramento, a mesoescala. Ela simula escala fenmenos geolgicos j decorridos, que deixaram apenas vestgios, como rochas (associaes minerais) e estruturas a diversas escalas (falhas, dobras, foliao, etc.).
Atravs desta simulao, estudam-se, tendo em conta as vrias limitaes (espaciais, temporais e reolgicas), alguns aspetos da formao de bacias reais condicionadas por movimentos predominantemente horizontais mas tambm com componente vertical. Nesta pretendia-se relacionar as sucessivas movimentaes direitas da ZCPTFA, cuja direo predominante N-S, com a formao e deformao de bacias de pull-apart. A forma das bacias de pull-apart vai variando com o seu desenvolvimento progressivo, partindo de uma forma rombodrica (cujas faces so losangos) que vai adquirindo um aspeto cada vez mais sigmoidal medida que a deformao evolui (Chamin et al., 2003).
No episdio simulado colocada em destaque a reativao das falhas tardi-variscas (essencialmente normais, NNE-SSW) que cortam a ZCPTFA e que, devido ao movimento desta, continuam a funcionar como falhas normais, no Cenozoico (Pliocnico-Plistocnico), permitindo a (re)abertura e reativao da bacia de pull-apart a norte de gueda (Gomes, 2008).
Para alm das limitaes acima referidas preciso lembrar que no modelo no esto contemplados alguns fatores que, na realidade, tambm influenciaram o fenmeno, como a subsidncia, a eroso e sedimentao, que vo acontecendo em simultneo com a deformao. Para simular as rochas supracrustais (de todos os tipos) utilizaram-se areias que, segundo vrios autores (e.g. Byerlee, 1978), tm um comportamento reolgico (face deformao) semelhante quelas.
Escusado ser dizer o quanto foi gratificante para os alunos envolvidos, bem como para a professora de Geologia poder colaborar neste projeto. Certamente nalguns alunos despoletou uma esperana, a de um dia serem verdadeiros Gelogos como o Prof. Doutor Paulo Fonseca e a professora Edite Bolacha, que lhes forneceram algum conhecimento sobre os mtodos de investigao em Geologia como o trabalho de campo e a modelao anloga.
Professora Gracinda Figueiredo
11
-
Astronomia
TRNSITO DE VNUS E A MENTE BRILHANTE DE JEREMIAH HORROCKS No incio de junho, um tema que estava na berlinda em matria de Astronomia era o Trnsito de Vnus. Os mais distrados podero pensar que se trata de um problema de engarrafamento de automveis no nosso planeta vizinho. Nada disso.
Um trnsito de Vnus a passagem do planeta Vnus frente do Sol, visto da Terra, o que resulta na visualizao de um crculo escuro a atravessar o disco solar. Este fenmeno ocorre quando o Sol, Vnus e a Terra se encontram alinhados.
Alguns alunos perguntaram-me se iramos observar este fenmeno na Escola, mas, a menos que se organizasse uma visita de estudo at Barcelona (creio que seria o local mais prximo onde se poderia acompanhar o fenmeno) ou ao Hawai (onde seria melhor apreciado), no tivemos nem voltaremos a ter a possibilidade de assistir a este acontecimento. Eu ainda tive a sorte de observar e fotografar o anterior trnsito, em 2004 (Figura 1), porque creio que no vou estar disponvel em 2117 quando se repetir este fenmeno.
Os trnsitos de Vnus esto entre os fenmenos astronmicos previsveis menos frequentes. Ocorrem numa sequncia que se repete a cada 243 anos, com pares de trnsitos espaados de 8 anos, seguidos de longos intervalos de 121,5 e 105,5 anos. Vnus, com uma rbita inclinada em 3,4 em relao da Terra, normalmente parece passar sob (ou sobre) o Sol, no cu, na conjuno inferior. Um trnsito ocorre quando Vnus atinge a conjuno com o Sol em um dos seus ns, na longitude em que Vnus passa pelo plano orbital da Terra (a eclptica). Dito por outras apalavras,
preciso que Vnus volte a alinhar-se entre o Sol e a Terra para tal acontecer.
Mas falar do trnsito de Vnus obriga-me a falar-vos de Jeremiah Horrocks e j vo perceber porqu.
Em 1618, nasceu em Toxteth Park, prximo cidade inglesa de Liverpool, Jeremiah Horrocks. Filho de uma famlia puritana de relojoeiros, j em criana tinha a tarefa de medir o nascer e pr-do-sol, para melhor acertar os relgios e atestar a qualidade do negcio de famlia. Talvez o mtodo, o rigor e a astronomia tivessem despertado nele a necessidade da matemtica e a vontade de aprender. Aos 13 anos j era Sizar (uma espcie de professor) na Universidade de Cambridge, e aos 14 anos de idade j era Professor Catedrtico em Matemtica e Teologia.
A Universidade era uma enorme fonte de recursos, e nela Jeremiah estudou os trabalhos de Kepler, Coprnico, os registos de Tycho Brahe, entre outros. Arranjou telescpios e instrumentos de navegao martima (baseada na observao dos cus) e reviu os clculos de Kepler sobre o trnsito de Vnus previsto para 1631 (que estavam corretos, mas que, tal como ns agora, no conseguiram observar) e concluiu que este fenmeno se iria repetir em 1639 (e no em 1756, conforme afirmava Kepler). Isto, uma vez que determinou que os trnsitos de Vnus ocorrem aos pares, de 8 em 8 anos, no primeiro par, e ainda em cada 105.5 anos ou 121.5 anos, alternadamente, no segundo par.
Imagine-se um jovem de 20 anos a desafiar Kepler, a maior sumidade do mundo da Cincia da poca. Assim, quis o destino que, no dia previsto por J. Horrocks, 24 de novembro de 1639, um domingo, dia em que Jeremiah tinha compromissos religiosos, tinha ainda que ser um dia nebulado. Mas, de repente, abriram-se as nuvens e, em pouco mais de 40 minutos at terminar o trnsito venusiano, no meio de todo o enorme deslumbramento sobre aquilo que os seus olhos viam projetados num carto, ele anotou as suas observaes s 15h15, 15h35 e 15h45, tendo determinado, a partir deles, a trajetria de Vnus, o ngulo e velocidade orbital. Determinou ainda o tamanho desse planeta e reformulou, quer a dimenso do Sol, quer a distncia a que nos encontramos dele (a um valor mais prximo do que conhecemos hoje).
Dizer que Jeremiah Horrocks foi o primeiro a assistir ao trnsito de Vnus, ou que foi quem primeiro demostrou que a Lua descreve uma rbita eltica volta da Terra, poder parecer coisa de pouca monta. Mas pensar que este rapazola conseguiu ver a ordem e mecnica do sistema solar a partir de dados to simples e banais realmente prova da enorme genialidade deste esprito brilhante, que se apagou com apenas 22 anos de idade e de quem poucos ouviram falar, mas cujos mritos so celebrados com uma placa na Abadia de Westminster (Londres), como o pai da astronomia britnica, e lhe mereceram a atribuio do seu nome a uma importante cratera lunar.
Professor lvaro Folhas Bibliografia - Fontes consultadas em 13 de junho de 2012: http://en.wikipedia.org/wiki/Transit_of_Venus,_1639 ; http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremiah_Horrocks ; http://astropt.org/blog/2011/09/04/jeremiah-horrocks-%E2%80%93-um-nerd-em-1640/
Figura 2- Fotografia do trnsito de Vnus de 2004, por projeo do sol (nunca observe o sol diretamente)
Figura 1 - Esquema do trnsito de vnus
Figura 3 - Gravura representando J. Horrocks a registar o trnsito de Vnus
12
-
AS ATIVIDADES DA MORAL (EMRC) Numa altura em que as solicitaes externas aos jovens so to marcantes, optar pela Educao Moral e Religiosa Catlica (EMRC) uma escolha necessria, uma vez que tem em vista o desenvolvimento integral dos educandos, prestando ateno a todas as dimenses da pessoa humana: intelectual, social, moral e espiritual. Todos desejamos, sobretudo os pais e educadores, que a escola no apenas transmita conhecimentos mas forme as pessoas com critrios, atravs da aprendizagem de valores morais e da relao humana alicerada no respeito, no dilogo e na fraternidade. Dentro deste mbito, procuramos realizar algumas atividades que possam enriquecer estas dimenses e proporcionar aos alunos experincias diferentes e divertidas.
SEMANA DA DISCIPLINA
Assim, nos dias 21 e 22 de maro, comemorou-se a Semana da Disciplina, envolvendo os alunos do ensino secundrio. Estes, juntamente com a professora, dedicaram a sua tarde do dia 21 a fazer bolinhos salame de chocolate, onde foi colocada uma frase/ pensamento alusiva disciplina. No dia seguinte, distribuiu-se a toda a comunidade escolar sem distino os referidos mini-salames, que, diziam os apreciadores, estavam muito bons. Algumas alunas desenvolveram tambm atividades no palco, que muito contriburam para a animao do dia. Foi uma forma simples de envolver os alunos na comunidade educativa, incentivando partilha e reflexo pessoal. VISITA DE ESTUDO A LISBOA
Nos dias 2 e 3 de abril, organizmos uma visita de estudo a Lisboa, em intercmbio com a escola de Valongo, com a participao de alunos dos 7 e 9 anos da nossa escola, inscritos na disciplina de E.M.R.C. Foi uma viagem dedicada ao dilogo interreligioso e cultural, em que pudemos visitar um templo hindu (dedicado ao Hindusmo), uma Sinagoga (templo dedicado ao Judasmo) e uma Mesquita (templo dedicado ao Islamismo). Fizemos tambm uma visita guiada ao Estdio da Luz, designado a catedral, e ainda visitmos o parque dos budas no Bombarral, um local de beleza extica e timo para relaxar.
Nesta viagem no faltou um passeio noturno ao corao da nossa capital e ainda os momentos de convvio entre as escolas envolvidas na pousada da Juventude onde ficmos alojados. , sem dvida, uma atividade a repetir, pois sempre bom vivermos
outras realidades, conhecermos novas culturas, experienciarmos um convvio salutar e a fuga
rotina do dia-a-dia, para voltarmos ao trabalho com muito mais fora, alegria e
coragem.
2 ENCONTRO NACIONAL DE ALUNOS DE EMRC
Nos dias 13 e 14 de abril, realizou-se o 2 encontro nacional de alunos de E.M.R.C. do ensino secundrio, com o tema Navegarcom a EMRC. De mochila s costas, rummos at Gaia,
onde pernoitmos num colgio que nos acolheu e nos proporcionou uma noite memorvel, repleta de animao e divertimento. No dia seguinte, fomos a p at ao cais de Gaia para apanhar o barco, que nos conduziria Douro acima at Rgua. Aqui chegados, voltmos ao Porto de autocarro, deliciando-nos com a paisagem da serra do Maro. Esta foi uma viagem repleta de aventuras e partilha de experincias com alunos que vieram de todo o pas. Este ano, atravs da imagem do porto/cais, lugar seguro de onde se parte e onde se regressa nas melhores condies de segurana, conduzimos os alunos a perceber que na vida existe a partida e a chegada nas aventuras e nos desejos de ir mais longe. A partida e a chegada s podem acontecer pelo recurso a esse lugar seguro, fivel, que est sempre l: a famlia. Foi uma viagem inesquecvel. INTERESCOLAS DIOCESANO
Outra atividade sempre marcante o Interescolas diocesano, que este ano decorreu em Estarreja, no dia 4 de maio. Este um encontro realizado anualmente, que conta com a presena de alunos inscritos na disciplina de E.M.R.C. da Diocese de Aveiro. Este ano estiveram presentes mais de 5000 alunos e contamos sempre com a presena imprescindvel do nosso bispo. O dia constou de momentos de reflexo e convvio, em que no faltou uma caminhada, insuflveis, jogos de futebol, workshops variados, cantos, danas e magias no palco. Apesar da chuva, foi um dia de convvio fraterno muito enriquecedor para todos ns, repleto de alegria e boa disposio, de aprendizagem solidria e partilha dos mesmos interesses que nos movem a sermos felizes. Todos podemos contribuir para um mundo melhor e sem dvida para uma escola mais feliz! Os alunos de Moral contribuem Inscreve-te!
Professora Maria Joo Dias
Moral
13
-
ESAP TETRA CAMPE NACIONAL DE DESPORTO ESCOLAR EM ANDEBOL FEMININO A Escola Secundria Adolfo Portela sagrou-se, pela quarta vez consecutiva, campe nacional de desporto escolar em andebol feminino.
Na competio nacional, que decorreu nos dias 24 e 25 de maio, no Colgio da Imaculada Conceio, em Cernache, a equipa da ESAP, em representao da Direo Regional de Educao do Centro (DREC), jogou e venceu com as seguintes escolas: Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, por 35-21 (Direo Regional do Norte DREN); Agrupamento de Escolas Padre Antnio Martins de Oliveira, de Lagoa, por 25-14 (Direo Regional do Algarve DREALG); e Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro de Porto Salvo, por 28-17 (Direo Regional de Lisboa e Vale do Tejo DRELVT).
Ao conquistar o ttulo de campe nacional, a ESAP garantiu a oportunidade de representar Portugal nos jogos da Federao Internacional Desportiva de Escolas Catlicas (FISEC), que este ano iro decorrer entre os dias 5 e 11 de julho na ilha de Malta.
14
Desporto
-
NA ESAP, OS DIAS SO TODOS LGICOS
Os gregos antigos consideravam a retrica a qualidade essencial da liderana - um conhecimento to essencial que o colocavam no centro da educao mais elevada: a paideia. A retrica era to importante que, depois de a inventarem, ajudou a criar as primeiras democracias. Contudo, depois de um nascimento auspicioso, a retrica acabou por ser esquecida e s passados 1800 anos se voltou a perceber que o indivduo pode, se o quiser, elevar-se acima das foras inexorveis da histria e usar a lgica como uma ferramenta til para desmascarar falcias, fortalecer argumentos e... ser livre!
Hoje, percebemos melhor Aristteles. Sabemos que a virtude, o desinteresse e a sabedoria prtica so auxiliares fundamentais de um pensamento vivo e de um discurso assertivo e consistente. Sabemos que fundamental conhecer e treinar estratgias simples para discutir, com sucesso, todo o tipo de questes, desde as mais prosaicas s mais vitais. Sabemos que a escola, por ter razes na academia, tem memria e ser sempre capaz de encontrar em si mesma as ferramentas discursivas legadas por
Aristteles e adapt-las aos desafios hodiernos. Sabemos que a escola o local privilegiado para ver a lgica e a psicologia em ao. E sabemos que a retrica, mais do que uma ferramenta prtica, um programa metafsico: revela sempre novas perspetivas sobre a condio humana.
Por sabermos tudo isto, quer dizer, por acreditarmos que assim, a nossa escola avanou para mais um desafio que terminou no dia 8 de junho, quando o No quasi-libertrio dos Platnicos venceu o Sim igualitarista dos Argonautas da Palavra, na final da primeira edio do Dia Lgico. Apesar disso, todos os desafiados, especialmente o Antnio, a Frederica, a Joana, a Marta, a Carla e o Jos, saram vencedores, porque ousaram levantar-se para dizer publicamente coisas sobre o Rendimento Social de Insero, coisas que outros puderam avaliar. Tambm porque perceberam que, depois de despertar o bichinho da retrica, o mundo nunca mais o mesmo.
Professor Vtor Oliveira
15
Testemunho
-
O JOGO DAS DIFERENAS NO ESPETRO DO ACASO
a segunda, mas a primeira vez, porque h nesta repetio mais diferena(s) do que no atrevimento inicial. E o tema tem sobretudo o mrito intrnseco de tudo explicar: o antes, o durante e o depois. Porque assim o espetro do acaso. Porque pens[amos] com certo espanto na lotaria e nas conjeturas blasfemas que ao crepsculo murmuram os homens velados (Jorge Lus Borges, A Lotaria na Babilnia).
DA FEALDADE DO ACASO - 1 A nossa relao com o acaso no fcil. Na verdade, trata-se de uma relao amor-dio: precisamos dele, mas receamo-lo! A vida sem o acaso seria aborrecida, possivelmente insuportvel, seguramente inconcebvel. As propriedades naturais, a evoluo, a prpria existncia tudo pode ser visto como resultado do acaso. A tendncia natural para acreditar no acaso est presente em toda a histria e em todas as sociedades e, de facto, quase todas as atividades humanas podem ser explicadas
como uma expresso desta crena. Rendermo-nos ao acaso pode ser libertador e parece indubitvel que, atravs de ocorrncias e descobertas fortuitas, as nossas vidas tm mudado frequentemente para melhor.
Contudo, o acaso inquietante! No garante os resultados desejados e, se podemos ser os seus beneficirios, tambm podemos ser as suas vtimas. Por isso, o acaso, podendo ser libertador, tambm pode ser opressor.
Ensaios
16
-
Atribuir os eventos ao acaso testar maximamente os limites do que sabemos, o equivalente a dizer que algo ocorreu sem que saibamos porqu. Este fenmeno torna-se especialmente dececionante quando refletimos sobre a capacidade que o acaso tem de nos atingir indiscriminadamente. Com efeito, a arbitrariedade do infortnio e do sofrimento amide intolervel. Mas o acaso tambm nos pode impressionar pelo modo como impe a contingncia da avaliao moral. Seria reconfortante se a disposio para corrigir o juzo moral (independentemente do que isso signifique para cada um de ns), estivesse imune ao acaso. Infelizmente no assim, uma vez que todos aqueles fatores que determinam o estatuto moral das aes das pessoas esto, eles prprios, sujeitos ao acaso. O modo como algum julga as aes dos outros pode depender do facto dos outros serem verdadeiramente responsveis pelas aes em causa. Obviamente que a aplicao consistente deste critrio destruir a maioria das avaliaes morais que julgamos naturais, na medida em que as variveis morais que consideramos habitualmente nas avaliaes morais das pessoas, esto frequentemente para alm do seu controlo. Quer dizer, tendemos a avaliar os atos e as omisses das pessoas sem considerar como teriam sido as suas aes se as circunstncias do seu agir fossem radicalmente outras, embora o facto destas no serem diferentes seja mero fruto do acaso. Por outras palavras, o acaso que est na base dos nossos juzos morais: as aes que as pessoas realizam ocorrem num mundo que no controlam.
A noo de acaso moral particularmente enervante porque parece mostrar que h algo na nossa conceo de certo e errado que simultaneamente se ope e resiste categoricamente ideia de que a responsabilidade moral, o mrito e a censura moral possam pura e simplesmente estar sujeitos ao acaso. Talvez nos incomode a tese de que a moralidade no pode resistir ao acaso porque acreditamos que h algo na prpria essncia da moralidade, algo sobre a prpria disposio de corrigir o juzo moral, que, de alguma forma, nos protege das consequncias do acaso. Seguramente que alguns encontraro conforto e esperana na ideia de que a m sorte seja a m sorte moral ou outras formas de infortnio, como, por exemplo, as desigualdades naturais e sociais de nascimento pode ser controlada e mitigada. Contudo, parece evidente que o acaso resiste sempre, recusa-se a ser domesticado e que as questes da sorte esto simplesmente para alm do nosso controlo. O que fazer ento? Devemos render-nos ao acaso? Ou devemos treinar-nos para o dominar?
A resposta parece ser que devemos fazer ambas as coisas. Se queremos maximizar os resultados do acaso, ento teremos de lhe resistir e de o aceitar. Devemos tentar controlar o acaso quando recearmos as consequncias de deixar as nossas vidas nas suas mos caprichosas, mas devemos deixar o acaso em paz quando for para ns reconhecidamente impossvel domestic-lo. A sorte algo que os seres humanos odeiam e desejam. justamente aqui que reside a sua beleza e a sua fealdade.
O truque, claro, estar na capacidade de equilibrar as duas faces do acaso. Mas o que queremos parece ser a quadratura do crculo: ser ao mesmo tempo perfeitamente controlados e perfeitamente livres. O mesmo sucede com o acaso: queremos controlar o mais possvel o acaso e queremos beneficiar o mais possvel da sorte o que ser manifestamente impossvel se estivermos preocupados com o controlo do acaso. Talvez s possamos aspirar a um ideal de perfeito equilbrio em que o acaso nos beneficie (por exemplo, criando o maior nmero de oportunidades imprevistas) e seja, de algum modo, mitigado (por exemplo, atravs de estratgias paternalistas, de compromissos prvios ou atravs de aes racionais como supersties inofensivas), quando receamos as suas consequncias potencialmente desvantajosas. O mais provvel que as pessoas no concebam o acaso de uma forma to estrategicamente instrumental. Ainda assim, parece natural que os seres humanos, em geral, queiram implcita e inconscientemente o melhor de dois mundos, ora explorando situaes potencialmente benficas, ora protegendo-se da m sorte. Por isso, no Deus quem joga aos dados. Somos ns. Todos os dias.
Professor Vtor Oliveira
17
-
DA FEALDADE DO ACASO - 2
O gesto casual, o comportamento sem razo ou sem justificao, que acontece, mas poderia perfeitamente no acontecer, desagradvel, feio, pavoroso. Mesmo, ou sobretudo, quando gera consequncias agradveis, que poderiam ser muito belas e encher de sentido os dias e os momentos que os fazem.
Que valor e que beleza poder haver no fazer (o) bem por acaso? Algum que d sangue por acaso, mesmo que esse sangue salve vidas, feio e torna essa ddiva feia. Algum que legisla ou ordena por acaso um imbecil ou um ditador, o que o mesmo e muito feio. Algum que defende os mais fracos e desprotegidos por acaso um inconsciente, um tonto e, a todo o momento, pode fazer exatamente o contrrio. A falta de razes ou justificaes para o que fazemos retira-nos humanidade e torna-nos feios, deformados e perigosos. No se pode confiar em quem faz coisas por acaso.
O que se faz por acaso retira sentido e portanto beleza mesmo s coisas mais simples e banais. Encontrei-te por acaso significa: No te procurei, no quis encontrar-te. Telefonei-te por acaso significa: Foi a ti, mas poderia ter sido a qualquer outra pessoa. Disse-o por acaso significa: Poderia ter dito exatamente o contrrio, ou nada. Em qualquer caso no h verdadeiro agente porque no h premeditao, inteno, desejo, querer. No h, portanto, marca do humano em nenhum desses gestos que, assim, se tornam muito feios.
O que feito por acaso assusta precisamente porque a todo o momento pode dar lugar ao seu contrrio. Quando
no h razes que justifiquem os nossos atos, tudo possvel e tudo vale o mesmo, isto , nada. A casualidade dos atos impede a expectativa e anula a esperana: daquele que atua por acaso nada podemos esperar, porque capaz de tudo; com esse intil dialogar precisamente porque a troca de razes est inviabilizada e, portanto, nada permite acreditar na possibilidade de aperfeioamento.
A casualidade dos atos retira-nos deles, retirando-lhes no s todo o sentido mas toda a possibilidade de sentido. E a falta de sentido do que fazemos e do que nos fazem fecha-nos num mundo imune beleza.
Na esfera tica como na esttica o acaso introduz fealdade, mesmo naquilo que poderia ser ou parecer belo. O ator que, por acaso, representou extraordinariamente; o pintor que, por acaso, comps uma tela fantstica ou o msico que, por acaso, produziu uma melodia, no so artistas e no criaram arte. Verdadeiramente no sabem o que fizeram e no sentiram necessidade de o fazer. S por acaso voltaro a ter sucesso. De forma mais grave na vida: quando o que se faz fruto do acaso e no de uma intencionalidade, no se sabe o que se faz e nem por acaso se poder ter xito o nico que importa: ser verdadeiramente, agente e no paciente, criador de possveis, potenciador de liberdade e de esperana, incansvel demiurgo de sentido(s).
Professora Paula Bastos
18
-
SER QUE OS ANIMAIS TM DIREITOS? PORQU?
O presente ensaio serve para responder ao problema: Ser que os animais tm direitos? Porqu?. Comearei por esclarecer o problema de tica aplicada em discusso bem como as noes centrais desta discusso, a saber, a noo de direitos, de sujeito-de-uma-vida e a lacuna lexical associada aos termos ser humano, animal e pessoa. De seguida, apresentarei as teses e os argumentos de Tom Regan, de Peter Singer, de Carl Cohen e de Jan Narveson ao problema central deste ensaio. Por fim, assumirei, de forma fundamentada, uma posio contra a extenso dos direitos aos animais no-humanos. Quando se pergunta se os animais tm direitos, em causa est determinar as condies necessrias e suficientes para atribuir direitos aos animais no-humanos. Depois tambm est em causa saber se todos os animais no-humanos, ou se apenas alguns, tm estatuto moral e, se for o caso, qual a sua extenso, ou seja, saber se tm direitos e que tipo de direitos so, nomeadamente se so direitos deontolgicos, isto , direitos que implicam deveres. Segundo Tom Regan, em causa est tambm saber se as noes disponveis so consequentes para a discusso da extenso de direitos aos animais no humanos, por considerar que no apresenta a noo de sujeito-de-uma-vida para se referir a todo o ser consciente do mundo em que vive e do que ocorre consigo prprio, capaz de distinguir o bem do mal, o melhor do pior. Para Tom Regan, no caso dos mamferos e das aves, () como ns, so sujeitos-de-uma-vida (Tom Regan, 2010: p. 53), j que, semelhana do ser humano, so conscientes do que os rodeia e de si. Regan apresenta-nos o que, para ele, uma lacuna lexical no vocabulrio filosfico. Afirma que seria necessrio uma palavra ou expresso para indicar o ponto a partir do qual o ser humano e o animal se cruzam a nvel psicolgico. Se recordarmos o que se entende por sujeito-de-uma-vida, percebemos que a palavra em falta serve para suprir essa expresso. Assim, os termos humano, animal e pessoa so inadequados para expressar o significado da noo sujeito-de-uma-vida, j que nem todos so humanos, nem todos so pessoas, nem alguns animais tm capacidades mentais. de importante valor moral conhecer quais os seres englobados no grupo de sujeitos-de-uma-vida, de forma a perceber quem tem verdadeiramente valor inerente e no apenas valor instrumental. algo crucial para avaliar
o estatuto moral e a inerncia de direitos a alguns animais, sejam humanos ou no-humanos. Tom Regan, como vimos anteriormente, defende o estatuto moral de alguns animais no-humanos e atribui-lhes direitos deontolgicos. Apesar de ser um deontologista influenciado por Kant, reconhece que este apenas confere valor inerente aos animais humanos, logo, apenas estes podero ser sujeitos de direitos. Regan considera esta e todas as outras perspetivas morais semelhantes insatisfatrias, na medida em que no atribuem deveres diretos dos animais humanos para com os animais no-humanos. Com refere Regan, os animais no humanos, tal como ns, so algum e no apenas algo; eles so nossos semelhantes e ns somos seus semelhantes, a nvel psicolgico e anatmico (Cfr. Tom Regan, 2010: p. 55). Assim sendo, para este filsofo norte-americano tambm ilegtima a distino de valor entre sujeitos-de-uma-vida humanos e no-humanos, j que os humanos no so superiores, nem os no-humanos inferiores (ou vice-versa). Temos, ento, animais humanos e animais no-humanos sujeitos-de-uma-vida com o mesmo valor moral, uma vez que todos tm capacidade de sentir e de sofrer, tm conscincia de si e tm ainda interesses, preferncias, sendo dotados de bem-estar experiencial, possuindo, por isso, valor inerente. Por estas razes, Regan a favor da partilha, com os animais humanos, do direito dos animais no-humanos a serem respeitados. Regan tem uma posio abolicionista quanto ao uso de animais, como cobaias, para a cincia, seja em estudos desnecessrios, seja em estudos benficos para os animais humanos. Da mesma forma que no seria moralmente correto matar ou maltratar animais humanos em estudos cientficos, o mesmo ocorre com os animais no humanos. Quanto ao comrcio de criao de animais, Regan defende que estes s so tratados como meios para os nossos fins, como objetos para o nosso bem-estar, o que moralmente errado. Tal como aconteceu na indstria de pele animal, o comrcio de animais de criao devia ser totalmente erradicado. Por fim, Regan aponta como erradas as atividades sexuais entre humanos e animais. Defende que um animal no pode dar o seu consentimento informado, sendo assim alvo de coero, o que no justificado pela satisfao sexual.
19
-
Peter Singer, um filsofo utilitarista australiano, defende que o princpio moral da igualdade deve ser estendido aos animais no-humanos, j que ambos, animais humanos e animais no-humanos, possuem o mesmo valor moral. Contudo, isso no implica que tenhamos de atribuir exatamente os mesmos direitos a ambos os grupos, uma vez que possumos factualmente diferenas psicolgicas e fisionmicas relevantes. Assim, no ser legtima uma extenso do princpio factual de igualdade, mas do princpio moral de igualdade. Peter Singer afirma que existem diferenas importantes entre os seres humanos e os outros animais, e estas diferenas tm de resultar em algumas diferenas nos seus direitos (Peter Singer, 2010: p. 27). Singer, assim como Bentham, alega que os animais no-humanos devem ter direito a uma considerao igual aos animais humanos, j que ambos tm a capacidade de sofrer e, por isso, de ter interesses, como, por exemplo, o de no serem maltratados. Este filsofo afirma que a maioria dos humanos especista, porque concede maior valor sua espcie, provoca sofrimento aos animais no-humanos por altura da sua criao, para posteriormente satisfazerem o seu palato s refeies. Tambm porque os expe a experincias laboratoriais repugnantes. Assim, Singer defende a alterao dos nossos hbitos alimentares, que tanto apoiam as indstrias de carne, bem como a abolio dessas experincias. Defende ainda que seria at mais legtimo usar nessas experincias um beb humano rfo do que um coelho ou rato adultos, na medida em que estes so mais sencientes, conscientes e autnomos. Por fim, Singer aponta o especismo na filosofia contempornea. Afirma que vrios filsofos que escrevem sobre direitos restringem-nos espcie humana, atribuindo-os a bebs e a deficientes mentais e excluindo animais no-humanos com capacidades idnticas ou superiores, que tm emoes e desejos e parecem ser capazes de fruir uma boa vida (Cfr. Peter Singer, 2010: p. 43). Assim, Singer defende que o princpio moral da igualdade deve ser estendido aos animais, com a devida adaptao s suas caratersticas/capacidades mentais. Carl Cohen defende que a defesa dos direitos dos animais um erro gigantesco (Carl Cohen, 2010: p. 68). Diz que os direitos implicam obrigaes, mas que nem todas as obrigaes so implicadas por direitos. Diz ainda que os seres humanos tm, como seres morais que so, na sua maioria, algumas obrigaes para com os animais no-humanos, mas da no se segue que estes tenham direitos. Assim, apesar de no lhes serem conferidos direitos, este filsofo norte-americano defende que ns, seres humanos e morais, temos a obrigao de no os maltratar, porque sentem e sofrem.
Cohen afirma tambm que os animais no podem ser titulares de direitos porque o conceito de direito essencialmente humano, est enraizado num mundo moral humano e tem fora no seu interior (Cfr. Carl Cohen, 2010: p. 70). Em consequncia, o estatuto moral entre humanos e animais muito diferente, tendo o ser humano direito a no ser comido vivo, ao passo que os animais no. Isto acontece porque os direitos possuem um significado moral e os animais, sendo amorais, no tm direitos. Cohen argumenta que tanto os bebs humanos quanto os deficientes mentais tm certamente direitos, j que so universalmente humanos, independentemente das suas caratersticas individuais. Este filsofo acusa Tom Regan de recorrer a uma argumentao falaciosa, nomeadamente de cometer a falcia do equvoco quando utiliza deliberadamente os dois sentidos que ele prprio cunhou para a noo de valor inerente, o que lhe confere um significado bastante vago e arbitrrio. Conclui afirmando que as consequncias do facto de os animais terem direitos seriam terrveis para a Humanidade, j que inviabilizaria a possibilidade de, por exemplo, desenvolver vacinas e antibiticos essenciais. J. Narveson, um filsofo norte-americano, considera que, apesar de no haver legislao relativa ao direito vida dos animais, estes devem ser protegidos da crueldade gratuita. Ainda assim, para Narveson, os animais so essencialmente incapazes de atividade moral (Jan Narveson, 2010: p. 85), pelo que e assim, no podemos atribuir-lhes restries morais. Por outro lado, diz, no faz sentido preocuparmo-nos com a moralidade relativamente aos animais, se no momento seguinte temos um hambrguer ou uma costeleta no prato. Narveson alega que presumir que os animais esto na mesma categoria moral que ns uma falcia de petio de princpio e que errado considerar moralmente inferiores as pessoas que comem carne. Este filsofo ope-se ao utilitarismo, defendendo que a perda de um animal para ser comido por um humano menor, comparativamente ao prazer provocado ao humano. Assim, as nossas relaes com os animais devem orientar-se pelos nossos interesses. Por fim, Narveson, que um contratualista, defende que no podemos fazer acordos, isto , contratos mutuamente benficos com os animais no-humanos, j que eles no tm capacidades intelectuais para os fazerem, nem os humanos teriam razes para os quererem fazer. Logo, Narveson defende que os animais no-humanos no tm direitos. Contudo, no os devemos maltratar, j que nos so teis.
20
-
Tom Regan, cuja posio j foi esclarecida neste ensaio, catalogou catorze objees comuns aos direitos dos animais, de ordem geral, religiosa e filosfica e as suas respetivas respostas esclarecedoras. Assim, afirma que muitas pessoas resistem ideia de direitos para os animais no-humanos, contestando, simplesmente, que os animais no so humanos; que a crena nos direitos desses animais absurda; que, ento, as plantas, assim como as amibas (seres monocelulares), tambm teriam direitos; que esses animais no entendem a noo de direitos e que no respeitam os dos humanos; que se comem entre si; e que no se sabe onde traar a fronteira entre os animais sujeitos-de-uma-vida e os que no o so. A tudo isto, Regan responde que pertencer a espcies diferentes no justifica que os animais no-humanos no tenham direitos, at porque indivduos diferentes no tm de partilhar exatamente os mesmos; que infundado atribuir direitos s plantas e s amibas, j que facilmente se entende que no tm as caratersticas de sujeito-de-uma vida, como serem conscientes de si; que no necessrio os animais no-humanos entenderem direitos para que os tenham, nem a reciprocidade no seu respeito deve ser exigida, da mesma forma que no exigimos s crianas pequenas; que os animais no-humanos comem outros animais no-humanos para sobreviver e que, ns, humanos, no temos de os imitar nessa prtica. Quanto fronteira entre os animais sujeitos-de-uma-vida e os que no o so, afirma que de facto ela no existe, at porque no se sabe onde tra-la. Contudo, a ignorncia humana sobre o ponto da escala filogentica em que termina a conscincia no deve ser obstculo para atribuir direitos queles nos quais ela est evidentemente presente. Regan refere tambm que h algumas pessoas que repudiam os direitos dos animais no-humanos por questes religiosas, objetando que estes no tm alma e que Deus concedeu direitos apenas aos homens, assim como lhes concedeu o domnio sobre todas as outras coisas. O filsofo responde que, apesar de no sabermos se esses animais tm ou no alma, isso no relevante para a atribuio de direitos, que no se l em pgina alguma da Bblia que Deus nos concedeu direitos e, quanto sua cedncia do domnio sobre todas as outras coisas, faz a leitura de que os animais, como rpteis e aves, no foram criados com o propsito de servirem os nossos desejos, mas para sermos bondosos para com eles, assim como Deus foi no ato da criao. Por tudo isto, Tom Regan defende a concesso de direitos aos animais no-humanos sujeitos-de-uma-vida. Regan responde depois a trs objees de Carl Cohen. A primeira objeo refere-se amoralidade dos animais, isto , incapacidade destes distinguirem o certo do errado e de no haver, assim, direitos entre eles. Contudo, diz Tom Regan, do facto de os animais no poderem ter direitos perante outros animais, no se segue que no possam ter direitos perante ns (Tom Regan, 2010: p. 113). A segunda objeo de Cohen diz-nos que os indivduos tm direitos apenas se as suas vidas foram, so ou forem essencialmente morais, o que no acontece com os animais. Regan alega novamente que, do facto de os
animais no terem moralidade, no se segue que no tenham direitos. A ltima objeo de Cohen diz respeito ao facto dos direitos surgirem apenas na esfera humana, pelo que s os humanos podem ser sujeitos de direitos. Mas Regan responde que os direitos no se limitam aos seres da comunidade onde surgiram, mas que se estendem aos animais. Depois de analisar atentamente todas as teses e argumentos fornecidos, considero que os animais no humanos no so moralmente relevantes e que por isso no tm direitos. Como refere Narveson, os animais no esto na mesma categoria moral que ns naqueles aspetos bvios que so relevantes para a gerao de princpios morais publicamente convincentes (Cfr. Jan Narveson, 2010: p. 92), porque o facto de serem conscientes de si no uma condio suficiente para serem colocados no mesmo nvel moral que ns. Por outro lado, inconcebvel que um rato possa ser substitudo por um beb humano ou por um deficiente mental em experincias laboratoriais, j que, apesar das suas caractersticas individuais, no deixam de pertencer esfera humana, na qual todos os indivduos so englobados pelos direitos. Ainda assim, apesar de eu no conferir direitos aos animais no-humanos, defendo que ns, humanos, como seres morais, temos a obrigao de no os maltratar simplesmente por prazer, sem qualquer benefcio para ns. Contudo, considero impensvel deixar de comer carne animal ou at deixar de usar animais em experincias laboratoriais, sobretudo sabendo que, sem estas, ficaramos indefesos perante doenas e, de um modo geral, a medicina e a cincia no poderiam evoluir. Em suma, defendo a proteo dos animais contra os maus-tratos, mas nunca os seus direitos, pois a sua existncia faz-nos crer que no os devemos usar em funo das nossas necessidades. Podemos, da mesma forma que cuidamos de um animal de estimao, como um co, cuidar de um porco ou de uma vaca, para posteriormente nos servirmos deles na nossa alimentao. Ou, mais importante ainda, sacrificar animais em nome do avano da cincia, da medicina, do bem-estar e da sade dos seres humanos.
Ana Lusa Martins, 10H Bibliografia Cohen, Carl, Os animais tm direitos? in Galvo, Pedro (org.) (2010). Os animais tm direitos? Perspetivas e argumentos. Lisboa: DinaLivro, pp. 63-82 Narveson, Jan, Moralidade e animais in Galvo, Pedro (org.) (2010). Os animais tm direitos? Perspetivas e argumentos. Lisboa: DinaLivro, pp. 83-96 Singer, Peter, Todos os animais so iguais in Galvo, Pedro (org.) (2010). Os animais tm direitos? Perspetivas e argumentos. Lisboa: DinaLivro, pp. 25-49 Regan, Tom, Direitos dos animais in Galvo, Pedro (org.) (2010). Os animais tm direitos? Perspetivas e argumentos. Lisboa: DinaLivro, pp. 51-61 Regan, Tom, Objees e respostas in Galvo, Pedro (org.) (2010). Os animais tm direitos? Perspetivas e argumentos. Lisboa: DinaLivro, pp. 97-120
21
-
EU GOSTO, MAS SER ARTE? Vamos falar, ao longo deste texto, da teoria da arte como imitao. Esta teoria defendida por vrios autores, nomeadamente Plato, Aristteles e Susanne Langer. Na parte final deste texto iremos apresentar uma imagem e avaliar se esta ser arte segundo a teoria da arte como imitao.
Para Plato a arte no passa de uma iluso. Para justificar o seu ponto de vista, afirma que a arte no uma boa fonte de conhecimento pois duplamente irreal, uma vez que uma imitao de outra imitao (a realidade). Para sustentar esta tese, argumenta enumerando os aspetos negativos da arte, dividindo-os em dois problemas: um relacionado com os maus exemplos que esta nos pode dar, mas que pode ser resolvido atravs da censura, e o outro relacionado com a sua natureza emocional.
Aristteles, tal como Plato, defende a arte como imitao. No entanto, distingue trs formas de imitao, a saber, o meio, o objeto e o modo de imitao, e cria a teoria da catarse para mostrar que Plato est errado no que respeita s ms influncias que arte nos pode provocar. Esta teoria engloba a sua definio de arte como imitao, as vrias formas de imitao e alguns aspetos da tragdia. Ao tentar definir tragdia de acordo com vrios requisitos, afirma que esta nos purifica e que o espectador no fica influenciado, nem apresenta quaisquer emoes relacionadas com o que viu ou leu.
Na opinio de S. Langer, a arte a criao das formas que simbolizam o sentimento humano e smbolo algo que exprime sentimentos humanos atravs da abstrao. Esta teoria foi alvo de inmeras crticas de vrios filsofos, estando a que mais se destaca relacionada com a ambiguidade do smbolo (uma vez que este pode significar outra coisa em virtude do contexto). Outra das crticas refere-se ao facto de a noo que Langer tem de smbolo no incluir o aspeto convencional exigido, pelo que a obra de arte, no seu todo, no poderia ser simblica uma vez que lhe faltaria a principal caracterstica: o aspeto convencional.
Para responder s crticas colocadas, a autora comeou por trocar a expresso smbolo artstico por forma expressiva, no conseguindo, contudo, deixar de a usar pois era a nica coisa que dava originalidade e sentido sua filosofia da arte.
Os desenhos hiper-realistas de Paul Cadden, de acordo com a teoria da arte como imitao, sero a expresso mxima de arte, uma vez que uma imitao fidelssima da realidade. Neste caso, o retrato a imitao do rosto da pessoa que serviu de modelo para este desenho. Desta forma, podemos concluir que tudo aquilo que imita a realidade pode ser considerado arte de acordo com a teoria da arte como imitao! E ser tanto mais arte quanto mais fiel for a imitao!
Margarida Almeida e Patrcia Jesus, 10 F
22
-
BLADE RUNNER: 30 ANOS DEPOIS, UM FILME DE CULTO
Blade Runner (1982, verso definitiva 2007) um filme do realizador Ridley Scott, baseado na novela Sonham os androides com ovelhas eltricas?, do escritor de fico cientfica Philip K. Dick.
Na web encontramos milhes de pginas dedicadas a este filme. Atravs delas entramos no universo de inmeros fanticos deste produto tipicamente mid-cult (abundam os adolescentes borbulhentos e o ciberpunks japoneses), que inclui um sem fim de ttulos, verses, revises e opes diversas.
Dizem que existem pelo menos seis verses diferentes do filme: a cpia de trabalho projetada em Denver e Dallas; a cpia da pr-estreia no Cinema 21 Th. de So Diego; a chamada verso local; a internacional; a montagem do realizador, de 1992; e a montagem final, de 2007 (os aficionados da taxonomia citam mais algumas, como, por exemplo, as verses para televiso, para vdeo e para dvd). J agora, o mesmo se pode dizer da banda sonora de Vangelis, em que possvel identificar, para alm da verso oficial oficial, diversas verses pirata feitas por companhias
discogrficas com nome e responsabilidade social! Quanto ao livro de Philip K. Dick, tambm possvel encontrar uma infinidade de verses a do seu discpulo K. W. Jeter, a adaptao para cinema de William S. Burroughs, etc.
Dizem os fanticos que assim porque Blade Runner , tal como Ulisses, de James Joyce, uma obra em construo. Mas no acredito que seja assim. De todo. sem dvida um grande filme e j o era em 1982, quando estreou. O que mudou ento? Acredito que foi
apenas a atitude impiedosa e arrasadora dos crticos da altura, os quais, embora estranhamente tenham percebido os valores, as ideias e problemas essenciais do filme, acabaram por lhe vaticinar, sem qualquer tipo de misericrdia, um futuro miservel de produto falido. Mas os abutres no se limitaram a atacar o filme, atacaram tambm, e amide de forma gratuita, o prprio realizador que, sendo habilidoso e sofisticado, nunca foi genial, at porque, como diz Borges, ningum o pode ser sempre.
O que viria a suceder com Blade Runner, depois da estreia em 1982, mostrou que, aquilo que os crticos mainstream consideraram vcios insanveis luz dos cnones oficiais, a histria acabou por reconhecer como virtudes. Este reconhecimento, contudo, foi crescendo margem dos circuitos, para terminar, pasme-se, no ponto inicial. Assim, Blade Runner, depois de ter sido rejeitado pelo mercado, acabou, ironia das ironias, por mo do mercado puro e duro, no altar dos cones Hollywood.
Mas como foi possvel que os crticos, tendo tudo vista, nada tivessem visto? Talvez tenha sido o facto de Blade Runner ser, em si mesmo, um mosaico formado por inmeros fragmentos, que, enquanto objeto artstico, obriga ao olhar distanciado que s o tempo pode dar. At porque os fragmentos que do
uma densidade e complexidade nicas a este filme provinham de diferentes tempos e olhares: do cinema negro ao western, de Robert Wiene e Fritz Lang a Howard Hawkes e Orson Welles, passando pelos videoclips, a publicidade, o barroco alemo, a arquitetura medievalista da Escola de Chicago e a ps-moderna de Frank Gehry, William Blake e Descartes, Mabuse e Frankenstein! Enfim, Blade Runner aproveita-se de tudo e de tudo se alimenta, exceto do otimismo futurista da fico cientfica da Idade de Ouro. E coloca tudo isso ao servio de uma histria que
23
-
representa, como diz F. Savater, um dos maiores esforos metafsicos do cinema atual (Cfr. F. Savater, La Puerta Tanhuser, 1996: p. 95): uma meditao sobre o ser, que no est construda sobre abstraes, mas sobre a poderosa narrativa dos mitos heroicos, dos mitos que tratam de homens que matam e morrem, se rebelam e desafiam Deus.
Muitos veem Blade Runner como uma nova antropologia determinstica marcada pela contraposio entre o natural (o homem) e o artificial (a mquina), veem a linha tnue que separa o homem das suas criaes. No penso que seja assim ou, pelo menos, que seja apenas assim. Acredito que Blade Runner pouco ou nada tem a ver com o conflito recorrente na stima arte entre o natural e o artificial, nem sequer com aquilo que hoje se designa de mquinas inteligentes. A ideia central deste filme, a que volto vezes sem conta, a permanente construo-desconstruo do humano e o verdadeiro conflito, que existe e que observamos, estritamente do humano.
Blade Runner um filme sobre as identidades possveis do homem. Atravs dos replicantes, produtos de engenharia gentica, de clara genealogia frankensteiniana, mas mais perfeitos que a romntica e remendada criatura de Mary Shelley, as mquinas com forma e atributos humanos servem para nos aproximar ainda mais do homem de carne e osso. Desta forma, os replicantes esto j a ao virar da esquina, no por causa do hoje e do amanh da cincia, nem sequer porque a tecnologia est cada vez mais perto de ser domesticada, mas porque Blade Runner coloca-nos perante o dilema inelutvel de uma inquietante possibilidade intemporal, moral e metafsica.
Blade Runner fala-nos do facto de sermos estranhos para ns mesmos (we are all aliens), muito mais do que estranhos para os outros. Fala-nos da ambiguidade moral simbolicamente representada nos e pelos replicantes, mostrando que o que caracteriza a pertena humanidade no a naturalidade ou artificialidade dos seres, mas os sentimentos e os princpios morais, o amor e a compaixo. Fala-nos da ambiguidade ontolgica que alimenta a sensao de
uma incerteza existencial fatal e incomensurvel, que transforma a histria do humano numa histria de sofrimento e de dor, porque de violncia, de sobrevivncia e de morte.
Quem j viu Blade Runner sabe que pergunta em voz off o que sempre se perguntou: o que o homem?. Sabe que depois apresenta uma resposta que se desenha para alm das utopias urbanas, das quimeras, e que procura mostrar o nosso ser trgico, para alm da indolncia a-histrica das narrativas do paraso perdido, nas quais se constroem mundos nenhuns para recuperar uma inocncia originria e que mais no so do que paliativos inconsequentes. Sabe que mostra que s o humano capaz de escolher entre o bem e o mal, o amor e o dio, a liberdade e a tirania. Que s o homem capaz de matar, porque humano. Mas sabe sobretudo que mostra despudoradamente que estamos condenados ao sofrimento de nos sabermos dolorosamente insuficientes, de nos sabermos dolorosamente limitados. De nos sabermos assim, mortais.
Professor Vtor Oliveira
Blade Runner fala-nos do facto de sermos estranhos para ns mesmos, muito mais do que estranhos para os outros.
24
-
Poesia
S VEZES s vezes, o contacto com as palavras rpido e momentneo. Outras vezes, insistimos nelas e somos cansativos pelo uso que lhes damos. Nem sempre no lugar certo, com a pessoa certa, mas l estamos ns a d-las de boa vontade, de graa e sem nada em troca. Talvez um bom ouvido, claro, ou um silncio cansativo E depois h aquelas palavras que vo e vm na boca de toda a gente, interpelam outras sem pedir licena, andam depressa, muito depressa e desesperam Mas de palavras poderamos palavrear sem parar, outras bem mais interessantes surgem assim, de repente, numa aula de Lngua Portuguesa, onde a palavra sentida, s vezes repreendida e repetida
Professora Ana Brito
MINHA PROCURA No me procures no sol No me procures na lua H muito que no lhe perteno E estou longe de ser tua No me procures no vazio No me procures nesta melodia com som amedrontado J lhes fugi E solido foi coisa que acorrentei ao passado Sente-me no teu reflexo Procura-me nas estrelas sem fim E sem mais medo te pedirei - Continua a procurar por mim. Ana Isabel Pereira, Cntia Espinhal, 8B
O OLHAR DAS ESTRELAS Na memria das estrelas Um dia chorei Na face do luar A minha histria encontrei Pode ser inconstante E nem sempre real As estrelas escreveram a minha histria Com um fim surreal Nem sempre me perdi E o destino foi fatal Aos olhos das estrelas Todos temos de ter um final No culpo ningum Pelo que vai acontecer face do luar Terei de morrer . Ana Isabel Pereira, Cntia Espinhal, 8B
A FLORESTA No sei que fazer, no sei o que escrever. S sei que para rimar Vou ter de tentar Olha para o que fazes, olha para o que pensas. Protege o teu mundo, para que nunca te arrependas No sei como dizer, no sei o que fazer. S sei que ao proteger este mundo, ele vai agradecer. Para este mundo poder habitar, papel, carto Tudo o que pudermos, vamos reciclar. Ins Rodrigues, 8B
25
-
UM POEMA, UMA VIDA
Palavra, a palavra, Vou escrevendo. Um poema entristecendo. Com um lpis na mo, Um bocado de corao. Eu vou escrever, O que a minha alma transparecer. Um poema no papel a vida. A vida de quem o corao palpita. Uma letra, uma palavra Um infinito que no acaba. Um desenho, um rabisco Um tesouro imprevisto. Um poema rasgado, Um corao destroado. Uma garrafa atirada Sem nunca mais voltar. Ins Ferreira, Marlene Trindade, 8B
ALEGORIA DA DIFERENA
Naquele campo, muitas flores eu vi Vermelhas, amarelas, azuis e lils. Todas brincavam e nenhuma eu colhi Mesmo se quisesse, no era capaz. Eram como todas deviam ser, Flores alegres e deslumbrantes. Riam e saltavam at anoitecer Enfim, tudo continuava como antes. Mas uma flor, diferente das demais, Ficava num canto triste e esquecida. Tinha flores pretas, folhas desiguais. Estava to s e deprimida! Aproximei-me e perguntei: - O que tens, flor? Elas no gostam de mim, Dizem que sou diferente! Quero deixar de ser assim, Quero ser uma flor contente - Eu sou tua amiga disse-lhe eu E as flores pretas tambm so flores. Juntmo-nos s outras e tudo se resolveu, Todas fizemos uma festa das cores. Ana Lusa Martins, 10H
SE EU FOSSE
Se eu fosse uma borboleta, voava sem parar. Se eu fosse um cavalo, no parava de cavalgar. Se eu fosse uma andorinha, libertava a minha alegria Mas se eu fosse um leo, libertava a minha paixo. Se eu fosse um grilo, cantava como um violino. Mas se eu fosse um tigre, libertava o meu esprito. Ins Farias, Jos Maria - 8 B
26
-
PALAVRAS
Hoje so palavras
Pronunciadas devagarinho
Hoje so palavras Murmrios soletrados
Palavras que aprendemos
Devagar e com jeitinho
Letras entrelaadas, saboreadas As palavras ditas ao acaso
Com amor, carinho e paixo
Outras talvez no
So palavras marcadas
Que ficam para sempre Outras esquecidas
Deixadas e enterradas
Pequenas e longas
Difceis de encontrar Em situao pensada
Ou inesperada
Ditas as palavras
Que se guardaram desesperadas O dia vai chegar
O dever de pronunciar
Quem vai finalmente
Sentir esta vontade De poder viver as palavras
Sem medo de ser gente. Professora Ana Brito
27
-
Estrias
NUMA TARDE DE ABRIL
Numa tarde de abril, um burro e um pastor alemo iam a passear pela rua, a caminho da aldeia onde viviam. O burro tinha pouca inteligncia, enquanto o pastor alemo era um co muito inteligente, reconhecido nas redondezas.
Iam a meio do seu passeio, conversando como dois amigos, quando o pastor alemo comeou a avistar algo no cho, ao longe. Quando se aproximaram, ambos ficaram surpreendidos ao perceber que era uma guia com uma asa muito ferida.
O burro, muito inquieto, perguntou reiteradamente ao co o que deveriam fazer para ajudar a pobre ave. Mas, o co, muito tranquilamente, respondeu que era um desperdcio utilizar a sua inteligncia para ajudar a guia, e que iria para casa escrever um livro. Virou o rabo num tom de superioridade e no quis saber mais do animal que ali estava em sofrimento.
O burro comeou a correr o mais depressa que pde para ir pedir ajuda aldeia. Encontrou pelo caminho dois gatos que, com o seu pelo, fizeram uma enorme compressa para colocar na asa da guia que gritava de dor.
Quando tudo ficou resolvido, o burro colocou a guia nas suas costas e transportou-a at ao ninho para ela repousar. A guia agradeceu imenso pela ajuda e ateno prestadas pelo burro e pelos gatos. Entretanto, o co preparava o seu primeiro grande sucesso literrio: O bom corao.
Diogo Ferreira Lima, 10H
UMA QUESTO DE TRELA OU PEDIGREE
Juntos ao luar brincam Prola e Farrusco. Brincam enquanto a noite dura e enquanto o dia no chega. Brincam enquanto todos dormem no silncio da noite luminosa. Ningum vai proibir dois ces de namorar se ningum os vir.
Prola uma cadela de boas famlias. A sua me ganhou imensos concursos de beleza. O seu pai e o seu av foram exmios ces de corrida, motivo de orgulho para os donos que exibiam um imponente armrio de medalhas no hall de entrada. Sem que ningum desse conta, Prola saa pata ante pata dos seus aposentos para se encontrar com Farrusco, j que ningum permitiria que uma cadela de famlia e jovem como ela era sasse rua cheia de perigos para se encontrar com um co vadio.
Farrusco um co bonito que em tempos tivera uma famlia. Toda a sua infncia fora passada num canil e, se uma velhinha no tivesse ido l busc-lo quando se tornara num jovem, teria sido abatido na semana seguinte. Os primeiros dias da sua juventude foram agradveis, mas a felicidade no durara muito, pois a velhinha que o acolhera morrera de pneumonia no inverno seguinte. Para no regressar ao canil onde quase fora abatido, Farrusco fugira e, na rua, conhecera Prola enquanto brincava escondida dos pais e dos donos.
Sem que os dois dessem conta, o dia chegara e com ele o movimento na estrada comeara. As ruas de Lisboa eram movimentadas e tornavam-se perigosas. Enquanto os dois amigos brincavam, passou um camio a uma enorme velocidade. Para os dois ces parecia um camio porque era enorme visto de perto, cada vez mais de perto...
Quando acordou na clnica veterinria depois da operao bem-sucedida, Prola pde regressar a casa. noite, ainda foge. No foge para brincar com Farrusco, mas para ver o seu corpo que ainda continua deitado numa valeta. Tem as duas patas partidas. Parece um peluche: imvel, sem reao. Prola acha que Farrusco, o seu amado Farrusco, foi brincar para as nuvens...
Marta Marques e Vanessa Pereira, 10. H
28
-
COLOCAO DOS PRONOMES PESSOAIS TONOS
Regra: Os pronomes pessoais tonos (aqueles que se ligam aos verbos, servindo-lhes de complemento, a saber: me, te, se, lhe, o, a, nos, vos, se, lhes, os, as) podem ser colocados antes da forma verbal (posio procltica), depois da forma verbal (posio encltica) ou no interior da forma verbal (posio mesocltica).
1. Em geral, os pronomes tonos colocam-se depois do verbo. Exemplos: Vou-me embora. / Ela
adaptou-se bem ao trabalho. 2. Os pronomes colocam-se antes da forma verbal essencialmente nas situaes que se seguem:
a. Em frases negativas. Exemplos: Ele no se calou. / Nem o irmo o convenceu.
b. Em frases interrogativas introduzidas por pronomes, advrbios ou conjunes (quem, que, porque, como, onde, quando, quanto...). Exemplos: Quem te ofereceu essas flores? / Como se preparou tudo? / Quem me empresta um guarda-chuva?
c. Nota: Em frases interrogativas no introduzidas por pronome, advrbio ou conjuno, o
pronome coloca-se depois do verbo como norma. Exemplo: Emprestas-me esse guarda-chuva?
d. Em oraes subordinadas. Exemplos: Se ele te disse que vinha, porque vem. / Gostava que ela
nos esclarecesse.
e. Em oraes coordenadas disjuntivas (ou seja, iniciadas por ou... ou, quer... quer, seja... seja). Exemplos: Ou te interessas a fundo pelo assunto, ou o esqueces de vez. / Ele sempre bem-vindo, quer nos traga um relatrio escrito, quer nos d apenas informaes acerca do que viu
Notas:
- Se houver alguma orao coordenada copulativa ligada orao disjuntiva, o pronome tambm deve preceder o verbo, pois a ideia da disjuntiva (a alternativa) mantm-se na copulativa que se lhe segue. Exemplo: Ou ele se afasta do partido e, logo a seguir, se disponibiliza como independente, ou se mantm em funes.
- Nas oraes coordenadas em geral, o pronome coloca-se depois do verbo como norma. Exemplos: Ele chegou cedo e encarregou-se de tudo. / Ela no disse nada, mas interessou-se pelo assunto.
3. Colocao dos pronomes pessoais tonos quando o verbo est num tempo composto. - Nos tempos compostos (com o verbo auxiliar ter), o pronome deve ser colocado entre o
verbo auxiliar e o verbo principal. Exemplo: Ele tem feito os deveres = Ele tem-nos feito. Nota: Nas situaes em que o pronome normalmente precederia a forma verbal (v.2), o pronome precede o auxiliar. Exemplo: Ele no tem feito os deveres. = Ele no os tem feito.
Fonte: Maria Regina Rocha, Maria Joo Matos, Sandra Tavares, Assim que falar, Planeta, Lisboa 2010
10
Escrever
29
01_capa02_editorial03_escola04_SecundrioSuperior_105_SecundrioSuperior_2Problema a concurso para a edio de 2012-2013:SER QUE VALE TUDO?
06_Censos 2011_107_Censos 2011_208_Histria_109_Histria_210_Geologia_111_Geologia_212_Astronomia13_Moral14_Desporto15_DiaLgico16_Acaso_117_Acaso_218_Acaso_319_Animais_120_Animais_221_Animais_322_Eu Gosto23_Blade Runner_124_Blade Runner_225_poesia_126_poesia_227_poesia_328_estrias29_escrever