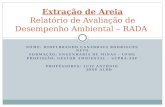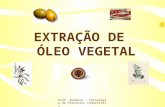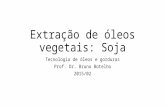Extração de bromelina.pdf
Transcript of Extração de bromelina.pdf
-
I
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENGENHARIA QUMICA
REA DE CONCENTRAO
Sistemas de Processos Qumicos e Informtica
Anlise de Viabilidade Econmica de um Processo de Extrao e Purificao da
Bromelina do Abacaxi
Autor Ana Claudia Wabiszczewicz Cesar Orientador Prof. Dr. Elias Basile Tambourgi
Tese de Doutorado apresentada Faculdade de Engenharia Qumica como parte dos requisitos exigidos para a obteno do ttulo de Doutor em Engenharia Qumica.
Campinas - So Paulo Dezembro - 2005
-
IV
Aos meus pais Ary Cesar e Janina Wabiszczewicz Cesar(in memoriam)
-
V
Agradecimentos
Deus, por ter me dado oportunidade de merecer este caminho.
Ao Prof. Dr. Elias Basile Tambourgi pela orientao, confiana e amizade.
Aos Prof.s Dr.s Jabra Haber, Jlio Csar Dutra e Luiz Carlos Bertevello,
pelo apoio e pelas valiosssimas contribuies.
Aos professores da UNINOVE pelo apoio, colaborao e discusso dos
resultados.
Ao amigo mdico, Odair Manzini Jr., por demonstrar, sua maneira, a
importncia da minha determinao para concluso deste trabalho.
Ao prezado amigo MsC.Paulo Eduardo Orlandi Mattos da Universidade
Federal de So Paulo, UNIFESP, por partilhar a paixo e o conhecimento pelos
bioprodutos.
minha famlia, pelo amor, pacincia e compreenso nas minhas
ausncias.
Aos meus fiis companheiros Fbio De Chiara e Giovanni Cesar De
Chiara, sem os quais, no teria motivos para seguir nesta jornada.
-
VI
NOTAO E NOMENCLATURA
A Atividade Enzimtica (U) Ae Atividade Especfica (U/mg) Aefundo Atividade especfica da Fase Inferior Aetopo Atividade Especfica da Fase Superior ABIFARMA Associao Brasileira da Indstrias Farmacuticas BSA Albumina Bovina ( Bovine Serum Albumin) Cf Concentrao da Fase Inferior Ct Concentrao da Fase Superior CT Custo Total Da daltons g/g Grama/grama IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica K Coeficiente de Partio Kbioesp Fator de Afinidade Bioespecfica KDa Kilo Dalton Kconf Fator de Conformao Keletro Fator eletroqumico Khfob Fator de afinidade hidrofbica Ktam Fator Tamanho M Molaridade ou Molar MPEG Massa Molecular do PEG P Protena Total (mg/L) PEG Polietileno Glicol pI Ponto Isoeltrico Ptopo Concentrao de Proteinas na Fase Superior (mg/L) Pfundo Concentrao de Proteinas na Fase Inferior (mg/L) p/p Peso/peso PV Preo de Venda R Retorno sobre o Investimento s Desvio padro SBA Sistemas Bifsicos Aquosos sefeitpo Desvio Padro dos Efeitos TCA cido Tricloroactico v/v Volume/volume Xm Mdia dos resultados Obtidos xi Grandeza Medida
-
VII
LISTA DE FIGURAS Figura 1: Exemplo de um Diagrama de Fases. 32 Figura 2: Ciclo de vida de um produto 41 Figura 3: Preparo da amostra 59 Figura 4: Descrio dos testes de liquefao da gelatina . 60 Figura 5: Resultados dos volumes de perfurao da gelatina. 61 Figura 6: Curva de solubilidade em etanol da bromelina e das protenas presentes no abacaxi
63
Figura 7 : Esquema da micro-coluna de campnulas pulsantes. 64 Figura 8: Variao do preo de venda em relao margem de lucro. 78 Figura 9: Evoluo do preo de vendas em funo da margem de lucro 81 Figura 10: Prazo de retorno sobre investimento (payback) em funo as margem de lucro
82
LISTA DE TABELAS
Tabela 1: Dados da concentrao das amostras de polpa do fruto, casca e talo do abacaxi.
07
Tabela 2: Dados de protena total, atividade e acares redutores. 07 Tabela 3 - Produo de Frutas, Brasil 1994/1995 e 2004/2005 (1000 toneladas) 07 Tabela 4: Produo Mundial de abacaxi em 2005. 08 Tabela 5: Vantagens e desvantagens da liderana tecnolgica 44 Tabela 6: Exemplo de aplicao de um modelo de pontuao para avaliao de projetos.
56
Tabela 7: Resultados do volume de perfurao (VP) 61 Tabela 8 Variveis estudadas na operao da Micro-coluna 67 Tabela 9 - Descrio dos nveis e efeitos. 69 Tabela 10 - Efeitos calculados para porcentagem de recuperao de protena total 69 Tabela 11 - Porcentagem de recuperao de protena total 70 Tabela 12 - Clculo dos efeitos para recuperao da protena total 70 Tabela 13 - Porcentagem de recuperao de atividade enzimtica 71 Tabela 14 - Clculo dos efeitos para recuperao de atividade enzimtica 72 Tabela 15 : Descrio dos valores de investimento em equipamentos para extrao 75 Tabela 16: Custos de matria -prima para produo de 8 kg de precipitado. 76 Tabela 17: Descrio de despesas e tributos 77 Tabela 18 : Variao do Preo de venda em Funo da Margem de Lucro 77 Tabela 19: Quantidade de precipitado necessria para o retorno sobre o investimento em funo da margem de lucro
78
Tabela 20: Custos de equipamentos para extrao em contnuo. 79 Tabela 21: Custos com matria -prima para extrao em contnuo 79 Tabela 22: Custos com matria- prima para purificao na obteno de 1 grama 80 Tabela 23: Evoluo de preo de venda do extrato purificado em funo da margem de contribuio.
80
Tabela 24: Quantidade em gramas de extrato purificado a ser vendida em funo da margem de lucro para retorno sobre investimento
81
-
SUMRIO
Lista de Tabelas e Figuras VII 1. INTRODUO 01 2. FUNDAMENTAO 03 2.1. Protenas 03 2.1.1. Bromelina 03 2.1.2. Enzimas 05 2.1.3. Desnaturao 06 2.1.4. Protena Total, Atividade e Acares Redutores 06 2.2. Abacaxi 07 2.2.1. Fruticultura Brasileira 07 2.2.2. Cultivo e Colheita 08 2.2.3. Caracterizao da Fruta 10 2.2.4. Composio Qumica 11 2.2.5. Processamento da Fruta 11 2.2.6. Produtos e Subprodutos do Processamento. 12 2.3. Consumo de Bromelina. 15 2.4. Separao e Purificao de Protenas 17 2.4.1. Precipitao por Etanol 18 2.4.2 Extrao Lquido-Lquido 20 2.4.2.1. Sistemas de Duas Fases Aquosas 20 2.4.2.2. Tipos de Sistemas de Duas Fases Aquosas 23 2.4.2.3. Sistema PEG/Sal 24 2.4.2.4. Polietileno Glicol 25 2.4.2.5. Recuperao de Sais e Polmeros 26 2.4.3. Teoria de Formao das Fases 27 2.4.3.1. Tempo de Separao das Fases 29 2.4.3.2. Fatores que Influenciam no Sistema de Fases 30 2.4.3. 3. Diagrama de Fases 31 2.4.4. Fundamentos da Partio das Protenas 33 2.4.4.1. Coeficiente de Partio 34 2.4.4.2. Influncia do Peso Molecular do Polmero e da Protena no Coeficiente de Partio
34
2.4.4. 3. Influncia do pH do Sistema no Coeficiente de Partio 35 2.4.4.4 Influncia das Interaes entre a Protena e o Sistema de Fases no Coeficiente de Partio
36
2.4.4.5. Influncia da Concentrao dos Componentes do Sistema no Coeficiente de Partio
36
2.4.4.6. Influncia da Concentrao de Protenas no Coeficiente de Partio 37 2.4.4. 7.Modelagem Matemtica do Coeficiente de Partio 37 2.5. Planejamento Fatorial 38 3. INOVAO TECNOLGICA 39 3.1. Tecnologia e Inovao 39 3.2. Desenvolvimento de Produtos 40 3.3. Liderana Tecnolgica 42 3.4. A Adoo de uma Nova Tecnologia 45
-
4. CUSTOS 48 4.1. Custos Diretos e Custos Indiretos 48 4.1.1. Fatores que Afetam as Classificaes de Custos Diretos Indiretos 49 4.2. FIXAO DO PREO DE VENDA 51 4.2.1. Formao de Preos com Base em Custos 51 4.3. ANLISE ECONMICA DE PROJETOS 52 4.3.1Avaliao de Projetos de Inovao Tecnolgica 55 4.3.2. Modelo de Deciso por mltiplos Atributos ou de Pontuao 55 4.4. Anlise Linear de Equilbrio 57 4.4.1. Ponto de Equilbrio entre Receitas e Despesas 57 5. MATERIAIS E MTODOS 59 5.1. Extrao por Batelada 59 5.1.1. Preparo da Amostra 59 5.1.2. Extrao com Etanol 60 5.2. Extrao em Contnuo 64 5.2.1 Descrio do Equipamento 64 5.2.2. Procedimentos de Operao da Micro-Coluna 65 5.2.3. Variveis Estudadas 66 5.3. Extrao Contnua Utilizando Uma Micro-Coluna De Campnulas Pulsantes 67 5.3.1. Planejamento de Ensaios 68 5.3.2 Efeito da Razo entre as vazes das fases (RV) e da Freqncia da pulsao (FP) das Campnulas na Porcentagem de Recuperao de Protena Total com Bromelina P.A.
69
5.3.3. Efeito da Razo entre as vazes das fases (RV) e da Freqncia da pulsao (FP) das Campnulas na Recuperao de Protena Total.
69
5.3.4. Efeito da Razo entre as vazes das fases (RV) e da Freqncia da pulsao (FP) das Campnulas na Recuperao da Atividade da Bromelina.
70
5.4. Mtodos Analticos 72 5.4.1. Determinao de Protena Total 72 5.4.2. Determinao da Atividade Enzimtica 72 5.5. Metodologia de Clculo 73 5.5.1.Coeficiente de Partio 73 5.5.2. Atividade Especfica 74 6. RESULTADOS E DISCUSSO. 75 6.1. Custos da Extrao por Batelada 75 6. 2. Custos de Purificao 79 7. COMENTRIOS FINAIS E CONCLUSES 83 8. SUGESTO DE TRABALHOS FUTUROS 85 9. REFERNCIAS BIBLIOGRAFICAS 86 ANEXOS 95
-
RESUMO
O Brasil encontra-se entre um dos maiores produtores mundiais de
abacaxi ocupando o terceiro lugar no ranking mundial. Visando o aproveitamento
do material considerado resduo agrcola (caule e folhas) e resduos do
processamento do fruto, muitos estudos tem sido realizados para a obteno de
enzimas proteolticas do abacaxi. As enzimas proteolticas de origem vegetal so
provenientes principalmente do figo (ficina), do mamo (papana) e do abacaxi
(bromelina). Por bromelina entende-se o conjunto de enzimas proteolticas
produzidas por plantas da famlia das Bromeliaceae. uma enzima de amplo uso
na indstria alimentcia para o amaciamento de carne e clarificao da cerveja,
para o amaciamento de couro, e na indstria farmacutica, em medicamentos
destinados a distrbios de digestibilidade,e tambm por sua ao antiinflamatria
e antimucoltica. O desenvolvimento de novos processos de extrao e purificao
de protenas muito importante, uma vez que esta uma etapa limitante na
produo de bioprodutos. O presente trabalho prope um processo de recuperao
da bromelina do fruto de abacaxi por tcnica de precipitao do caldo prensado
com etanol frio onde foram obtidos resultados demonstrando que em uma
precipitao em 1 estgio com 80% v/v de etanol a 5C possvel recuperar praticamente toda a enzima originalmente presente, aumentando de 3 a 5 vezes a
atividade especfica inicial e purificao atravs da extrao lquido-lquido em
duas fases aquosas, formado por duas fases aquosas imiscveis ou parcialmente
miscveis entre si , obtidas pela adio de polmeros hidroflicos ou um desses
polmeros e um sal , como o sistema PEG ( polietileno glicol ) e o fosfato de
potssio. O trabalho apresenta um estudo sobre os custos do processo e estimativas
sobre o preo de venda e retorno sobre o investimento , demonstrando a
viabilidade econmica da proposta quer para utilizao como pr-processo nos
tradicionais sistemas cromatogrficos, quer para sua comercializao direta, como
alternativa para o produtor do abacaxi, ou do fabricante de sucos e compotas.
Palavras Chave: Custos, Abacaxi, Extrao Lquido-Lquido
-
ABSTRACT
Brazil is one of the worlds largest producers of pineapples, its production being the
third one in the world. To take advantage of the residues from fruit processing, many
studies have been conducted to obtain proteolytic enzymes from them. These proteolytic
enzymes are extracted mainly from fig (ficine), papaya (papain), and pineapple
(bromelain). Bromelain is a mixture of proteolytic enzymes found in Bromeliaceae family.
It is an enzyme with ample use in food industry for meat tenderizer and beer clarification,
in leather and pharmaceutical industries, in drugs for digestion disorders, anti-inflammatory
action, and anti-colitis action. The development of new extraction and purification
processes of proteins is very important, as this is a limiting step in the production of
byoproducts. The present work proposes a recovery process of bromelain from pineapples
by precipitation of their pressed juice with cold ethanol, whereby a one stage precipitation
with 80% v/v of ethanol at 5C made possible the recovery of practically all originally
present enzyme, increasing from 3 to 5 times the initial specific activity and purification by
a liquid-liquid extraction in two aqueous phases, formed by immiscible aqueous phases or
partially miscible ones, which are obtained from the addition of hydrophilic polymers or
one of these polymers and a salt, such as PEG system (polyethylene-glycol) and potassium
phosphate. This work presents a study about the costs of this process and the estimated sale
prices as well as its return of investment, showing its economic viability, whether it is for
use as a pre-process in traditional chromatographic systems or direct commercialisation, as
an alternative for the pineapple producer of the juice market.
Key-words: costs, pineapple, liquid-liquid extraction
-
1
1. INTRODUO
O abacaxizeiro produz frutos de sabor e aroma aceitveis no mundo todo. O Brasil
um grande produtor de abacaxi, sendo conhecidas cinco espcies de Ananas e uma de
Pseudoananas. Dentro da espcie Ananas comosus esto includos todos os cultivos de
interesse agrcola, onde os principais cultivados no Brasil so o Prola e o Smooth Cayenne
(SANTOS, 1995).
O abacaxi fruto a parte comercializvel da planta, porm, esta poro representa
somente 63% do total da planta, enquanto que o restante, formado por caule, folha, casca,
coroa e talos, considerado resduo agrcola, e no tem sido devidamente aproveitado,
resultando em perdas econmicas. Trabalhos j realizados demonstram que estes resduos
apresentam teores representativos de carboidratos, protenas e enzimas proteolticas, que
possibilitam a sua utilizao industrial como matria-prima para a obteno de bromelina,
amido, fibras, lcool etlico e raes animais (BALDINI et.al., 1993).
Bromelina o nome genrico dado ao conjunto de enzimas proteolticas
encontradas nos vegetais da famlia Bromeliaceae, da qual o abacaxi o mais conhecido. A
bromelina tem diversos usos, todos baseados em sua atividade proteoltica, como nas
indstrias alimentcias e farmacuticas. Pode-se mencionar sua utilizao no amaciamento
de carnes, na clarificao de cervejas, na fabricao de queijos, no preparo de alimentos
infantis e dietticos, no pr-tratamento de soja, no tratamento do couro, na indstria txtil,
no tratamento da l e da seda, no tratamento de distrbios digestivos, feridas e inflamaes,
preparo de colgeno hidrolisado, etc.
Muitas tcnicas tm sido utilizadas para a recuperao e purificao de protenas e
enzimas de origem animal, vegetal ou microbiana. Tcnicas mais antigas como a
precipitao, extrao com solventes e filtrao geralmente tem alto poder de concentrao
e baixa purificao e tcnicas mais modernas como a cromatografia de afinidade, troca
inica ou gel-filtrao, eletroforese, extrao em duas fases aquosas, extrao com micela
reversa, recuperam e purificam, com alto grau de seletividade.
-
2
A separao de protenas de meios aquosos por precipitao um dos mtodos
mais tradicionais para a recuperao e parcial purificao dessas biomolculas. Os
precipitados de protenas so agregados de molculas proticas, grandes o suficiente para
serem decantados ou centrifugados. uma tcnica de fcil ampliao de escala e com
viabilidade para operao contnua a custos aceitveis para grandes volumes. Porm uma
tcnica mais de concentrao do que propriamente de purificao.
A extrao lquido-lquido uma operao unitria de transferncia de massa,
utilizada para separao de componentes presentes em uma mesma soluo, distribuindo-se
entre as duas fases lquidas e insolveis entre si.
A extrao em duas fases aquosas uma tcnica que vem sendo aplicada na
indstria, principalmente em separao de enzimas, por se tratar de um processo de baixo
custo, alta seletividade e com possibilidade de reciclagem dos reagentes. Alm disso, as
enzimas permanecem estveis no sistema, devido alta concentrao de gua e utilizao
de reagentes no desnaturantes.
O interesse em novos processos biotecnolgicos vem crescendo substancialmente
nas ltimas dcadas e os estudos nesta rea esto bastante consolidados. Porm para que os
mesmos possam contribuir de forma efetiva para a sociedade, h a necessidade de definio
dos custos dos processos desenvolvidos para tornar os processos cientficos tangveis aos
olhos dos investidores.
Assim, o presente trabalho faz uma anlise dos custos diretos de fabricao
envolvidos na proposta de um processo de recuperao e purificao da bromelina do
abacaxi, baseado na anlise dos processos de precipitao por etanol e extrao lquido-
lquido em duas fases aquosas.
-
3
2. FUNDAMENTAO
2.1. Protenas
Berzelius cunhou a palavra protena em 1838, para salientar a importncia dessa
classe de molculas. Protena vem do grego Proteios, que significa o que vem em primeiro
lugar, sendo responsveis pelo funcionamento das funes vitais dos organismos animais,
nos quais so alguns dos principais constituintes.
As protenas so as molculas orgnicas mais abundantes nas clulas e constituem
50% ou mais de seu peso seco. So encontradas em todas as partes das clulas, uma vez
que so fundamentais sob todos os aspectos da estrutura e funo celular. Existem muitas
espcies diferentes de protenas, cada uma especializada em determinada funo biolgica
diferente.
2.1.1. Bromelina
Bromelina o nome genrico dado ao conjunto de enzimas proteolticas
encontradas nos vegetais da famlia Bromeliaceae, da qual o abacaxi o mais conhecido.
As enzimas proteolticas encontradas nos talos recebem o nome de bromelina do talo e tem
o nmero sistemtico EC 3.4.22.4, e as encontradas no fruto so chamadas de bromelina do
fruto ou ainda, bromelina e tem o nmero sistemtico EC 3.4.22.5. A bromelina uma
glicoprotena, tendo um resduo oligosacardeo por molcula, que est covalentemente
ligado cadeia peptdica. A bromelina do talo uma enzima sulfidrlica, e este grupamento
essencial para a sua atividade proteoltica. A bromelina do fruto uma protena cida, e
seu ponto isoeltrico foi determinado por focalizao isoeltrica como pH 4,6 e mudanas
conformacionais irreversveis ocorrem em valores de pH maiores que 10,3 (MURACHI,
1976).
A enzima no est presente nos primeiros estgios de desenvolvimento do fruto,
porm, seu nvel aumenta rapidamente, mantendo-se elevado at o amadurecimento, onde
tem um pequeno decrscimo. Essa uma das vantagens da utilizao das proteases do
abacaxi em comparao com outras proteases vegetais. Apesar da diminuio da atividade
proteoltica durante a maturao, o abacaxi o nico fruto que possui concentraes
relativamente altas de proteases no estado maduro. No mamo e no figo, tanto a papana
como a ficina, somente so encontradas em altos nveis quando o fruto est verde; com o
completo amadurecimento, a concentrao de proteases praticamente desaparece.
-
4
Diferentes partes da planta podem ser usadas como matria-prima para a obteno da
bromelina: folhas, talos, polpa da fruta, cascas e resduos industriais do processamento do
fruto.
Outras fontes de enzimas proteolticas so as proteases microbianas, por exemplo,
de: Bacillus subtilis, Aspergillus sp., Actinomyces sp., e as proteases animais tripsina (EC
3.4.21.4) e pepsina (EC 3.4.23.1), alm das vegetais papana (EC 3.4.22.2), ficina (EC
3.4.22.3) j citadas. Algumas das proteases microbianas so geralmente proteases alcalinas
e tm sido usadas na produo de sabes e detergentes para a remoo de manchas de
sangue, por exemplo.
A bromelina tem diversos usos, todos baseados em sua atividade proteoltica,
como nas indstrias alimentcias e farmacuticas. Pode-se mencionar sua utilizao no
amaciamento de carnes, na clarificao de cervejas, na fabricao de queijos, no preparo de
alimentos infantis e dietticos, no pr-tratamento de soja, no tratamento do couro, na
indstria txtil, no tratamento da l e da seda, no tratamento de distrbios digestivos,
feridas e inflamaes, preparo de colgeno hidrolisado etc. Foi verificado por ROWAN et.
al. (1990) que a bromelina do fruto tem uma atividade proteoltica maior que a bromelina
do talo em diversos substratos proticos, e sua atividade mxima em pH 8,0 e a
temperatura de 70C. A bromelina do talo apresentou atividade mxima a 60C e pH 7,0. A forma de bromelina comercialmente encontrada a bromelina do talo, apesar da grande
quantidade de resduos de abacaxi fruto proveniente das indstrias de conservas de abacaxi.
As preparaes de bromelina so impuras, e geralmente as principais enzimas
contaminantes so outras enzimas proteolticas e enzimas no proteolticas, tais como:
fosfatases, peroxidases, celulases e outras glicosidases (MURACHI, 1976). SUH et. al.
(1992) purificou a bromelina do fruto e do talo at a homogeneidade (18 e 46 vezes de
aumento de pureza respectivamente) por cromatografia de gel-filtrao e determinou os
pesos moleculares em 32.5 e 37 KDa respectivamente, com rendimento de 23% em
atividade. MURACHI (1976) purificou a bromelina do talo de abacaxi por cromatografia
de gel-filtrao, e determinou que o peso molecular da frao pura era de 28 KDa por SDS-
PAGE. (ROWAN et. al. 1990) descreve a presena de quatro proteases principais presentes
em abacaxis (Ananas comosus): bromelina do fruto, bromelina do talo, ananana e
comosana.
-
5
2.1.2. Enzimas
A maior parte da histria da bioqumica a histria da pesquisa sobre enzimas. A
catlise biolgica inicialmente descrita e reconhecida no incio do sculo XIX, em estudos
sobre a digesto da carne por secrees do estmago e a converso do amido em acares
simples pela saliva e por vrios extratos vegetais. Na dcada de 50, Louis Pasteur concluiu
que a fermentao do acar em lcool pela levedura catalisada por fermentos. Ele
postulou que esses fermentos depois nomeados de enzimas eram inseparveis da estrutura
das clulas vivas do levedo, uma hiptese que prevaleceu por muitos anos. Em 1897,
Eduard Buchner, descobriu que extratos de levedo podiam fermentar o acar at o lcool,
provando que as enzimas envolvidas na fermentao continuavam funcionando mesmo
quando removidas da estrutura das clulas vivas. Desde ento numerosos estudos vm
sendo realizados na tentativa do isolamento das numerosas enzimas diferentes e o estudo de
suas propriedades catalticas.
A catlise enzimtica das reaes essencial para os sistemas vivos. Sob
condies biolgicas relevantes, as reaes no catalisadas tendem a ser lentas. A maioria
das molculas biolgicas muito estvel no ambiente aquoso de pH neutro e temperatura
moderada encontrado no interior das clulas. Muitas reaes bioqumicas comuns
envolvem eventos qumicos que so muito improvveis nas condies do ambiente celular,
como a formao transiente de intermedirios eletricamente carregados e instvel ou a
coliso de duas ou mais molculas com a orientao precisa e necessria para que ocorra a
reao. ( LEHNINGER, 1995).
As reaes necessrias para digerir alimentos, enviar sinais atravs de nervos, ou
contrair um msculo simplesmente no ocorrem em velocidade til sem catlise.
Uma enzima contorna estes problemas fornecendo um ambiente especfico dentro
do qual uma reao dada energeticamente mais favorvel. A caracterstica distintiva de
uma reao catalisada enzimaticamente que ela ocorre no interior dos limites de uma
cavidade, ou fenda, na estrutura molecular da enzima chamado stio ativo. A molcula que
se liga ao stio ativo e que sofre a ao da enzima chamada substrato. O complexo
enzima-substrato tem papel central na reao enzimtica, sendo ponto de partida para os
tratamentos matemticos que definem o comportamento cintico das reaes catalisadas
enzimaticamente e para as descries tericas dos mecanismos enzimticos.
-
6
2.1.3. Desnaturao
Quando uma soluo de protena, como a albumina do ovo, aquecida lentamente
at 600 ou 700 C, a mesma torna-se gradualmente leitosa e logo forma um cogulo. Isto
comum j que ocorre quando fervemos ovos em gua. A clara do ovo, que contm
albumina, coagula pelo aquecimento num slido branco. Depois que o calor coagulou a
clara no sofre redissoluo pelo resfriamento, nem forma outra vez uma soluo lmpida
como a original. Portanto, o aquecimento transformou a ovoalbumina e, aparentemente, de
forma irreversvel. Esse efeito do aquecimento ocorre virtualmente com todas as protenas,
no importando seu tamanho ou funo biolgica, embora a temperatura exata para
provoc-lo varie. A mudana provocada pelo calor e outros agentes conhecida como
desnaturao.
H outra importante conseqncia da desnaturao de uma protena, que quase
sempre, perde sua atividade biolgica caracterstica. Assim, quando uma soluo aquosa de
uma enzima, por exemplo, aquecida at seu ponto de ebulio por uns minutos e depois
resfriada, a enzima torna-se insolvel e, principalmente, no mais apresenta atividade
cataltica.
A desnaturao de protenas pode ser provocada no apenas pelo calor, mas
tambm por valores inadequados de pH, por solventes orgnicos, por solutos como a uria,
pela exposio da protena a alguns tipos de detergentes, pela agitao vigorosa da soluo
protica at formao abundante de espuma, presena de certos ons ou sais caotrpicos na
soluo que contm as protenas, oxidao, fora inica, entre outros. Cada uma das formas
citadas como causa de desnaturao pode ser considerada como tratamento relativamente
suave, isto , a desnaturao pode ocorrer em condies amenas, no h necessidade de
ocorrer em condies drsticas. As molculas de protena nativa so frgeis e facilmente
desorganizadas pelo calor e outros tratamentos aparentemente suaves.
2.1.4. Protena Total, Atividade e Acares Redutores
CESAR (1999) realizou anlises de protena total, acares redutores e atividade
enzimtica de amostras preparadas da polpa do fruto, da casca e do talo para a
caracterizao do meio inicial. As concentraes e os resultados so mostrados nas Tabelas
1 e 2. O fruto e o talo apresentam o mesmo teor de protena total, porm o talo apresenta
cerca de 60% menor quantidade de enzimas proteolticas. O abacaxi utilizado para as
-
7
anlises foi o fruto maduro, por isso apresentou uma quantidade elevada de acares
redutores expressos em glicose, 0,2 a 0,4 g/g de abacaxi. De qualquer forma, o talo e a
casca do abacaxi maduro tem um teor de enzima considervel para recuperao, como
mostrado na Tabela 2, ainda mais se tratando de resduo de muitas indstrias de conservas.
Tabela 1: Dados da concentrao das amostras de polpa do fruto, casca e talo do
abacaxi.
massa (g) Vgua (mL) VTOTAL (mL) Concentrao Fruto 1734,11 600 3420 507 g polpa/L Casca 850,50 1000 1074 792 g casca/L Talo 413,54 400 980 422 g talo/L
Tabela 2: Dados de protena total, atividade e acares redutores.
Protena Total Atividade Enzimtica Acares Redutores (mg/L) (mg/g) (U/L) Fruto 1127,00 2,22 1428,50 Casca 842,30 1,06 865,00 Talo 893,70 2,12 431,50
2.2. Abacaxi
2.2.1. Fruticultura Brasileira
A fruticultura brasileira cresceu consideravelmente nos ltimos dez anos, como
podemos observar utilizando os dados comparativos de produo dos binios 1994/1994 e
2004/2005 apresentados na Tabela 3 .
FRUTA 2005 2004 1994 1995 Abacaxi 2.279 2.297 1.558 1.463 Banana 6.606 6.691 7.438 7.384 Laranja 17.998 18.270 14.213 16.004 Ma 827 973 456 432 Uva 1.133 1283 807 825
Tabela 3 - Produo de Frutas, Brasil 1994/1995 e 2004/2005 (1000 toneladas)
Fonte: IBGE (07/2005) Fatores de converso : abacaxi: 1,6 kg/fruto; banana 13kg/cacho;
ma 130gramas/fruta ; laranja 250 frutos por caixa com 40,8 kg.
-
8
No Estado de So Paulo, devido aos diferentes ciclos de maturao (desde
muito precoces at tardias) e as diversas regies de cultivo, pode-se dizer que a poca de
colheita das frutas se estende por nove meses at pelo ano todo. No caso das frutas de clima
temperado e subtropical a colheita se inicia em setembro e se prolonga at junho, enquanto
que para tropicais pode durar o ano todo.
Em razo de sua posio geogrfica e do cultivo das variedades
especialmente criadas ou adaptadas para as condies de inverno brando, com poucas
horas de frio abaixo de 7,20C, a produo paulista mais precoce que as dos estados do Sul
do Brasil, assim como de pases produtores como Argentina, Uruguai e Chile, o que traz
vantagens econmicas, devido a ausncia de concorrentes no incio da safra. Ao mesmo
tempo, para vrias espcies permite-se que sejam exportadas para pases do hemisfrio
Norte quando no h produo regional tendo condies de adentrarem os mercados com
reduo ou ausncia de tarifas aduaneiras de importao.
2.2.2. Cultivo e Colheita
O abacaxizeiro uma planta muito sensvel ao frio, mas resiste bem seca.
Exige, por isso, clima quente ou mesotrmico, onde no h perigo de ocorrncia de
geadas. A temperatura mdia favorvel situa-se entre 21 e 270C. Quando a temperatura se
mantm acima de 320C, verificam-se danos na planta devido transpirao excessiva;
quando a temperatura cai abaixo de 200C, a planta entra em estado de inatividade
(MEDINA, 1978). Portanto, o Brasil possui um clima muito favorvel para a produo do
fruto. Na Tabela 4 podemos observar que o pas encontra-se em segundo lugar no ranking
mundial de produo do fruto, contribuindo com mais de 13% da produo mundial.
ABACAXI PRODUO(t) PRODUO(t/ha) Mundial 15.288.018 843.231
PRODUO (t) PRODUO (t/ha) Tailndia 1.900.000 87.000 Filipinas 1.759.290 48.230
Brasil 1.435.190 54.683 China 1.320.000 70.500 ndia 1.300.000 90.000
Tabela 4: Produo mundial de abacaxi em 2005. Fonte: FAO (2005). Atualizado em fevereiro/2005.
-
9
Os frutos colhidos durante o vero apresentam melhor qualidade do que os
amadurecidos durante o inverno. Aqueles se apresentam mais aromticos e mais ricos em
slidos solveis, menos cidos e com maior contedo de leos volteis.
O momento da colheita depende do fim a que se destinam os frutos. Se for
para a fabricao de conservas, deve-se aguardar at que os frutos fiquem maduros, ou seja,
o momento em que suas qualidades organolpticas sejam timas. Mas, se destina-se
exportao como fruta fresca, a colheita deve ser feita com antecipao para que sua
maturao total no ocorra at o momento em que seja ofertado ao consumidor. preciso,
contudo, neste caso, no colher frutos demasiado verdes.
A colorao da casca habitualmente tomada como indicao para julgar se
um fruto est ou no maduro. A madureza da polpa e a colorao da casca ocorrem
progressivamente, iniciando-se ambas pela base do fruto e se estendendo paulatinamente
para o pice. Tal avaliao, contudo, muito mais difcil do que parece primeira vista,
pois h necessidade de se levar em conta o tamanho do fruto, as condies ecolgicas, por
ocasio da sua maturao e variedade do produto.
O abacaxizeiro frutifica dentro de 24 meses aps o plantio, quando as mudas
so do tipo coroa. De modo geral, pode-se obter 15 a 20 mil frutas por hectare, por safra,
servindo este valor como mdia para as variedades.
A poca da colheita est intimamente relacionada poca de plantio e ao
tipo e idade da muda. O plantio no Estado de So Paulo feito de dezembro a fevereiro, no
perodo que coincide com a colheita das frutas (poca de maior produo) e,
conseqentemente, poca favorvel para obteno de mudas.
As colheitas das frutas de um abacaxizal no podem ser feitas por meios
mecnicos, pois as frutas no amadurecem todas ao mesmo tempo. Todavia, no Hava e em
outras regies onde a cultura do abacaxi feita com alto nvel tcnico, os trabalhos de
colheita so grandemente facilitados graas utilizao de uma esteira rolante, na qual as
frutas so colocadas e transportadas para fora dos talhes to logo sejam colhidas.
No Brasil, o trabalho de colheita geralmente feito com auxlio de um faco,
com o coletor tendo as mos protegidas por luvas de lona grossa. Enquanto com a mo
esquerda segura o fruto pela coroa, com a direita secciona, com o faco, a haste a 5-6 cm
abaixo da fruta. As frutas colhidas vo sendo entregues a outro coletor, que encarregado
-
10
de transport-las em cestas at a margem do carreador. Necessita-se, em mdia, trs
carregadores para cada colhedor. A produtividade mdia de 30.000 a 40.000
frutos/ha/ano.
Em geral, a comercializao do abacaxi feita com o fruto ainda no campo,
antecipadamente e a granel. Leva-se em conta o tamanho e a aparncia do fruto, de acordo
com os padres das variedades. Para os grandes mercados consumidores ao natural, seguem
os frutos de primeira qualidade, sadios e com peso igual ou acima de 1,5 kg. Os que no
atingem esse padro so vendidos nos mercados locais, perto das regies produtoras, ou so
destinados industrializao.
2.2.3. Caracterizao da Fruta
Em vista da grande comercializao do abacaxi, tanto no mercado interno como
internacional, e tambm para a indstria, e cuja produo agrcola vem aumentando de ano
para ano, os produtores devem procurar manter um padro de qualidade da fruta a fim de
garantir sua comercializao.
Para isso, necessrio que sejam observadas as seguintes caractersticas:
-COR: a cor revela nas frutas o seu grau de maturao, o que, apesar de ser uma
apreciao subjetiva, permite distinguir a qualidade do produto. O abacaxi dever
apresentar uma colorao uniforme, porm sem estar muito maduro, o que indesejvel,
tanto para a indstria como para o mercado consumidor.
-TAMANHO: a uniformidade de tamanho bastante importante, principalmente
para a indstria, onde os diferentes comprimentos e dimetros das frutas afetam a
regulagem das mquinas (ginaca, principalmente).
- SABOR: importante conhecer a relao Brix/acidez total titulvel da variedade
que vai ser comercializada ou industrializada. Essa relao varia de ano para ano, de acordo
com as condies climticas (principalmente), e tambm com a estao do ano. H,
portanto, grandes variaes entre as safras de vero e de inverno .
-FORMA: esta caracterstica afeta o descascamento mecnico e, portanto, o
rendimento, devendo ser a fruta de forma cilndrica para evitar uma perda excessiva de
polpa nessa operao. A variedade Smooth Cayenne de origem havaiana, apresenta frutas
-
11
mais uniformes e cilndricas do que a variedade Prola (brasileira), que vem facilitar e
muito o trabalho das ginacas e um menor desperdcio de fruto na indstria de compotas.
2.2.4. Composio Qumica
O abacaxi apresenta uma variao muito grande na sua composio qumica, de
acordo com a poca em que produzido. De modo geral, a sua produo ocorre no vero,
sendo sua colheita uniformizada atravs da induo qumica do seu florescimento.
Neste caso, as frutas apresentam maior teor de acares e menor acidez. Por outro
lado, as frutas produzidas fora de poca, ou seja, as frutas tempors , apresentam alta acidez
e baixo teor de acares, visto a produo ocorrer nos meses que a temperatura ambiente
baixa .
O valor nutricional das frutas de abacaxi depende, principalmente, dos seus
acares solveis, das vitaminas e dos sais minerais que contm, uma vez que os teores de
protenas e de lipdeos so relativamente baixos.
O abacaxi uma fruta deliciosa, muito apreciada em todos os pases tropicais; sua
polpa sucosa, saborosa e ligeiramente cida muito refrescante. Ao lado das qualidades
organolpticas, que o distinguem universalmente, h seu alto valor diettico, comparvel
ao das melhores frutas tropicais. O suco de abacaxi um alimento energtico, pois um copo
do mesmo propicia cerca de 150 calorias ao organismo humano. O teor de acares varia
em geral em torno de 12 a 15%, dos quais aproximadamente 66% so de sacarose e 34%
de acares redutores. As cinzas, que apresentam 0,4-0,6% do peso total, so ricas em
bases, principalmente em potssio, ao qual seguem o magnsio e clcio, geralmente em
partes iguais, e essas caractersticas permanecem em sua maioria nos resduos triturados do
abacaxi para o processamento da bromelina, sendo ento este resduo de grande interesse
por suas caractersticas de alta riqueza nutricional.
2.2.5. Processamento da Fruta
O comrcio mundial de abacaxi in natura atingiu 700 mil toneladas, e o comrcio
de abacaxi transformado em suco ou conserva equivalente a quatro milhes de toneladas
de frutas frescas (AGRIANUAL, 2000).
O fruto presta-se tanto para consumo ao natural como para processamento
industrial em suas mais diversas formas (pedaos em calda, suco, pedaos cristalizados,
-
12
gelias, licor, vinho, vinagre e aguardente). Como subproduto da sua industrializao,
pode-se obter lcool, cidos ctrico, mlico e ascrbico, raes para animais e bromelina
(enzima proteoltica de uso medicinal). O talo da planta pode ser aproveitado para extrao
de bromelina, sendo tambm fonte de amido. As folhas podem ser utilizadas para a
obteno de fibras. De alto valor diettico, a polpa do abacaxi energtica (150 calorias por
copo de suco); contm boa quantidade das vitaminas A e B1 e da C, no contendo a D.
Contm, ainda, a bromelina que favorece a digesto.
A fruta em calda, que o principal produto industrializado do abacaxi, ocupa,
atualmente, a segunda posio em vendagem no mercado internacional, logo em seguida do
pssego em calda.
As tcnicas industriais de preparo de fatias e pedaos para enlatamento so
conhecidas internacionalmente. Linhas completamente automatizadas encontram-se em
vrias fbricas espalhadas pelo mundo tais como Hava, Formosa, Filipinas, Tailndia,
Austrlia, frica do Sul e outros pases, no mundo todo.
Essas linhas, com capacidade de 80 a 120 frutas por minuto, apresentam,
atualmente, rendimentos prximos de 46% de partes slidas da fruta para enlatamento.
2.2.6. Produtos e Subprodutos do Processamento.
Na grande indstria do abacaxi, a industrializao da fruta integrada. Isso
significa que no existe uma indstria trabalhando com um ou dois produtos, mas procura-
se tirar o mximo de rendimento da fruta em relao ao produto principal (fruta em calda)
e aos produtos de carter secundrio (como o caso do suco simples e do suco
concentrado), e mesmo os subprodutos, como o caso especfico do suco da casca e
resduos e da rao, esta ltima utilizada na alimentao animal.
O processamento tem incio com a lavagem das frutas, que chegam do
campo em grandes recipientes ou carretas, j desprovidas da coroa que pode ser utilizada
para o replantio da fruta. A seguir, as frutas so conduzidas por meio de transportadoras
para uma seo superior onde a lavagem completada. Um sistema de transportadores
conduz as frutas lavadas para um segundo pavimento, no qual, feito um corte em uma das
extremidades da fruta. Essa operao tem por finalidade principal eliminar as partes
restantes da coroa e talo, a fim de facilitar o trabalho posterior da mquina ginaca. Essas
-
13
partes eliminadas, seguem, por meio de um transportador, para a linha de processamento de
rao.
Na etapa seguinte, ainda no segundo pavimento, as frutas so selecionadas
por tamanho, seleo esta que feita por meio de roscas sem fim, dispostas de tal forma
que permitem a classificao das frutas em trs tamanhos distintos: grande, mdio e
pequeno.
As frutas de tamanho mdio constituem aproximadamente 60 a 65% do total
de abacaxis que entram na usina de processamento.
O processo tem por finalidade dar um fluxo contnuo s fases posteriores,
reduzindo assim a capacidade ociosa da ginaca. Esta mquina cujo nome foi dado em
homenagem a seu inventor o engenheiro havaiano de sobrenome Ginaca, completamente
automatizada e de grande capacidade (80-120 frutas por minuto), executando uma srie de
operaes sucessivas, e que so as seguintes: - corte das extremidades, descascamento da
fruta e encaminhamento do cilindro etapa seguinte do processamento. O equipamento
tambm dotado de um dispositivo raspador, que erradica a polpa da casca e das
extremidades do fruto. A maior parte deste material erradicado (polpa erradicada) se
destina produo de crush (espcie de salada de frutas) e uma pequena parte produo
de suco .
Nas ginacas de produo mais antiga tambm havia um dispositivo para
remoo do miolo do cilindro da fruta
Dentro de um sistema mais moderno, conhecido como sistema de
processamento de abacaxi em dois dimetros da Honiron, a remoo da parte central
do cilindro da fruta feita em fase posterior. Esse sistema permite maior rendimento
industrial em termos slidos, pois o cilindro cortado em fatias quando ainda inteiro, isto ,
com miolo, e estas apresentam maior resistncia mecnica remoo do miolo, reduzindo-
se assim, o nmero daquelas quebradas.
Nas diversas linhas de ginaca geralmente encontradas nas grandes indstrias
de abacaxi do mundo, a mquina usualmente regulada para o processamento de frutas dos
trs tamanhos anteriormente mencionados.
Pode-se ento observar, uma boa fonte da matria-prima a ser utilizada no
processo de recuperao e purificao de enzimas do abacaxi, visto que, uma das maiores
-
14
dificuldades da indstria de processamento do fruto a venda do suco, obtido como
subproduto e posteriormente reprocessado, tratado, pasteurizado e embalado para
comercializao em um mercado que no responde produo de suco devido ao seu alto
custo ocasionado pelo tratamento.
Do total de frutos produzidos nos Estados Unidos da Amrica em 2003,
aproximadamente 73% foram industrializados (FAO, 2005) e os restantes 27% consumidos
na forma fresca. Do total mundial industrializado, 46% foram comercializados no mercado
mundial, com seu valor de mercado quintuplicado graas aos custos de processamento,
embalagem e distribuio.
O Brasil diferencia-se completamente dos grandes produtores e consumidores
mundiais de abacaxi, pois quase toda sua produo consumida na forma fresca, sendo a
quantidade industrializada insignificante (BERTEVELLO, 2001). Portanto, uma das
principais fontes de matria prima para a extrao de enzimas no Brasil, no seriam os
subprodutos do processamento e sim os resduos agrcolas, especialmente a sua haste (stem)
que tem demonstrado bons resultados nos mais recentes estudos de extrao e purificao
(RABELO, 2004) e nas aplicaes teraputicas da Bromelina (MYNOTT, 1999).
Uma maneira que vem sendo estudada para a utilizao dos subprodutos a
silagem dos resduos do abacaxi. A silagem de resduos industriais de abacaxi, por
apresentar caractersticas nutricionais prximas da silagem de milho, poderia substitu-la
como fonte de volumoso para animais em confinamento. Alm da qualidade nutricional,
um produto de baixo custo por ser considerado um resduo, diferente de outros
freqentemente utilizados, como por exemplo, a silagem de milho, que apresenta altos
valores no perodo de entressafra do milho, sendo que neste perodo tambm h queda na
produo de forragem. Dessa maneira, o produtor passaria a dispor de mais uma alternativa
de produto, seja durante o perodo de escassez de forragem, ou como alimento para
confinamento.(PRADO et all, 2003).
A composio qumica da silagem de resduos industriais de abacaxi varia em
funo do tipo de resduo gerado, ou seja, de acordo com o produto da indstria, compondo
assim, o resduo, de diferentes partes da planta ou do fruto. RODRIGUES & PEIXOTO
(1990) utilizaram frutos descartados sem coroa, cascas e miolos, como resduo ensilado, e
obtiveram valores de 12,93% de matria seca (MS); 3,95% de protena bruta (PB); 62,76%
-
15
de fibra em detergente neutro (FDN) e 41,27% de fibra em detergente cido (FDA). Em
outro trabalho, RODRIGUES & PEIXOTO (1990), utilizando outro tipo de resduo, no
ensilado, composto de frutos descartados, casca, miolo e coroa. Por outro lado, alguns
trabalhos tm sido desenvolvidos com o uso de resduos de plantas de abacaxi aps
colheita. Este resduo constitudo da parte superior da planta do abacaxi aps a colheita do
fruto. MLLER (1978) observou que a composio qumica dos resduos das plantas do
abacaxi e dos resduos da indstria de conserva nutricionalmente diferente.
Todos estes dados reforam a idia que subprodutos poderiam ser usados na
alimentao animal, principalmente pelo fato de contriburem para minimizar os custos de
produo, lembrando sempre que a silagem oriunda de frutos contm alta porcentagem de
gua, que acaba dificultando o transporte dos mesmos, devendo a propriedade localizar-se
prxima indstria geradora de resduos. Da mesma forma, este produto pode apresentar
deficincia em energia e protena ou ambos, exigindo o fornecimento de uma fonte de
suplementao adequada (PRADO, 2003)
Segundo Prado (2003) a silagem de resduos industriais de abacaxi apresentou
composio qumica e caractersticas fermentativas (cor, odor e pH) favorveis, podendo
ser utilizada como alimento alternativo para terminao de bovinos de corte, em
confinamento, sem alterar o desempenho do animal ou o rendimento da carcaa.
2.3. Consumo de Bromelina.
Para a utilizao de bromelina, a indstria alimentcia no se apresenta
como um mercado atrativo pois, vem sendo largamente utilizada a papana no amaciamento
de carnes e a grande barreira seria romper o cartel de indstrias produtoras da enzima, pois
o consumidor s compra a carne amaciada ou o amaciante de carnes sem preocupar-se com
o princpio ativo do produto. Tambm, atualmente a frica do Sul vem produzindo e
exportando papana a preos muito reduzidos.
A indstria de cervejas, onde a bromelina pode ser usada como clarificante,
aboliu a utilizao da mesma, alegando que esta enzima produz resduos de difcil retirada
dos tanques de armazenagem do produto.
A concentrao principal est na indstria farmacutica brasileira. Bromelina uma mistura que contm enxofre, protena da enzima digestiva (enzima proteoltica ou
protease), obtida no caule da planta do abacaxi. Bromlia foi reconhecida como agente
-
16
medicinal em 1957 e, desde ento, mais de 200 documentos integraram a literatura
medicinal. A Bromelina tem sido muito bem documentada pelos seus efeitos em todas
condies inflamatrias, alm de ter sua eficcia provada em vrios outros problemas de
sade tais como: angina, indigesto e problemas respiratrios.
Introduzida pela primeira vez como composto teraputico em 1957, a ao da
bromelina inclui: inibio da agregao plaquetria, atividade fibrinoltica, ao
antiinflamatria, ao antitumoral, modulao de citocinas e imunidade, propriedade
debridante de pele, aumento da absoro de outra drogas, propriedades mucolticas;
facilitador da digesto, acelerador da cicatrizao, melhora da circulao e sistema
cardiovascular. Bromelina bem absorvida por via oral e a evidncia disponvel indica que
sua atividade teraputica aumenta com as doses mais altas. Apesar de todos os seus
mecanismos de ao ainda no estarem totalmente esclarecidos, foi demonstrado que um
seguro e efetivo suplemento. A bromelina parece ter tanto ao direta quanto indireta,
envolvendo outros sistemas enzimticos, ao exercer seus efeitos antiinflamatrios.
(MATTOS, 2005).
A bromelina, uma protease sulfdrica presente nesta espcie, , talvez, o enfoque
cientfico mais estudado. Isto se d pela importncia desta protena na farmacologia, onde
foi registrada sua interferncia no crescimento de clulas malignas, inibio de cogulos,
atividade fibrinoltica e ao antiinflamatria (TAUSSIG & BATKIN, 1998). O Ananas
comosus um produto fitoterpico com ao mucoltica e fluidificante das secrees
brnquicas e das vias areas superiores (HEBRON, 2005). Contribui para a melhor
fluidificao das secrees mucosas do paciente, graas s propriedades mucolticas e
fluidificantes destas enzimas, conforme pesquisas realizadas pela Universidade Federal de
Pernambuco, Universidade de Pernambuco e Universidade Federal da Paraba. As enzimas
bromelina, ribonuclease, glucose oxidase, invertase e diastase contidas no Ananas comosus,
catalizam a quebra de ligaes entre as ligaes peptidicas, pela incorporao de molculas
de gua, facilitando, assim a fluidificao do muco espesso.
A bromelina uma endopeptidase que no necessita de sistema precursor para
desempenhar suas atividades farmacolgica e teraputica. Alm disso, o Ananas comosus
contm os ctions divalentes dos oligoelementos magnsio, mangans, zinco, ferro e clcio,
que atuam como cofatores nas funes das referidas enzimas.
-
17
As enzimas proteolticas so aplicadas em formulaes tpicas com a finalidade de
reduzir a espessura da camada crnea da pele por hidrolisar, em pontos especficos, a
queratina cutnea. um peeling mais suave e seguro, comparado aos tradicionais peelings
qumicos, e mais eficaz que os mtodos fsicos comumente usados em formulaes
cosmticas (RACINE, 2004).
A Bromelina tambm usada em forma de soluo para preparao de suspenso
de hemcias a ser utilizada na tipagem sangunea .
O principal foco industrial da produo de bromelina a indstria faramcutica
que um dos setores que mais investe em tecnologias e novos produtos, tendo realizado
uma previso de investimentos no perodo de 1997 2000 de US$ 1.300 milhes
(ABIFARMA). Reflexos do plano econmico, do primeiro mandato do governo de
Fernando Henrique Cardoso, que melhorou substancialmente o poder aquisitivo dos
brasileiros que esto investindo em sade e medicamentos, o que vem refletindo no
aumento da expectativa de vida pois, segundo o IBGE, o nmero de idosos atualmente o
dobro do registrado em 1980 (CESAR, 2000).
Ainda segundo Csar (2000), at bem pouco tempo atrs um novo remdio que era
lanado no mercado brasileiro no tinha a sua frmula protegida. Ento, logo que era
lanado, sem proteo legal, um concorrente logo aparecia. A proteo legal muito
importante na indstria de farmacolgicos pois chega-se a gastar 15 anos com pesquisas, o
que gera um investimento de capital em torno de US$ 700 milhes . Com esta proteo
que dura 20 anos at a patente ser de conhecimento pblico.
2.4. Separao e Purificao de Protenas
Muitas tcnicas tem sido utilizadas para a recuperao e purificao de
protenas e enzimas de origem animal, vegetal ou microbiana. Tcnicas mais antigas como
a precipitao, extrao com solventes e filtrao geralmente tem alto poder de
concentrao e baixa purificao e tcnicas mais modernas com a cromatografia de
afinidade, troca inica ou gel-filtrao, eletroforese, extrao em duas fases aquosas,
extrao com micela reversa, recuperam e purificam, muitas vezes at a homogeneidade.
O processo de separao e purificao de bioprodutos, tambm chamado
downstream processing, atualmente um segmento muito importante na indstria, pois
-
18
pode chegar a representar de 80 a 90% do custo de produo. Portanto, o desenvolvimento
de um processo eficiente e de baixo custo de extrema importncia (BELTER et al, 1998).
A grande questo ao iniciar um processo de purificao o grau de pureza exigido
para a protena. Protenas para fins teraputicos ou de uso direto em humanos necessitam de
um alto grau de pureza, o que no necessrio para as enzimas que sero aplicadas em
processos industriais. Em uma purificao em larga escala, o processo normalmente
consiste de 4 a 6 etapas que podem ser divididas em dois grupos. O primeiro formado
pelos processos de recuperao da protena: separao e ruptura de clulas, separao dos
fragmentos e concentrao da protena. No segundo grupo o objetivo purificar a protena,
utilizando-se das etapas de pr-tratamento ou isolamento primrio, purificao de alta
resoluo e refinamento final.
A purificao de protenas encontra muitas dificuldades, do ponto de vista tcnico, e
exige um elevado nmero de etapas. Por exemplo, a remoo dos fragmentos das clulas
difcil devido ao pequeno tamanho das partculas e viscosidade da soluo. As etapas de
concentrao podem levar a baixos rendimentos e reprodutibilidade limitada. Os
procedimentos de alta purificao, como a cromatografia, limitado pela escala de
operaes e pelo custo das resinas. Por isso, a extrao lquido-lquido vem despertando
tanto interesse a fim de ser utilizada como uma etapa intermediria de separao, que
substitui mtodos de separao mais caros ou diminui o nmero de etapas de separao
necessrias ao processo (RABELO, 1999).
A purificao e separao de protenas baseadas nos princpios de partio em
sistemas de duas fases aquosas tem sido muito desenvolvido nos ltimos anos. Esta tcnica
de extrao parece ser especialmente adequada para as primeiras etapas dos procedimentos
de separao, mas pode substituir etapas cromatogrficas ou ser aplicada antes da
cromatografia. (HUSTEDT et al, 1985).
2.4.1. Precipitao por Etanol
A separao de protenas de meios aquosos por precipitao um dos mtodos
mais tradicionais para a recuperao e parcial purificao dessas biomolculas. Este mtodo
implica na alterao da estrutura tridimensional da protena, desconformando-a, e pode ser
agressivo, sendo aplicado somente quando a ressolubilizao do precipitado possvel. Os
precipitados de protenas so agregados de molculas proticas, grandes o suficiente para
-
19
serem decantados ou centrifugados. uma tcnica de fcil ampliao de escala e com
viabilidade para operao contnua a custos aceitveis para grandes volumes. Porm, uma
tcnica mais de concentrao do que propriamente de purificao.
A solubilidade das protenas depende da distribuio de grupos ionizveis, zonas
hidrofbicas e hidroflicas na superfcie da molcula. Tais caractersticas so responsveis
por interaes polares com o solvente aquoso, interaes inicas com os sais presentes no
meio, alm da repulso eletrosttica entre molculas de mesma carga. A presena de sais,
solventes orgnicos e o pH so fatores importantes na solubilidade das protenas (SCOPES,
1994).
A adio de solventes orgnicos miscveis tais como etanol, metanol ou acetona a
um meio aquoso contendo protenas causa uma variedade de efeitos, os quais, combinados
provocam a precipitao da protena. O solvente destri a camada de hidratao hidrofbica
em torno das zonas hidrfobas e passa a circundar tais regies devido maior solubilidade
destas em meio ao solvente. Com isso, as regies carregadas com carga positiva ou
negativa da superfcie da protena podem interagir, atraindo-se umas s outras, formando
agregados. As interaes do solvente com as zonas hidrfobas internas causam uma
desconformao irreversvel da protena. Isto pode ser minimizado pela reduo da
temperatura at valores da ordem de zero ou abaixo, pois a baixas temperaturas a
flexibilidade da molcula menor, reduzindo a capacidade de penetrao do solvente e a
desnaturao irreversvel das protenas, sendo que, os lcoois de cadeia mais longa
apresentam maior efeito desnaturante do que os de cadeia mais curta (SCOPES, 1994).
Uma carga global prxima a zero na superfcie da protena, o que acontece no
ponto isoeltrico das protenas (pH =pI= ponto isoeltrico), minimiza a repulso
eletrosttica podendo causar precipitao por interao entre as zonas hidrofbicas, e esse
processo chama-se precipitao isoeltrica, e realizado apenas com a correo do pH. De
modo geral, a precipitao por qualquer mtodo escolhido facilitada no ponto isoeltrico
da protena. A adio de sais neutros, principalmente (NH4)2 SO4 a elevadas concentraes
1,5 a 3,0 M, reduz a disponibilidade da gua devido hidratao dos ons, criando
condies para a precipitao, a qual ocorre principalmente por interao das zonas
hidrfobas. O sal e outros precipitantes no provocam a precipitao de todas as protenas
pois o seu efeito o de reduzir a solubilidade. Com isso, a concentrao de sal ou solvente
-
20
que provoca a precipitao varia com a concentrao da protena e a presena de outras
protenas contaminantes. Este fato aproveitado para a realizao de um fracionamento.
A precipitao uma operao unitria muito comum, e amplamente utilizada na
separao de protenas. A vantagem da utilizao do etanol como agente de precipitao
encontra-se na abundncia e baixo custo deste solvente, tornando a recuperao da enzima
economicamente interessante, alm do fato de que o etanol pode ser reciclado ao processo
por uma operao de destilao, reduzindo impactos ambientais pela liberao de efluentes,
como o caso da precipitao com sulfato de amnio. As desvantagens do uso de etanol
so: a necessidade de operao em baixa temperatura para minimizar a desnaturao da
enzima, e o perigo de inflamabilidade deste solvente.
2.4.2 Extrao Lquido-Lquido
Uma situao comum na Engenharia Qumica a separao dos constituintes de
uma mistura lquida homognea composta de dois ou mais componentes. Para realizar esta
separao existem vrios mtodos cuja aplicao limitada pelas caractersticas fsicas e
qumicas dos componentes da mistura a ser separada, pelos custos do processo de separao
e pelas condies disponveis para a implantao do processo escolhido.
A extrao lquido-lquido um processo que envolve a transferncia de massa
entre dois lquidos imiscveis. Na extrao lquido-lquido, a separao de um componente
de uma soluo lquida homognea ocorre pela adio de um constituinte lquido, insolvel
ou parcialmente solvel, o solvente, no qual o componente a ser extrado da soluo, o
soluto, preferencialmente solvel. O soluto difunde-se no solvente com uma velocidade
caracterstica at atingir as concentraes de equilbrio em cada uma das fases formadas.
Este processo de separao baseado na distribuio do soluto entre as fases e a
miscibilidade parcial dos lquidos (RABELO, 1999).
2.4.2.1. Sistemas de Duas Fases Aquosas
Na escolha de meios de extrao para aplicaes em biotecnologia, vrios critrios
devem ser considerados, j que nesta rea alguns parmetros tais quais, solubilidade e
estabilidade dos compostos so importantes e no podem ser desprezados. Entre estes
critrios deve-se citar (PORTO, 1998):
- O meio no deve ser txico ao sistema biolgico nem ao homem;
-
21
- A recuperao do bioproduto a partir do meio extrator deve ser fcil;
- Deve ter baixo custo e estar disponvel comercialmente em grande
quantidade;
- Ser possvel de esterilizar;
- Ser imiscvel ou parcialmente miscvel com solues aquosas;
- No deve apresentar tendncias de formao de emulses estveis com
materiais biolgicos;
- No ser inflamvel.
Alm disso, em processos de extrao lquido-lquido aplicados a quaisquer
sistemas, imprescindvel que os solventes escolhidos formem duas fases (sejam imiscveis
ou parcialmente miscveis) e tenham densidades diferentes. Alm destes fatores a separao
entre as fases deve ser rpida.
Nos processos biotecnolgicos, em que se opera com biomolculas ou clulas,
existe um nmero muito limitado de solventes adequados a serem usados. Assim, a
introduo dos sistemas de duas fases aquosas em processos biotecnolgicos uma
alternativa que possibilita o emprego da extrao lquido-lquido nestes processos, j que
estes sistemas caracterizam-se por ajustar-se aos critrios requeridos pelos processos de
bioseparao (MATIASSON et al, 1987).
O uso de solventes orgnicos , normalmente, limitado pelas caractersticas
hidroflicas dos produtos de fermentao, levando necessidade de utilizao de elevadas
razes entre as fases orgnica e aquosa, devido aos baixos coeficientes de partio dos
produtos em relao ao solvente orgnico. Alm disso, os solventes orgnicos so
geralmente txicos para as protenas e, tambm, provocam desnaturao das mesmas.
Sistemas de duas fases aquosas formam-se pela adio de solues aquosas de dois
polmeros hidroflicos, como PEG (polietileno glicol) e dextrana ou de um polmero e um
sal, como PEG e fosfato de potssio. A fase mais leve rica em polietileno glicol enquanto
a fase mais pesada enriquecida com dextrana ou sais. Os polmeros e os sais so solveis
em gua, mas so incompatveis entre si e se separam em duas fases (ALBERTSSON,
1986). Eles constituem um meio conveniente e adequado para a extrao de substncias de
origem biolgica pois a constituio das fases, entre 70% e 90% de gua, proporciona um
-
22
ambiente ameno para o trabalho com compostos biologicamente ativos, preservando sua
estabilidade molecular e permitindo, assim, o seu processamento neste meio
(COIMBRA,1995).
A separao espontnea, em fases distintas, devido a adio de solues aquosas de
dois polmeros foi inicialmente observada pelo microbiologista holands Beijerinck, em
1956, ao misturar gar com gelatina ou amido solvel. A fase inferior era rica em gar e a
superior em gelatina (ou amido). Em 1956, Albertsson constatou que sistemas formados por
polmeros solveis e solventes orgnicos tambm possibilitam a partio de materiais
biolgicos, ou seja, permitiam que uma terceira substncia introduzida no sistema fosse
coletada, preferencialmente, numa das fases por ajuste de parmetros fsico-qumicos.
Devido a esta particularidade os sistemas de duas fases aquosas so empregados no
isolamento e purificao de biomolculas de importncia comercial, tais como, protenas,
vrus, fragmentos de membranas e organelas celulares. De acordo com ALBERTSSON
(1986), possvel ter uma separao bastante seletiva de substncias usando sistemas
aquosos de polmeros.
Os sistemas de duas fases aquosas formados por PEG-Dextrana- gua e PEG-Sal-
gua tm sido, nos ltimos anos, os mais freqentemente estudados e utilizados para
purificao de um grande nmero de biomolculas (DIAMOND et al, 1992)
ALBERTSSON (1986) reconheceu a possibilidade de utilizarem-se sistemas de
duas fases aquosas como um mtodo de separao aplicado a materiais biolgicos sob
condies que preservam a sua atividade biolgica. Alm disso, os sistemas de duas fases
aquosas so usados tambm na determinao de propriedades superficiais de biomolculas,
tais como, carga e hidrofobicidade. Assim, ao lado de trabalhos no campo tecnolgico
existe tambm o interesse na utilizao da partio como meio de preparao de amostras
para uso em tcnicas analticas. Para tanto, so aplicados os diferentes tipos de sistemas de
duas fases aquosas existentes.
A variada faixa de aplicabilidade dos sistemas de duas fases aquosas tem estimulado
o estudo a fim de estabelecer fundamentos para o trabalho com estes sistemas, alm de
identificar os mais adequados para a separao de diferentes biomolculas. (GUAN et al,
1993)
-
23
ALBERTSSON (1971) comparou sistemas de duas fases aquosas com os solventes
mais convencionais, de acordo com a natureza hidrofbica, hidroflica. A fase rica em sal
mais hidroflica e a fase rica em PEG( polietilenoglicol) mais hidrofbica.
Considera-se que a separao de molculas, incluindo protenas, em sistemas de
duas fases aquosas dependente das caractersticas da superfcie molecular dos compostos
a serem particionados tais como: carga, tamanho e propriedades hidrofbicas.
A extrao com sistemas de duas fases aquosas oferece certas vantagens para o
processamento em larga escala. Algumas delas so: o elevado rendimento, a faixa de
trabalho prxima do equilbrio, a fcil ampliao de escala (scale up) e o processamento
contnuo. Com isto, o interesse na aplicao de sistemas de duas fases aquosas deixou de se
restringir biologia celular para concentrar-se na anlise dos fundamentos da separao de
fases e da partio de protenas, na reduo dos custos do processamento, no aumento da
seletividade da extrao (por exemplo, pela adio de ligantes), na pesquisa de novos
componentes formadores das fases, especialmente para substituir a dextrana, que um
componente de elevado custo, e na operao em mltiplos estgios (COIMBRA, 1995).
2.4.2.2. Tipos de Sistemas de Duas Fases Aquosas.
Existem vrias substncias que podem formar duas ou mais fases aquosas ao se
misturarem. Estas substncias podem ser polmeros ou compostos de baixo peso molecular,
como os sais, que permitem a separao de fases.
Os sistemas de duas fases aquosas podem ser divididos em quatro grandes grupos
(ALBERTSSON, 1986):
a) dois polmeros no inicos
exemplos: PEG/ficoll, PEG/Dextrana, PEG/polivinil lcool, polipropileno
glicol/dextrana, metil celulose/hidroxipropildextrana, ficoll/dextrana;
b) um polieletrlito e um polmero no inico
exemplos: sulfato dextrana de sdio/polipropileno glicol, carboximetildextrana de
sdio/PEG, carboximetilcelulose de sdio/ metil celulose;
c) dois polieletrlitos
-
24
exemplos: sulfato dextrana de sdio/carboximetildextrana de sdio,
carbometildextrana de sdio/carboximetil celulose de sdio;
d) um polmero no inico e um composto de baixo peso molecular
exemplo: polipropileno glicol/fosfato de potssio, PEG/fosfato de potssio,
metoxipolietileno glicol/fosfato de potssio, polipropileno glicol/glicose, PEG/glicose,
PEG/sulfato de magnsio, PEG / citrato de sdio.
H ainda novos sistemas formados por PEG/FeSO4 e PEG/Na2SO4 que apresentam
algumas vantagens em relao aos sistemas com sais de fosfato e citrato, como, por
exemplo, o baixo nvel de PEG na fase salina, que reduz as perdas do PEG e facilita a
purificao das biomolculas e a reciclagem do PEG. Nesse tipo de sistema foi observado
que a concentrao de sal na fase PEG e a concentrao na fase salina tendem a diminuir
com o aumento da temperatura (PATHAK et al, 1991).
Apesar da grande variedade de sistemas de duas fases aquosas, a quantidade de
sistemas realmente aplicveis para extrao lquido-lquido fica reduzida basicamente aos
formados por PEG/sal (fosfato/citrato/sulfato) e PEG/dextrana, quando se levam em
considerao fatores importantes do ponto de vista industrial, como custo e possibilidade de
reciclagem dos reagentes, tempo de separao das fases, possibilidade de esterilizao,
atoxicidade e faixa de aplicao. Devido a tais fatores, os estudos mais recentes tendem a
concentrar-se mais nesses dois sistemas, sendo o sistema PEG/sal o mais estudado devido
ao seu baixo custo e menor tempo de separao das fases em relao ao sistema
PEG/dextrana (COIMBRA, 1995).
2.4.2.3. Sistema PEG/Sal
A formao de sistemas PEG/sal foi primeiro observada por Albertsson nos anos
50, mas os fundamentos tericos ainda no so bem explicados.
Eles foram introduzidos para a aplicao prtica da separao de protenas em larga
escala devido maior diferena de densidade entre as fases, menor viscosidade e menores
custos; levando a uma separao mais rpida que para os sistemas PEG/dextrana. A
aplicao industrial de sistemas PEG/sal foi incentivada e desenvolvida pela
disponibilidade de separadores comerciais que permitam separaes de protenas
continuamente e de forma mais rpida. (KULA, 1990 e FRANCO,1992).
-
25
Para sistemas PEG/sal, os efeitos de salting out parecem atuar aumentando o
comprimento da linha de amarrao, retirando as protenas da fase salina para a fase rica
em PEG, ou, se a solubilidade da protena na fase rica em PEG no for suficiente, elas
tendem a precipitar na interface. Os limites de solubilidade e salting out so dependentes
das protenas, portanto uma resposta diferencial esperada quando uma mistura de
protenas manipulada (KULA,1982).
2.4.2.4. Polietileno Glicol
O polietileno glicol, HO-(CH2CH2)n-CH2CH2OH, um polister sinttico neutro,
linear ou de cadeia ramificada, disponvel numa grande variedade de pesos moleculares, de
poucas centenas milhares de daltons. Solubiliza-se em gua e em diferentes solventes
orgnicos. A sua solubilizao em gua atribuda ligao das molculas de gua a
muitas ou todas as molculas em torno da cadeia de polietileno. Essa ligao ocorre pelo
mecanismo de pontes de hidrognio. Ligaes deste tipo so relativamente fracas e podem
ser quebradas de vrias maneiras.
O PEG tambm conhecido pelos nomes comerciais de poliglicol E, carbowax E, dependendo da empresa que o fabrica. Para pesos moleculares acima de 20000 daltons so denominados xidos de polietileno, PEO. So fornecidos na forma de
solues incolores estveis ou pastas se possurem pesos moleculares menores que 1000.
Os de pesos moleculares elevados, acima de 1000, so encontrados na forma de p ou de
flocos brancos. Podem ser estocados temperatura ambiente, embora a 40 C a ocorrncia de
oxidao em solues seja retardada. A oxidao do PEG, detectada pela diminuio do pH
devida a liberao de grupos cidos, altera a colorao da soluo para marrom
(COIMBRA, 1995).
Sendo no antignico nem imunognico foi aprovado pelo FDA, Food and
Drug Administration. Devido sua capacidade de formao de uma camada protetora, o
PEG pode diminuir a taxa de rejeio de materiais em sistemas biolgicos em humanos.
Devido s suas propriedades, o PEG tem uma srie de aplicaes farmacuticas, biolgicas
e bioqumicas. Ele pode formar um composto ativado PEG-protena que mantm a protena
ativa e diminui consideravelmente a reao imune, alm de aumentar o tempo de vida de
soros sangneos. Ele pode ser ligado tambm a superfcies, formando uma camada
protetora e biocompatvel, para ser empregado em aparelhos de diagnsticos, substituio
-
26
de artrias e dispositivos relacionados a sangue. O PEG protetor pode ser usado tambm
para evitar a adsoro de protenas em anlises bioqumicas de eletroforese por zona
capilar, que uma importante tcnica analtica empregada em bioqumica. Alm disso, o
PEG pode ser usado com lipossomas para a liberao controlada e distribuio seletiva de
medicamentos, pois os lipossomas sem o PEG podem ser rapidamente atacados e
eliminados do corpo humano, sem cumprir a sua funo. Por ser solvel em muitos
solventes orgnicos, o PEG pode ser utilizado para solubilizar enzimas neste meio sem
desnatur-las atravs da formao de uma camada protetora. Alm disso, compostos
insolveis em gua podem tornar-se solveis quando ligados ao PEG, como por exemplo
substratos de enzimas, cofatores, corantes, etc. (HARRIS, 1992).
2.4.2.5. Recuperao de Sais e Polmeros
A possibilidade de reutilizao dos constituintes das fases deve ser considerada ao
se efetuar o scale up pois os custos dos componentes das fases aumentam linearmente
com a escala de produo (KRONER et al., 1982).
A reciclagem de PEG pode ser facilmente integrada ao processo, chegando a nveis
de recuperao em torno de 90 a 95% (HUSTEDT et al.,1988). As tcnicas de recuperao
de PEG mais usadas so a ultrafiltrao e a extrao com solvente orgnico seguida de
evaporao (COIMBRA, 1995).
O descarte de sais geralmente mais problemtico. Em sistemas contendo clulas,
cido nucleico, protenas solveis e insolveis, a separao de sais da fase primria por
tcnicas de separao mecnica, tais como a centrifugao ou ultrafiltrao muito difcil
de ser conduzida eficientemente. A eletrodilise considerada um mtodo geral para a
reciclagem de sais e para a dessalinizao da fase rica em PEG (HUSTEDT et al., 1988).
Sais tambm podem ser recuperados usando uma mistura lcool aliftico-sal-gua.
Especificamente para a separao de fosfato de potssio, um resfriamento abaixo de 60 C
provoca a precipitao do sal, possibilitando a sua reutilizao (PAPAMICHAEL et al.,
1992, COIMBRA,1995).
GREVE & KULA (1991) recentemente estudaram maneiras de reciclar a fase
fosfato desses sistemas para minimizar a poluio ambiental. A reciclagem da fase fosfato
foi obtida pela sua separao atravs do uso de lcoois. O PEG da fase do topo rica em
-
27
PEG pode tambm ser reciclado, como pode ser visto em alguns trabalhos de KULA E
HUSTEDT, principalmente.
2.4.3. Teoria de Formao das Fases
Existem diversos modelos e teorias para a formao dos sistemas de duas
fases aquosas que tentam prever a curva binodal dos sistemas polmero-polmero e
polmero-sal. A existncia de tantos modelos deve-se ao pouco conhecimento das misturas
lquido-lquido, principalmente de polmeros e solues eletrolticas. Na realidade no
existe, at o momento, uma boa compreenso das teorias de misturas de lquidos.
(CABEZAS Jr, 1996)
A grande maioria dos modelos est contida em dois grupos bsicos: um
grupo baseado na teoria da soluo de polmeros, e outro grupo com teorias adaptadas dos
tratamentos termodinmicos do equilbrio de fase lquida. Dentro desses dois grupos, a
modelagem de formao das fases pode ser dividida em quatro tipos: modelos baseados em
expanso virial osmtica; modelos baseados na extenso da teoria de Flory-Huggins;
modelos incorporando a teoria da equao integral como principal elemento; modelos que
no se encaixam em nenhuma destas categorias, como o modelo de volume excludo.
Existe ainda, o modelo Pitzer que o mais aplicvel para os sistemas polmero-sal. No caso
dos sistemas polmero-sal, ainda no existem muitas teorias que se apliquem bem a este
tipo de sistema, pois a maioria no considera o efeito dos eletrlitos nas solues, levando a
um erro na modelagem da formao das fases. Alm disso, o estudo de tais sistemas ainda
muito recente (CABEZAS Jr, 1996, WU et al, 1996, WALTER et al. 1991).
As condies utilizadas para a modelagem da formao das duas fases so a
igualdade dos potenciais qumicos de cada componente (o solvente, a gua, e os solutos, o
polmero ou sal) nas duas fases aquosas e o balano de massa de cada componente, ambos
aps o equilbrio entre as fases (CABEZAS Jr, 1996).
O modelo de expanso virial osmtico ficou mais conhecido com o
desenvolvimento do trabalho de Edmond e Ogston. O equacionamento matemtico e a
interpretao fsica dos parmetros do modelo no so complicados. Existem dois tipos
diferentes de expanso virial osmtica: uma a teoria de McMillan - Mayer e a outra a
teoria de Hill. Na teoria de McMillan - Mayer, o solvente tratado como uma substncia
sem caractersticas especiais, e, portanto considera-se somente a interao entre as
-
28
molculas do soluto, simplificando muito os mecanismos estatsticos do problema. Porm,
aqui existe a necessidade de correo da presso pois como o solvente no importante, o
seu potencial qumico deve ser constante e independente do soluto e portanto a presso no
pode ser constante. Logo, para se utilizar esse modelo em condio de presso constante,
deve-se acrescentar a presso osmtica da soluo. J a teoria de Hill no considera o
solvente como uma substncia secundria e por isso os potenciais qumicos dos
componentes podem ser determinados em temperatura e presso constantes (CABEZAS Jr,
1996).
A teoria da trelia uma idia de modelagem macromolecular de misturas lquidas
em termos de uma trelia de cristal. A idia principal que em uma trelia as
macromolculas e as molculas pequenas podem se distribuir e redistribuir at que todos os
arranjos ou configuraes possam ser estudados. Basicamente um estudo estatstico de
como essas molculas podem ser arranjadas. A teoria de Flory-Huggins utiliza-se destes
princpios. a mais utilizada em sistemas polmero-polmero, chegando a oferecer uma
tima aproximao da curva binodal. A sua grande vantagem em relao a outras teorias a
simplicidade aliada qualidade de suas previses e correlaes da formao de fases. Nesse
modelo o sistema representado por uma trelia tridimensional, onde cada lado
preenchido com uma molcula de solvente ou um segmento de um dos polmeros. O
problema bsico obter a expresso da energia livre de Gibbs de mistura. Existem
tentativas de adaptar esta teoria para os sistemas polmero-sal, porm estes modelos ainda
no esto muito ajustados para a formao de fases neste tipo de sistema (CABEZAS Jr,
1996, WALTER et al, 1991, BROOKS et al., 1985, WU et al., 1996).
Outra teoria muito utilizada nos sistemas polmero-polmero, para modelar a curva
binodal, a do volume excludo, baseada em argumentos estatsticos e geomtricos: as duas
fases esto saturadas com cada polmero, ou seja, todo o volume est ocupado pelas
molculas dos dois polmeros e da gua de hidratao; a concentrao de cada polmero em
cada fase determinada pela quantidade de molculas de cada polmero ajustado no
volume da fase.
A teoria geomtrica estatstica aplicada em sistemas polmero-polmero considera as
seguintes hipteses: as molculas da mesma espcie esto distribudas randomicamente na
fase homognea; a estrutura da soluo est geometricamente saturada em termos de
tamanho e forma de todas as molculas do sistema; a existncia de interaes moleculares
-
29
no muda a natureza da distribuio molecular. A formao das duas fases explicada da
seguinte forma: na situao monofsica, as molculas do soluto esto separadas e as
molculas adicionais de soluto ainda podem ser inseridas no espao livre que existe. No
ponto de separao de fase, as molculas do soluto esto bem prximas umas das outras e a
soluo no aceita mais molculas adicionais de soluto. Quando a concentrao total do
soluto aumenta, ocorre a formao de duas solues geometricamente saturadas e
estruturalmente diferentes(GUAN et al., 1994).
A teoria de Debye-Huckel a mais adequada para os sistemas que contm solues
com cargas, como o caso dos sistemas polmero-sal ou sistemas polmero-polmero com
sais. Essa teoria leva em considerao a distribuio dos ons na soluo para o clculo de
potencial qumico e mais utilizada em solues com concentrao inica at 0,1 M, de
onde se obtm timos resultados. medida que a concentrao inica aumenta, o desvio
entre os resultados tericos e experimentais aumenta. Isso ocorre porque a teoria precisa
apenas para solues diludas, onde o comportamento eletrosttico domina. Em solues
concentradas, o comportamento eletrosttico reduzido devido presena de muitos ons
que tendem a isolar as cargas eletrostticas entre si (CABEZAS Jr, 1996).
O modelo virial de Pitzer um modelo que pode ser aplicado com sucesso em
sistemas polmero-sal. Ele utiliza o excesso de energia livre de Gibbs nos sistemas
polmero-sal, combinando os parmetros eletrostticos com a equao virial. Esse modelo
uma extenso do modelo de Debye-Huckel, pois alm das interaes eletrostticas,
considera-se o efeito da fora inica. Com a utilizao do termo da equao virial, o
modelo leva em considerao tambm os solutos no-eletrlitos, como o caso dos
polmeros, o que faz com que ele se adapte melhor aos sistemas polmero-sal (WU et al.,
1996).
2.4.3.1. Tempo de Separao das Fases
O tempo de separao das fases aps a mistura dos componentes depende do tipo de
sistema. Sistemas contendo PEG/sal possuem um tempo de separao das fases muito
menor que os sistemas PEG/dextrana devido densidade e viscosidade do sistema. Em
sistemas dextrana/ficoll, o tempo varia de 1 a 6 horas pela ao da gravidade, enquanto em
sistemas PEG/dextrana esse valor cai para 5 a 30 minutos, dependendo da concentrao e
-
30
do peso molecular dos polmeros. Nos sistemas PEG/fosfato, o tempo de separao entre as
fases inferior a 5 minutos (COIMBRA, 1995).
Outro fator que tambm influencia o tempo de separao a velocidade de
coalescncia das pequenas bolhas que se formam durante a agitao. Quando se agita um
sistema de fases de maneira a uniformiz-lo, inicialmente ocorre a formao de pequenas
regies ricas em cada componente. Com o tempo, essas regies aumentam e separam-se em
duas regies distintas (BAMBERGER et al, 1985).
A posio em relao ao ponto crtico tambm exerce influncia no tempo de
separao das fases. Nos sistemas prximos ao ponto crtico, o tempo de separao maior
devido a uma pequena diferena de densidade. J no caso dos sistemas muito distantes do
ponto crtico, a viscosidade aumenta devido ao aumento da concentrao do polmero,
tornando a separao de fases mais lenta.
2.4.3.2. Fatores que Influenciam no Sistema de Fases
Os principais fatores que influenciam no sistema de fases e
conseqentemente alteram o diagrama de fases so: peso molecular do polmero,
concentrao dos componentes do sistema e temperatura.
Quanto maior o peso molecular do polmero, menor a concentrao
necessria para a formao de duas fases. Isso significa que a curva binodal desloca-se no
sentido da regio monofsica medida que o peso molecular do polmero aumenta. Para
um sistema polmero-polmero (PEG/dextrana, por exemplo) a curva binodal torna-se cada
vez mais assimtrica a medida que a diferena entre os pesos moleculares dos polmeros
aumenta. O peso molecular do polmero afeta tambm o tempo de separao das fases, mas
tal problema pode ser minimizado pela centrifugao do sistema aps a mistura das fases
(ALBERTSSON, 1986, ALBERTSSON et al., 1994). A massa molecular afeta tambm o
comprimento da linha de amarrao, que tende a aumentar com o aumento da concentrao
dos polmeros (FORCINITI et al., 1991).
A concentrao dos componentes do sistema pode afetar a viscosidade e a
densidade do sistema, causando diferenas no tempo de separao das fases e na razo de
volumes.
A temperatura causa influncia no diagrama de fases, pois altera a
composio das fases no equilbrio, deslocando a curva binodal, e modificando tambm o
-
31
comprimento da linha de amarrao. Em geral, o comprimento da linha de amarrao
diminui com o aumento de temperatura. O seu efeito varia de acordo com o tipo de sistema.
No caso de sistemas PEG/dextrana, a formao das fases facilitada em temperaturas
baixas (menores que a ambiente) e para os sistemas PEG/fosfato, a situao oposta, pois
temperaturas mais altas e prximas do ambiente facilitam a separao entre as fases.
Quando o sistema est prximo ao ponto crtico, ele mais instvel devido ao
deslocamento da curva binodal, podendo atingir mais facilmente a regio monofsica. O
aumento da temperatura do sistema causa ainda, em um sistema PEG/sal, aumento na
concentrao de PEG na fase polimrica e reduo da sua concentrao na fase salina. Esse
efeito uma das razes de se trabalhar com a temperatura do sistema fixa.
O pH e o tipo de ction tambm so variveis que podem influenciar no
diagrama de fases. Diminuindo o valor do pH, as concentraes necessrias de polmero e
sal de um sistema PEG/sal aumentam, deslocando a curva binodal para a direita. Esse fato
pode ser explicado pelo aumento da razo H2PO4-/HPO42-. Para o caso do fosfato, com a
diminuio do pH, pois como o nion monovalente menos efetivo no salting out do
PEG (fenmeno de expulso devido ao tamanho do PEG), ser necessria uma
concentrao maior dos componentes para formar o sistema bifsico. No caso do tipo de
ction, a substituio de fosfato de potssio desloca a curva binodal para a direita, e
portanto a concentrao dos componentes necessria para a formao do sistema de duas
fases aumenta, sugerindo que o ction sdio mais eficiente que o ction potssio para o
efeito do salting out do PEG.
2.4.3. 3. Diagrama de Fases
A formao das duas fases aquosas depende da concentrao dos componentes do
sistema. O diagrama de fases mostra a regio monofsica e bifsica de acordo com a
concentrao de cada componente expressa em % p/p.
A curva que separa a regio de duas fases da regio de uma fase chamada curva
binodal ou curva de equilbrio. A regio acima da curva binodal chamada bifsica e
abaixo monofsica.
-
32
Figura 1: Exemplo de um Diagrama de Fases
A Figura 1 mostra um exemplo genrico de um diagrama de fases. A composio
inicial do sistema dada pelo ponto M e a composio final de cada fase aps atingir o
equilbrio dada pelos pontos T (fase superior ou de topo) e F (fase inferior ou de fundo).
O segmento TMF chamado de tie-line ou linha de amarrao, e todos os sistemas cuja
composio inicial est contida nessa linha possuem a mesma composio de fases aps o
equilbrio, porm com diferentes razes de volumes entre as fases: superior e inferior. J a
linha de amarrao determinada pelo ponto N define uma nova linha de amarrao que
aumentou proporcionalmente a concentrao entre as fases em relao linha de amarrao
determinada por M.
Como se pode observar, o fato de mudarmos da linha de amarrao, definida pelo
ponto M, para a linha definida pelo ponto N, variando proporcionalmente a concentrao
dos componentes das fases, no se obtm uma melhora significativa na recuperao e
purificao da protena em estudo.
%p/p PEG
%p/p Sal
M
T
F
N
-
33
2.4.4. Fundamentos da Partio das Protenas
Devido ateno que vem sendo dada produo de protenas pela engenharia
gentica e o desenvolvimento da tecnologia de enzimas renovaram-se os interesses pelos
processos de separao de protenas e suas descries quantitativas que servem de base
para o scale up. Os fundamentos de partio de biomolculas entre as duas fases ainda
no so totalmente compreendidos.
A tendncia de separao de fases apresentada por dois polmeros, quando
adicionados num solvente comum, ocorre porque a baixa concentrao molar dos polmeros
na soluo (tipicamente menos que 0,05 M) leva a um pequeno ganho de entropia durante a
mistura. Por outro lado, cadeias polimricas tm uma rea superficial por molcula maior
do que compostos de baixo peso molecular, tanto que as energias de interao entre dois
polmeros se sobrepem energia de Gibbs do sistema. Estes fatores levam formao de
duas fases em sistemas ternrios polmero-polmero-gua, em baixas concentraes de
polmer