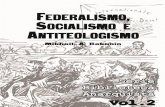Fap pós tgc 09 - federalismo 02
-
Upload
daiane-quesado -
Category
Education
-
view
209 -
download
1
description
Transcript of Fap pós tgc 09 - federalismo 02

Direito Constitucional Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu Televirtuais | 2011
LEITURA OBRIGATÓRIA – AULA 1 ANEXO I - LEITURA OBRIGATÓRIA 1 – PÁG. 2 A 6 ANEXO II - LEITURA OBRIGATÓRIA 2 – PÁG. 7 A 10 ANEXO III - LEITURA OBRIGATÓRIA 3 – PÁG. 10 A 17
© DIREITOS RESERVADOS
Proibida a reprodução total ou parcial desta publicação sem o prévio consentimento, por escrito, pelos autores.
Publicação: Março de 2.011.

2
FEDERALISMO E DESCENTRALIZAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DE
198876
2.1. O Federalismo Cooperativo da Constituição de 1988
Com a redemocratização da década de 1980, abriram-se novas perspectivas para o federalismo brasileiro. A nova Constituição, promulgada em 5 de outubro de 1988, restaurou a Federação desde o seu artigo 1º: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito”.
A grande inovação foi a inclusão dos Municípios como componentes da Federação. Até 1988, todas as nossas constituições outorgavam governo próprio e competência exclusiva aos Municípios no tocante à sua autonomia, remetendo aos Estados o poder de criar e organizar os Municípios, desde que respeitassem a autonomia assegurada constitucionalmente (por mais que como vimos, na prática não ocorresse bem assim). Agora as normas instituidoras de autonomia dirigem-se diretamente aos Municípios, pois a Constituição de 1988 deu-lhes também o poder de auto-organização. A consagração desse poder está no artigo 29, que determina a todos os Municípios que elaborem sua própria Lei Orgânica, uma verdadeira Constituição Municipal.77
A Constituição de 1988 institui expressamente, em seu artigo 23, o Federalismo Cooperativo, elencando uma série de matérias cuja competência é comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Entretanto, prescreve o parágrafo único desse artigo: “Lei complementar fixará normas para a cooperação entre a União, Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”. Lei complementar esta que (como a grande maioria das leis complementares previstas na Constituição) até hoje não foi elaborada. As matérias que competem à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente estão no artigo 24, ressalvando-se a limitação da União em estabelecer apenas normas gerais e dos Estados e Distrito Federal de, desde que não contrariem a lei federal, adaptá-las a suas especificidades. Os Municípios não foram situados na área de competência concorrente do artigo 24, que lhes outorgou competência para suplementar as legislações federal e estadual no que lhes couber. A Constituição seguiu a técnica tradicional do direito americano, enumerando as competências da União (e, no nosso caso, dos Municípios também), e deixando aos Estados os poderes remanescentes, de acordo com o artigo 25, § 1º.
O Federalismo Cooperativo se justifica pelo fato de que, em um Estado intervencionista e voltado para a implementação de políticas públicas, como o estruturado pela Constituição de 1988, as esferas subnacionais não têm mais como analisar e decidir, originariamente, sobre inúmeros setores da atuação estatal, que necessitam de um tratamento uniforme em escala nacional. Isto ocorre principalmente com os setores econômico e social, que exigem uma unidade de planejamento e direção.78 Antes, portanto, de o Estado Social estar em contradição com o Estado Federal, o Estado Social influi de
76 Parte da argumentação deste capítulo foi desenvolvida na nossa tese de doutorado: Gilberto
BERCOVICI, Desequilíbrios Regionais: Uma Análise Jurídico-Institucional, mímeo, Tese de Doutorado (Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo), 2000, especialmente nos capítulos 4 e 5. A tese foi publicada sob a seguinte denominação: Gilberto BERCOVICI, Desigualdades Regionais, Estado e Constituição cit. 77 Paulo BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional, 7ª Ed. São Paulo, Malheiros, 1998, p. 311-322. 78 Konrad HESSE, op. cit., p. 13-14 e Enoch Alberti ROVIRA, op.cit., p. 356-357

3
maneira decisiva no desenvolvimento do federalismo atual, sendo o federalismo cooperativo considerado como o federalismo adequado ao Estado Social.79
Esta unidade de atuação não significa, necessariamente, centralização. Precisamos, antes de mais nada, diferenciar centralização de homogeneização. Com a centralização há a concentração de poderes na esfera federal, debilitando os entes federados em favor do poder central. Já a homogeneização (Unitarisierung, uniformização) é baseada na cooperação, pois se trata do processo de redução das desigualdades regionais em favor de uma progressiva igualação das condições sociais de vida e, todo o território nacional. A homogeneização não é imposta pela União, mas é resultado da vontade de todos os membros da Federação.80
Nos regimes federais, tradicionalmente, compete à União buscar a redução das desigualdades regionais. No Brasil, a forte presença estatal na economia contribuiu para que o Governo Federal ocupe um papel de fundamental importância nas políticas de desenvolvimento regional.81 Desta maneira, os fundos públicos (receitas tributárias, gastos da União e das estatais federais, incentivos fiscais e empréstimos públicos), são fundamentais nas relações federativas, especialmente em países com enormes disparidades regionais como o nosso. A estruturação federal pressupõe transferência considerável de recursos públicos entre as regiões, fundamentada no princípio da solidariedade.82
As tensões do federalismo contemporâneo, situadas basicamente entre a exigência da atuação uniformizada e harmônica de todos os entes federados e o pluralismo federal, são resolvidas em boa parte por meio da colaboração e atuação conjunta das diversas instâncias federais. A cooperação se faz necessária para que as crescentes necessidades de homogeneização não desemboquem na centralização. A virtude da cooperação é a de buscar resultados unitários e uniformizadores sem esvaziar os poderes e competências dos entes federados em relação à União, mas ressaltando a sua complementaridade.83
O grande objetivo do federalismo, na atualidade, é a busca da cooperação entre União e entes federados, equilibrando a descentralização federal com os imperativos da integração econômica nacional. Assim, o fundamento do federalismo cooperativo, em termos fiscais, é a cooperação financeira, que se desenvolve em virtude da necessidade de solidariedade federal por meio de políticas públicas conjuntas e de compensações das disparidades regionais.84
A cooperação financeira tem como característica a responsabilidade conjunta da União e entes federados pela realização de políticas públicas comuns. O seu objetivo é claro: a execução uniforme e adequada de serviços públicos equivalentes em toda a Federação, de acordo com os princípios da solidariedade e da igualação das condições sociais de vida.85
79 Konrad HESSE, op. cit., p. 32-34 e Enoch Alberti ROVIRA, op.cit., p. 25, 54, 55 e 365-366 e Gilberto
BERCOVICI, “Constituição e Superação das Desigualdades Regionais” cit., p. 78-79. 80 Konrad HESSE, op. cit., p. 21 e Enoch Alberti ROVIRA, op.cit., p. 359 e p. 359, nota 30. 81 José Roberto Rodrigues AFONSO, “Questão A Tributária e o Financiamento dos Diferentes Níveis de
Governo” in Rui de Britto Álvares AFFONSO & Pedro Luiz Barros SILVA (orgs.), A Federação em Perspectiva cit., p. 315.316; Fernando REZENDE, “El Federalismo Fiscal en Brasil” in Alicia Hernandez CHÁVEZ (coord.), Hacia um Nuevo Federalismo? México, Colégio de México/Fideicomisso Historia de Las Américas/ Fondo de Cultura Econômica, 1996, p. 227 e 240 e Celina Maria de SOUZA, “Intermediação de Interesses Regionais no Brasil: O Impacto do Federalismo e da Descentralização”, Dados – Revista de Ciências Sociais, vol. 41, nº 3, Rio de Janeiro, IUPERJ, 1998, p. 575-576. 82 Cf. Rui de Britto Álvares AFFONSO, “A Federação no Brasil: Impasses e Perspectivas” cit., p. 57-58 e
Rui de Britto Álvares AFFONSO, “Descentralização e Reforma do Estado: a Federação Brasileira na Encruzilhada” Economia e Sociedade nº 14, Campinas, Instituto de Economia da UNICAMP, junho de 2000, p. 132-133. Vide também José Roberto Rodrigues AFONSO, “Descentralização Fiscal: Revendo Idéias”, Ensaios FEE, vol. 15 nº. 2, Porto Alegre, 1994, p. 354-355 e Enoch Alberti ROVIRA, op cit., p. 374. 83 Konrad HESSE, op.cit., p. 19-21 e 31-32, Jean ANASTOPOULOS, Les Aspectos Financiers Du
Fedéralisme, Paris, L.G.D.J., 1979, p. 409-412 e Enoch Alberti ROVIRA, op. cit., p. 24-25 e 562-563. 84 Cf. Jean ANASTOPOULOS, op. cit., p. 8-9, 11-12, e 330-331 85 Jean ANASTOPOULOS, op. cit., p. 114-115, 221-222, 314-315, 331-332.

4
Dentre as complexas relações de interdependência entre a União e os entes federados, no federalismo cooperativo, devemos distinguir a coordenação da cooperação propriamente dita. A coordenação é, na realidade, um modo de atribuição e exercício conjunto de competências no qual os vários integrantes da Federação possuem certo grau de participação. A vontade das partes é livre e igual, com a manutenção integral de suas competências: os entes federados sempre podem atuar de maneira isolada ou autônoma. A coordenação é um procedimento que busca um resultado comum e do interesse de todos. A decisão comum, tomada em escala federal, é adaptada e executada autonomamente por cada ente federado, adaptando-a às suas peculiaridades e necessidades.86
A materialização da coordenação na repartição de poderes são as competências concorrentes. A União e os entes federados87 concorrem em uma mesma função, mas com âmbito e intensidade distintos. Cada parte, decide, dentro de sua esfera de poderes, de maneira separada e independente, com a ressalva da prevalência do direito federal. Este tipo de repartição é o previsto pelo artigo 24 da Constituição de 1988.
Na cooperação, nem a União, nem qualquer ente federado pode atuar isoladamente, mas todos devem exercer sua competência conjuntamente com os demais.88 Na repartição de competências, a cooperação se revela nas chamadas competências comuns, consagradas no artigo 23 da Constituição de 1988. Nas competências comuns, todos os entes da Federação devem colaborar para a execução das tarefas determinadas pela Constituição. E mais: não existindo supremacia de nenhuma das esferas na execução destas tarefas, as responsabilidades também são comuns, não podendo nenhum dos entes da Federação se eximir de implementá-las, pois o custo político recai sobre todas as esferas de governo.89 A cooperação parte do pressuposto da estreita interdependência que existe em inúmeras matérias e programas de interesse comum, o que dificulta (quando não impede) a sua atribuição exclusiva ou preponderante a um determinado ente, diferenciando, em termos de repartição de competências, as competências comuns das competências concorrentes e exclusivas.90
O interesse comum viabiliza a existência de um mecanismo unitário de decisão, no qual participam todos os integrantes da Federação. Na realidade, há dois momentos de decisão na cooperação. O primeiro se dá em nível federal, quando se determina, conjuntamente, as medidas a serem adotadas, uniformizando-se a atuação de todos os poderes estatais competentes em determinada matéria. O segundo momento ocorre em nível estadual ou municipal, quando cada ente federado adapta a decisão tomada em conjunto às suas características e necessidades. Na cooperação, em geral, a decisão é conjunta, mas a execução se realiza de maneira separada, embora possa haver, também, uma atuação conjunta, especialmente no tocante ao financiamento das políticas públicas.91
86 Enoch Alberti ROVIRA, op. cit., p. 361-365, 367-369 e 463-477. 87 No caso brasileiro, há uma divergência doutrinária sobre a questão dos Municípios participarem, ou
não, da repartição das competências concorrentes, por não estarem previstos expressamente no artigo 24 da Constituição de 1988 como titulares dos poderes elencados, ao lado da União e Estados. Na opinião de Fernanda Menezes de Almeida, apesar de não constarem expressamente no artigo 24, os Municípios não foram excluídos da repartição de competências concorrentes. Para ela, a titularidade dos Municípios está garantida pelo artigo 30, II da Constituição, que dá competência aos Municípios para legislarem de maneira suplementar no que lhes couber. Vide Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA, op. cit., p.80,125,139 e 167-171. Esta é a posição que consideramos mais adequada, dentro do sistema constitucional de 1988. Em sentido contrário, vide especialmente Tercio Sampaio FERRAZ Jr, “Normas Gerais e Competência Concorrente – Uma Exegese do Art. 24 da Constituição Federal”, Revista Trimestral de Direito Público nº 7, São Paulo, Malheiros, 1994, p. 19-20. 88 Enoch Alberti ROVIRA, op. cit., p.369-370 e 487. 89 Vide especialmente Sueli Gandolfi DALLARI, Os Estados Brasileiros e o Direito à saúde, São Paulo,
Hucitec, 1995, p. 38-42 e 79-80. 90 Enoch Alberti ROVIRA, op. cit., p.373-374. 91 Enoch Alberti ROVIRA, op. cit., p.374-376. Vide também Ana Maria BRASILEIRO, op. cit., e Jean
ANASTOPOULOS, op. cit., p. 114-115 e 224-227.

5
A fonte da cooperação federal é a Constituição. Fora dos casos expressamente previstos no texto constitucional (obrigatórios ou facultativos92), predomina o princípio da separação e independência no exercício das competências constitucionais.93 No caso brasileiro, as competências comuns do artigo 23 da Constituição, após sua regulamentação pela lei complementar prevista no parágrafo único do mesmo artigo, serão obrigatórias para a União e todos os entes federados. A lei complementar prevista não poderá retirar nenhum ente da titularidade das competências comuns, nem restringi-las.
Há, dentro das correntes que combatem o Estado Social, alguns autores que consideram a repartição de competências prevista na Constituição de 1988, especialmente a dos artigos 23 e 24, “irracional”. Para eles, a repartição deveria ser clara,94 com a eliminação das competências concorrentes (não distinguem as competências concorrentes das comuns), por alargarem a “margem de irracionalidade”. As competências, ainda, deveriam ser descentralizadas para Estados e Municípios.95
Na realidade, a grande crítica que pode ser feita às competências comuns elencadas no artigo 23 da Constituição de 1988 é a não-inclusão do planejamento entre as matérias previstas. A ênfase da Constituição de 1988, no tocante ao planejamento, foi dada à União (artigo 21, IX da Constituição), ignorando-se o papel dos Estados e Municípios na elaboração dos planos. A preponderância da União, nesta área, não exclui a necessidade de participação de todos os entes federados na elaboração conjunta do planejamento.96 Afinal, a cooperação é uma espécie de planejamento, ao elaborar critérios conjuntos e uniformes de atuação da União e entes federados sem violar a repartição de competências. É um planejamento coordenado, com a anuência de todos os titulares de funções estatais, em contraposição a um planejamento imposto de cima para baixo.
É a falta de uma política nacional coordenada, e não a repartição de competências concorrentes e comuns, que faz com que determinados programas e políticas públicas sejam realizados por mais de uma esfera governamental e outros por nenhuma.97 Falta de
92 A cooperação pode ser obrigatória ou facultativa. A cooperação obrigatória é exigida diretamente
pela Constituição: determinada competência só pode ser exercida de forma conjunta (casos previstos no artigo 23 da Constituição de 1988). Já na cooperação facultativa, a Constituição prevê uma distribuição alternativa de competências entre a União e os entes federados, permitindo ou estimulando que atuem em conjunto. Neste caso, a Constituição estabelece os critérios da cooperação: uma vez que se decide atuar em cooperação, esta só pode ocorrer nos termos previstos no texto constitucional. Há ainda a cooperação voluntária, ou livre, baseada em acordo entre as partes, que podem, inclusive, decidir atuar de forma distinta ao disposto na Constituição. Vide Enoch Alberti ROVIRA, op. cit., p. 487-490. O Brasil é um exemplo de Federação em que a cooperação é obrigatória, conforme o artigo 23 da Constituição. Já na Alemanha, a cooperação pode ser obrigatória (artigo 91 ‘a’ da Lei Fundamental Alemã), facultativa (artigo 91 ‘b’ da Lei Fundamental Alemã) ou livre. 93 Enoch Alberti ROVIRA, op. cit., p. 370-371. 94 Curiosamente, nos Estados Unidos, eterno exemplo utilizado pelos críticos das competências
comuns e concorrentes como modelo de “racionalidade”, a possível ambiguidade da separação constitucional de competências não é vista pelos americanos como um mal ou equívoco a ser superado, tanto que eventuais reformas propostas nunca foram aprovadas. Cf. Thomas J. ANTON, Las Políticas Públicas & el Federalismo Norteamericano: Cómo Funciona el Sistema, Buenos Aires, Heliasta, 1994, p.23-24, 35 e 264-265. 95 Vide Apásia CAMARGO, “O Novo Pacto Federativo”, Revista do Serviço Público, vol. 118, nº 1,
Brasília, ENAP, janeiro/julho de 1994, p. 84 e Fernando Luiz ABRUCIO, op. cit., p. 103-106 e 169. Devemos, ainda, ressaltar que a grande tentativa de “racionalizar” a repartição constitucional de competências nos Estados Unidos ocorreu na década de 1980, durante a Presidência do conservador Ronald Reagan. Sua proposta, curiosamente, semelhante à do Governo Fernando Henrique Cardoso, era a de tornar “clara” e “racional” a divisão de competências, descentralizando a responsabilidade por políticas públicas para Estados e Municípios, que assumiram todas as políticas sociais, com exceção de parte das políticas de saúde. Apesar do empenho do Governo Federal, a proposta não foi aprovada. Cf. Thomas J. ANTON, op. cit., p. 26-27 e 276-282. 96 Neste sentido, vide Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA, op. cit., p. 98-99, 101-104 e 175-176. 97 José Roberto Rodrigues AFONSO, “Descentralização Fiscal: Revendo Idéias”, cit., p. 362-363.

6
coordenação e cooperação esta que, emblematicamente, revela-se na ausência da lei complementar prevista no parágrafo único do artigo 23 da Constituição, que deve regulamentar as normas para a cooperação entre a União e os entes federados.
Com a restauração do federalismo pela Constituição de 1988, as políticas de desenvolvimento regional devem ser elaboradas e implementadas dentro dos marcos do sistema federal, ou seja, com a coordenação e cooperação da União e todos os entes federados. Para tanto, é essencial que evitemos a concepção racionalista e artificial que vê o federalismo apenas como um problema de organização, tendo em vista o objetivo da otimização e da eficiência máxima da atuação estatal. Concepção tecnocrática esta que não leva em consideração os processos históricos da evolução e formação do Estado federal concreto.
No tocante, às desigualdades regionais, a Constituição de 1988, em seus artigos 3º, III, que trata dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, e 170, VII, que enumera os princípios constitucionais da ordem econômica, considera imprescindível a redução das desigualdades regionais e sociais. Cabe também à União articular o desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais, através da criação de regiões administrativas, incentivos e da ação de organismos regionais (artigo 43).98
GILBERTO BERCOVICI Doutor em Direito do Estado e Livre-Docente em Direito Econômico pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor Associado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
Como citar este artigo:
BERCOVICI, Gilberto, Dilemas Do Estado Federal Brasileiro, Porto Alegre: Livraria do Advogado, ed.2004, p.104. Material da 1ª aula da disciplina Organização Do Estado, ministrada no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu TeleVirtual em Direito Constitucional – Anhanguera-UNIDERP | REDE LFG.
98 Apesar de sua instituição ser de competência da União, as regiões administrativas nunca saíram do
papel. Vide Paulo BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional cit., p. 323-326.

7
NORMAS CENTRAIS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Sumário
1. Normas, regra, princípio e normas centrais. 2. Normas centrais e o federalismo norte-americano. 3. Normas centrais na Constituição da Áustria de 1920. 4. Normas centrais na Constituição Federal de 1988 e o modelo europeu. 5. Constituição Federal e Constituição total. 6. Federalismo de equilíbrio e normas centrais.
A palavra norma designa um mandamento, uma prescrição, uma ordem. Sob o ângulo da norma jurídica, conforme assinalou Kelsen,1 a norma confere poderes, permissões e opera derrogações. Nawiasky2 indicou outra característica da norma jurídica na determinação de comportamento externo, de modo a separá-la da norma religiosa e da norma ética, que fixam o comportamento interior. Sendo “norma coativamente aparelhada”, na qualificação do autor da Teoria Geral do Direito, a lesão à norma jurídica, a prática da antinormatividade, desencadeia o processo de sua defesa na sanção aplicável. A norma jurídica poderá exteriorizar-se no princípio e na regra. O princípio é -a “norma dotada de um grupo de abstração relativamente elevado”, enquanto a regra dispõe de abstração relativamente reduzida. O princípio constitucional impõe aos órgãos do Estado a realização de fins, a execução de tarefas, a formulação de programa. A regra se introduz no domínio da organização e do funcionamento de órgãos, serviços e atividades do Estado e do Poder. É nesse plano que se localizam as regras ou normas de competência, de organização, de procedimento e de garantias.
Podendo dispor de validez, de vigência e de eficácia, as normas jurídicas não se comportam igualmente dentro do ordenamento jurídico. Na exaustiva classificação de Garcia Máynez,3 as normas jurídicas diferenciam-se pelo âmbito material e pessoal de validez, a hierarquia, a forma, as relações de complementação, a vontade das partes e as sanções. Há normas preceptivas e normas proibitivas, normas taxativas e normas dispositivas, normas constitucionais e normas ordinárias, normas primárias e normas secundárias.No domínio da Constituição, interessa particularizar a natureza da norma constitucional, que delimita o campo desta análise. A norma constitucional é a norma primária do ordenamento jurídico, ocupando o lugar mais elevado na pirâmide do sistema jurídico. É a norma fundamental do ordenamento jurídico. A posição hierarquicamente suprema da norma constitucional desencadeia a sanção da inconstitucionalidade, quando se verificar o conflito entre a norma fundamental e primária e as normas ordinárias e secundárias.
As normas centrais da Constituição Federal, participando das características da norma jurídica, designam um conjunto de normas constitucionais vinculadas à organização da forma federal de Estado, com missão de manter e preservar a homogeneidade dentro da pluraridade das pessoas jurídicas, dos entes dotados de soberania na União e de autonomia nos Estados-Membros e nos Municípios, que compõem a figura complexa do Estado Federal. As normas centrais não são normas de centralização, como as do Estado Unitário. São normas constitucionais federais que servem aos fins da participação, da coordenação e da autonomia das partes constitutivas do Estado Federal. Distribuem-se em círculos normativos, configurados na Constituição Federal, para ulterior projeção nas Constituições dos Estados. Nem sempre dispõem de aplicação imediata e automática. Identificam o figurino, o modelo
1 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porro Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1986, p. 1. 2 NAWIASKY, Hans. Teoria general del derecho. Madrid: Rialp, 1962, p. 30. 3 GARCIA MÁYNEZ, Eduardo. Introducción al estudio del derecho. México: Porrua, 1951, p. 74-75.

8
federal, para nele introduzir-se, posteriormente, o constituinte estadual, em sua tarefa de organização do Estado Federado. Não são normas inócuas. A infringência de normas dessa natureza, na Constituição do Estado ou na legislação estadual, gera a sanção da inconstitucionalidade.
As normas centrais são variáveis no tempo e no espaço. O federalismo clássico da sociedade liberal do século XIX, com sua fonte na Constituição norte-americana de 1787, alimentou-se em normais centrais restritas, assim a da forma de governo e de estado, a separação de poderes, a declaração dos direitos e garantias individuais. O federalismo contemporâneo dilatou o conteúdo das normas centrais, para abranger a formulação ampliada dos direitos fundamentais, as novas dimensões da repartição de competências e a incorporação da ordem econômica e social na Constituição. As transformações no federalismo constitucional brasileiro, alemão, austríaco, argentino, canadense, entre outros, no período sucessivo à segunda guerra mundial, exemplificam as mudanças introduzidas pelo tempo na concepção e na organização do Estado Federal.
Normas centrais podem ser localizadas nos diversos domínios do Direito Público e do Direito Privado, O objetivo desta exposição é o de relacioná-las com a Constituiçao Federal, provavelmente o campo originario de sua identificação terminológica, e particularizar no documento constitucional o aparecimento, a evolução e o conteúdo das normas centrais constitucionais.
2. NORMAS CENTRAIS E O FEDERALISMO NORTE-AMERICANO
A concepção kelseniana da comunidade jurídica total,4 que pressupõe os ordenamentos jurídicos parciais do Estado Federal, e sua unificação na visão normativa da Constituiçdo total, exprime uma visão inovadora do federalismo. O normativismo kelseniano conduziu à concepção formalista das três Constituições distintas dentro do ordenamento federal: a Constituição total, (Gesammtverfassung) a Constituição da União (Bund) e a Constituição dos Estados-Membros (Lander). Se o ordenamento jurídico federal não oferece esse conjunto de documentos constitucionais, a análise de Kelsen apresenta, todavia, aspecto positivo por ter despertado a atenção para a existência de normas centrais na Constituição Federal. O volume quantitativo das normas centrais é variável no tempo e no espaço. O federalismo clássico, representado pelo modelo norte-americano, que inaugurou, sob a égide da Constituição, o dual system de governo, foi infenso à revelação de normas centrais. A Constituiçao Federal de 1787, observam Wilfred Binkley e Macolm Moos, organiza o governo e suas agências. Nos Estados, no domínio dos poderes reservados, cada Constituição organiza o governo estadual. Esse dualismo governamental, no dizer dos mencionados autores, constitui a peculiar contribuição norte-americana para a ciência e a arte política. A irrelevância quantitativa de normas centrais, na Constituição norte-americana, explica a extensão material das Constituições dos Estados-Membros, que não foram afetadas pela Constituição Federal. A amplitude das Constituições dos Estados-Membros impressionou a James Bryce,5 que anotou o contraste entre a vastidão dos mencionados textos, vários deles originários das Cartas Coloniais anteriores, e a brevidade da Constituição Federal de 1787. Munro6 justifica a extensão dos textos constitucionais estaduais norte-americanos pelo carater muitas vezes regulamentar desses textos, ingressando no terreno de providências minuciosas.7
4 KELSEN, Hans, Teoria general del diritto e dello Stato. Milano: Comunità, 1952, p. 332. 5 BRYCE,James. La république américaine. Paris; Giard Briére, 1901, t. II, p. 22, 35, 43, 45, 58, 59, 61. 6 MUNRO, William B. The government of the United States. New York: Mac Millan, 1956, p. 615. 7 A amplitude das Constituições dos Estados-Membros é nota típica do federalismo norte-americano, que logo se apresenta ao leitor daqueles textos constitucionais. As Constituições dos Estados de Massachusett, Kentucky, Cobrado, Illinois, Washington e Carolina do Norte, por exemplo, estão publicadas, respectivamente, em exemplares de 75 páginas, corpo 10, entrelinhado; 39 páginas, corpo 10; 84 páginas, corpo 8, entrelinhado; 67 páginas, corpo 10; 81 páginas, corpo 6 e 27 páginas, corpo 8, entrelinhado.

9
A Constituição Federal norte-americana não preordenou o Estado-Membro e, ao contrário, até cuidou de dissimular esse propósito, quando resguardou a forma republicana de Governo. A Constituição não a impõe ostensivamente. Preferiu garanti-Ia aos Estados, na redação do artigo IV, Seção 4: The United States shall quarantee to every State in this Union a republican form of Government. Na Constituição norte-americana, as restritas normas constitucionais dirigidas aos Estados-Membros, como incipiente manifestação de normas centrais, possuem caráter negativo, para que os Estados se abstenham da prática de atos contrários ao sistema federal, ou assumam determinadas competências, salvo consentimento do Congresso. (Art. 1°, Seção 10, 1,2, 3).
3. NORMAS CENTRAIS NA CONSTITUIÇÃO DA ÁUSTRIA DE 1920
A Constituição Federal da Áustria, de 1° de outubro de 1920, cuja inovação no domínio da repartição constitucional de competências inaugurou novo perfil do federalismo, distinguiu-se, por direta influência de Keisen, pelo volume expressixo de normas centrais, em linha de concepção antagônica à da Constituição norte-americana. A Constituição austríaca regulou a organização do Poder Legislativo dos Estados-Membros (Landtage); ingressou na competência do constituinte estadual, para dispor sobre quorum de votação da lei constitucional do Lander (art. 99, II) estabeleceu a modificação da Constituição do Estado-Membro pela lei federal (art. 99, I); admitiu a dissolução da Assembléia Legislativa do Lander pelo Presidente da Federação (art. 100, I); disciplinou a organização do Poder Executivo Estadual (art. 101, I, II, III) determinou que o juramento constitucional do Presidente do Estado se fizesse perante o Presidente da Federação (art. 101, IV); a administração pública local tornou-se objeto de abundantes regras da Constituição Federal (arts. 115/119). É visível que, em determinados casos, as normas centrais acabaram devassando os negócios autônomos e nesses setores o Estado-Membro se desfigurou em Província descentralizada, apesar da Expressa declaração constitucional de que eles são Estados autônomos (Selbständige Länder).
A revelação das normas centrais na Constituição Federal, fazendo desta última a Constituição total do Estado Federal, intensificou-se na medida em que a organização do sistema federal de governo foi se afastando do modelo norte-americano, para inspirar-se no modelo europeu da Austria e da Alemanha, com repercussão no federalismo latino-americano.
4. NORMAS CENTRAIS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E O MODELO EUROPEU
A diversidade organizatória recebeu o contraste do princípio da homogeneidade, que, na expressão de Carl Schmitt,8 dissolve as antinomias dentro da Federação. Para preservar a diversidade dentro da homogeneidade, a autonomia do Estado-Membro passa a receber normas centrais crescentes no texto da Constituição Federal. As normas dos direitos e garantias fundamentais, as normas de repartição de competências, as normas dos Direitos Políticos, as normas de preordenação dos poderes do Estado-Membro, as normas dos princípios constitucionais enumerados, - forma republicana sistema representativo, regime democrático, autonomia municipal, direitos da pessoa humana - as normas da administração pública, as normas de garantias do Poder Judiciário e do Ministério Público, as normas - princípios gerais do Sistema Tributário, as normas de limitação e de instituição do poder tributário, as normas - princípios gerais da atividade econômica, as normas da Ordem Social, constituem os centros de irradiação das normas centrais da Constituição que, no federalismo brasileiro de 1988, se projetaram na modelagem e conformação da autonomia do Estado-Membro, com incidência na atividade constituinte, na atividade legislativa, na atividade administrativa e na atividade jurisdicional do Estado Federado.
A norma central da repartição de competências, que encerra a chave do federalismo constitucional, age com intensidade diversa sobre a autonomia do Estado-Membro. É
8 SCHMITT, Carl. Teoria de la Constitución. Madrid: Editorial de Derecho Privado, p. 432.

10
instrumento de limitação, quandoexclui da área estadual as matérias confiadas à União. É impulsionadora da autonomia quando, na técnica preferida pelo federalismo clássico, assegura aos Estados-Membros o campo dos poderes reservados, ou, como ocorre na fase do federalismo contemporâneo, igualmente propicia o ingresso do Estado-Membro nos domínios da legislação concorrente, de modo a compensar o retraimento dos poderes reservados, a partir da expansão dos poderes enumerados da União.
5. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E CONSTITUIÇÃO TOTAL
A transformação da Constituição Federal em Constituição total envolveria procedimento patológico e anormal, que suprimiria a razão de ser da repartição e aboliria o Estado Federal. A Constituição total, no sentido em que preconizamos o emprego do termo, deve ser entendida como a identificação do conjunto das normas centrais, selecionadas pelo constituinte, para ulterior projeção no Estado-Membro, sem organizá-lo integralmente. A Constituição total é segmento da Constituição Federal e não dispõe de existência formal autônoma, fora da norma fundamental da Federação.
6. FEDERALISMO DE EQUILÍBRIO E NORMAS CENTRAIS
A introdução de normas centrais da Constituição Federal no domínio da Constituição do Estado Federado, no exercício da atividade constituinte, converte o ordenamento constitucional do Estado em ordenamento misto na sua composição normativa, uma parte provindo do poder autônomo de auto-organização e a outra resultando da transposição das normas centrais da Constituição Federal, para o campo normativo da Constituição Estadual Salvo na hipótese de normas centrais da Federação - direitos fundamentais, separação de poderes, forma de Governo e de Estado - que independem de transposição normativa e são dotadas de imediatidade - as normas centrais de outra natureza reclamam atividade do órgão constituinte estadual, para integração dessas normas na organização constitucional do Estado. É competência do constituinte estadual a atividade de transplantação das normas centrais que devem integrar a organização do Estado e do Município. A inércia, caracterizando descumprimento de preceito fundamental, configura omissão corrigível pelo Supremo Tribunal Federal. (Constituição, art. 102, parágrafo único).
O equilíbrio na dosagem do volume das normas centrais da Constituição Federal tem o relevo de condição essencial, para assegurar a organização e o funcionamento do complexo sistema federal de Estado. O retraimento extremado na concepção de normas centrais tende a refluir a organização do Estado ao esquema confederativo, com sacrifício dos poderes da União. A pletória adoção de normas centrais tende a infletir a concepção federal no rumo do esquema normativo unitário, com negação da autonomia organizatória do Estado.
O federalismo de equilíbrio, que superou o federalismo centrífugo de escassas normas centrais e o federalismo centrípeto de pletóricas normas centrais, corresponde à forma de organização apta a assegurar, contemporaneamente, o desenvolvimento das normas centrais da Constituição Federal, dentro de concepção equidistante de modelos extremados.
RAUL MACHADO HORTA
Professor Catedrático e Emérito da Faculdade Direito da Universidade Federal de Minas Gerais.
Como citar este artigo:
HORTA, Raul Machado. Normas Centrais da Constituição Federal. Belo Horizonte: Editora: Del Rey, 2002, p. 283 à 288 – Capítulo 7. Material da 1ª aula da disciplina Organização do Estado, ministrada no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu TeleVirtual em Direito Constitucional– Anhanguera-UNIDERP | REDE LFG.

11
FORMAS SIMÉTRICAS E ASSIMÉTRICAS DO FEDERALISMO NO ESTADO MODERNO
Sumário
1. Estado moderno, Constituição e Federalismo. 2. Características do federalismo simétrico. 3. Pluralidade das formas federais. 4. Identificação do federalismo assimétrico nas Constituições Federais da Áustria, Índia, Canadá, Bélgica, Suíça, México, Alemanha, Argentina e Brasil. 5. Estado Federal, Comunidades de Estados e federalismo continental.
1. ESTADO MODERNO, CONSTITUIÇÃO E FEDERALISMO
O federalismo concebido como forma de organização do poder político é criação do Estado Moderno e se vincula ao processo de estabelecimento da Constituição escrita, a partir do século XVIII. No início, a estrutura constitucional do Estado Federal apareceu inominada no texto da Constituição, como se deu na Constituição nrte-americana, de 1787, que criou a forma estatal sem identificação nominal. Posteriormente, na Constituição da Argentina, de 1853 (art. 1°), na Constituição do Império Alemão, de 1871, na Constituição da Suíça, de 1874 e na Constituição do Brasil, de 1891 (art. 1°), o Estado Federal (Bundesstaat) recebeu denominação constitucional, que passa a identificar as Constituições Federais no quadro do constitucionalismo moderno e contemporâneo. Estado Moderno, Constituição e federalismo, que tiveram origem comum nas idéias filosóficas e políticas dos séculos XVIII e XIX, permaneceram indissociáveis nos modelos constitucionais do século XX e tendem a ingressar nas formas políticas do terceiro milênio, ressalvadas as adaptações que advirão do tempo e da evolução das instituições.
2. CARACTERÍSTICAS DO FEDERALISMO SIMÉTRICO
O federalismo simétrico pressupõe a existência de características dominantes, que servem para deferi-lo do federalismo assimétrico, de certo modo infenso, este último, a uma sistematização rigorosa. Se utilizarmos a caracterização lógico-formal de Kelsen para demonstração de nosso raciocínio, o federalismo simétrico corresponderá a uma estrutura normativa, distribuída em planos distintos, que identificam a concepção federal e assinalam sua autonomia no conjunto das formas políticas. Projeta na concepção de Kelsen9 a simetria federal, dentro de tipolga constante, envolve a existência de ordenamento jurídico central, sede das normas centrais do Estado Federal e de ordenamentos jurídico parciais, responsáveis pelas normas federais da União e as locais dos Estados-Membros organizados e comanda- dos pela Constituição Federal na função de Constituição total, fonte da repartição de competências, que alimenta o funcionamento do ordenamento central e dos ordenamentos parciais. O esquema normativo assim descrito é constante e regular, compondo a estrutura normativa do federalismo simétrico. A reprodução posterior desse esquema normativo-ordenamento jurídico central, ordenamentos jurídicos parciais, Constituição Federal - na Constituição jurídico-positiva conduz ao modelo de federalismo simétrico, partindo da representação teórica e formal.
A visão analítica dos ordenamentos reais, como eles existem, concretamente, nas formas históricas de Estado Federal, modeladas pela respectiva Constituição Federal, permite identificar as características do federalismo simétrico, dentro de modelo constante. Essas particularidades, extraídas da construção constitucional, em processo cumulativo de
9 KELSEN, Hans. Teoria generale del diritto e delle stato. Comunità, 1952, p. 332.

12
experiências sucessivas, ao longo da existência da forma federal, autorizam conceber como tipo concreto de federalismo simétrico aquele que decorrer da introdução na respectiva Constituiço Federal dos seguintes instrumentos, órgãos e técnicas: a composição do Estado, a repartição de competências entre o Governo Central e os Governos Locais, abrangendo legislação e tributação, a intervenção federal nos Estados-Membros, para preservar a integridade territorial, a ordêm pública e os princípios constitucionais da Federação, o Poder Judiciário dual, repartido entre a União e os Estados, distribuído entre Tribunais e Juízes, assegurada a existência de um Supremo Tribunal, para exercer a função de guarda da Constituição, aplacar dissídios de competências e oferecer a interpretação conclusiva da Constituição Federal, o poder constituinte orignário, com sede na União, o poder constituinte derivado dos Estados-Membros, fonte da auto-organização e da autonomia desses ordenamentos parciais, a oganização bicameral do Poder Legislativo Federal, obediente ao princípio da representação do povo na Câmara dos Deputados e a da representação dos Estados no Senado federal ou órgão equivalente. A reunião desses elementos individualiza o federalismo simétrico, dotado de homogeneidade e de permanência, nos quadros do constitucionalismo contemporâneo. Esses elementos, que servem para configurar o federalismo simétrico, como tipo representativo de organização federal, não operam a redução do federalismo a um tipo exclusivo, a um modelo constitucional unitário. A norma organizatória não escapa aos efeitos das mudanças e das transformações que decorrem do funcionamento real das instituições federais. As regras jurídicas evoluem com a interpretação que recebem nos órgãos judiciários e na doutrina e, também, pela influência da atividade política dos órgãos legislativos e dos grupos sociais.
3. PLURALIDADE DAS FORMAS FEDERAIS
O federalismo simétrico não é solução totalitária do federalismo único, do federalismo de uma só dimensão. A simetria federal é formada pela reunião das características dominantes do modelo. A disposição dessas características na Constituição é variável no tempo e no espaço. Essa variedade é inerente à plástica do federalismo. A natureza híbrida e mista do federalismo ficou acentuada no Comentário clássico à Constituição norte-americana, formulado por Hamilton, Jay e Madison, no período da ratificação do texto de 1787, na origem da forma federal de Estado. O aspecto compósito do Estado Federal foi encarecido por Madison,10 no Comentário XXXIX do “Federalista”, quando esclareceu que a Constituição proposta em 1787 não é, estritamente, nem uma Constituição Nacional, isto é, unitária, nem uma Constituição Federal; é uma combinação dessas Constituições. Nas suas bases, aduzia Madison, a Constituição é federal e não nacional ou unitária; nas fontes dos poderes ordinários do governo, a Constituição é parcialmente federal e parcialmente unitária ou nacional. No exercício e na extensão de seus poderes, a Constituição é nacional ou unitária e não federal. Dentre os publicistas modernos, Carré de Malberg11 prestigia, com sua autoridade, a concepção da natureza dual do federalismo, observando que na Constituição Federal convivem o princípio unitário e o princípio federal. O Estado Federal é, simultaneamente, um Estado e uma Federação de Estados. A sobrevivência unitária é que explica, consoante Carré de Malberg, a tendência dos Estados Federais no rumo da centralização e do “estatismo”, lembrando o Professor da Universidade de Strasbourg que esta última expressão - “estatismo” - é a do agrado dos Suíços.
O particularismo que reside na natureza mista do ordenamento jurídico federal projetou-se na pluralidade e na diversidade das formas federais de Estado. A pluralidade vincula-se à variedade dos sitemas federais e a diversidade identifica soluções federais específicas, localizadas nos ordenamentos constitucionais do federalismo contemporâneo, que se propagaram pela América, Europa, Asia, Africa e Oceania. Em todas essas áreas continentais, com maior ou menor intensidade, atuam as duas tendências que distinguem a estrutura 10 MADISON, James, HAMILTON, Alexander et al. The federalist or the new constitution. Oxford, 1948, p. 195-196. 11 MALBERG, Carré de. Contribution à Ia théorie générale de I’Etat. Paris: Recueil Sirey. 1920, p. 102.

13
federal: a tendência à unidade e a tendência à diversidade, que o Professor Garcia Pelayo12 qualificou de “unidade dialética de duas tendências contraditórias”. A riqueza de suas formas, a pluralidade das soluções oferecidas nos textos constitucionais e o dinamismo de seu funcionamento concreto, convergem para o domínio das “múltiplas visões do federalismo”, analisadas por Georges Burdeau,13 em seu monumental Traité de Science Politique.
A pluralidade das soluções federais pode ser exemplificada no tratamento que a intervenção federal recebeu em modelos do federalismo contemporâneo, como os Estados Unidos, a Argentina, o México e o Brasil. As Constituições dos Estados Unidos, de 1787, da Argentina, de 1853 e suas reformas e a do México, de 1917 cuidaram de prever a intervenção federal em regras restritas e sóbrias, traduzindo o respeito, a autonomia do Estado-Membro, princípios fundamentais da organização federal. No Brasil, a sobriedade normativa da Constituição de 1891, excepcionando a intervenção para casos limites, no art. 6° do texto originário, ampliou-se nas dimensões alargadas da intervenção, a partir da reforma constitucional de 1926. Os quatro casos do texto originário de 1891, contemplando exceções à regra da não intervenção nos Estados, receberam a dilatação dos dezesseis casos, introduzidos pela reforma de 1926. A amplitude da intervenção federal tornou-se generalizada nas Constituições Federais do Brasil, de 1934, 1946, 1967 e 1988. Por outro lado, a sobriedade do instituto, tal como adotado na Constituição, de 1891, na linha da Constituição dos Estados Unidos (art. 4, Seção IV), da Argentina (art. 6) e do México (art. 122), não impediu a transposição das limitações constitucionais dos casos excepcionais, para oferecer o contraste entre o mínimo da intervenção normativa na Constituição e o máximo da intervenção real no funcionamento do sistema federal. O presidencialismo uni-pessoal da Primeira República, favorecido pelo sistema do Partido dominante no Congresso, em versão praticamente monopartidária, subverteu os fundamentos federais da intervenção federal, para convertê-la em poderoso instrumento de dominação política.
A diversidade na organização constitucional do federalismo pode ser ampliada às outras regras que compõem a estrutura normativa do federalismo simétrico. É o que se pode evidenciar, por exemplo, no domínio da repartição de competência. O modelo clássico dos poderes enumerados da União e dos poderes reservados aos Estados, que se fixou, originariamente, na Constituição dos Estados Unidos (art. 1, Seção VIII), para os poderes enumerados da União e na Emenda 10, de 1791, para os poderes reservados aos Estados, posteriormente incorporados, por recepção, às Constituições Federais da Argentina (1853), do Brasil (1891), do México (1917) e da URSS (Constituição de 1936, arts. 14 e 15), recebeu substancial inovação na Constituição Federal da Austria, de 1920 e na Lei Fundamental da Alemanha, de 1949. O modelo clássico da repartição de competências, ainda preservado na Constituição Federal Brasileira de 1988 (arts. 21, 22, 25, 1°), convive com o modelo contemporâneo da repartição de competências, originário do federalismo alemão, que se projetou na vigente Constituição Federal, responsável pela convivência dos poderes enumerados, dos poderes reservados e dos poderes mistos, incorporados, esses últimos, ao campo da legislação concorrente da União e dos Estados (art. 24, I até XVI).
A diversidade de organização, acolhida nos odenamentos federais, de modo geral, confere tratamento peculiar às regras e às técnicas que identificam o federalismo simétrico. É nessa diversidade que reside a vitalidade do federalismo e a atração que o sistema federal exerce na concepção de formas organizatórias mais avançadas, no plano supra-estatal das Comunidade e no espaço territorial mais amplo das federações continentais.
4. IDENTIFICAÇÃO DO FEDERALISMO ASSIMÉTRICO NAS CONSTITUIÇÕES FEDERAIS DA ÁUSTRIA, ÍNDIA, CANADÁ, BÉLGICA, SUÍÇA, MÉXICO, ALEMANHA, ARGENTINA E BRASIL
Rupturas nas linhas definidoras do federalismo simétrico podem gerar formas anômalas de federalismo, ingressando na figura do federalismo assimétrico. Essas rupturas tanto podem 12 GARCIA-PELAYO, Manuel. Derecho constitucional comparado. Madrid: Alianza, 1984, p. 218. 13 BURDAU, Georges. Traïté de science politique. 2. ed., Paris: LGDJ, 1967, t. 2, p. 476.

14
consistir em deformações no estilo e nas regras federais, em razão do funcionamento do sistema federal, como em criações novas, estranhas ao conjunto identificador do federalismo simétrico. O federalismo assimétrico poderá localizar-se no fenômeno fático, por deformação de institutos federais, como no ato autônomas, oferecidas pela norma jurídica. No primeiro caso, a deformação fática do federalismo poderá advir a utilização permanente de técnica revista para casos excepcionais. Foi o que se deu no federalismo brasileiro, e 1891, quando a intervenção federal, regra do sistema, para uso excepcional, converteu-se em instrumento de uso frequente, comprometendo a autonomia do Estado-Membro, violada nas intervenções políticas do presidencialismo monárquico. O federalismo anômalo advirá sempre de deformações e de abuso no funcionamento das instituições, operando mutações na concepção constitucional.
O federalismo assimétrico não deixa de ser forma anômala, se confrontado com o federalismo simétrico. A anomalia do federalismo assimétrico, para a concepção que estamos desenvolvendo nesta exposição, não se limita à manifestação do fenômeno fático. Pressupõe a criação normativa, a existência de regra no ordenamento jurídico federal, em contraste com os fundamentos normativos do federalismo simétrico. As normas assimétricas, embora de incidência parcial, podem alterar profundamente a estrutura do federalismo simétrico. Não conhecendo Constituição Federal totalmente assimétrica, é possível, entretanto, localizar regras assimétricas no corpo de Constituição Federal.
A Constituição de Reino da Bélgica, de 1831, recebeu, em 1993, profunda modificação decorrente de Emenda, que transformou a Monarquia unitária em Monarquia federal, assinalando o ingresso da Bélgica no conjunto contemporâneo dos Estados Federais. O federalismo belga perfilhou exigências de nação culturalmente complexa, na qual convivem comunidades etnicamente distintas, preservando suas línguas e suas tradições, as comunidades francesa, flamenga e germânica, as regiões Valona e Flamenga. As peculiaridades históricas e linguísticas foram integradas no Estado Federal, realizando finalidade que torna essa forma de Estado a solução adequada ao pluralismo cultural e às diversidades das nações complexas. A adoção do Estado Federal na Bélgica é acontecimento de extraordinária relevância no quadro universal do federalismo contemporâneo e serve para contraditar as vozes pessimistas de pregoeiros, aqui e ali, do declínio do federalismo como forma de organização territorial, política e constitucional do Estado moderno. Feita essa ressalva, para assinalar a importância do federalismo belga, parece-nos que a reforma de 1993 consagrou modalidade do federalismo assimétrico, quando introduziu a Comunidade e as Regiões na configuração do Estado Federal, como se lê no atual art. 1º da Constituição reformada. O Estado Federal, para reproduzir a lição irretocável de Carré de Malberg,14 não é uma federação de quaisquer coletividades. Ele é uma Federação de Estados. Comunidades e Regiões na composição de Estado Federal sugerem sobrevivência do regionalismo e a presença de estrutura identificadora do Estado Regional. O art. 1° da Constituição da Bélgica contempla forma do federalismo assimétrico na federação de Comunidades e de Regiões.
Nas Constituições da Suíça, de 1874, e do México, de 1917, a atribuição de soberania aos Cantões (art. 1°) e aos Estados (art. 40) introduz assimetria nos respectivos sistemas federais. Soberana, como se sabe, é a União. Os Estados e os Cantões são autônomos. A soberania recorda a experiência pretérita na fase confederativa, como ocorreu na Suíça. No caso da Suíça, Jean François Aubert,15 esclareceu que a soberania mencionada nos arts. 1°, 3º e 5º da Constituição é uma concessão verbal feita à suscetibilidade dos Cantões. No tocante ao México, Ignacio Burgoa16 identificou na soberania dos Estados uma ficção jurídico-política e uma inexatidão manifesta do texto constitucional de 1917.
14 6 MALBERG, Carré de. ob. cit., p. 123. 15 AUBERT,Jean François. Traité de droit constitutionnel suisse. Neuchatel: Ides et Calendes, 1967,v. 1, p. 224. 16 BURGOA, Ignacio. Derecho constitucional mexicano. México: Porruá, 1973, p. 519.

15
A representação internacional do Estado Federal, para celebrar tratados, convenções ou atos que repercutem nas relações supra-estatais, constitui prerrogativa soberana da União Federal, com a exclusão do Estado-Membro. As mudanças ocorridas nas relações internacionais, em razão da formação de Comunidades, vêm alterando a concepção clássica, para converter em regra do federalismo assimétrico as normas reguladoras de novas competências. A Lei Fundamental de Bonn, adaptando o texto de 1949 ao Tratado de Maastrich, prevê a assunção pelos Länder de direitos da República Federal, na qualidade de membro da União Européia, quando estiver em causa o exercício da competência legislativa exclusiva dos Länder (art. 23, VI). Outra competência que adveio da celebração do Tratado de Maastrich é a que confere aos Länder a condição de colaboradores na legislação, na administração e nas questões relativas à União Européia (art. 50). No texto da Lei Fundamental, em precedência à formação da União Européia, já se concedia aos Länder, nos limites de sua competência legislativa, a faculdade de estipular tratados com Estados estrangeiros, mediante o consenso do Governo Federal (art. 32, III).
A reforma constitucional de 1994 alinhou a Constituição da Argentina no grupo que favorece a introdução dos Estados-Membros, diretamente, no campo das relações internacionais, abandonando a posição clássica que desconhecia esse relacionamento direto. No art. 124, na redação que resultou da reforma de 1994, a Constituição faculta às Províncias celebrar convênios internacionais, desde que não sejam incompatíveis com a política exterior da Nação e não afetem as faculdades delegadas ao Governo Federal ou o crédito público da Nação.
A novidade dessa presença do Estado-Membro no domínio das relações internacionais, que tende a expandir-se a outros ordenamentos federais, contrastando com a regra da competência privativa da União, para a representação internacional da Federação, configura prática do federalismo assimétrico. Prática que o futuro poderá incorporar ao modelo do federalismo simétrico, não só pela sua propagação, como, também, pela coincidência entre a regra da competência internacional do Estado-Membro e as novas dimensões do federalismo no estágio das Comunidades.
O federalismo brasileiro atingiu sua fase de amadurecimento na Constituição de 1988. O texto aprimorou a repartição de competências, que é a peça fundamental do sistema, pelo desenvolvimento conferido à legislação concorrente, que comporta a atividade legislativa da União e do Estado sobre idêntica matéria, observadas as regras constitucionais. Abriu aos Estados, mediante lei complementar federal, o ingresso na ampla competência de legislação privativa da União. Implantou mecanismos do federalismo cooperativo no plano financeiro da repartição tributária e nas relações intergovernamentais, para alcançar o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar nacional.
A consolidação do federalismo constitucional, representando o coroamento de mais de um século de funcionamento do sistema, em sucessão de cinco Constituições Federais, não eliminou o afloramento de regras do federalismo assimétrico, comprometendo as linhas sistemáticas do federalismo simétrico. Expressão do federalismo assimétrico da Constituição reside na regra que introduziu o Município na composição da República Federal, no art. 1º da Constituição, reiterada na enumeração das pessoas jurídicas que integram a organização político-administrativa da República (art. 18). O Estado Federal, já recordamos nesta exposição, não é constituído pela associação de quaisquer coletividades. O Estado Federal é uma federação de Estados e não, de Estados e Municípios. A Consituição Brasileira consagrou assimetria que não obteve adoção em outro texto do federalismo

16
constitucional contemporâneo. Outra regra constitucional assimétrica é a do artigo 18, na parte em que qualifica a União de ente autônomo, por equiparação aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios - todos autônomos –na linguagem do texto constitucional. A autonomia é atributo dos Estados, para qualificar seu poder de auto-organização, de auto-adiministração e de auto-legislação. A União, que detém a representação internacional do Estado brasileiro, para manter relações com Estados estrangeiros, participar de organizações internacionais, declarar a guerra e fazer a paz (Constituição Federal, art. 21, I, II), no exercício de competência impartilhável, é titular da soberania e dos poderes soberanos da Federação. A distinção entre soberania da União ou do Estado Federal e a autonomia dos Estados-Membros tornou-se fundamento esclarecedor da natureza jurídica do Estado Federal, para diferenciá-lo da Confederação e do Estado Unitário, no domínio das formas políticas. Na lição clássica de Jellinek17 “os Estados-Membros do Estado Federal não são soberanos”. Soberano é o Estado Federal, constituído pela pluralidade de Estados não soberanos.
A Constituição Federal, de 1988, preservou o poder de auto-organização dos Estados, vinculado à elaboração da Constituição e das leis que adotarem e às competências reservadas, submetido seu exercício aos princípios da Constituição (art. 25, § 1°). As regras do art. 25 e seu § 1° consagram, explicitamente, a autonomia constitucional e a autonomia legislativa dos Estados e as submetem às limitações que dimanam da Constituição, no campo genérico de seus princípios. As limitações recaem, desde logo, na composição da Assembléia Legislativa (art. 27), na duração do mandato, na aplicação aos Estados de numerosas regras da Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos, incorporação às forças armadas (art. 27, § 1°) e remuneração dos Deputados Estaduais (art. 27, § 2°). São regras de pré-ordenação do Poder Legislativo do Estado, que vão impor normas de mera reprodução no texto da Constituição Estadual. O poder de auto-organização administrativa experimenta a redução de sua autonomia pela aplicação das volumosas regras da Constituição Federal sobre administração pública direta, indireta ou fundacional (arts. 37, I, até XXI, § 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 39, 40, 41, 42), alcançando poderes do Estado, para gerar a edição de normas de reprodução na Constituição Estadual. A inclusão dos Tribunais e Juizes dos Estados (art. 92, VII) entre os órgãos do Poder Judiciário Federal, introduz na Constituição do Estado abundantes normas de reprodução, dotadas de irrecusável imperatividade. A limitação ao poder de auto-organização ampliou-se nas regras aplicáveis aos Tribunais e Juízes dos Estados, adotados em seção destacada (arts. 125, 126). O tratamento dispensado ao Ministério Público dos Estados, igualmente destinatário das normas constitucionais aplicáveis ao Ministério Público Federal (art. 128, I, II, 5°, I), envolve limitação ao poder de auto-organização do Estado. A reunião das regras, que se encontram disseminadas no texto da Constituição, configurando princípios nela estabelecidos, demonstra a extensão das limitações ao poder de auto-organização e a expansividade do federalismo assimétrico na Constituição Federal, de 1988.
5. ESTADO FEDERAL, COMUNIDADES DE ESTADOS E FEDERALISMO CONTINENTAL
A análise das manifestações do federalismo assimétrico evidencia a vitalidade do federalismo, que não se apresenta sob modelo único. As formas de sua organização são variáveis no tempo e no espaço. O federalismo do século passado não é o mesmo federalismo de nossos dias. O federalismo norte-americano, matriz da forma federal, não é idêntico ao federalismo alemão de 1949. Não obstante, os elementos comuns - Constituição Federal, autonomia dos Estados, bicameralismo, repartição de competências - a técnica de organização e os instrumentos de funcionamento asseguram a permanência das peculiaridades do federalismo alemão e do federalismo norte-americano. O federalismo centrífugo e o federalismo centrípeto, formas unilaterais, foram ultrapassadas pelo federalismo cooperativo das relações inter-governamentais. A repartição dual de competências, retratada no modelo
17 JELLINEK, G. La Dottrina generale del diritto e dello stato. Milão: Giuffrè, 1949, p. 290-291.

17
dos poderes enumerados e dos poderes reservados, recebeu ampliação nas novas dimensões dessa técnica tradicional, para incorporar os poderes mistos, objeto de atividade legislativa da União e dos Estados, em matéria comum, conforme exercício regulado na Constituição.
Os Estados multinacionais e os grandes espaços territoriais reclamam a solução federal, para manter o convívio das nações culturalmente diversificadas e o exercício do poder nos territórios continentais. Já se disse que o federalismo não é exclusivamente um processo estrutural, um conjunto de nornas de organização e de competências. É também, um processo histórico e dinâmico. O processo de federalização tende a ultrapassar o Estado Nacional para projetar-se nas Comunidades. O federalismo do Estado está evoluindo na direção do federalismo continental das Comunidades de Estados. Não estamos contemplando o fim do Estado Federal. Ao contrário, somos testemunhas do renascimento do federalismo no Mundo.
RAUL MACHADO HORTA
Professor Catedrático e Emérito da Faculdade Direito da Universidade Federal de Minas Gerais.
Como citar este artigo:
HORTA, Raul Machado. Formas Simétricas e Assimétricas do Federalismo no Estado Moderno Direito Constitucional. Belo Horizonte: Editora: Del Rey, 2002, p. 491 à 499 – Capítulo 8. Material da 1ª aula da disciplina Organização do Estado, ministrada no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu TeleVirtual em Direito Constitucional– Anhanguera-UNIDERP | REDE LFG.