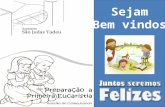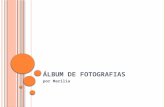Handout LEFOG - 1º Encontro
-
Upload
pilastreunb -
Category
Education
-
view
675 -
download
3
description
Transcript of Handout LEFOG - 1º Encontro

1
Universidade de Brasília. Instituto de Letras - IL Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas – LIP Programa de Pós-Graduação em Linguística – PPGL Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) Laboratório de Estudos Formais da Linguagem – LEFOG.1 2º semestre de 2012 Supervisão: Profa. Dra. Rozana Reigota Naves – Orientadora ([email protected]) Condução: Bruno Pilastre de Souza Silva Dias – Doutorando ([email protected]) 22 de novembro de 2012 Tema do semestre: Classes e Categorias em Português Referência bibliográfica básica: DUARTE, Paulo Mosânio Teixeira; LIMA, Maria Claudete. Classes e Categorias em Português. Fortaleza: Edições UFC, 2000.2 PARTE I – A TRADIÇÃO CLÁSSICA 1. INTRODUÇÃO
Grécia: Platão e Aristóteles – base filosófica. Discutiam a linguagem em termos de categorias. Estoicos.
Dionísio de Trácia e Apolônio Díscolo (retoma em parte o legado filosóficos) � relacionados à tradição gramatical. Mundo latino: Prisciano � doutrina teve importância na Idade Média. Varrão. Medievo: continuação da tradição greco-latina. Conjugação das doutrinas de Prisciano (seguidor de Apolônio Díscolo) ao ensinamento de Santo Tomás de Aquino.
2. LEGADO HELÊNICO 2.1 As classes de palavras no âmbito filosófico Platão: discurso reúne nomes e verbos (onómata e rhémata), através dos quais se espelharia o vinculo entre agente e ação. Aristóteles: além de nomes e verbos, acrescenta a categoria das conjunções (sýndesmoi), a qual abrangia o que posteriormente se chamou conjunção, artigo e pronome e, possivelmente, a preposição. Reconheceu a categoria de caso (cf. página 16). Também reconheceu a categoria de tempo. Estoicos: quatro partes do discurso: nome, verbo, conjunção e artigo. Reconheceram a existência de três gêneros (introduzindo o termo técnico oudéteron para designar o neutro). 2.2. As classes de palavras no âmbito gramatical Dionísio da Trácia: oito partes do discurso (inspiradas em Aristarco): nome, verbo, particípio, artigo, pronome, preposição, advérbio e conjunção. Reconhecia as propriedades acidentais, quando era cabível. Exemplos de acidentes (do nome): gênero, número e caso; o tipo (primitivo e derivado) e a forma (simples e composta). Apolônio: abriu espaço para os estudos sintáticos. Colocou as partes do discurso sob a égide da sintaxe. Seu ensinamento teve repercussão no pensamento linguístico medieval. Distinção das classes: nome e verbo, particípio, artigo, pronome, preposição, advérbio e conjunção. 2.3. As contribuições dos gramáticos latinos Prisciano: estabelecimento de formas básicas: nominativo singular para o nome; 1ª pessoa do singular do presente do indicativo na voz ativa para o verbo. Não separava flexão de derivação. Oito classes (com seus acidentes: gênero, número, caso etc. – em conformidade com Dionísio e Apolônio): nome, verbo, particípio, pronome, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Varrão (De Língua Latina): declinatio naturalis (flexão) e declinatio voluntaria (derivação). Declinatio naturalis: flexão de caso (nomes), flexão de tempo (verbo); particípios (ambas as flexões); palavras sem flexão de caso e de tempo (advérbios e conjunções). Distinção entre as noções de tempo e aspecto. 2.4. O legado clássico no medievo Estudo das classes de palavras, das categorias e da noção de acidente com base no legado clássico (Santo Tomás de Aquino e Prisciano). Gramáticos modistas. Separam o tipo e a forma dos demais acidentes. Distinguiam dois modos de ser fundamentais: modos de compreender (dizem respeito à relação entre o pensamento e as coisas) e modos de significar (dizem respeito à relação entre a linguagem e as coisas). O ideário clássico se impôs no medievo, onde foi devidamente adaptado, em consonância com o substrato ideológico enfeixado no tomismo.
1 Acesse: facebook.com/lefog2012 ● twitter.com/lefog2012 ● lefog2012.blogspot.com 2 Disponível na pasta “Laboratório de Estudos da Gramática”, na copiadora LM.

2
PARTE II – CLASSES E CATEGORIAS EM GRAMÁTICAS DE LÍ NGUA PORTUGUESA 3. INTRODUÇÃO Renascimento: a orientação dos estudos para as línguas nacionais se firma. Surgimento das gramáticas de Fernão de Oliveira (Gramática da Linguagem Portuguesa) e João de Barros (Gramática da Língua Portuguesa). João de Barros: procedeu ao estudo das classes vocabulares (considerando os acidentes). Nome e verbo como as partes principais da oração. Classes de menor importância: pronome, advérbio, particípio, artigo, conjunção e interjeição.3 Atribuição de caso aos nomes (influência greco-latina). Século XVII (Iluminismo) reação ao modelo gramatical latino, com Barbosa (1871).4 Duas partes para qualquer gramática: uma de natureza mecânica; outra de natureza lógica. Adjetivo: determinativos (artigos, pronomes pessoais, os demonstrativos de quantidade (hoje denominados pronomes indefinidos e numerais)), explicativos e restritivos (estes dois últimos abrangiam o que entendemos hoje por qualificativos). Verbo ser � natureza substantiva. Advérbios: não constituem classe autônoma. Substantivos: primitivos e derivados; simples e compostos. Júlio Ribeiro e João Ribeiro: visão diacrônica da língua, refletida principalmente no estudo da estrutura e formação de palavras. 4. DAS GRAMÁTICAS HISTÓRICAS AO ANTEPROJETO DA NGB Gramáticas que antecedem o Anteprojeto da NGB (orientação historicista, refletida nitidamente num estudo de estrutura e formação de palavras). Ribeiro (1911): reconhece a lexiologia (estudo da palavra quanto aos elementos sonoros e mórficos). Quanto ao elemento mórfico: taxeonomia (classificação vocabular); kampenomia ou ptoseonomia (acidentes gramaticais).5 Ribeiro (1983): lexiologia, dividida em: morfologia e taxinomia.6 Pereira (1943): morfologia como domínio subdivido em: taxeonomia (estudo das classes e seus acidentes) e etimologia (origem e formação do léxico).7 Maciel (1914): lexiologia (morfologia, taxonomia e ptseonomia).8 Confusão terminológica pré-NGB. Nasce a NGB. Objetivos: estabelecer uma certa ordem que atendesse a finalidades pedagógicas, unificasse as terminologias com base em critérios científicos. Anteprojeto NGB: além das dez classes vocabulares hoje conhecidas, propunha uma classe de partículas e locuções. Divergências. Resultado: soma de opiniões, não uma síntese. “Adoção de uma postura política e não científica, tirando-se a média entre os pareceres de gregos e troianos” (Biderman, 1978). Portaria Ministerial de 28/01/1959 (institui a Nomenclatura Gramatical Brasileira): as classes de palavras permaneceram dez. 5. A NGB E AS GRAMÁTICAS SUBSEQUÊNTES: AS CLASSES VOCABULARES NGB: dez classes de palavras a serem tratadas no domínio da morfologia: seis variáveis (substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral e verbo) e quatro invariáveis (preposição, conjunção, advérbio e interjeição). Questionamento: (i) enquadramento de algumas classes no setor morfológico, como as invariáveis e (ii) inclusão da interjeição. Problema das definições: não coincidem em muitos casos. Exemplo: página 27 (Cunha, 1983). Imprecisão conceitual: o que é classe em dado momento passa a ser subclasse em outro (por exemplo, a conceituação de numeral, página 28). Há uma mistura de critérios (morfológico, semântico e sintático). Pronome substantivo e pronome adjetivo � ora o substantivo e o adjetivo são classes, ora subclasses, enfocadas sob o aspecto sintático. O caso dos advérbios: dois critérios, sintático e semântico. O caso dos artigos: ausência de definição. Inexatidão da definição: os pronomes (a definição de Cunha (1983) enfatiza somente o caráter substitutivo do pronome, e não sua natureza mostradora, isto é, dêitica). Síntese: o problema da classificação vocabular permanece na NGB e nas gramáticas que a ela, de algum modo, se filiam. Isto se deve, ora à adoção de critérios semânticos vagos, ora à mistura de critérios (advérbio), ora à tautologia (artigo), ora à inadequação da definição (pronome).
3 Acidentes do nome e acidentes do verbo: cf. página 23. 4 Grammatica philosophica da língua portuguesa. 5 Grammatica portugueza. 6 Grammatica portugueza. 7 Gramática expositiva da língua portuguesa. 8 Grammatica descriptiva.

3
6. A NGB E AS CATEGORIAS 6.1. As categorias nominais Inadequação da descrição gramatical em relação às categorias: o caso do grau como mecanismo flexional. Câmara Jr.: grau não constitui mecanismo flexional. Inadequações (páginas 29 e 30): substantivos epicenos e a formação de femininos por heteronímia ou supleção. Substantivos sobrecomuns. Proposta mais adequada: Câmara Jr. 6.2. As categorias verbais 6.2.1. A voz Poucos gramáticos (pós-NGB) se dão ao trabalho de conceituar a categoria de voz, oferecendo apenas o conceito de cada um dos seus tipos. Critério mais usado na definição de voz: semântico. Cunha & Cintra (1985): voz é uma variação verbal (igual a forma verbal). Luft (1974): “forma que toma o verbo para exprimir as relações de atividade e passividade entre sujeito e verbo” (critério morfossemântico). Bechara (s/d): voz ativa: forma em que o verbo se apresenta para normalmente indicar que a pessoa a que se refere pratica a ação (critério morfossemântico). Lima (1976): voz é o acidente que expressa a relação entre o processo verbal e o comportamento do sujeito (usa o critério semântico). Melo (1978): chama-se voz ao aspecto verbal caracterizado pelo papel do sujeito relativamente á ação expressa (critério semântico). Duarte & Lima: não temos restrições ao uso do sentido para caracterizar os fatos gramaticais. Nossa posição é considerá-la como um complexo forma/função e sentido. Fazemos, no entanto, sérias restrições a essa mistura caótica de critérios, usados sem sistematização nenhuma, sem nenhum rigor científico. Diversidade na tipologia das vozes (suficiente per se para estabelecer o caos na descrição desse fenômeno): ativa, passiva, medial, reflexiva. Há, também, variadas análises de uma mesma frase. A análise do se: apassivador x indeterminador (Alugam-se casas – Vendem-se terrenos). Pronome fossilizado x pronome de realce. O auxiliar da passiva: ser, estar, ficar, ir , andar, viver. 6.2.2. O modo O tratamento dado pelas gramáticas tradicionais pós-NGB é bastante reticente, lacunoso e impróprio. Cunha (1983): as diferentes formas que tomam o verbo para indicar a atitude (de certeza, de dúvida, de suposição, de mando etc.) da pessoa que fala em relação ao fato que enuncia. Definição de cunho nocional � problema: radicais podem veicular as noções aludidas por Cunha (garantir, duvidar, ordenar, supor). 6.2.3. O tempo Apresentam insuficiências (porém menores que as encontradas sobre o modo). Por exemplo: utilizar como parâmetro o momento da fala. Melo (1978) ensaia uma distinção pedagógica entre aspectos físicos e psicológicos do tempo. 6.2.4. O aspecto Travaglia (1985): dois tipos de referência ao aspecto � (i) diretas (Cunha) e (ii) indiretas (Bechara). Exercícios:
• Página 37, exercícios 3, 4, 5, 6, 8 e 9. Próximo encontro: 13 de dezembro de 2012 Parte III: Elementos para um estudo de classes e categorias em português; Parte IV: A classificação vocabular em português.