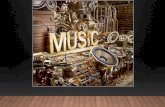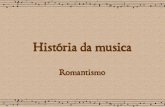História Da Música Sacra
-
Upload
daniel-sousa -
Category
Documents
-
view
12 -
download
0
Transcript of História Da Música Sacra

HISTÓRIA DAS FORMAS MUSICAIS SACRAS
Introdução
1. Como em todas as disciplinas, começa-se por definir a matéria. Se na nossa
pretendemos discursar sobre história da música sacra, ou das formas musicais
sacras, então temos primeiro de, se não definir, pelo menos estabelecer os
critérios que nos permitam reconhecer uma música como sacra.
Quem mais recente e sistematicamente no magistério da Igreja se ocupou
explicitamente disso foi o Papa S. Pio X, com intenção explícita de promover uma
necessária e muito desejada reforma da música sacra. Esse texto, ao mesmo
tempo magisterial e programático, foi o Motu proprio Tra le sollecitudine, de 22
de Novembro de 1903, e a sua autoridade e eficácia ao longo do séc. XX foi tal que
a ele sempre se remeteram e referiram todos os outros produzidos pelo
Magistério da Igreja até à Constituição Conciliar do Vaticano II sobre a liturgia,
Sacrossanctum Concilium, e à Instrução Musicam Sacram de 1967, que a procura
aplicar. Finalmente, o beato João Paulo II, por ocasião do centenário do mesmo
texto de S. Pio X, não deixou de o assinalar e reflectir no Quirógrafo…no
centenário do motu proprio «Tra le sollecitudini» sobre a música sacra, de 22 de
Novembro de 2003.
S. Pio X organizava os critérios de classificação da música sacra em três:
santidade, bondade de forma e universalidade. Curiosamente, a Sacrossanctum
Concilium e a Musicam Sacram omitem ou deixam cair a última, a universalidade,
apesar de S. Pio X dizer no seu documento que da santidade e bondade de forma
“resulta espontaneamente outra característica, a universalidade” (nrº 2). E
depois define as três características em conjunto, uma vez que a terceira resulta
espontaneamente das primeiras, na língua original do documento, o italiano, do
seguinte modo: “Deve essere santa, e quindi escludere ogni profanità, non solo in
se medesima, ma anche nel modo onde viene proposta per parte degli esecutori.
Deve essere arte vera, non essendo possibile che altrimenti abbia sull’animo di chi
l’ascolta quell’efficacia, che la Chiesa intende ottenere accogliendo nella sua
liturgia l’arte dei suoni.Ma dovrà insieme essere universale in questo senso, che pur
concedendosi ad ogni nazione di ammettere nelle composizioni chiesastiche quelle
1

forme particolari che costituiscono in certo modo il carattere specifico della
musica loro propria, queste però devono essere in tal maniera subordinate ai
caratteri generali della musica sacra, che nessuno di altra nazione all’udirle debba
provarne impressione non buona.”1 Utilizo a língua original porque me parece
desnecessária e desviadora do essencial a “ginástica” da tradução portuguesa
oficial na página do Vaticano na frase final: “…impressão desagradável.” E a
tradução oficial portuguesa do Quirógrafo de João Paulo II, que cita o mesmo
número do Motu Proprio diz, por sua vez, para a mesma expressão:” … sensação
negativa” Menos má. É bem mais simples e fiel a tradução espanhola, que se
limita a dizer numa literalidade perfeitamente adequada: “…una impresión que
no sea buena.”
Se se reparar na articulação perfeita entre as três características, notar-se-á que
a “exclusão de todo o profano” da santidade, por um lado, o exercer “no ânimo dos
ouvintes aquela eficácia que a Igreja se propõe obter ao admitir na sua liturgia a
arte dos sons” como arte verdadeira pela bondade da forma, por outro, fazem
com que a expressão impressão boa não deve ser entendida em sentido
meramente estético, mas também ético. Acresce ainda a relação entre arte
verdadeira e bondade de forma. Verdade e bem referem-se mutuamente, como
sabemos. Quer dizer, as características requeridas para música sacra apontam
para uma consideração da beleza da música e da sua eficácia em termos
clássicos, isto é, em termos de relação entre estética e ética, entre beleza e bem. A
música sacra é música e há-de ser procurada entre aquela cuja beleza não pode
ser completamente descomprometida com o bem, isto é, com a edificação, com a
construção da pessoa, neste caso, com a construção da pessoa cristã, discípula de
Cristo.
2. Na música, que haja uma a relação entre estética e ética, entre beleza e bem,
manifesta-se não só na cultura bíblica ou mais amplamente cristã, mas também
1 Tradução portuguesa na página Web do Vaticano: “Deve ser santa, e por isso excluir todo o profano não só em si mesma, mas também no modo como é desempenhada pelos executantes. Deve ser arte verdadeira, não sendo possível que, doutra forma, exerça no ânimo dos ouvintes aquela eficácia que a Igreja se propõe obter ao admitir na sua liturgia a arte dos sons. Mas seja, ao mesmo tempo, universal no sentido de que, embora seja permitido a cada nação admitir nas composições religiosas aquelas formas particulares, que em certo modo constituem o caráter específico da sua música própria, estas devem ser de tal maneira subordinadas aos caracteres gerais da música sacra que ninguém doutra nação, ao ouvi-las, sinta uma impressão desagradável.”
2

na cultura clássica com que, aliás, o cristianismo nascente entrou num
fecundíssimo diálogo que deixou marcas indeléveis na sua fisionomia.
Comecemos pelos dados exta-bíblicos. A mitologia greco-romana apresenta
fundamentalmente duas visões sobre a música: a apolínea e a dionisíaca2, isto é, a
racional e a irracional, coincidindo isso, curiosamente, com a música serva da
poesia ou mesmo subssumida na poesia e com a música instrumental. Na
primeira situa-se o mito de Orfeu, que compunha as suas próprias
poesias/canções, com as quais dominava a natureza, poder de que se serviu para
dominar o cão Cérbero que guardava a entrada do Hades, a mansão dos mortos,
de onde conseguiu resgatar a sua esposa Eurídice.3 A segunda visão compreende-
se bem imediatamente a partir do próprio mito de Dionisos, mais conhecido
simplesmente como deus do vinho, de modo que a embriaguês aparece como
uma forma de fusão com a própria divindade. O culto dionísiaco ou bacanal é
sobretudo o cultivo de estados extáticos, para a criação dos quais, além do vinho,
se recorre a processos musicais assentes exclusivamente no uso de
instrumentos, de percussão pelas sacerdotisas bacantes, do aulos, os Sátiros. Em
suma, estamos perante o reconhecimento da música umas vezes força
construtora e iluminadora da pessoa e outras vezes força desagregadora e
alienante da pessoa.
É também muito elucidativa desta dicotomia, ou melhor, da denúncia desta
dicotomia interior à própria música, a comparação entre a Saul e David, os
primeiros reis do povo bíblico, mais precisamente entre os respectivos modos de
eleição e unção e a caracterização das suas personalidades. Saúl, além da unção
por Samuel, conforme este anuncia, passa por um momento de transe profético,
que lhe é comunicado por “um grupo de profetas que descem do lugar alto,
precedidos de saltério, de tambor, de flauta e de cítara, em transe profético. O
espírito do Senhor virá então sobre ti— diz-lhe Samuel— profetizarás com eles e
tornar-te-ás outro homem” (1 Sam 10, 5 e 6). Já a unção de David é reduzida ao 2 Dos deuses Apolo e Dionisos— Baco, para os romanos. Recomenda-se aos estimados alunos a consulta de um dicionário de mitologia clássica.
3 Quem quiser saber o final trágico de tal história, que serviu de tema à geralmente tida como a primeira ópera propriamente dita, pode consultar também um dicionário de mitologia clássica. A ópera referida é a Orfeu e Eurídice, estreada em 1607, de Cláudio Monteverdi (1567-1643).
3

gesto essencial: “Samuel tomou o chifre de óleo e ungiu-o na presença dos seus
irmãos. E a partir daquele dia o espírito do Senhor apoderou-se de David” (1 Sam
17, 13). Pouco depois, quando Saul perde a confiança de Deus e lhe é enviado um
espírito mau, será David que, fazendo-se acompanhar à harpa o aliviará, efeito
muito distante do transe profético comunicado pelos profetas a Saúl. Pode
assistir-se, na formação do profetismo hebreu, a uma progressiva libertação
daqueles cânones do profetismo pagão envolvente; talvez o episódio que mais
manifesta a incompatibilidade entre a fé no Deus único e o profetismo baseado
no transe alienante seja o do desafio lançado e vencido por Elias contra os
profetas de Baal no monte Carmelo (1 Rs 18— leitura indispensável).
A manifestação musical bíblica perfeitamente libertada desta tensão causada
pela capacidade alienante da música é a do canto como celebração das acções
salvíficas de Deus, como seja a que aparece em Ex 14, 31- 15, 1: “Israel viu a mão
poderosa com que o Senhor actuou contra o Egipto, o povo temeu o Senhor e
acreditou n’Ele e em Moisés, seu servo. Então, Moisés cantou, e os filhos de Israel
também, este cântico ao Senhor. Eles disseram: Cantarei ao Senhor que é
verdadeiramente grande: cavalo e cavaleiro lançou no mar… Todos conhecemos
este cântico na Vigília Pascal. Aqui encontramos em extrema condensação a
relação funcional da música, espontaneamente como canto, com a liturgia.
Também no NT vamos encontrar a mesma tensão entre música bem integrada na
liturgia e a música na sua capacidade alienante. O passo mais importante é o
discernimento que S. Paulo, em 1 Coríntios 14, 15-19, 26-28 (leitura
indispensável), faz sobre a glossolalia (falar em línguas) e a profecia: de nada
vale o falar em línguas e o transe que isso implica, se a profecia não os
interpretar para a edificação de todos.
É também neste contexto, aliás, que se pode compreender a dificuldade que se
verificou na aceitação da música de instrumentos, primeiro, e depois da música
puramente instrumental na liturgia, como também a condição essencialmente
subalterna que a música puramente instrumental assume na liturgia. Mas
também pelo simples facto de a música sacra ser antes de tudo canto isso se
explica, como se realça de seguida.
4

3. É que, ainda antes destas considerações imediata e musicalmente suscitadas—
e conforme já foi sendo apontado pela relação omnipresente entre música
edificante e palavra nas narrativas clássicas e bíblicas— há que ter em conta o
texto que se canta, para que possamos falar de música sacra. Com efeito, a música
na liturgia é antes de tudo canto, canto da Palavra de Deus ou de textos nela
inspirados ou dela decorrentes, pelo que um texto completamente vazio do
ponto de vista teológico, espiritual e doutrinal, mesmo que revestido de música
de género sacro, não faz com que esta seja sacra. Mas também é verdade o
inverso: um texto, mesmo que bíblico, cantado com um género completamente
estranho, não faz com que automaticamente a música que o canta seja sacra.
Aliás, a convicção contrária só pode resultar da falta de cultura e educação
musical. Para compreender estas afirmações, basta, simetricamente, perguntar-
se se um Kyrie gregoriano, pelo facto de ser cantado com um texto que fale de
touros e de cavalos, se adequa a acompanhar uma tourada.
Em qualquer caso, afasta-se menos da verdade da liturgia um canto sobre um
texto que exprima sem mácula a oração e a fé da Igreja, mesmo que recorrendo a
um género musical desadequado, do que um canto sobre um qualquer texto que
não contribui em nada para, ou afasta mesmo, a oportunidade de maior
penetração do mistério de Deus e da sua vida em nós.
Daqui resulta que quaisquer considerações que façamos sobre a música sacra
como objecto de estudo devem começar pelo texto, dele decorrendo em primeiro
lugar todas as questões de forma musical que necessariamente acompanharão a
abordagem e o discurso sobre esse objecto.
4. Na música sacra, mais do que em qualquer outra— melhor— no canto sacro,
mais do que em qualquer outro, a palavra é rainha, tanto no sentido de que o
ritmo é tendencialmente o ritmo da palavra cantada, como no sentido de que a
forma musical, propriamente dita, é directamente ditada pela forma literária.
Estamos aqui nos antípodas, por exemplo, das canções que servem para dançar,
em que o que manda é a célula rítmica que caracteriza uma determinada dança e
o texto não faz mais do que encaixar-se, uma vezes a bem, outras vezes a mal,
nesse ritmo. Longe vão os modos rítmicos primeiro poético-literários e só depois
musicais que o grego clássico permitia. Nem o latim nem as línguas modernas os
5

conhecem. Portanto, o ritmo do canto sacro é natural e tendencialmente
irregular, mesmo quando o texto é em verso medido, como acontece nos hinos da
Liturgia da Horas, por exemplo. A teimosia das canções de temática mais ou
menos religiosa ou espiritual, com que se acredita aproximar a juventude dos
mistérios divinos, em adoptar modelos da música ligeira comercial com um
pendor essencialmente rítmico é perfeitamente contra-natura, além de,
exactamente por isso, abrir as portas a uma evidente “profanização” do canto na
liturgia.
A segunda relação formal entre texto e música no canto sacro é biunívoca,
digamos assim. De facto, não só a forma literária dita a forma musical, como
também as formas musicais ditadas pela necessidade de envolver todos os
membros e órgãos da assembleia litúrgica vêm, por sua vez, a ditar a procura de
formas literárias que estejam ao serviço do organismo que é a assembleia e a
própria celebração. Desde a época clássica da formação da liturgia católica
podemos falar de basicamente três organismos musicalmente relevantes que se
articulam entre si para a execução da liturgia: o presidente e outros ministros
próximos dele, solistas, coro e assembleia no seu conjunto. Esta diversidade,
além de garantir efeitos musicais muito enriquecedores do conteúdo estético da
celebração— que não é de ignorar— é também muito significativa da
organicidade da própria Igreja de que a liturgia há-de ser expressão.
O texto sob este ponto de vista mais importante para o nosso tempo é, sem
dúvida, a Instrução Musicam sacram, de 5 de Março de 1967, com a qual a
Sagrada Congregação dos Ritos expôs os princípios operativos mais importantes
para a execução da reforma litúrgica saída do Concílio Vaticano II. Nela se pode
observar o que é que se entende por liturgia cantada, mais do que com canto, já
que o canto ali aparece como algo intrínseco à própria liturgia na sua forma mais
festiva e solene, e não como um adereço extrínseco. É por isso que se apresenta
ali (nrºs 28 a 31)4 uma espécie de tabela de classificação dos cantos sob o critério
da relevância da participação da assembleia, isto é, de todos, uma vez que o
agente da celebração é, teologicamente, toda a Igreja reunida. Esta tabela deve
ser conhecida memorizada por todos os músicos litúrgicos, para que possam
4 - Ver o texto no final desta introdução, para facilitar. Vem na língua original, o italiano.
6

elaborar o mais possível à medida das possibilidades das comunidades ou
paróquias que servem, os programas musicais para as celebrações. Mas também
os sacerdotes a devem conhecer em pormenor e memorizá-la, para se
aperceberem da grave responsabilidade que sobre eles pesa de tornarem
possível a verdadeira liturgia cantada, figura da liturgia celeste que as visões
bíblicas sempre apresentam cantada, sabendo cantar o que lhes compete, que é
condição de que o grau elementar e essencial de participação litúrgica se dê: os
diálogos entre o presidente e a assembleia; liturgia sem isto, por mais sumptuosa
que possa ser nas outras peças cantadas, não é cantada.
Uma observação detalhada desta tabela, permite tirar muitas conclusões sobre
forma musical, quer por via dos textos em causa— por exemplo do ordinário da
Missa— quer por via da definição dos diferentes graus de participação de cada
um e do conjunto dos fiéis.
5. Para tocarmos os aspectos essenciais do nosso estudo nesta introdução, falta
apenas referir a tensão que sempre se viveu na liturgia cantada— e que de algum
modo já referi ao falar dos problemas de adequação entre forma musical e texto
em não poucos equívocos contemporâneos na prática musical na liturgia— entre
forma estritamente musical, quando ela emerge na criação musical para a
liturgia, e a dimensão essencialmente funcional da música na liturgia.
Se no mundo da monodia gregoriana o problema, embora existindo, não se
colocou com a mesma premência, com o surgimento da polifonia, as questões
formais foram-se colocando cada vez com mais intensidade, a ponto de
encontrarmos épocas da música sacra que produziram sem dúvida obras primas,
tanto do ponto de vista meramente técnico-musical como do ponto de vista da
sua intensidade espiritual, mas que quanto à funcionalidade ficaram aquém do
necessário, embora também se deva reconhecer que outros factores não
estritamente musicais contribuíram para isso, nomeadamente, o facto de durante
a maior parte do segundo milénio a liturgia ter adoptado na sua prática a forma
de uma função deputada pela comunidade aos clérigos. Pois bem; o nosso estudo
vai ser, em grande parte, sobre a procura de soluções formais para o canto da
liturgia, sobre os sucessos e fracassos dessa procura ao longo da história, de
como nessa procura se oscilou entre uma consideração da Palavra propriamente
7

como texto e uma outra consideração da mesma Palavra mais como pretexto do
que como texto.
Por último, todas as referências que vier a haver à música instrumental serão
integradas neste pano de fundo e não tanto consideradas por si mesmas, dadas
as características deste curso e circunscrição temática que ele exige.
ANEXO
Nrºs 28 a 31 da Instrução Musicam sacram
28. Rimane in vigore la distinzione tra Messa solenne, Messa cantata e Messa letta, stabilita dalla Istruzione del 1958 (n. 3), secondo la tradizione e le vigenti leggi liturgiche. Tuttavia, per motivi pastorali, vengono proposti per la Messa cantata dei gradi di partecipazione, in modo che risulti più facile, secondo le possibilità di ogni assemblea liturgica, rendere più solenne con il canto la celebrazione della Messa. L’uso di questi gradi sarà così regolato: il primo potrà essere usato anche da solo; il secondo e il terzo, integralmente o parzialmente, solo insieme al primo. Perciò si curi di condurre sempre i fedeli alla partecipazione piena al canto.
29. Il primo grado comprende:
a) nei riti d’ingresso:— il saluto del sacerdote celebrante con la risposta dei fedeli;— l’orazione;
b) nella liturgia della parola: — le acclamazioni al Vangelo;
c) nella liturgia eucaristica: — l’orazione sulle offerte; — il prefazio, con il dialogo e il Sanctus; — la dossologia finale del Canone; — il Pater noster con la precedente ammonizione e l’embolismo: — il Pax Domini; — l’orazione dopo la comunione;— le formule di congedo.
30. Il secondo grado comprende: a) il Kyrie, il Gloria e l’Agnus Dei; b) il Credo; c) l’orazione dei fedeli.
31. Il terzo grado comprende: a) i canti processionali d’ingresso e di comunione; b) il
canto interlezionale dopo la lettura o l’epistola; c) l’Alleluia prima del vangelo; d) il
canto dell’offertorio; e) le letture della sacra Scrittura, a meno che non si reputi più
opportuno proclamarle senza canto.
8

Exercício (para puxar pela cabeça e pela catequese)
Procure e escolha dois textos não bíblicos que já tenha alguma vez ouvido cantar em
contexto mais ou menos religioso, mesmo que não especificamente litúrgico: um que
lhe pareça suficientemente dotado de conteúdo teológico-bíblico, espiritual e doutrinal
para possa mesmo ser usado em contexto litúrgico; outro que lhe pareça, ao contrário,
vazio sob aqueles pontos de vista e, portanto, de afastar do uso litúrgico. Finalmente,
justifique com algum cuidado tal apreciação, depois de indicar a fonte de onde
recolheu os referidos textos. Duas folhas A4, uma para comentar cada texto, devem
chegar para o efeito.
Em caso de dúvida, não hesite em pedir esclarecimentos e ajuda.
Para vosso governo, parece-me muito prudente que vos impunhais a data de 15 de
Julho próximo para fazer chegar ao meu endereço o trabalhinho.
Fratenalmente
Pe Pedro Miranda
9