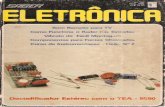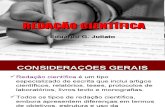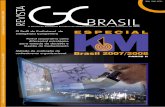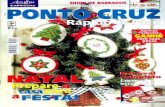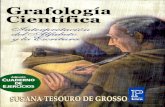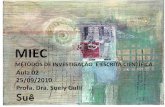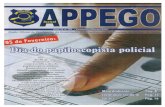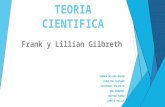i (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018) -...
Transcript of i (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018) -...

i (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)

ii (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
UNIVERDIDAD GRENDAL
AUTORIDADES
Dr. Daniel Días Machado PhD.
Dra. Rosa Olinda Suárez de Navas PhD.
Doct. Yulieth Barradas Sira
Dra. Elba Martínez Andueza
JUNTA EDITORIAL
DIRECTORA
Dra. Edumar León Cordero PhD.
SECRETARIA EJECUTIVA
Aline Bersagui
CONSEJO DE REDACCIÓN
Dra. Maidolly Engelhardt Machado
Dra. María Regina Tavares de Araujo
Dra. Engly Pastora Muhamad Asmat
Msc. Lilian de Rivera
Msc. Luisa Pacheco
ISSN ELETRÔNICO Nº 2526-9224
Revista Científica Grendal Review
E-mails: [email protected] [email protected]
Endereço eletrônico: www.grendal.education

iii (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
SUMÁRIO
MENSAGEM DE AUTORIDADES…………………………………………………………………...…
v
EDITORIAL....................................................................................................................................
vi
COMUNICAÇÃO E GESTÃO HUMANA. UMA CONSTRUÇÃO TEÓRICA PARA AS ORGANIZAÇÕES DO SÉCULO XXI............................................................................................ Yulieth Barradas Sira FACILITANDO NO DESENVOLVIMENTO DA ORALIDADE E DA ESCRITA PARA ALFABETIZAR………………………………………………………………………………………….... Rogéria Soares Da Silva Rosilene Soares Da Silva PROFESSOR DESORGANIZADO: ALUNOS INDISCIPLINADOS, DESORGANIZED TEACHER: INDISCIPLINATED STUDENTS……………………………………………………..….. Rosana Costa Reis Tiago Almeida Gadelha CONTEXTUALIZANDO A EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL…………………….…….…….. Adriana Karla Santos Wamderley Neilson Vieira Dos Santos CHAPEUZINHO VERMELHO E A PASSAGEM PELOS SÉCULOS... MAGIA E ENCANTAMENTO…………………………………………………………………………………….…. Denize da Encarnação Pontes PESQUISA EM EDUCAÇÃO; MÉTODOS E MODOS DE FAZER, UMA ABORDAGEM NAS PERSPECTIVAS DE MARILDA DA SILA & VERA TERESA VALDEMARIM............................. Ieda Gomes da Silva Santos Terezinha de Jesus Brito A EDUCAÇÃO POPULAR COMO MECANISMO INFLUENCIADOR DAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS……………………………………………………………………………………….… Cybelle De Jesus Da Costa Silvestre DISCUSSÕES ACERCA DO ENEM 2017: A SURDEZ EM EVIDÊNCIA……………………….… Elisabete Aparecida Perez Ferreira EDUCAÇÃO POPULAR: PERSPECTIVA FREIRIANA PARA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL DA ATUALIDADE BRASILEIRA…………………………………………………………………….… Cybelle De Jesus Da Costa Silvestre SALA PROJETO E A TEORIA HISTÓRICO – CULTURAL: UMA NECESSÁRIA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO……………………………………………………..………….………... Magna Gois De Almeida CURSO TÉCNICO EM COMPOSIÇÃO E ARRANJO DO CONSERVATÓRIO PERNAMBUCANO DE MÚSICA: CARACTERÍSTICAS E RELEVÂNCIA……………….….…... Wendell Nogueira Da Silva A IMPORTÂNCIA DA LEITURA PARA A PRODUÇÃO DE TEXTO…………………………….... Silva, Mª de Lourdes Aleixo Mendonça da
2
11
21
32
52
63
66
81
89
96
105
107

iv (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
UMA DISCUSSÃO ACERCA DO JOGO NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO….………....... Rosiane Karla Santana RELATO DE EXPERIÊNCIA DANÇA: UM DESAFIO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA………………………………………………………………………………………….…………. Renata Amanda Santos Lustoza Maria De Jesus Teixeira Matias A UTILIZAÇÃO DAS CANTIGAS DE RODA NA EDUCAÇÃO INFANTIL………….………...….. Edijanete Angela Andrade De Sousa Roberta Vivianne De Oliveira Florencio Santos INSTRUMENTOS MUSICAIS ESPECÍFICOS DA CAPOEIRA ENRIQUECENDO O PLANEJAMENTO TÉCNICO DA MODALIDADE……………………….……………………….….. Luiz Fernando Ruffa
121
130
150
156

v (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
MENSAGEM DAS AUTORIDADES DE UNIVERSIDADE GRENDAL
Grendal Review é uma revista científica com espaço para interação, onde
você pode expressar o trabalho e as preocupações de todo um grupo que toma a
iniciativa e tenta abrir um novo horizonte no mundo universitário. Guiado pela voz da
experiência, visa estabelecer um diálogo com a sociedade e tornar-se uma fonte
transmissora de valores, conhecimentos, experiências, pesquisas e contribuições
culturais e científicas.
Queremos que seja um órgão que reflita fielmente nossa filosofia, a espinha
dorsal na qual nosso trabalho educativo deve estar baseado em preocupações,
conquistas e fracassos. É o nosso veículo de comunicação, o nosso fórum de
discussão, a nossa opinião mais próxima. Nele podemos encontrar informações,
conselhos, conselhos, regulamentos, notícias, pesquisas e aplicações de novos
paradigmas para melhorar a vida na sociedade.
Desde sua renovação na edição nº 8, as páginas da Revista Grendal estão
abertas ao debate e ao diálogo compartilhado com todos os agentes sociais. Esta é
a filosofia que irá definir o curso da revista. Assim, antes de páginas em branco que
você hoje, que esperamos que venha a servir como um canal para idéias e projetos
que podem se tornar o espelho dos nossos interesses na mensagem que os
pesquisadores querem mover o mundo são oferecidos. Hoje, como autoridades da
Universidade Grendal, convidamos você a aproveitar a edição nº 9 do mês de
outubro da Grendal Review.
Dra. Elba Martínez Andueza, Dr. Daniel Días M. PhD, Dra. Rosa Olinda Suárez PhD y Doct. Yulieth Barradas S.

vi (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
EDITORIAL
No ensino há uma busca constante pela excelência e cultura de qualidade através da
produção científica, bem como a consideração de um bom ensino através da opinião dos alunos,
guias de ensino, entre outros atores do conhecimento acadêmico, portanto, esse papel virá
enquadrado em um modelo sistêmico e interdisciplinar, onde o ensino, a pesquisa, o seu
conhecimento, experiência e quer fazer suas atividades educacionais, onde a eficiência ea eficácia na
prática pedagógica cotidiana se torna aparente.
As várias mudanças que os países, estados, cidades enfrentam são o resultado de um
processo de evolução e adaptação das sociedades onde a educação em todos
os níveis desempenha um papel importante no crescimento do
indivíduo, ainda mais o educador, como Smith e
preparador dos homens e mulheres de amanhã.
Portanto, o volume da revista concentra os seus
artigos sobre o papel do professor enquadrado em
atitudes e habilidades especiais, de modo que ele
pode fornecer transmissão de maior qualidade de
conhecimento para a formação de profissionais,
tudo no âmbito da a interação harmoniosa entre conhecimento
e transmitir ou atuar como coadjuvante à construção de
experiências de aprendizagem no contexto da realidade exigida pela sociedade atual.
As questões levantadas nesta edição é a visão geral da educação que destaca a composição
musical, o jogo como um processo de aprendizagem, dança na educação física, educação integral,
educação popular, música e cultura, comunicação organizacional, pesquisa em educação e
importância da leitura, considerada adequada na prática do trabalho docente motivada por diversos
fatores como o desenvolvimento e aprendizado dos alunos, o entusiasmo por sua disciplina;
reconhecimento, interesse, elogio e encorajamento; a oportunidade de colaborar, a oportunidade de
ter responsabilidade; o desafio de habilidades profissionais, inspiração de seus colegas, perspectivas
de carreira que fazem parte do ambiente de trabalho na medida em que actividades que contribuam
para o desenvolvimento, o crescimento ea mudança de atitude dos participantes propiciar,
melhorando assim a qualidade do processo educativo.
www.grendal.education
Dr. Jesús León Subero PhD.

1 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)

2 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
COMUNICAÇÃO E GESTÃO HUMANA.
UMA CONSTRUÇÃO TEÓRICA PARA AS ORGANIZAÇÕES DO SÉCULO XXI
RESUMO Na sociedade do conhecimento na organização do século XXI, o gerente antes de tudo é um ser humano e comunicação é ação, que ativa o sistema nervoso comunicativa através de sua comunicação humana com as várias duplas que compõem o sistema interacional do contexto organizacional, onde tudo se comunica. Nesse sentido, o artigo objetiva abordar a comunicação humana do gestor nas organizações do século XXI. Foi necessário para revelar como interage tanto horizontalmente e verticalmente gerente e identificar as barreiras de comunicação a partir do gerenciador de elementos ontológica. Portanto, segue-se que a organização vive da comunicação e se torna uma expressão da organização. De lá você pode pensar que a organização é um produto da sua cultura comunicacional e, nesse sentido, torna-se uma metáfora para a comunicação. Assim como a empresa é o produto de sua gestão; A organização empresarial e sua gestão podem ser concebidas como um produto da ação transformadora da comunicação. Note que este valor teórico neste artigo é a sua contribuição para a comunicação organizacional, uma vez convidado a explorar modelos de gestão pós-modernos para impactar positivamente direção comunicação e conduzir um estilo bidirecional, horizontal, participativa comunicação, com propósito de criar um lado uma maior consciência da importância da comunicação e como ela resulta em um clima organizacional harmonioso e na outra gestão, para entender que, se uma pessoa é um gerente de comunicação humana. Descritores: Comunicação Humana, Gestão, Postmodernidade, Humanização.
HUMAN COMMUNICATION AND MANAGEMENT. A THEORETICAL CONSTRUCTION FOR THE ORGANIZATIONS OF THE 21ST CENTURY
SUMMARY
In the Knowledge Society, in the organization of the XXI century, the manager before everything is a human being and its communication is action, it is who activates the communicative nervous system through its human communication with the different dyads that make up the interactional system of the organizational context, where everything in it communicates. In this sense, the article aims to address the human communication of the manager in the organizations of the 21st century. For this, it was necessary to reveal how the manager interacts both horizontally and vertically and to identify communication barriers from the ontological element of the manager. Therefore, it follows that the organization lives from communication and it becomes an expression of the organization. From there one can think that the organization is a product of its communicational culture and in this sense it becomes a metaphor for its communication. Just as the company is the product of its management; The business organization and its management can be conceived as a product of the transforming action of communication. It should be noted that the theoretical value present in this article is its contribution to organizational communication, since it invites us to take advantage of postmodern managerial models in order to positively impact the manager's communication and promote a bi-directional, horizontal, participatory communication style, with the purpose of creating on the one hand a greater management awareness about the relevance of communication and how it results in a harmonious organizational climate and on the other, understanding that if there is a human communication there is a person manager. Descriptors: Human Communication, Management, Postmodernity, Humanization.
PLANO INTRODUÇÃO
As pessoas comunicam suas
experiências com palavras, com gestos, com
expressões não verbais, com um tom de voz.
Todo comportamento humano nada mais é do
que comunicarse externamente, dando aos
outros a compreensão do que está
acontecendo no interior (Barroso, 1998). Nesse
sentido, ao considerar o homo humanus como
Dra. Yulieth Barradas Sira

3 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
um organismo, que faz parte de um ambiente
onde estabelece uma relação organismo-
ambiente, a comunicação humana emerge de
maneira singular.
De acordo com Watzlawick, Beavin e Jackson (1985: 17) a comunicação humana é "... uma condição sine qua non da vida humana e ordem social..." portanto "... todo comportamento em uma situação de interação tem um valor de uma mensagem, isto é, é comunicação ... atividade ou inatividade, palavras ou silêncio, sempre tem valor de mensagem ... não é possível não se comunicar ".
Particularmente, ao localizar o homo
humanus chamado gerente ou gerente como
um todo no plano de uma organização do
século XXI, seja ele público ou privado, por
causa de suas ações e características
inerentes à prática gerencial, a necessidade de
se relacionar com outros seres humanos, com
os quais entretece rede de comunicação
organizacional para codificar e decodificar as
complexidades, incertezas, paradoxos e
natureza global dos processos que ocorrem no
local de trabalho, por isso a relevância das
relações diádicas que existem entre superior e
subordinado "... de sua forma, qualidade e
confiança que geram depende em grande parte
da satisfação que o trabalho é feito"
(Goldhaber, 1997: 106).
Neste sentido, para entender as relações
humanas homem e as suas consequências, o
Pai da Comunicação Humana, Watzlawick et al
(op. Cit), sob uma abordagem sistêmica
introduz uma nova maneira de abordar o
processo de comunicação através de cinco
axiomas , o último é especificado como uma
verdade óbvia, algo que não requer prova,
sobre o qual é construído e suporta um corpo
de conhecimento, a palavra vem do grego
(αξιωμα), que significa "o que parece justo".
Os cinco axiomas são princípios de
comunicação humana que encerram
consequências interpessoais básicos,
Watzlawick et al (Cit b.) Os concretándolos
desenvolvidas como se segue:
1) É impossível não comunicar;
2) Toda comunicação tem um nível de
conteúdo (o que dizemos) e um nível relacional
(para quem e como dizemos);
3) A natureza de um relacionamento
depende do modo de pontuar ou codificar as
sequências de comunicação que cada
participante estabelece;
4) As pessoas usam tanto a
comunicação digital (transmitida através de
símbolos lingüísticos ou escritas e será o
veículo de conteúdo de comunicação) e
analógico (não-verbal comportamento: tom de
voz, gestos, entre outros, e será o veículo o
relacionamento) e
5) Todas as trocas de comunicação são
simétricas ou complementares, dependendo se
são baseadas em igualdade ou diferença.
Portanto, em conexão com o acima
exposto, o gerente de estabelecer a sua
organizacional comunicação humana público,
num quadro de interacção Watzlawick et al
(1985: 49) define como "uma série de
mensagens trocadas entre as pessoas ..."
através estes comunicação gerencial fluxos "dá
conhecer o seu estilo de gestão e
relacionamento, jeito de ser, valores,
características particulares, auto expressar a
sua identidade, a sua auto ou a si mesmo"
(Costa, 2009: 16); isto é, através de suas ações
comunicativas, o gerente torna visíveis suas
competências gerenciais estratégicas e
comunicativas, torna-se humano ou desumano
diante de outros seres humanos.
Portanto, o gerente configurado na práxis
gerencial como principal agente do processo de
comunicação organizacional, é quem ativa o

4 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
sistema nervoso comunicativa através das
diversas mensagens resultantes da prática de
gestão (ordens, decisões, as diferenças de
gerenciamento e incertezas, entre outros); "... o
gerente tem um papel ativo na empresa ...
produz comunicação" (Moragas, 2010: 10), ou
seja, ele é administrador de unidades de
comunicação, portanto "a principal tarefa
fundamental do gestor, como ação e
administração gerencial, é gerenciar os
discursos" (Campos, 2005: 175).
É evidente que nessas relações
comunicativas com outros indivíduos, tudo o
que o gerente diz ou faz em sua organização
se comunica; movimentos gerente de
comunicação nos diferentes níveis do
intrapessoal (ele mesmo), interpessoal (com
uma pessoa), grupo (mais de dois),
organizacional (com outros indivíduos e
organizações), no entanto, de acordo com
Bateson ( citado em Castro e Moreno, 2006) à
comunicação interpessoal ou a comunicação
humana é considerada como a matriz dos
demais níveis comunicativos.
De fato, em meados do século passado
e início do século XXI uma nova realidade
empírica é definida, o gerente começa a se
mover em organizações orgânicas
enquadradas em uma abordagem pós-
moderna, cuja construção deste pensamento
de gestão básica é o alinhamento das visões e
valores a empresa com as do indivíduo, isto é,
o humano é considerado um "homo social".
A comunicação nas organizações é
observada como um sistema em que todos
afetam e são afetados por outros, falamos de
uma comunicação aberta, dinâmica e simétrica,
uma comunicação organizacional humana, "a
comunicação ... é centrada no homem, na
pessoa "(Rojas et al., 1999: 8).
No pós-modernismo a pessoa é o
protagonista, o gerente tenta alcançar a
satisfação das motivações atuais de seus
colaboradores (Moragas, ob.cit); ou seja, uma
"organização pós-moderna, marcada pela
heterogeneidade, fluindo e sua constituição
relacional, o gerente consegue fazer sentido da
vida organizacional participar na sua estrutura
discursiva" (Campos, op cit. 177), o que dá
significa que o gerente se move em um modelo
de comunicação one-way / two-way que
permite construir uma comunicação humana na
organização, que é uma comunicação mais
humanista, que dá valor para a pessoa que
lidera.
No entanto, na comunicação mundo
organizacional e gestão, de humano para
globalizou-se mais complexa e paradoxal,
parecem ser mais responsável e mais
encorajador, parece fragmentar o grupo,
enquanto reorganiza para a comunidade,
parece que descobrem o homem, mas
encontram o indivíduo novamente. Esse é o
crescimento do jogo de paradoxos em torno da
sociedade comunicacional, em torno do mundo
organizacional. Comunicação e gestão são
cheias de certezas e incertezas, de
ambivalência, de mitos e realidades, de ser e
não ser, não como dilemas, mas como
paradoxos (Rojas e outros, 1999).
Para o cenário de negócios da
Venezuela, Hoffmann diz que no gerenciador
venezuelano das habilidades mais trabalhadas
são comunicação e de gestão de desempenho
(como dar instruções, comentários ou
acompanhar equipes), porque é importante
para incentivar, reconhecer e gerar um clima
adequado para resolver obstáculos.
Resolver problemas são exacerbados
quando você tem gestores que têm atitudes
comunicativas que não conseguem conduzir o
seu grupo de trabalho de forma harmoniosa e
eles devem entender que seus subordinados
deve ser seus aliados para trazer o navio a um

5 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
porto seguro ... Não É fácil orientar a
organização onde você foi colocado como
responsável para atingir os objetivos
estabelecidos e programados, porque a
organização não é apenas edifícios, plantas,
iluminação ou computadores ... mas são seres
humanos que vivem com uma oito horas de
trabalho. dia ... Todos nós temos nossas
personalidades ou todos têm suas impressões
digitais e, portanto, somos diferentes ... mas na
organização há um objetivo único que é
atender e alcançar os objetivos da gestão em
particular.
Na descrição acima faz sentido uma das
axiomas de comunicação humana referido toda
a comunicação tem um nível de conteúdo e
nível de relacionamento, ou seja, o primeiro
ransmite o "dados" de comunicação e o
segundo, "como" que a comunicação deve ser
entendida, isto é, que uma comunicação não
apenas transmite informações, mas, ao mesmo
tempo, impõe um comportamento ou
comportamento.
Esse princípio axiomático é observado
na praxis gerencial do executivo das
organizações venezuelanas do século XXI,
onde se configura uma relação de
comunicação autoritária em sua interação com
os subordinados. Notavelmente particularmente
esta maneira de se comunicar e como contatos
gerente venezuelano, Satir (1980) caracteriza
em seu primeiro modelo de comunicação
chamado de acusador-recriminador, que
depende do mapa aprendidas e a capacidade
de auto-estima e amar a nós mesmos mesmo
que a pessoa, neste caso o gerente.
PLANO DE DESENVOLVIMENTO
A troca de mensagens entre os
mesmos membros da organização ou com o
seu público externo, essa ação comunicativa
que é aplicada nas organizações, não
importando o seu tamanho, sua natureza, é
chamada Comunicação Corporativa e é
atualmente um dos processos objetivos
estratégicos mais importantes para alcançar os
objetivos finais que foram propostos.
Segundo Costa (2007), a comunicação
corporativa é a soma das diferentes formas de
comunicação empresarial: interno-externo,
institucional-comercial, interpessoal-midiático.
Como para Capriotti (1999) é, portanto, todos
os recursos de comunicação disponíveis para
uma organização para efetivamente alcançar
seu público, é transmitir ao público, a forma
criativa e diferenciada, mensagens criadas
numa base voluntária, diretos e organizados ,
sobre todas as atividades que a organização
realiza.
Devido às abordagens acima, é
importante destacar as funções de
comunicação nas organizações. A este
respeito, Gómez Aguilar (2007: 148) aponta o
seguinte:
1. Coordenar e canalizar a estratégia ou
o plano de comunicação da empresa ou
instituição.
2. Gerenciar em coordenação com a
presidência e ações de direção geral
destinadas a melhorar a imagem pública da
organização.
3. Promover, desenvolver e divulgar a
atividade de comunicação.
4. Assegurese de que a comunicação
seja clara, transparente, rápida e verdadeira.
5. Mantenha um relacionamento efetivo e
próximo com a mídia.
6. Verificar e controlar a qualidade e a
incidência informativa e publicitária de todas as
ações de comunicação.
Portanto, é através da gestão da
Comunicação Corporativa na organização que
o desenvolvimento de toda a práxis

6 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
comunicacional é fornecido aos diferentes
públicos para promover a comunicação entre
os membros. Para este fim, o gerente em
organizações incidirá sobre dois tipos de
comunicação: a comunicação interpessoal
(comunicação humana) e comunicação
organizacional, a primeira é que ele estabelece
com uma pessoa, ea segunda inclui os
padrões, redes e sistemas de comunicação da
organização "... ambos os tipos são
importantes para os gerentes" (Robbins e
Coulter, 2010: 315).
Neste sentido, Berger citado por
Moragas (ob cit. 302) observa que "estudar o
gerente de comunicação interpessoal, sem
abordar a sua personalidade é reduzido e não
entende o poder unitivo latente em
comunicação", portanto, em primeiro lugar um
Gerente é uma pessoa, um ser humano.
No entanto, a comunicação para
gerentes nunca é enfatizada demais por uma
razão específica: tudo o que um gerente faz se
relaciona à comunicação. Não algumas coisas,
mas tudo. Um gerente não pode tomar uma
decisão se não tiver informações. Essa
informação deve ser comunicada. Uma vez
tomada a decisão, ela também deve ser
comunicada.
Caso contrário, ninguém saberia que
essa decisão foi tomada. A melhor ideia, a
gestão mais criativa, o melhor plano ou o plano
de trabalho redesenhado mais eficaz, não
podem tomar forma sem comunicação
(Robbins e Coulter, ob.cit).
A comunicação interpessoal é
caracterizada pelos atores, as características
das mensagens. Nesse sentido, Rojas e outros
(op cit: 63-64) apontam:
... Talvez agora estas realidades da sociedade comunicacional gerente melhor do que o melhor send ... Talvez o melhor gerente é ... os trabalhadores diretos mais
conhecidos ... a informação eo conhecimento, mais conhecido associado com a pesquisa e interpretação da informação, conhecer melhor integrada nas comunicações da equipe da sociedade e gerar transformações de lá. Uma questão fundamental é compreender que as organizações estão coletando e produção de informação e conhecimento são comunidades de aprendizagem são comunidades comunicacionais.
Além disso, Montilla e Melero (2008: 2)
afirmam que: ... organizações estão sujeitas a
mudanças e pressões que exigem novos
padrões de gestão que respondem a um
contexto onde a informação, comunicação e
conhecimento tornam-se o foco estratégico do
negócio. Portanto, os poderes do gestor deve
ser baseada nestes três forças, como são
aquelas que estão emergindo como pilares
para projetar a melhor estratégia para a
empresa.
Portanto, o gerente exige habilidades
pessoais e de comunicação que permitem a
gestão do fluxo de comunicação nas
organizações do século XXI e estabelecer suas
interações com públicos internos e externos
que fazem parte do ambiente organizacional
em mudança, altamente complexo e cheio de
incertezas e superar barreiras comunicação
que está presente em suas trocas
comunicativas.
Nas considerações acima, o artigo sobre
Humana la Comunicación Manager em
organizações do século XXI, cabe à Teoria
Clássica da Comunicação Humana de Paul
Watzlawick, modelos de comunicação
sistêmica Virginia Satir, Teoria Humanista (Carl
Rogers com a teoria ou Centrado pessoa
Approach), modelo de desenvolvimento
humano Manuel Barroso e Ontology Language
Rafael Echeverria, que se concentram na
compreensão e estudar todo o processo da

7 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
pessoa e conceber a personalidade humana
como uma organização que é processo e
desenvolvimento contínuos nega qualquer
tendência reducionista, cujas bases estão em
existencialismo (as pessoas são criadas
através de
suas próprias escolhas) e
Fenomenologia (Estudo de percepção externa
e interna como um evento subjetivo, sem
qualquer a priori).
PLANO CONCLUSIVO
Como reflexo as noções básicas de
gerente de comunicação humana na
organização do século XXI, destaca a
abordagem da gerente de comunicação
humana, porque o gerente é antes de tudo um
ser humano que age e toma decisões. Sua
comunicação é ação, ele interage através da
comunicação verbal e não verbal em diferentes
duplas de comunicação estabelecidos no
contexto organizacional, ser capaz de
identificar as barreiras de comunicação que
surgem no seu processo de trocas.
Pretende-se que o gerente de humanizar
a comunicação na prática de gestão nas
organizações do século XXI conseguir emergir
através de interações com seus chefes e
subordinados mensagem são definidas como
padrões de comércio no conteúdo de
losmensajes verbais, evite fazer tal
generalizações moderados e pressupostos,
bem como o uso de mensagens incompletas.
gerente-gerente Rainha día de
elementos proxêmicos superiores relacionadas
com a conformação e a distância física da área
imediata de que como relação personaen com
outro comunicante (espaço interpessoal), com
o subordinado se regularmente tratadas,
ambas as duplas são complementares ;
enquanto a estruturação díade gerente-
manager de espaços pessoais e sociais é
tratado. Queel gerente venezuelano na sua
comunicação não-verbal criar um agradável,
ambiente de trabalho aberto para cima,
humano, pacífico, acolhedor para um
relacionamento genuíno.
O gerente da Venezuela recebe um alto
comunicação não-verbal na organização do
século XXI enquadrado no uso significativo de
elementos tom, sotaque, pronúncia, gestos,
olhar, a expressão facial e postura corporal,
também a gestão ideal de seus espaços
pessoais e espaços sociais nas diferentes
díades.
Eles surgem no gerente venezuelano em
seu processo de interação, a emissão de
mensagens completas como um padrão em
trocas comunicativas, bem como relatórios
sobre os aspectos da tarefa de trabalho que
fizeram bem. Motive a equipe com base em
sua satisfação no trabalho, crie um ambiente
de trabalho agradável, humano, pacífico e
acolhedor, aberto a um relacionamento
autêntico com os membros da organização,
além de compartilhar planos, descobrir e
promover oportunidades de colaboração.
O gestor em comunicação humana
sente-se satisfeito com suas necessidades,
refletidas em sua qualidade de vida e, portanto,
essa situação pode expressá-lo através de uma
comunicação humana congruente e eficaz.
Caso contrário, ele iria produzir desconforto,
confusão e perplexidade na pessoa, e tudo o
que notifica o gestor através de seus
comportamentos comunicativos por meio da
fala, desenvolvimento da mensagem,
compreensão empática, seu estilo de gestão, o
papel do gerente, o motivação e clima
psicológico, porque não há comunicação.

8 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
REFERÊNCIAS
BARROSO, M. (1998). Auto-estima: Ecologia
ou Catástrofe. (Segunda edição).
Caracas, Venezuela: Galac.
CAMPOS, S. (2005). Teoria (s)
organizacional (es) pós-moderna (s) e
gest (ac) do sujeito pós-moderno.
Tese de Doutorado Universidade
Autônoma de Barcelona (UAB).
Barcelona Espanha. Disponível:
http://ddd.uab.cat/pub/tesis/2004/tdx-
1217104-143200/vsc1de1.pdf. [Consulta:
2018, 04 de maio].
CAPRIOTTI, P. (1999). "Comunicação
Corporativa. Uma estratégia de
sucesso a curto prazo. " Artigo
publicado no Relatório C & D -
Treinamento e Desenvolvimento
(Argentina), nº 13, agosto de 1999, pp.
30-33. Disponível:
http://bidireccional.net/Blog/Comunicacio
n_Corporativa_1.pdf. [Consulta: 2018, 10
de março].
CASTRO L., I. e Moreno B., L. (2006). O
modelo comunicativo: teóricos e
teorias relevantes. (Primeira edição).
México: Trillas.
COSTA, J. (2009). Identidade corporativa.
(Primeira edição). México: Trillas.
COSTA, J. (2007). "15 axiomas para o
Dircom". Disponível
http://www.rrppnet.com.ar/dircom.htm.
[Consulta: 2018, 13 de março].
GÓMEZ Aguilar, M. (2007). Comunicação
nas organizações para a melhoria da
produtividade: O uso da mídia como
fonte de informação nas empresas e
instituições da Andaluzia. Tese de
Doutorado Faculdade de Ciências da
Comunicação, Departamento de
Jornalismo, Universidade Málaga,
Espanha. Disponível em:
http://www.biblioteca.uma.es/bbldoc/tesis
uma/17672697.pdf. [Consulta: 2018, 10
de março].
GOLDHABER, G. (1997). Comunicaçao
organizacional. Editorial Diana. México
MONTILLA, M. e Melero, R. (2008).
"Competências-chave do gestor no
contexto da sociedade da
informação". Revista Eletrônica de
Estudos Telemáticos (TÉLÉMATIQUE).
Volume 7 Edição No. 1 - Ano 2008.
Universidade Rafael Belloso Chacín
(URBE) Maracaibo, Estado de Zulia,
Venezuela. Disponível:
http://www.urbe.edu/publicaciones/telem
atica/indice/pdf-vol7-1/1competencias-
clave-del-gerente.pdf. [Consulta: 2018,
28 de junho].
MORAGAS F., M. (2010). Comunicação e
Gestão Motivacional: Um Modelo
Antropológico. Tese de Doutorado
Universitat Internacional Catalunya,
Espanha. Disponível: ttp:
//www.tdx.cat/bitstream/handle
/10803/9332/Moragas_Freixa.pdf?seque
nce=1. [Consulta: 2018, 26 de junho].
ROBBINS, S. e Coulter, M. (2010).
Administração (Décima edição).
Disponível:
http://es.scribd.com/doc/80634874/Admin
istracion-10-Edrobbins-www-
FREELIBROS. [Consulta: 2018, 10 de
março].
ROJAS, L., Arapé, E., Mujica, M., Rodriguez,
R., Lara, C., Durand, E., Ugas, G. (1999).
"Comunicação, Gestão e Futuro: Uma
Interpretação Pós-moderna". Revista
Venezuelana de Gestão. Ano 4. N ° 9,
1999, 5169. Vice-Reitor Acadêmico,
LUZ. Caracas Venezuela. Disponível:
http://revistas.luz.edu.ve/index.php/rvg/ar

9 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
ticle/view/7986/7650. [Consulta: 2018, 21
de junho].
WATZLAWICK, P., Beavin, J. e Jackson, D.
(1985). Teoria da Comunicação
Humana. Interações, patologias e
paradoxos. (Quarta edição). Barcelona:
Herder

10 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)

11 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
FACILITANDO NO DESENVOLVIMENTO DA ORALIDADE E DA
ESCRITA PARA ALFABETIZAR
RESUMO
Este artigo versa a importância de preparar as crianças da educação infantil para a alfabetização, na perspectiva de ajudar os educadores a analisarem práticas pedagógicas adequadas para auxiliar no desenvolvimento da linguagem oral e na escrita das crianças desde a educação infantil. A reflexão parte do pressuposto de que as bases fonológicas do conhecimento das letras alfabéticas trabalhada na educação infantil favorecem o processamento da leitura e da escrita na alfabetização, na medida em que incentivam o desenvolvimento da oralidade ou da consciência linguística. Assim, acredita-se que se os professores da educação infantil conhecerem o processo melhor poderão facilitar e estimular os métodos iniciais de aquisição de leitura e escrita. Utilizando de várias sugestões pedagógicas que propicie os educadores a aperfeiçoarem suas práticas educativas e alcancem os objetivos da aprendizagem com os alunos. Palavras- chave: Educação infantil, Oralidade, Escrita, Alfabetização.
FACILITATING THE DEVELOPMENT OF ORALITY AND
WRITING FOR LITERACY
ABSTRACT This article discusses the importance of preparing children in early childhood education for literacy, in order to help educators analyze appropriate pedagogical practices to assist in the development of oral language and writing of children from early childhood. The reflection is based on the assumption that the phonological basis of the knowledge of alphabetic letters worked in children's education favor the processing of reading and writing in literacy, insofar as they encourage the development of orality or linguistic awareness. Thus, it is believed that if early childhood teachers know the process better, they can facilitate and stimulate the initial methods of acquiring reading and writing. Using several pedagogical suggestions that enable educators to improve their educational practices and achieve learning objectives with students. Keywords: Children's education, Orality, Writing, Literacy
INTRODUÇÃO
O tema surge diante da necessidade de
refletir sobre que práticas pedagógicas
possibilitam as crianças ainda na Educação
Infantil, aprender as letras e com isso ajudar no
processo de apropriação da escrita alfabética.
O ponto de partida foi à vivência na sala de
aula com crianças da antiga alfabetização hoje
o 1º ano que têm a facilidade de aprender a ler
e a escrever por trazerem um conhecimento
prévio das letras. Nesse caso, acredita-se que
este é um trabalho desenvolvido ainda na
Educação Infantil, no processo de aquisição da
linguagem escrita, entendida como as
habilidades linguísticas, que se situam de um
modo geral e amplo na constituição da
linguagem (ABAURRE, 1998).
Desse modo, a aquisição da língua se
torna o foco principal, por isso, se compreende
que é na educação infantil que se desenvolve a
capacidade linguística e cognitiva e esta pode
ser realizada de forma divertida e leve. Nesse
sentido, é importante que as práticas
pedagógicas se desenvolvam de modo que as
crianças sejam formadas dando preferencia à
interação social e o brincar como possibilidades
de apropriação e de construção do
Rogéria Soares da Silva
Freitas
Rosilene Soares da Silva

12 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
conhecimento, assim podem ser expressas de
diferentes maneiras tais como; corporal,
musical, oral e escrita. Considerar a
multiplicidade de linguagens no dia a dia
escolar pode favorecer as interações sociais,
das crianças com os adultos, objetos, com seus
amigos e com a natureza. Nesse caso, a
linguagem é a principal mediadora que
possibilita as aprendizagens das crianças em
relação ao mundo e constitui sua subjetividade.
Desta forma, esta pesquisa, visa
contribuir com os profissionais que atuam na
área da Educação infantil como também
alfabetização. De forma que possibilite refletir
sobre que práticas pedagógicas facilitam a
aprendizagem das letras alfabéticas na
educação infantil e venha promover a
construção da escrita alfabética. De acordo
com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil – DCNEI (BRASIL, 2009), a
língua escrita é vista como prática social e é de
fundamental importância para as crianças ter
acesso a essa prática tão logo se interessam
pela leitura e escrita. Esse contato com a
escrita desde a Educação infantil favorece na
criança a construção de um conjunto de
representações simbólicas e mentais que
estruturam o pensamento e o funcionamento
da linguagem de um modo geral.
A formação da palavra cria também a
ideia e os conceitos sobre os objetos, culturas,
pessoas, emoções, o mundo, e para Vygotsky
(1993), ela é “a base (..) meio de formação do
conceito, surge a singular estrutura significativa
que podemos chamar de conceito genuíno”
(VYGOTSKI, 1993a, p.178). Nesse caso, a
criança, antes de entrar em contato com a
escrita formalmente, já adquiriu, ao longo do
seu desenvolvimento, um conjunto de
habilidades que lhe dará plenas condições de
aprender a escrever. Com isso os significados
podem surgir de diversas formas, como linhas,
rabiscos, desenhos, entre outros, considerar
essas formas de expressão contribui para a
aprendizagem e desenvolvimento da escrita em
si.
Em uma pesquisa realizada por Leite
(2008) em duas escolas públicas municipais
com sujeitos de cinco e seis anos, em processo
inicial de alfabetização, observou-se o
conhecimento que as crianças tinham sobre as
26 letras do alfabeto como também as suas
relações com a psicogênese da escrita. Os
resultados demonstram mais uma vez, o
quanto o conhecimento das letras alfabéticas
não vai ser o fator principal para a criança
venha se apropriar no processo da escrita mais
com certeza pode facilitar na medida em que
os estudantes vivenciam as varias situações de
escrita e de reconhecimento de letras
alfabéticas, eles se apropriam do nosso
sistema de escrita alfabética.
Contudo, essa contribuição está
relacionada às experiências dos sujeitos, tanto
na escola como fora dela, por isso se faz
necessário pensar a educação infantil como
possibilidades de aprendizagens mais amplas.
De acordo com o que foi exposto acima lança-
se o seguinte questionamento: Que práticas
pedagógicas facilitam a alfabetização e amplia
as aprendizagens em relação à aquisição da
escrita ainda na Educação Infantil? Ao chegar
ao primeiro ano à criança que ainda não tem
apropriação das letras alfabéticas sente
dificuldade em agrupá-las em unidades
maiores simbolizando as sílabas. No entanto as
que já têm esse domínio dos nomes das letras
conseguem partir do micro “letra” para o macro
“sílaba” até a formação da palavra com mais
facilidade. A partir dessa hipótese, os
educadores investiriam menos tempo para
alfabetizar as crianças, pois teriam mais tempo
para trabalharem não só a oralidade como
também no processo da escrita alfabética.

13 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
Nesse contexto, essa pesquisa tem
como objetivo geral discutir sobre as práticas
pedagógicas que possibilitam trabalhar a
aprendizagem das letras alfabéticas ainda na
educação infantil e como objetivos específicos
compreender como a aprendizagem dos nomes
das letras alfabéticas e suas identificações na
pré-alfabetização podem facilitar o processo da
aquisição da oralidade e da escrita; analisar
que práticas pedagógicas podem facilitar a
aquisição das letras alfabéticas ainda na
Educação Infantil e contribuir com os
educadores no processo de alfabetizar na
formação das crianças.
Considera-se que a criança terá
inicialmente condições não só de reproduzir o
seu nome, como também reconhecer as letras
que o compõe e memorizar a ordem correta
para escrevê-lo. Será uma pesquisa qualitativa
e bibliográfica, pois busca focar na realidade
social, considerar a dinâmica da vida cotidiana,
principalmente no espaço escolar. Almeja-se
desta forma, perceber a riqueza de significados
entre os diferentes aspectos sociais (MINAYO,
1994).
Educação infantil e Infância:
Caminhando com as letras para chegar à
alfabetização.
Não se pode falar em educação infantil
sem falar nos sentimentos que estavam
presentes na concepção da criança nos
diferentes contextos históricos sociais. O
historiador francês Philippe Ariés (1981), vai
falar das relações que existem dentro e fora da
família, ele relata em seu livro; A história da
família, a transformação dos sentimentos de
infância e faz uma análise a luz das mudanças
ocorridas nas formas de organização da
sociedade. Desta forma, pode-se dizer que o
modo como às crianças eram vistas e tratadas
tal como adultos revelava a indiferença sobre
suas especificidades. A partir do momento em
que ela fosse capaz de sobreviver às
adversidades presentes na fase inicial de sua
vida, logo lhe seria exigida o mesmo
comportamento dos adultos.
No século XIII, as crianças eram
designadas para a vida adulta e a elas eram
atribuídos pensamentos, e valores morais já
estabelecidos socialmente para todos. Os
adultos deveriam desenvolver nas crianças o
costume e a compreensão, ao invés de
entendê-las como ser de diferenças e
semelhanças, de pensamentos genuínos.
Nesse caso, eram vista como uma tábula rasa
que teriam que ser preenchidas, preparadas
para o mundo adulto; Nessa perspectiva, a fase
da infância seria caracterizada pela ausência
da fala e de comportamentos esperados,
considerados como manifestações “irracionais.
A questão da ausência da racionalidade
também é apontada por Platão, Santo
Agostinho e Descartes (GANEBIN, 1997). Com
isso, a infância se contrapõe à vida adulta, pois
os comportamentos considerados “racionais,
ou providos da razão, seriam encontrados
apenas no indivíduo amadurecido. Desta forma
o adulto como o homem que pensa, raciocina e
age, com capacidade para alterar o mundo que
o cerca; tal capacidade não seria possível às
crianças. Observa-se, em Ariés (1981), que a
passagem da vida infantil para a vida adulta
seria uma condição a ser superada “A
passagem da criança pela família e pela
sociedade era muito breve e muito
insignificante para que tivesse tempo ou razão
de forçar a memória e tocar a sensibilidade”.
(ARIÉS, 1981, p. 10).
A infância nesse contexto seria
comparada à velhice, pois se, de um lado, a
infância é constituída pela falta de razão, por
outro, a velhice seria marcada pela senilidade,
assim; “Porque as pessoas velhas já não têm

14 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
os sentidos tão bons como já tiveram, e
caducam em sua velhice (...) o velho está
sempre tossindo, escarrando e sujando”.
(ARIÈS, 1981, p. 37).
As demais idades, no caso, a juventude
e a vida adulta, se caracterizavam pela sua
força, virilidade e principalmente pelas funções
produtivas dentro da vida social e coletiva.
Nesse sentido, nos dias atuais essa situação é
recorrente, à medida que há uma ênfase na
valorização do indivíduo produtivo, excluem-se
as crianças e os idosos de diversos setores e
espaços sociais.
Assim, a história contada por Ariés
(1981), destaca que as crianças foram tratadas
como adultos em miniatura: na sua maneira de
vestir-se, na participação ativa em reuniões,
festas e danças. Os adultos se relacionavam
com elas sem discriminações, falavam
vulgaridades, realizavam brincadeiras
grosseiras, todos os tipos de assuntos eram
discutidos na sua frente, inclusive a
participação em jogos sexuais. Isto ocorria
porque não acreditavam na possibilidade da
existência de uma pureza inerente delas. “ No
mundo das fórmulas românticas, e até o fim do
século XIII, não existem crianças
caracterizadas por uma expressão particular, e
sim homens de tamanho reduzido. (ARIÈS,
1981, p. 51).
Dessa forma, as crianças eram
submetidas e preparadas para suas funções
dentro da organização social. O
desenvolvimento das suas capacidades se
dava a partir das relações que mantinham com
os mais velhos. Portanto, percebe-se uma
distância da idade adulta e da infância em
perspectiva cronológica e de desenvolvimento
biológico, pois a infância é retratada pelas
afinidades que o mais velho estabelece com o
mais novo, ou seja, tudo era permitido
realizado e discutido na sua presença. Ainda,
que foram séculos de altos índices de
mortalidade e de práticas de infanticídio.
Os garotos eram jogados fora e
substituídos por outros sem sentimentos, na
intenção de conseguir um espécime melhor,
mais saudável, mais forte que correspondesse
às expectativas dos pais e de uma sociedade
que estava organizada em torno dessa
perspectiva utilitária da infância. Nessa
multiplicidade de histórias, conhecer as
particularidades de cada criança, compreender
suas necessidades e reconhecer sua existência
concreta é o grande desafio. A história está aí
para ser construída por todos os envolvidos e
por aqueles que acreditam que a criança é em
potencial um agente de mudanças e
transformações sociais. É importante o
pensamento da educação voltado para
infância, assim como políticas públicas voltadas
para a proteção e respeito aos primeiros anos.
No Brasil na década de 1980, já se
pensava em letramento, processo de
alfabetização discutido pelo autor Mary Kato,
em 1986, na sua obra No mundo da escrita:
Uma perspectiva psicolinguística. Dois anos
depois, passa a representar um referencial no
discurso da educação, ao ser definido por
Tfouni (1995), em Adultos não alfabetizados: O
avesso dos avessos. Soares (2003), fala que
são feitas buscas em dicionários da língua
portuguesa quanto ao significado da palavra e
nada foi encontrado nem mesmo as edições
mais recentes dos anos de 1998 e 1999. Na
realidade, o termo originou-se de uma versão
feita da palavra da língua inglesa "literacy",
Portanto literacy é o estado ou condição que
assume aquele que aprende a ler e a escrever.
Até os anos 60 do século XX, predomina a falação da “maturação para a alfabetização”. Ou seja, só haveria aprendizagem da leitura e da escrita quando a criança “amadurecesse” de modo

15 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
que certas habilidades ocorreriam pelo “desabrochar natural” ao supor que este ocorreria por volta dos seis ou sete anos. Nesse período, acredita-se ainda que a criança até essa idade não tivesse interesse em ler e escrever e prejudicaria o seu desenvolvimento se tentasse alfabetizá-la antes dessa idade, pois não estaria pronta para tal aprendizagem. Em suma, ela está pronta para ser alfabetizada significaria, segundo Poppovic e Moraes (1966);
A prontidão para a alfabetização significa
ter um nível suficiente, sob determinados
aspectos, para iniciar o processo da função
simbólica, que é a leitura, e sua transposição
prática, que é a escrita. (POPPOVIC E
MORAES, 1996, p.5.)
As autoras afirmam que o objetivo não
era alfabetizar ou ensinar a alfabetização, mas
sim, dar subsídios à professora para elaborar
um programa ponderado de exercícios que
viesse ajudar as crianças a se prepararem
melhor para enfrentar esse processo da
alfabetização. As autoras afirmam:
“O treinamento motor, que está incluído em todos os exercícios, é feito em forma de recorte e colagem na 1ª e 2ª etapas e com o uso do lápis na 3ª etapa. O uso de formas gráficas como números e letras não significa uma entrada no campo da escrita, o que seria totalmente prematuro, antes da requisição da leitura, mas apenas um treinamento motor da movimentação direcional certa que a criança necessitará mais tarde”. (POPPOVICH; MORAES, 1966, p23).
A concepção das autoras seria que, na
Educação infantil não deveriam de forma
alguma ter como um pré-requisito a leitura e a
escrita. Nesse caso, seria feito atividades de
estímulo para tais habilidades futuras, com o
trabalho que desenvolve a coordenação
motora, a articulação adequada de palavras,
boa alimentação entre outros. Porém, entre os
anos 1920 e 1930 há controvérsia entre
pesquisadores, por exemplo, Vygotsky, ressalta
que bem antes dos seis anos as crianças já
apresentam capacidade de descobrir a função
simbólica da escrita e até começar a ler aos
quatro anos e meio.
Ele ainda afirma que o problema maior
não era a idade em que a criança seria
alfabetizada. Vygotsky (1984). Diante de várias
pesquisas tanto de estrangeiros, como de
brasileiros, percebe-se que a aquisição das
habilidades de leitura e de escrita é um
fenômeno que começa muito antes da
alfabetização. De acordo com Ferreiro (1993).
“Essas ideias justificaram a manutenção do “pré-escolar”, ‘assepticamente’ isolado da língua escrita, desenvolvendo habilidades prévias que, segundo parece, ‘maturam’ em contextos alheios à língua escrita”. (FERREIRO, 1993, P.65)
Por este motivo deve-se refletir sobre a
importância de se trabalhar a leitura e a escrita
na Educação Infantil, mas é preciso esclarecer
que não se trata exatamente de ensinar a ler e
a escrever na Educação Infantil, e sim de
trabalhar as habilidades que facilitam a
aprendizagem deve ser um pré-requisito para
se estabelecer uma Educação Infantil de
qualidade. Com isso, uma das habilidades
fundamentais para desenvolver a leitura e a
escrita é a que se chama de consciência
fonológica. A capacidade de segmentar de
modo consciente as palavras em unidades
menores como em sílabas e em fonemas.
Nesse caso, para conseguir ler com eficiência
as palavras é preciso lê-las por reconhecimento
automatizado.
Desde o momento em que a criança se
vê imersa no mundo linguístico, ela faz a

16 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
relação dela com diferentes formas de
expressões orais e desenvolve a habilidade
metalinguística. Qualquer uma que é exposta
nas diferentes formas linguísticas dentro de
uma cultura forma sua consciência fonológica,
entre elas podemos destacar as músicas,
cantigas de roda, poesias, jogos orais, e a fala,
propriamente dita. Conforme Yunes (1985):
“O hábito de leitura se inicia antes que a criança aprenda ler. Neste paradoxo se registra a decisiva influência de contar/ouvir história, para uma relação satisfatória com universo da ficção como complemento da redução da realidade que as práticas sociais impõem. Portanto, caberia à família a iniciação da leitura entre as crianças, habituando as desde a mais tenra idade a ouvir cantigas de ninar, rimas, adivinhações, lendas, fabulações”. (YUNES, 1985, p. 21)
Com isso, é relevante pensar a
importância da interação familiar nesta fase da
vida primária das crianças. Os resultados
positivos serão obtidos durante o processo de
aquisição da linguagem e da escrita, podemos
observar isto em termos práticos no dia a dia,
na vida delas e na relação das mesmas no
ambiente escolar.
Um olhar diferente a partir
de Vygotsky
Contemporaneamente, se observa que
há um grande interesse por parte dos
educadores e intelectuais da educação em
relacionar a teoria de Vygotsky com a
aprendizagem. É importante perceber o
potencial, desta teoria, em relacionar o
desenvolvimento individual e o coletivo, a
história subjetiva e o contexto social. Nesse
sentido, ele compreende o homem como um
produto histórico, interpelado pelas relações
sociais e considera a possibilidade do sujeito
ser moldado pelos fatores externos para
construir uma pisquê que organiza os
processos psicológicos de acordo com os
signos sociais.
Nesse caso, a teoria Vygotskiana, auxilia
na compreensão do processo de aprendizagem
e do desenvolvimento da criança, com o
objetivo de ampliar a formação do educador
infantil. A relação da criança com o meio social
gera aprendizagens, desta forma, a
aprendizagem é o resultado da ação dos
adultos como mediadores do desenvolvimento
cognitivo delas, por isso é fundamental a
convivência social. (VYGOTSKI, 1993).
É nas vivencias escolar, que elas
aprendem conceitos e valores, estrutura suas
ideias por meio da palavra e da ação daqueles
que são os seus mediadores. Com isso o
aprendizado se dá antes mesmo da criança
chegar à escola, através do núcleo familiar
como o seu primeiro contato com a sociedade.
Esta relação se dá, segundo Vygotsky, (1993)
através da capacidade de realizar referências e
conexões mentais, a partir dos conhecimentos
que já lhe foram passados nos primeiros anos.
Desta forma as palavras são essenciais na
construção de sentidos e significados, pois em
associação com a dinâmica social é possível
concretizar a aprendizagem;
Esse enriquecimento do significado da palavra com o sentido acrescentado, procedente do contexto, é o princípio essencial da dinâmica dos significados da palavra. A palavra está inserida num contexto do qual toma seu conteúdo intelectual e afetivo, impregna-se desse conteúdo e passa a significar mais ou menos o que significa isoladamente e fora do contexto: mais, porque se amplia seu repertório de significados, adquirindo novas áreas de conteúdo; menos, porque o

17 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
contexto em questão limita e concretiza seu significado abstrato. (VYGOTSKI, 1993a, p. 333).
Em Vygotsky (1993) se observa um nível
de desenvolvimento, que se pode chamar de
potencial, ou seja, mesmo no momento em que
a criança parece não conseguir realizar
determinada atividade, ela será capaz de
realizá-la com a ajuda de uma pessoa mais
experiente. Considerado pelo o autor o seu
nível de desenvolvimento proximal e o seu real
potencial para desenvolver funções
necessárias ao seu amadurecimento cognitivo.
As práticas pedagógicas são conceitos
importantes para se pensar e o educador deve
interceder essa relação de aprendizagem para
não dar o conhecimento pronto já finalizado.
Desta maneira, o mais importante será o
processo e não o resultado e a brincadeira faz
parte desse momento e deve ser estimulada na
primeira infância. Segundo Vygotsky, (1998) a
brincadeira contribui para mudança na relação
da criança com os objetos, pois eles permitem
conexões de sentido e cria significados de
forma lúdica e prazerosa;“ A criança vê um
objeto, mas age de maneira diferente em
relação ao que vê. Assim, é alcançada uma
condição que começa a agir
independentemente daquilo que vê”.
(VYGOTSKY, 1998, p. 127).
Destarte, elas desenvolvem a
consciência fonológica quando brincam com as
palavras nas atividades lúdicas como, por
exemplo, cantigas de rodas, rimas, receitas e
parlendas. Assim sendo, a aprendizagem da
língua escrita, não se constrói de forma linear,
é um processo descontínuo inerente à
condição humana. Com isso, Vygotsky (1998),
afirma que quando a criança brinca de
desenhar símbolos com os dedinhos, ela
realiza gestos que têm o significado de uma
escrita no ar. Para que aprenda esse sistema
simbólico, precisa-se compreender as funções
superiores como a abstração. É uma forma de
simbolizar sentimentos, atos, ações, e objetos
dentro do imaginário; “O gesto é o signo visual
inicial que contém a futura escrita da criança,
assim como uma semente contém um
carvalho.” (VYGOTSKY, 1998, p. 141).
Contribuições para facilitar a
aprendizagem
Não há confirmação teórica ou empírica
de que as crianças menores de seis anos não
podem ler e escrever. Então porque esperar
até os seis ou sete anos para alfabetizar as
crianças? Pensar que é possível para elas
chegar ao fim da educação infantil
compreendendo algumas associações
grafofônicas, reproduzindo as letras e as
palavras ou até mesmo frases. Sendo assim
Brandão e Leal, (2010) ressaltam que existem
novos caminhos para trabalhar a linguagem na
educação infantil e o primeiro caminho é:
“Os exercícios preparatórios são, assim, substituídos pelo trabalho exaustivo com letras, iniciando pelo em reconhecimento e escrita de vogais, seguindo-se o trabalho com consoantes e famílias silábicas. Subjacente a esse trabalho na Educação Infantil está à ideia de que a aquisição da leitura e escrita corresponde à aquisição de um código de transcrição do escrito para o oral e vice-versa. A diferença é que letras e palavras são utilizadas para treino perceptual e motor, em vez de outros traçados, formas ou figuras”. (BRANDÃO, LEAL, 2010, p.16).
Nesse vestígio, se observa que a
educação infantil e em especial o grupo três, à
criança não tem por obrigação dominar a
escrita ao final do ano, mas é possível que ela
reconheça a estrutura inicial da linguagem

18 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
simbólica. Analisa desse modo que ao
reconhecer à escrita elas seguem uma ordem,
de cima para baixo, da esquerda para direita,
entende que cada letra tem um nome e
representa um som e ao juntar esses símbolos
eles irão formar palavras. Contudo, é relevante
admitir o fato de ser raro uma criança escrever
sozinha, sem que antes tenha o mínimo de
estímulo para refletir sobre o processo.
Será que sem a intervenção de um
profissional para ajudá-la a pensar ela poderia
construir palavras só com vogais? Ou teria que
ter as consoantes? Pode-se perceber que as
reflexões, as ideias e os pensamentos delas
ficariam sacrificados por uma prática
equivocada, cuja lógica seria evidente para os
adultos, mas totalmente incompreensível para
criança. Logo, o segundo Brandão e Leal,
(2010). Um caminho mensurado por elas foi:
“O letramento sem letra, caracterizando-se a ênfase dada a outros tipos de linguagem na Educação Infantil, como a corporal, a música, a gráfica, entre outras, banindo-se a linguagem escrita do trabalho com crianças pequenas. Portanto alfabetização, de modo contrário ao que propõe o caminho anterior, não concebida como objeto do trabalho educativo, sendo, em geral, tomada como um “conteúdo escolar” e, portanto, proibido para criança da Educação Infantil”. (BRANDÃO, LEAL, 2010, p.18).
Logo, concebe que a escola não é um
espaço de crianças apáticas e que só
aprendem por meio de atividades repetitivas.
Porém, Essa instituição também não é um local
só de brincadeiras e exercícios corporais
exaustivos sem contextualizações. Ainda sobre
esta possibilidade (BRANDÃO, 2009, P.105)
Comenta:
“Tal concepção é, sob nosso ponto de vista, equivocada por vários motivos, a começar pela perspectiva preconceituosa em
relação à escola, vista, necessariamente como o espaço “da disciplina rígida, da falta de criatividade, de espontaneidade, lugar que formando alunos passivos por meio de práticas repetitivas, vazias de significado, distantes das suas vidas e dos seus interesses”. Em contraposição, a Educação Infantil, é vista como um ambiente “anti-escolar”. Em que se respeita a singularidades das crianças, espaço para brincadeira e o prazer, para o movimento do seu corpo, criar e dialogar, expressar sentimentos, construir identidade e aprender numa atmosfera acolhedora e desafiante”. (BRANDÃO, 2009, P.105).
É importante ressaltar que não há uma
pretensão de que a criança seja alfabetizada
antes do tempo, por meio de atividades
repetitivas de leituras de letras ou palavras e
copias, pois, cada criança tem o seu tempo e
deve-se respeitar. Porém elas são estimuladas
por seus pais ou por outras pessoas com as
quais convivem para a existência de letras,
existentes em vários materiais que fazem parte
do seu contexto sociocultural como: Jornais,
livros paradidáticos, receitas, rótulos de
embalagens, outdoors, listas de compras,
placas dentre outros. Desta forma há
possibilidades de se pensar o processo de
alfabetização, que começa desde o momento
em que esse segmento entra em contato com a
linguagem, de acordo com Brandão e Leal
(2010);
“Para reflexão sobre o próprio papel da Educação Infantil e por outro lado, na perspectiva sociointeracionista que alerta para importância do papel da escola na inserção das crianças na cultura escrita desde cedo. Assim, nessa perspectiva, a alfabetização passa a ser entendida como um longo processo que começa bem antes do ano escolar em que se espera que a criança seja alfabetizada”. (BRANDÃO, LEAL, 2010, p.19).

19 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
Em síntese, se pode destacar a
possibilidade de ensinar a leitura e a escrita na
educação infantil de forma contextualizada o
que inclui à apropriação do sistema alfabético,
sem desconsiderar a vivência e o lúdico entre
as crianças. Ao estimular, a prática de leitura
diária nas rodas iniciais de conversas se
possibilita a elas expor suas opiniões como
também a escrita de uma história e a
professora sua escriba, bem como outras
atividades de necessidades relevantes. A
brincadeira possibilita uma aprendizagem e
transforma as funções mentais, que promovem
o amadurecimento das ideias e concretiza as
regulações sociais. Assim aprender com prazer
e diversão, desperta aprendizagens
necessárias para a consolidação das funções
psicológicas no indivíduo. Em Vygotsky (1998),
podemos perceber esta possiblidade quando
ele afirma que;
“A criação de uma situação imaginária não é algo fortuito na vida da criança; pelo contrário, é a primeira manifestação da emancipação da criança em relação às restrições situacionais. O primeiro paradoxo contido no brinquedo é que a criança opera com um significado alienado numa situação real. O segundo é que, no brinquedo, a criança segue o caminho do menor esforço – ela faz o que mais gosta de fazer, porque o brinquedo está unido ao prazer – e ao mesmo tempo, aprende a seguir os caminhos mais difíceis, subordinando e a regras e, por conseguinte renunciando ao que ela quer, uma vez que a sujeição a regras e a renúncia à ação impulsiva constitui o caminho para o prazer do brinquedo”. (VYGOTSKY, 1998, p. 130).
Nessa perspectiva, esses educandos
devem ser motivados em seu desenvolvimento
psicológico, pelos educadores, familiares e
mesmo a sociedade, num sentido geral. Desse
modo, é possível oportunizar momentos para
seu desenvolvimento pleno como também
pensar nos objetivos da educação, a sociedade
que almejamos e que valores serão
transmitidos para os nossos herdeiros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A existência de varias práticas que
podem ser trabalhadas na educação infantil e
facilitam o processo de alfabetização. Esta
pesquisa apresenta para os profissionais da
área algumas dessas práticas. Deixar que os
educandos aprendam de forma prazerosa,
trabalhando os jogos de faz-de-conta, fantasiar
é formidável para que desenvolvam a
capacidade de simbolizar. É importante tornar
esse período uma fase alegre com fantasias e
realizações. Durante esta pesquisa, vimos que
as letras estão presentes na vida do homem
desde infância, por isso é tão importante para a
criança ter esse contato com as letras desde
muito cedo. Logo ficam ansiosas para entendê-
las, tem sede de aprender, busca por
aprendizado o tempo todo. Estimuladas por
seus pais ou pessoas da sua convivência, as
crianças começam a ser despertadas, para a
existência de letras, por exemplo, os nomes
das pessoas da família ou o seu próprio nome.
Assim, há uma extraordinária profusão de
letras, que fazem parte do dia a dia das
crianças em diferentes contextos socioculturais
como no caso dos jornais, livros, revistas,
receitas, rótulos de embalagens, listas de
compras, outdoors dentre outros.
Neste caso, não podemos determinar
que a criança tenha que finalizar a Educação
Infantil alfabetizada ou “lendo palavras”, o
ensino das relações letras-sons são
admiráveis, mas não devem ser abraçados
com tamanha rigidez. Este caminho é, assim,
inspirado, em estudos para ajudar às crianças
chegarem à alfabetização já com o

20 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
conhecimento prévio da escrita alfabética,
podendo assim facilitar no trabalho dos
docentes neste processo de aprendizagem.
Entretanto defendemos a importância de
trabalhar com letras e seus respectivos nomes,
mas que estes não são o suficiente para que
elas tenham o domínio sobre a leitura e a
escrita. Assim este é um pequeno passo para
uma aprendizagem mais ampla e fértil no seu
desenvolvimento cognitivo e social.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ADAMS, M. J. et al. Consciência fonológica
em crianças pequenas. trad. Roberto
Cataldo Costa. Adaptação à língua
portuguesa: Regina Ritter Lamprecht e
Adriana Corrêa Costa. Porto Alegre:
Artmed, 2006.
ARIÈS, Philippe. História social da criança e
da família. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC,
1981.
ABAURRE, M. B. M. O que revelam os textos
espontâneos sobre a representação
que faz a criança do objeto escrito? In.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação.
Resolução CNE/CEB nº 05/2009.
Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Infantil. Brasília, DF, 2009.
KATO, M. (Org). A concepção da escrita pela
criança. Campinas: Pontes, 1988.
FERREIRO, Emília. Com todas as letras. 4ª
ed.São Paulo, Cortez, 1993.
GAGNEBIN, J.M. Sete aulas sobre
linguagem, memória e história. Rio de
Janeiro: Imago, 1997.
LEITE, S.A S. Alfabetização e Letramento:
Contribuições para as práticas
pedagógicas. 4ª Ed. Campinas, SP:
Komedi, 2008.
MINAYO, Maria Cecília. O desafio do
conhecimento: pesquisa qualitativa
em saúde. 8º ed. São Paulo: Hucitec,
2004.
MINAYO. M.C. Pesquisa Social: teoria,
método e criatividade. Petrópolis. RJ:
Vozes, 1994.
POPPOVIC, A. M., & MORAES, G. C. (1966).
Prontidão para alfabetização:
programa para o desenvolvimento de
funções específicas – teoria e Prática.
São Paulo: Vetor
RODRIGUES BRANDÃO, Carlos. O Que é
Educação. São Paulo: Editora
Brasiliense, 1981. 116 p.
SOARES, M. Alfabetização e Letramento.
São Paulo: Contexto,2008.
SOARES, M. Alfabetização: a
ressignificação do conceito.
Alfabetização e Cidadania, nº 16, p 9-
17, jul.2003.
TFOUNI, L,V. Letramento e Alfabetização.
São Paulo: Cortez,1995.
VYGOTSKI, Lev S. La imaginación y su
desarrollo em la edad infantil. In:
VYGOTSKI, Lev S. Problemas de Psicologia
General – Obras Escogidas – v. II.
(edição dirigida por Alvarez, e Del Rio,
P.) Madri: Visor, 1993b, p. 423-438.
(original de 1932).
VYGOTSKY, Lev Semenovitch. A formação
social da mente: o desenvolvimento
dos processos psicológicos
superiores. São Paulo: Martins Fontes,
1998.
VYGOTSKY, Lev Semenovitch. Pensamento
e linguagem. São Paulo: Martins
Fontes, 1987.
YUNES, Eliana. A leitura e a formação do
leitor: questões culturais e
pedagógicas. Rio de Janeiro: Edições
Antares, 1985.

21 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
PROFESSOR DESORGANIZADO: ALUNOS INDISCIPLINADOS DESORGANIZED TEACHER: INDISCIPLINATED STUDENTS
RESUMO
Um dos grandes problemas enfrentados em sala de aula, tanto de escolas públicas quanto nas particulares é a questão da indisciplina, apesar desta ser de grande preocupação no meio educacional, observar-se que a mesma nem sempre é analisada em todos os aspectos. Os autores que abordam o referido tema, em sua maioria, focam o aluno e sua família. Apesar da relevância destas abordagens, no processo de aprendizagem existem dois agentes primordiais – o professor e o aluno – numa relação mediada pela prática do professor na sala de aula. Diante disto nos questionamos: “Até que ponto a postura do professor e suas práticas podem desencadear a indisciplina dos alunos em sala de aula?” O objetivo deste artigo é salientar de que maneira a falta de clareza metodológica e a ausência de qualificação do educador pode contribuir para desorganização na sua prática originando no educando a indisciplina. Para tanto é necessário compreendemos não somente os conceitos de metodologia e qualificação, indisciplina e desorganização, mas explicitar o processo de aprendizagem dentro da visão sócio-interacionista defendida por Vygotsky. Palavras-Chaves: indisciplina, aprendizagem, professor
DESORGANIZED TEACHER: INDISCIPLINATED STUDENTS DESORGANIZED TEACHER: INDISCIPLINATED STUDENTS
ABSTRACT
One of the great problems faced in the classroom, both public and private schools is the issue of indiscipline, although this is of great concern in the educational environment, it is observed that it is not always analyzed in all aspects. The authors who approach this theme, for the most part, focus on the student and his family. Despite the relevance of these approaches, in the learning process there are two primary agents - the teacher and the student - in a relationship mediated by the teacher's practice in the classroom. Facing this, we ask ourselves: "To what extent can the teacher's attitude and practices lead to the indiscipline of students in the classroom?" The purpose of this article is to highlight how the lack of methodological clarity and lack of qualification of the educator can contribute to disorganization in its practice, giving rise to the indiscipline in the student. To that end, it is necessary to understand not only the concepts of methodology and qualification, indiscipline and disorganization, but also to explain the learning process within the socio-interactionist vision defended by Vygotsky. Keywords: indiscipline, learning, teacher.
INTRODUÇÃO
É notório que as manifestações de
indisciplina na escola possuem origens
variadas. Já há algum tempo essas
manifestações fazem parte do cenário escolar
tendo como foco principal o aluno e a família.
Neste processo percebe-se que a instituição
escolar, representada pelo seu corpo docente,
não se vê como causadora dessas
manifestações.
Portanto, o presente artigo pretende
discutir até que ponto a falta de clareza de
metodologia e qualificação do educador
contribui para a desorganização do trabalho
docente causando a manifestação da
indisciplina em sala de aula.
A primeira parte deste artigo apresenta
algumas informações sobre a teoria sócio-
interacionista defendida por Vygotsky e os
conceitos de metodologia e qualificação,
indisciplina e desorganização, colocando entre
Rosana Costa Reis
Tiago Almeida Gadelha

22 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
os mesmos alguns dados e resultados da
pesquisa que realizamos nas escolas. Na
segunda parte, finalizando, apresentamos a
conclusão que obtivemos do tema proposto
(Professor desorganizado, alunos
indisciplinados) no artigo, relatando possíveis
soluções para amenizar as manifestações de
indisciplina dentro das salas de aula. Assim
este se diferencia por um levantamento de
dados que demonstra a necessidade do
professor de refletir e reconstruir uma
intencionalidade educativa embasada em
pressupostos teóricos e práticos que o auxiliem
na organização de suas atividades
pedagógicas.
A falta de clareza metodológica como causa
da desorganização da práxis pedagógica.
A Metodologia é o detalhamento de
maneira minuciosa, rigorosa e precisa de toda
ação desenvolvida no método que constitui-se
no caminho a ser percorrido pelo educador em
sua reflexão pedagógica. Para Dencker (1998)
[...] ”o método dá a orientação geral para se
chegar a um fim determinado”.
O método é um importante elemento a
ser cosiderado no planejamento, pois assegura
ao professor ministrar uma boa aula
promovendo a aprendizagem, bem como uma
relação harmonioza entre os elementos
envolvidos no processo.
Nas escolas é disponibilizado para os
professores um espaço para o planejamento
que tem uma proposta de construção
interdisciplinar, contudo segundo relato de
alguns professores o mesmo é elaborado por
eles durante os finais de semana, a noite ao
chegar em casa ou nos horários em que os
alunos encontram-se em atividade extra-classe.
A falta de clareza do professor quanto a
concepção metodologica aplicada em sua
prática pedagógica refletindo sua
intencionalidade pode vir a colaborar para a
desorganização da práxis. Em vista disso,
afimamos que é de suma importância o
aproveitamento do espaço destinado a
construção do planejamento, principalmente
quando se dá de forma interdisciplinar e
coletiva.
A escola tem como finalidade preparar
o aluno para a vida, não somente buscando
que o mesmo tenha uma realização profissional
– capacitando-o para um ofício –, mas
ajudando-o a construir saberes, a solidificar os
conhecimentos até então apreendidos assim
como estimular suas inteligências, contribuindo
para que esse aluno seja um cidadão ativo,
único e critico na sociedade, contudo para que
a escola possa ensinar é necessário antes de
tudo que está descubra como se aprende.
Não pode existir escola sem professor
assim como não pode ser concebida a idéia de
que exista a aprendizagem significativa sem
ajuda do mesmo, com isso cabe
questionarmos: Qual seria a dimensão e o
limite dessa ajuda por parte do docente?
A resposta para tal questionamento,
pode ser encontrada pelo educador ao fazer
uma reflexão introspectiva de sua ação
pedagógica – postura em sala de aula, clareza
metodológica, qualificação contínua, formação
docente – porém de acordo com Celso Antunes
em seu livro Vygotsky quem diria?! Em minha
sala de aula, o autor pontua quatro elementos
visando responder a tal refutação.
1º Elemento
A ajuda fornecida pelo professor deve
estar associada sempre com os conhecimentos
prévios que o educando traz consigo para
dentro da sala de aula, sendo estes que
servirão como base para atribuir significados

23 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
aos novos conhecimentos adquiridos pelo
mesmo.
2º Elemento
O segundo passo do educador é
proporcionar um ambiente em sala de aula que
favoreça ao educando oportunidades
desafiadoras através de questionamentos,
indagações curiosas e contextualizações
surpreendentes que vá de encontro com seu
conhecimento e significado até então
estabelecidos, visando apontar não para aquilo
que já conhece, mas para o que não conhece
ainda ou suficientemente, direcionando-o para
a aquisição de novos saberes.
3º Elemento
Já foi dito que o professor é
fundamental para que se possibilite a
aprendizagem significativa em sala de aula,
porém não se pode apenas aceitar uma pessoa
na postura de docente, mas devemos observá-
lo como um mediador do conhecimento
buscando sempre qualificar-se e adaptar-se ao
ambiente em sala de aula, tendo em si uma
perspectiva inovadora sobre a aprendizagem,
assim como uma clareza e consciência de sua
metodologia e técnicas aplicadas a fim de
promover uma aprendizagem significativa em
seus discentes.
Com isso deve respeitá-lo e aceitá-lo
como um ser único e singular tendo em mente
que cada um deles possui um ritmo próprio de
apreender as coisas que o rodeiam não
esquecendo que para ele o seu professor será
sempre aquele a quem confiará sua vida
acadêmica, e o educador deve também ter
sempre em mente que sua ação pedagógica
influenciará de maneira crucial e permanente
na vida de seus educandos.
4º Elemento
Este é o mais importante de todos os
outros elementos, pois será base para que se
compreenda os anteriores, neste abordaremos
Vygotsky e a sua criação e intervenção do
professor na Zona Desenvolvimento Proximal
(ZDP) dos alunos.
A concepção de ensino relacionada
com a ZDP levantará a importância da relação
e da interação do docente e discente nos
processos de aprendizagem, uma vez que para
Vygotsky, o desenvolvimento humano é bem
mais do que a questão neurológica, influindo
em um desenvolvimento social, ou seja, uma
relação contínua entre o educador (família,
colegas, professor...) e o aprendiz.
Dessa maneira segundo a linha
vygotskyana não podemos imaginar que exista
aprendizagem sem o papel transformador do
sujeito, onde a aprendizagem dependerá do
desenvolvimento real e potencial, não deixando
de lado também o desenvolvimento da zona
proximal.
A ZDP é definida como a distância
entre o nível de resolução de um
problema/tarefa que uma pessoa pode alcançar
com a ajuda de outra pessoa mais competente
ou experiente, sendo que é na ZDP segundo
Lev Vygotsky que a interação do outro pode
fluir de maneira positiva promovendo a
aprendizagem, no caso da sala de aula o
docente media o conhecimento fazendo com
que seus discentes acabem sendo
influenciados pelo meio que estão inseridos,
assim o educador influencia de maneira direta
não somente na aprendizagem como também
na formação do educando quanto pessoa e
cidadão ativo na sociedade.

24 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
A ausência de qualificação como agente da
indisciplina
O professor é aquele que exercerá uma
influência no aluno de cunho positivo ou
negativo. A influência por parte do educador
no educando leva a uma aceitação do outro
como agente transformador em sua
personalidade, sendo que esta desde muito
tempo é vista como um método pedagógico.
O objetivo da educação nos tempos
antigos era puramente o da imitação, ou seja, o
discente era levado a pensar e proceder tal
como seu docente, uma vez que a tradição era
à base da sociedade. As coisas, porém
mudaram e a imitação em si não é mais
suficiente para a formação da personalidade do
educando, onde é necessário algo mais para
que o mesmo possa ter uma participação ativa,
consciente e responsável na sociedade.
Hoje, verificamos que com a mudança
do cenário educacional trouxe para o professor
a necessidade de uma qualificação como
mostra o gráfico 1.
75%
25%
Graduação Completa
Pós-Graduação Incompleta
Gráfico 1 - Demonstra o nível de qualificação
dos profesores
A tarefa e a responsabilidade do
professor como mediador na formação da
personalidade do aluno aumentaram, por isso é
fundamental que o educador tenha em mente
todo esse processo de aprendizagem, suas
variações e transformações se mantendo
atualizado com as mudanças que acontecem
no mundo, para isso é importante que ele se
mantenha em uma qualificação contínua de
seus saberes e métodos pedagógicos a fim de
renovar sua práxis.
A função do docente em sala de aula é
primeiramente ajudar seus discentes na
aquisição de novos saberes, para tanto é
preciso que este utilize de exposição, estudo
dirigido, supervisionado e livre, contudo de
acordo com Imideo Nérici – em seu livro
Didática, trabalho e democracia – existem tipos
anômalos de comportamento magisterial que
são prejudiciais ao ensino e muito mais à
formação do educando, por isso deveriam ser
evitados. Explicitaremos somente alguns deles.
1. Tipo vaidoso e pernóstico: O que se
considera o “sabichão” não dando oportunidade
a construção de novos saberes em sala de
aula, assim os alunos acabam por se
demonstrarem desinteressados e
indisciplinados.
2. Tipo colérico: Aquele que por qualquer coisa
ou motivo faz da sala um campo de batalha,
distribuindo ameaças onde seus alunos
passam a temê-lo, sua presença transmite
insegurança, seus alunos se comportam
sempre quietos, porém na aula seguinte se
mostram indisciplinados ao extremo, vingando-
se no professor que vem a seguir.
3. Tipo instável: Um dia está de bom humor e
no outro não, proporcionando um ambiente de
insegurança e indisciplina, onde nunca media a
aprendizagem contínua e concentrada.
4. Tipo despótico: Procura sempre dominar
seus alunos pela violência ou por represálias –
notas, expulsão de sala, tarefas quilométricas –
colocando o aluno como simples número, não
os vendo como seres humanos, transmitindo
para eles um sentimento de inutilidade que
prejudica em sua disposição para o estudo.
Observamos que o professor deve sim
estar em uma formação continuada, para que

25 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
se evitem alguns desses tipos anômalos
magisterial que repercute em uma indisciplina
por parte do educando em sala de aula, uma
vez que este se sente ameaçado e inútil,
refletindo em sua formação acadêmica e
pessoal, assim o professor deve ter firme a
idéia/conceito de que e como a sua postura em
classe irá cooperar para a aprendizagem de
maneira positiva impedindo a construção de
possibilidades para a formação de alunos
indisciplinados, a partir de sua prática
pedagógica equivocada ou desorganizada não
somente no sentindo concreto, mas também
abstrato.
O educador precisa ter como meta uma
prática pedagógica transformadora. De acordo
com Paulo Freire “ensinar não é transferir
conhecimento”, tão pouco ”não há docência
sem discência”, no entanto para que o docente
tenha isso bem fixo em sua práxis é de grande
importância que o mesmo se permita fazer
cursos de qualificação contínua, pois, de nada
importa um discurso brilhante de como ser um
mediador do processo de aprendizagem e o
valor de uma educação sócio-interacionista se
sua ação pedagógica é impermeável a
mudanças advindas de uma qualificação
contínua – relacionadas aos métodos, técnicas
assim como de sua postura em sala de aula – e
renovada, através da humildade, competência,
conhecimento e organização onde o professor
é antes de tudo um referencial único e
essencial à vida de seus alunos.
Segundo Freire (2001) “Ao ser
produzido, o conhecimento novo supera outro
que antes foi novo e se fez velho e se “dispõe”
a ser ultrapassado por outro amanhã.” Assim,
para haver uma efetiva mudança na práxis
docente é necessário que o educador perceba-
se como responsável pelo ato de qualificar-se
continuamente.
Desse modo o processo de qualificação
contínua do docente é um elemento primordial
para que se evite e/ou diminua a indisciplina
nas salas de aula, uma vez que ao se
aperfeiçoar e ao se repensar como um
mediador da aprendizagem, o professor torna-
se um pesquisador, pois estuda, reflete, propõe
e organiza sendo um gerador de alunos
investigadores que buscam pelo conhecimento
com prazer e êxito.
Desorganização e indisciplina
Para Chalita (2001), “Professor
desorganizado: é aquele professor que não faz
planejamento, está sempre perdido naquilo que
vai propor em aula, por isso às vezes, cria
atividades improvisadas sem fornecer
subsídios aos alunos, ou se põem a discutir
banalidades. Não possui comprometimento
algum”.
Esta desorganização se dá pela falta
de clareza metodológica e contínua
qualificação do professor, não proporcionando
uma compreensão dos problemas presentes no
dia-a-dia da escola e nem tão pouco o
impulsiona a procurar meios para solucioná-los.
Na opinião dos professores, como é
demonstrado no quadro 1, estes acreditam que
sua desorganização afeta de maneira direta no
comportamento do aluno ocasionando muitas
das vezes na indisciplina.
Professor A
Sim, se o professor não se organiza
como pode querer o contrário dos
alunos.
Professor B
Sim, sem organização o professor
pode perder o controle da turma e dos
conteúdos.
Professor C
Sim, se o aluno perceber a
desorganização do professor pode
ficar indisciplinado.
Professor D Sim.
Quadro 1 – Opinião dos professores

26 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
A falta de organização da práxis
docente não afetará somente o
desenvolvimento das atividades pedagógicas,
mas refletirá principalmente nos educandos
que podem reagir negativamente à falta de
aulas significativas e a incoerência do professor
quanto ao que diz e ao que faz, ou seja, os
valores que ele tenta mediar e os que ele vive.
Esta dicotomia contribui para que os discentes
manifestem comportamentos que não
condizem com as normas escolares, resultando
na indisciplina dentro da sala de aula e
cooperando para conflitos na relação entre os
alunos e o questionamento da autoridade do
professor, em alguns casos atos de violência e
vandalismo.
Celso Antunes em seu livro Professor
bonzinho = aluno difícil destaca alguns pontos
na prática docente que devem ser
considerados, pois a falta destas caracteriza-se
como desorganização por parte do professor e
podem gerar indisciplina por parte dos alunos:
1º Assiduidade e pontualidade do
professor: Se o professor é assíduo e pontual
ele colabora para organização do cérebro de
seus alunos que se preparam para a aula e a
aceitam com calma as propostas planejadas.
No caso de uma postura contrária veremos
uma sala agitada pela espera e pouco disposta
a aceitar as atividades propostas e isso gera
indisciplina.
2º O planejamento das aulas: É
necessário que ao planejar suas aulas o
professor busque relacionar os conteúdos
trabalhados ontem com os que irá abordar hoje
de forma que tenham uma continuidade, além
disso, as atividades propostas não podem
perder de vista a vivência dos alunos trazendo
para eles técnicas pedagógicas que atendam
as diversidades existentes em sala de aula. Se
as aulas forem carregadas de um discurso
vazio e de atividades descontextualizadas, a
indisciplina será inevitável.
3º Como a indisciplina é administrada
pelo professor: Devem-se estabelecer limites, o
aluno precisa ter clareza do que é e não
permitido em sala de aula para tanto cabe ao
professor instituir com a participação de todos,
as regras e as sanções que serão aplicadas em
caso de má conduta, ou seja, se estabelece um
contrato didático. Não há como ensinar ou
educar sem o cumprimento deste contrato e a
sua ruptura ocasiona o imperialismo da
indisciplina.
4º A organização dos alunos na sala: O
professor precisa decidir juntamente com seus
alunos como será organizado o espaço da sala
de aula definindo o lugar onde cada um irá
sentar e a postura correta, bem como onde
colocar seu material. Numa sala onde os
alunos não têm definido o seu espaço gera-se
inúmeros conflitos e conseqüentemente a
indisciplina.
O espaço pedagógico da escola, como
um todo, é caracterizado pelas relações entre
professores e alunos, as quais refletem a
maneira de viver o trabalho pedagógico. Neste
sentido é necessário que o educador possua
uma organização emocional, de modo que
possa mediar com tranqüilidade as várias
formas de manifestação pedagógica, através
de sua fala e de suas ações.
Muitas vezes a falta de equilíbrio
emocional do professor o conduz a uma
interpretação errônea sobre determinadas
atitudes de seus alunos, como destaca Wallon
(2001) “muitas vezes o professor diante da
posição do aluno sente se muito incomodado,
muitas vezes desafiado, desrespeitado.”.
Se o professor procurar exercitar esse
equilíbrio emocional poderá perceber que
sempre há um meio de ensinar aprendendo
com seus alunos através de observações

27 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
atentas, comprovando que nem todas as
atitudes que parecem desrespeitosas são, na
verdade, é um pedido de ajuda para
constituição de si mesmo.
CONCLUSÕES
A temática abordada é de grande
relevância, uma vez que nos proporcionou uma
ampla visão do processo de ensino-
aprendizagem a fim de ratificarmos de como a
postura do educador reflete diretamente no
educando.
Ao observarmos a rotina na sala de
aula, percebemos que na concepção dos
professores a indisciplina está diretamente
relacionada somente à organização do
ambiente da sala que não deve permitir a
“conversa” entre os alunos. No quadro 2,
destacamos as resposta dos docentes quando
questionados se eles se consideram
desorganizados.
Professor A Não, busca melhorar em todos os
aspectos.
Professor B Não, desorganização é falta de
compromisso com a escola e alunos.
Professor C
Não, é sempre organizada com seu
material, planejamento notas e
diários.
Professor D Não, busca organizar o espaço.
Quadro 2 - Resposta dos educadores referente
à desorganização.
É importante destacar que ao
levantarmos para os alunos o mesmo
questionamento obtivemos o seguinte gráfico:
40%60%
Sim Não
Gráfico 2 – Demonstrativo percentual da
opinião dos alunos referente à desorganização.
Para as respostas positivas, os alunos
justificaram-se dizendo que se consideravam
desorganizados, pois conversavam e
bagunçavam durante as aulas tendo como
conseqüência a expulsão da sala de aula. Já
para as negativas estes explicaram que não se
consideravam desorganizados pelo fato de
sempre arrumarem a sala e seus materiais.
Verificamos que a idéia do aluno com
relação à desorganização esta intimamente
ligada a percepção do professor. Neste
momento destacamos um equívoco, pois nem
sempre um ambiente em que os alunos
estejam conversando de forma aparentemente
“desorganizada” pode ser tachado como
indisciplinado uma vez que esta aparente
“desorganização” pode estar favorecendo a
aprendizagem coletiva e significativa, para isso
é necessário que o docente rompa com o
senso comum de que a desorganização está
ligada à arrumação do espaço, quando na
verdade o que realmente fará diferença na
disciplina do aluno é a percepção de que o
trabalho desenvolvido pelo professor tem uma
intencionalidade, uma continuidade e realmente
atenda as necessidades de seus educandos.
De acordo com Spink (1999) “O
conceito de práticas discursivas remete, por
sua vez, aos momentos de ressignificações, de
rupturas, de produção de sentidos, ou seja,
corresponde aos momentos ativos do uso da

28 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
linguagem, nos quais convivem tanto a ordem
como a diversidade".
Assim para que isso aconteça é
essencial que o professor tenha consciência da
importância de uma qualificação continuada
como fonte de alimentação metodológica
contribuindo para sua organização pedagógica
amenizando a indisciplina na sala de aula.
Em outro momento durante as
observações e entrevistas com os docentes e
os discentes, percebemos que um dos
entrevistados encaixou-se em um dos tipos
descrito por Imideo Nérici quando se refere ao
tipo despótico, em que a professora é
autoritária fazendo que os alunos a temam em
vez de ganhar o seu respeito, obrigando-os
sempre a fazerem atividades em excesso com
a intenção de mantê-los ocupados evitando
que estes interagissem e a mesma perca o
total controle da turma, contudo sua prática
ditadora não impediu os alunos de terem
comportamentos agressivos e de indisciplina, e
na medida com que a educadora impusesse
seu poder e tentativa de controle os educandos
revidavam da mesma maneira.
É visível que esse tipo de educador
ainda tem em mente uma concepção
tradicionalista de educação, no que nos remete
a questão da qualificação contínua onde o
professor tem a possibilidade de estar em
contato com as novas teorias que permeiam o
processo de ensino-aprendizagem, rompendo
com alguns paradigmas como, por exemplo, o
da educação bancária em que o aluno não
passa de um mero receptor de informações,
nunca sendo visto como um agente ativo desse
processo.
A ausência dessa qualificação contínua
acarreta muitas das vezes em professores com
as mesmas práticas dos tipos citados por
Imideo Nérici fazendo com que a práxis desses
educadores resultem em um formador da
indisciplina em sala de aula, uma vez que os
mesmos não se dispõem a freqüentar os
cursos de qualificação disponibilizados pela
sua instituição de ensino ou não se permitem
mudar suas idéias e conceitos de como ensinar
sem ver o aluno apenas como uma tábula rasa
a ser preenchida, mas vendo-os como seres
humanos ativos e participativos nessa troca de
conhecimentos e produção de novos saberes,
bloqueando o surgimento de ações
indisciplinadas, tendo em meta que ele como
docente é sempre um referencial importante e
indispensável para a formação de seus
discentes e que sua postura reflete de modo
direto e marcante.
De acordo com Aquino (2000) “se os
professores tiverem clareza em relação ao seu
papel e ao valor do seu trabalho, eles poderão
alcançar um outro tipo de leitura do cotidiano
escolar, sobre os dilemas que se apresentam e
as possíveis estratégias para sua execução,
quem sabe até, uma possível solução”.
Em vista disso podemos dizer que
alguns professores apesar de terem uma
qualificação contínua e um acúmulo de
conhecimentos pedagógicos muitas vezes não
possuem uma consciência de seu papel como
mediador da aprendizagem, ocasionando em
uma deficiência na sua metodologia, podendo
esta ser vista como um tipo de falta de clareza
metodológica.
Em sua prática docente tais
professores não estimulam os alunos em suas
atividades propostas, usando apenas de
conteúdos fixos, por exemplo: repetição de
seqüência numérica, separação de sílabas sem
explorar sua importância, significado e sua
inserção no contexto proposto no tema
gerador, deixando de lado qualquer tentativa de
diversificar sua práxis, sem optar por nenhum
tipo de técnica ou estratégia que
proporcionasse os alunos um aprender

29 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
significativo, visando tornar o tempo em sala de
aula não apenas um momento do processo de
ensino-aprendizagem, mas também fazendo
com que os educandos participem ativamente
demonstrando interesse e prazer coletivo nos
exercícios realizados no âmbito escolar.
A falta de clareza metodológica deste
tipo de professor ou consciência de seu papel
como mediador dessa aprendizagem, faz com
que tanto ele quanto os alunos tenham uma
aversão a comparecer nos dias de aula, pois
nenhuma das partes se sente satisfeita com o
ambiente escolar, e os alunos ficam cada vez
mais cansados de aulas apenas expositivas,
onde nunca é usado de meios dinâmicos como
atrativos para a aquisição de novos saberes, e
isto, acaba resultando em um descaso dos
discentes quanto ao processo de ensino-
aprendizagem, fazendo com que os mesmos
se manifestem em muitos casos através de
atos de violência e conflitos na relação entre os
agentes envolvidos nesse processo, gerando
por fim em ações indisciplinadas.
No decorrer deste artigo foi pontuado e
demonstrado dados e situações em que alguns
docentes se enquadravam no perfil do
professor desorganizado como um agente ativo
na formação de alunos indisciplinados a partir
da falta de clareza metodológica e a ausência
de qualificação. Pelo que foi pesquisado e
escrito neste, consideramos de grande
importância elucidar algumas possíveis
soluções com a intenção de amenizar a
indisciplina gerada por parte dos educadores
que reflete posteriormente nos educandos
dentro das salas de aula.
Como já fora citado por Celso Antunes,
existem alguns pontos na práxis docente que
devem ser respeitados e seguidos, evitando
dessa maneira a origem
de situações de indisciplina, sendo estes:
assiduidade e pontualidade do professor, o
planejamento das aulas e a organização dos
alunos dentro da sala de aula, não esquecendo
a importância de uma clareza metodológica no
trabalho pedagógico a ser mediado juntamente
com os alunos, pois somente com a aplicação
e a valorização do dinamismo de “aprender a
aprender” é que o desenvolvimento da
aprendizagem se torna possível de acordo com
a abordagem interacionista vygotskyana.
Para Daniel Sampaio (1996) “a
indisciplina pode ser reduzida se os
professores se tornarem organizadores mais
eficazes da aula, se tiverem uma boa formação
científico-pedagógica e uma boa capacidade
relacional com os alunos”.
As inovações de meios para a
mediação do conhecimento podem ser feitas
através de:
Atividades mais desafiadoras;
A co-relação de conteúdos com a
vivência dos discentes;
Estudos supervisionados pelos
docentes ao ar livre
A interdisciplinaridades dos conteúdos
com exposições dos trabalhos, dança teatro,
música, recitais;
Projetos aplicados na comunidade;
Visitas ao centro de pesquisa, museus
e parque ecológicos.
Para que os educadores adotem essas
novas estratégias em seu cotidiano escolar se
faz necessário que os mesmos se
predisponham a estarem em uma contínua
qualificação podendo esta ser feita por meios
de leituras pedagógicas, revistas educacionais,
pesquisas de projetos direcionados ao ensino-
aprendizagem, curso de qualificação como:
especializações, mestrado, doutorado e
aqueles disponibilizados pela instituição de
ensino.

30 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
Seguindo essas sugestões podemos
impedir o aparecimento de tipos anômalos de
professores no sistema educacional
mencionado por Imideo Nérici e
consequentemente evitar o surgimento da
indisciplina escolar.
Outras propostas que também servem
como instrumentos de apoio é a presença de
um diálogo sempre ativo no convívio em
classe, onde o professor deve ser o primeiro a
iniciar as conversas em pequenos grupos e
posteriormente em um grupo maior com todos
os alunos, polemizando temas que estejam
vinculados com os interesses dos mesmos, já
que a não prática desta maiêutica
desembocará em aulas cansativas e
enfadonhas oportunizando atitudes
indisciplinadas.
Assim como o professor possui um
tempo específico para a elaboração do
planejamento escolar, propomos que seja
inserido neste um espaço para o Dia do aluno,
onde o próprio aluno escolherá como aprender,
o docente explicará para a turma como se
realizará este dia passo a passo.
Primeiro passo: Perguntar como os
alunos gostariam que fosse mediada a aula.
Segundo passo: Apresentar o tema
gerador (já pré-definido no planejamento do
professor).
Terceiro passo: Formar pequenos
grupos para o desenvolvimento das atividades
futuras, que se realizará no Dia do aluno.
De acordo com Gómez (2000) “O
ensino é uma atividade prática que se propõe
dirigir as trocas educativas para orientar num
sentido determinado as influências que se
exercem sobre as novas gerações”
Este ensino tem como um dos
mecanismos principais a motivação,
consideramos essencial valorizar os interesses
pessoais do educando, porém é mais do que
primordial não apenas motivá-los a buscar,
mas sim incitá-los a lutar pela concretização de
suas idéias e metas.
Sendo este o objetivo principal da
nossa proposta que vai favorecer um ambiente
estimulante e acolhedor para a execução do
Dia do aluno, com a intenção de incentivar a
construção do conhecimento, capacidade de
construir idéias próprias sobre as coisas e
expressá-las de forma convicta, contribuindo
para uma formação integral da personalidade
do educando como também para a sua vida
secular, ou seja, sujeitos ativos no mundo.
O reconhecimento do professor como
agente causador da indisciplina pode ser
concebido como o primeiro ato de prevenção
desse fenômeno que está tão presente em
nossas escolas e ainda que seja complexo e
fatigante contornar este, não podemos desistir
e nem se acomodar em procurar possíveis
estratégias para a moderação da mesma.
O segundo ato é a mudança de sua
prática pedagógica procurando ter uma clareza
metodológica, qualificação contínua e
convicção de que todos os alunos podem
aprender, embora aprendam de maneiras e
ritmos diferentes.
Segundo Gotzens (2003) “A disciplina
escolar não consiste em um receituário de
proposta para enfrentar os problemas de
comportamentos dos alunos, mas em um
enfoque global da organização e da dinâmica
do comportamento na escola e na sala de aula,
coerente com os propósitos de ensino”.
O terceiro e último ato é almejar a
instauração da disciplina em todas as escolas,
contudo ao referirmos a este desejo temos que
ter cuidado para não nos atermos em seu
conceito primário, que rege: o silêncio, a ordem
e a limitação dos alunos, impedindo o seu
desenvolvimento criativo e participativo em sala
de aula, porém o conceito de disciplina que

31 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
buscamos instaurar dentro das salas de aula é
aquela que valorize as organizações coletivas,
a interação entre alunos e professor, a
produção de novos saberes com base no
conhecimento prévio que contribua para a
autonomia do educando, a fim de que se
conquiste uma sociedade democrática.
Com base em tudo que já foi
explicitado neste artigo ratificarmos que o tema
abordado é verídico em que a desorganização
do professor implica diretamente no
comportamento dos alunos causando em
muitos a indisciplina, isso significa que temos
que rever os nossos conceitos e a nossa
prática docente, já que para nossos educandos
somos muito mais que seus educadores,
somos ao mesmo tempo aquela figura materna,
paterna entre outras, enfim um referencial para
toda a vida de modo quer seja positivo ou
negativo.
REFERÊNCIAS
ANTUNES, Celso. Professor bonzinho=Aluno
difícil: A questão da indisciplina em
sala de aula. Fascículo 110, Petrópolis,
RJ: Vozes, 2002.
ANTUNES, Celso. Vygotsky, quem diria?!
Em minha sala de aula. Fascículo 12,
4º ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.
AQUINO, Júlio G. Do cotidiano escolar:
Ensaios sobre a ética e seus avessos.
São Paulo: Summus, 2000.
CLARK, Ron. Arte de educar crianças. Rio de
Janeiro: Sextante, 2005.
COUTOIS, G. Padre, Educar com êxito:
Alguns conselhos de pedagogia
prática. 3º ed. Rio de Janeiro: Livraria
Agir Editora, 1959.
DENCKER, Fernando. Educação e a
Construção do conhecimento. Porto
Alegre: Artmed, 1998.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia.
31º ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005.
GÓMEZ, A. I. Compreender e transformar o
ensino. Porto Alegre: Artmed, 2000.
GOTIZENS, C. A disciplina escolar:
prevenção e intervenções nos
problemas de comportamento, 2º ed.
Porto Alegre: Artmed, 2003.
LAGOS, Silvia. A Importância do Afeto nas
Relações Aluno/Professor,
Ensino/Aprendizagem. Disponível em
<www.colegiodombosco.net/novo/artigos
-detalhes.php?id=8page=1> acesso: 09
de Julho de 2008.
NÉRICI, Imideo Giuseppe. Didática, Trabalho
e Democracia. São Paulo: Nobel, 1977.
SAMPAIO, Daniel. Voltei à Escola. Lisboa:
Editorial Caminho. SA, 1996.
SPINK, M. J. Práticas Discursivas e
Produção de sentidos no cotidiano:
Aproximações teóricas e
metodológicas. São Paulo: Cortez,
1999.
WALLON, Henri. Coleção Grandes
Educadores. Coorpedic Log Ltda,
2001.

32 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
CONTEXTUALIZANDO A EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL
RESUMO
Utilizando-se enquanto metodologia a revisão bibliográfica referente a Escola de Tempo Integral, têm-se por finalidade expor relevantes experiências em torno daampliação da jornada escolar dos alunos da rede pública de ensino no Brasil, sua base metodológica,bem como as concepções, pressupostos e condicionantes que envolvem cada experimento. O estudo optou por efetuar a contextualização, a partir do relato dos fatos históricos que influenciaram esta modalidade de ensino, seguindo a cronologia dos acontecimentos, através do recorte histórico. Buscar-se-á realizar uma abordagemdos fatos políticos , sociais, culturais e econômicos com o intuito de contextualizar a origem da Escola de Tempo Integral no Brasil. Palavras-chave: Escola em Tempo Integral. Ensino Integral. Jornada Escolar Ampliada.
CONTEXTUALIZING INTEGRAL EDUCATION IN BRAZIL
ABSTRACT
Using as a methodology the bibliographical review regarding the Integral School of Time, the objective is to present relevant experiences about the expansion of the school day of the public school system in Brazil, its methodological basis, as well as the conceptions, assumptions and conditioning factors that involve each experiment. The study chose to contextualize, from the historical facts that influenced this modality of teaching, following the chronology of the events, through the historical cut. An attempt will be made to approach the political, social, cultural and economic facts with the purpose of contextualizing the origin of the Integral School in Brazil. Using as a methodology the bibliographical review regarding the Integral School of Time, the objective is to present relevant experiences about the expansion of the school day of the public school system in Brazil, its methodological basis, as well as the conceptions, assumptions and conditioning factors that involve each experiment. The study chose to contextualize, from the historical facts that influenced this modality of teaching, following the chronology of the events, through the historical cut. An attempt will be made to approach the political, social, cultural and economic facts with the purpose of contextualizing the origin of the Integral School in Brazil. Keywords: Full-time School. Integral Teaching.ExtendedSchool Day..
INTRODUÇÃO
O artigo foi estruturado de modo a
proporcionar que se conheça a história, as
principais experiências de implantação, as
concepções, as premissas e condicionantesda
Escola de Tempo integral no Brasil, desde as
primeiras vivencias no pais, até o dias atuais.
Utiliza-se enquanto processo
metodológico, a revisão da literatura a respeito
ou vinculado ao tema,tendo -se por referência
obras de autores como: John Dewey, Anísio
Teixeira, Victor Paro, Mota ,Chiozzini, Moll,
Cavaliere, Dutra entre outros.
O recorte histórico ocorreu a partir da
década de 20 do século XX, a partir das teorias
do educador e filosofo Jonh Dewey que serviu
de base para o movimento da Escola Nova e
para as primeiras experiências de Educação
em Tempo integral no país, discorrendo sobre
experiências significativas de implantação e
materialização dessa modalidade de ensino ao
longo do tempo, como: A escola Parque, Os
Centros Vocacionais, Os CIEPs, O PROFIC,
Os CIAC , O Programa Mais Educação, O Pro-
EMI, entre outros. Bem como, as concepções e
condicionantes que tem balizado a ampliação
do tempo do aluno na escola.
Adriana Karla Santos Wamderley
Neilson Vieira dos Santos

33 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
Não foi pretensão do estudo, indicar
caminhos ou defender posições em relação
aos fatos por ele mostrado.
DESENVOLVIMENTO
HISTORIANDO A EDUCAÇÂO INTEGRAL NO BRASIL
O estudo a respeito da história da ETI
no Brasilremete-se, inevitavelmente, a falar da
influência que os estudos do Sociólogo norte-
americano John Dewey, teve sobre os
educadores de nosso país, suas teorias
norteiam o Movimento da Escola Nova,
liderados por Anísio Teixeira nos anos 1930,
que se caracteriza como o pontapé inicial para
a proposta da ETI no Brasil.
John Dewey é o autor mais importante
e o maior propagador do pragmatismo ou
instrumentalismo filosófico, corrente que
defende que a reflexão e a ação devem estar
interligadas, e que a escola aumenta o seu
grau de importância a medida que
instrumentaliza o aluno para resolução de
problemas reais. A escola deve proporcionar
experiências teóricas e praticas concreta dentro
do ambiente escolar, o qual, assume a
concepção de uma comunidade de transição
para o mundo real, sendo assim, o sentido de
ofertar vivencias, que são fundamentais para o
desenvolvimento e prepararão para uma
melhor compreensão dos aspectos da vida
real dos estudantes, a escola deve estar
interligada a sua localidade, respeitando os
aspectos sociais e experiências de vida do
alunado, em todos os níveis de ensino, embora
respeitando o grau de amadurecimento do
aluno as situações trafegam das mais simples
as mais complexas, porém sem perder o foco
na preparação para vida.
Uma das principais lições de Dewey é
que, não deve haver separação entre vida e
educação, ela deve preparar para a vida,
promover seu constante desenvolvimento.
Como ele diz: “As crianças não estão sendo
preparadas para a vida e em outro vivendo”.
Em análise pode-se perceber sua defesa na
escola conectada com a realidade vivida do
educando.
O papel da Escola é reproduzir a
comunidade em miniatura, apresentar o mundo
de um modo simplificado e organizado e, aos
poucos conduzir as crianças ao sentido e a
compreensão das coisas mais complexas.
O ideal educacional de Dewey era de que a educação se desse, o máximo possível junto com a própria vida: quanto mais se integrassem atividade escolar e demais atividades cotidianas, melhor. (GIORGIO1986,p36).
Dewey defende que a educação fosse
realizada através da associação de tarefas ao
conteúdo, pois favorece a fixação do
aprendizado. O autor em seu livro Vida e
educação (1952) define Educação “como o
processo de reconstrução e reorganização da
experiência”. O autor apresenta preocupação
que os jovens devem passar não apenas por
um número grande de experiências, mas,
sobretudo que as experiências fossem
significativas para seu contexto futuro, o
professor neste contexto tem um papel
importantíssimo, uma vez que, é o responsável
pelo direcionamento e muitas vezes escolhas
das mesmas.
A qualidade de qualquer experiência tem dois aspectos: o imediato de ser agradável ou desagradável e o mediato de sua influencia sobre experiências posteriores. O primeiro é obvio e fácil de julgar, mas em relação ao efeito de uma experiência, a situação constitui um problema para o educador, sua tarefa é de dispor as coisas para que as experiências, conquanto não

34 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
repugnem ao estudante e antes mobilizem seus esforços, não sejam apenas imediatamente agradáveis ,mas o enriqueçam e, sobretudo, o armem para novas experiências futuras (DEWEY,1979,p.16)
Dewey também considera essencial a
utilização de instrumentos que desenvolvam os
aspectos emocionais e intelectuais da criança
para vida, desta forma, atividades físicas,
manuais, artísticas e criativas foram sendo
inseridas no currículo escolar em conjunto com
um espírito mais democrático, onde as
experiências e a liberdade de expressão
ganham grau de relevância.
Ao propor um regime educacional
fundamentado no sistema de projetos, onde o
aluno tem a capacidade de ir ao encontro e
descobertas de informações que propiciem
suas próprias vivencias, ajudando-o a
materializar seus conceitos de forma mais
consolidada, a partir da práxis pedagógica, o
educador e filosofo oferecem as bases teóricas
para um dos pilares de sustentação da pratica
da Escola Nova, o Sistema de projetos. Ao
projetar esses princípiospedagógicos, onde o
aluno é o centro do processo e a preocupação
deve estar focada no desenvolvimento da
formação integral do ser humano de forma
harmoniosa, físico, emocional e intelectual,
Dewey tem seus princípios de ensino escolar
classificados na área das teorias pedagógicas
de educação progressiva.
Dewey criou uma Escola-laboratório
ligada a Universidade onde lecionava para por
em prática seus métodos pedagógicos. Ele
considera essencial estreitar a relação teoria e
prática, pois preconiza que as hipóteses
teóricas só tem sentido quando vivenciada no
dia a dia, através de experiências que quanto
mais qualificadas e associadas a realidade,
mais eficaz será o aprendizado. Outro pilar de
sua teoria é a promoção de um ambiente
democrático e possibilite a participação e
processos de discussão coletiva, pois faz parte
de sua crença que o conhecimento é
construído de consensos, os quais são obtidos
a partir da apreciação das ideias apresentadas,
discutidas e refletidas no grupo, sendo o
aprendizado obtido pelo compartilhamento das
experiências resultantes dos processos de
discussão e participação democrática.
A escola deve prover um ambiente de integração social, de harmonização, de hospitalidade, colaborando para a formação de inteligências claras, tolerantes e compreensivas. A escola deve, ainda, proporcionar práticas conjuntas e promover situações de cooperação, em vez de lidar com as crianças de forma isolada (DEWEY,1952 p,15-16)
Observa-se que algumas teorias de
ensino e aprendizagem modernas nutrem-se
de teorias metodológicas defendidos por
Dewey, como o construtivismo e os parâmetros
Curriculares Nacionais, os quais são
alicerçados em ideiasbásicas defendidas pelo
Educador como: A valorização da práxis
pedagógica ; A valorização do pensamento dos
alunos; A valorização do problematizar e A
preparação para leitura e questionamento da
realidade.
As ideias de Dewey influenciaram o
surgimento do movimento da Escola Nova na
década de 1930 no Brasil, O movimento
defende a universalização da escola pública,
laica, contemporânea , integral e financiada
pelo Estado. Dentre o grupo de intelectuais que
integrou a Escola nova, destaca-se, Anísio
Teixeira, por ter sido pioneiro na implantação
de escolas publicas de tempo integral no País.
Anísio Teixeira foi um jurista e
educador baiano, nascido em 1900, aos 24
anos assumiu seu primeiro cargo público como

35 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
inspetor geral de ensino da Bahia, não
hesitouquando teve oportunidade em buscar
informações sobre os sistemas de ensino no
exterior, quando em 1925 foi a Europa e em
1927 foi ao Estados Unidos.
Em Nova Yorque, torna-se mestre pela
TeachersCollege da Columbia University,
quando conhece John Dewey de quem se torna
amigo e difusor de suas ideias.
Ao retornar ao Brasil, em 1931, o
educador teve a capacidade de articular um
grupo de 26 intelectuais brasileiros com o
objetivo de reorganizar e alavancar a educação
no Brasil.
Em 1932 o Grupo lança um
documento direcionado ao Governo e ao povo,
chamado de Manifesto da Escola Nova ou
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, o
qual,materializa-se uma proposta para a
educação no país e impulsiona o movimento da
Escola Nova.
O “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” datado de 1932, consolidava a visão de um segmento da elite intelectual que, embora com diferentes posições ideológicas,vislumbram a possibilidade de interferir na organização da sociedade brasileiras do ponto de vista da educação. Redigido por Fernando de Azevedo, dentre 26 intelectuais, entre os quais Anísio Teixeira, Afrânio Peixoto, Lourenço Filho, Antonio F. Almeida Junior, Hermes Lima e Cecília Meireles.O documento se tornou o marco inaugural do projeto de renovação educacional do país. Além de constar a desorganização do aparelho escolar, propunha que o Estado organizasse um plano geral de educação e defendia a bandeira de uma escola única, pública, laica, obrigatória e gratuita. O movimento foi alvo da crítica forte e continuada da Igreja Católica, que naquela conjuntura era forte concorrente do Estado na expectativa de educar a população
, e tinha sob seu controle a propriedade e a orientação de parcela expressiva das escolas da rede privada (GHIRALDELLI, 2001, p. 37 )
Em 1934 foi promulgada a carta
constitucional que contempla os princípios do
Manifesto na área educacional.O documento
trazpremissas básicas defendidas pelo grupo,
como a universalização do ensino, a gratuidade
e a escola laica, tendo-se por finalidade o
desenvolvimento da integralidade do ser
humano.
No Manifesto dos Pioneiros, a
expressão Educação Integral é mencionada por
três vezes, contudo, o uso do termo não faz
menção direta ao aumento do tempo de
permanência do aluno na escola, sendo mais
compreendido como um direcionamento a
adoção de uma metodologia que possua como
diretriz a percepção do homem de forma global,
em sua integralidade, sem divisões.
A educação nova, alargando a sua finalidade para alem dos limites das classes, assume, como uma feição mais humana, a sua verdadeira função social, preparando-se para formar “a hierarquia democrática” pela “hierarquia das capacidades” ,recrutadas em todos os grupos sociais, a que se abrem as mesmas oportunidades de educação. Ela tem, por objetivo, organizar e desenvolver os meios de ação durável com o fim de dirigir o desenvolvimento natural e integral do ser humano em cada uma das etapas de seu crescimento, de acordo com certa concepção de mundo (MANIFESTO DOS PIONEIROS DA ESCOLA NOVA, 1984, p.4)
O Movimento da Escola Nova dá
ênfase aoaluno no centro do processo ensino
aprendizagem, buscando-se dinamizar as
práticas desenvolvidas pela escola, cresce o
valor ao estudo da psicologia experimental,do

36 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
processo de participação e liberdade do aluno.
Adota-se métodos de trabalhos em grupo e
também a o incentiva a prática de trabalhos
manuais. Os princípios consolidados na
proposta da escola nova servem de referencial
para embasar modelos e diversas experiências
de ETI, ocorridas no país ao longo dos anos.
A atuação dos Pioneiros é alvo de
muitos ataques de empresários da educação
da época e da ordem religiosa cristã, que
detinha o monopólio do ensino privado elitista
no Brasil. Anísio Teixeira, em sua colocação
deixa claro o pensar do grupo frente ao modo
de educação a ser conduzir pela sociedade.
Obrigatória, gratuita e universal, a educação só pode ser ministrada pelo Estado. Impossível deixá-la confiável a particulares,[...]. A Escola Pública, comum a todos, não seria assim, o instrumento de benevolênciade uma classe dominante, tomada de generosidade ou de medo, mas um direito do povo, sobretudo das classes trabalhadoras. ( TEIXEIRA, 2007, p.85).
As atividades dos Pioneiros perdurou
por anos, contudo, não resistiu as ordens e
circunstancias políticas que surgiu com o golpe
de Estado, liderado pelo presidente Getulio
Vargas, que em 10 de novembro de 1937,
através de um pronunciamento em rede de
rádio, divulgou um manifesto ao país,que
instaurou o período conhecido como Estado
Novo ou Terceira Republica Brasileira, que
durou até o dia 31 de janeiro de 1946.
O novo regime político tem como
justificativa oficial de sua adoção, esplanada
em pronunciamento, por uma necessidade de
“reajustar o organismo político as necessidades
econômicas do país”. No entanto, o período é
marcado pelo autoritarismo, restrição das
liberdades individuais e pela forte intervenção
do estado.
Foi promulgada a constituição de 1937,
onde, fortalecia Vargas no poder e restringia a
participação de organizações populares.
Ogoverno implantou a censura, todo material
de divulgação e produção textual era
coordenado pelo departamento de imprensa e
propaganda (DIP). Nesse período, houve forte
repressão aos movimentos revolucionários,
como o do Movimento dos Pioneiros da
educação,que amparados pela lei de
segurança Nacional, com o pretexto que eram
manifestações de caráter comunistas.
Com isso, o Movimento dos Pioneiros,
teve sua atividade suspensa durante esse
período.
Em 1946, após a queda do Estado
Novo,é promulgada uma nova Constituição,
que apresenta um caráter republicano e
democrático, resgatando alguns valores liberais
, como a liberdade de expressão, e os
pressupostos norteadores do Manifesto, como
auniversalização da educação, a escola laica, o
Estado enquanto financiador da educação e a
escola integral, que presentes na constituição
de 1934, volta a fazer parte do texto da
constitucional. Contudo,as atividades do grupo
é novamente interrompida com um novo baque,
o golpe Militar de 1964, queinterrompe o direito
do grupo em difundir seus ideais.
Na década de 50, século XX, Anísio
Teixeira, então Secretário de Educação da
Bahia, funda no Estado, o Centro Educacional
Carneiro Ribeiro, cuja estrutura era composta
por quatro “escolas-classe” e uma “escola-
parque”, que visava atender aos jovens das
classes populares, em regime de período
integral”.( PARO et al, 1998, p 191 ).
Conhecida como Escola Parque,pode-se
considerar como a primeira experiência de
educação publica sistematizada de Tempo
Integral no Brasil, ao buscar implantar e
consolidar esse novo sistema ensino e

37 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
aprendizagem, o educador utiliza-se de uma
proposta educacional e um modelo de escola
que proporcione uma formação integral ao
aluno, onde o ensino não possui como base
apenas as transmissão de conhecimentos. O
desenvolvimento de valores, atividades
culturais e esportivas também estão presentes
no aprendizado do aluno, onde este realiza
uma jornada escolar ampliada, uma vez que o
educador defende a tese que só uma escola
com tempo de atendimento ampliado, reuni
condições de oferecer a gama de experiências
pedagógicas necessárias, capazes e
necessárias de promover o desenvolvimento
pleno dos estudantes das escolas publicas.
Somente as escolas destinadas a fornecer informações ou certos limitados treinamentos mecânicos podem admitir ou serem de tempo parcial. A escola primária, visando, acima de tudo, a formação de hábitos de trabalho, de convivência social, de reflexão intelectual, de gosto e de consciência, não pode limitar as suas atividades a menos que o dia completo. Devem e precisam ser de tempo integral para alunos e servidas por professores de tempo integral. (TEIXEIRA, 2007, p.109)
Embora reconheça que os valores
necessários para arcar com a estrutura e
funcionamento desse modelo deescola seja
oneroso , Anísio Teixeira, defende que o que é
colocado na educação não são gastos, e sim,
investimentos fundamentais para a
sobrevivência e bem estar humano.Isso, fica
claro nas palavras do autor:
“Não se pode fazer uma educação barata – como não se pode fazer uma guerra barata. Se é a nossa defesa que estamos construindo,seu preço nunca será demasiadamente caro, pois não há preço para sobrevivência.”(TEIXEIRA, 1994, p. 176).
Todos os estudos, de autentica e verdadeira formação para o trabalho seja o trabalho intelectual, cientifico, técnico, artístico ou material, dificilmente podem ser feitos em tempo parcial, dificilmente pode ser feito em apenas período de aula,exigindo para isso e, sempre longo período de estudo individual- e para tal, grandes bibliotecas com abundancia de livros e espaços para os estudantes – longos períodos de prática em laboratórios, salas ambiente, ateliês, etc., e longo período de tempo entre os que estão formando e os professores.Somente com professores em tempo integral e alunos em tempo integral podemos formar esses trabalhadores de nível médio. (ANISIO TEIXEIRA, apudMOLL, 2014, p17)
A escola atende a crianças carentes,
algumas sem lar, e sua proposta consiste em
desenvolver atividades não apenas cognitivas,
mas também atividades não formais, como
cultura e lazer. Possui, sua metodologia
alicerçada nos princípios difundidos pela
Escola Nova,trabalhar o aluno de forma
integral, num ambiente que represente prazer e
não confinamento aos mesmos.
Nos anos 60,século XX, a experiência
de tempo integral merece destaque. Os
Ginásios Vocacionais ,em São Paulo, que
funcionou por curto período de tempo, entre
1962 a 1969.
Com seis unidades, uma na capital do
Estado , uma na cidade de São Caetano do
Sul, região metropolitana, e quatro em cidades
do interior, com funcionamento em Batatais,
Americana, Rio Claro e Barretos, os Ginásios
Vocacionais consistem em uma importante
experiência para a educação brasileira,
sobretudo, para os experimentos das ETI no
Brasil, pelo caráter inovador que a proposta
apresenta . De acordo com Chiozzini (2003)

38 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
eles defendem a participação ativa e
consciente do aluno em uma sociedade
democrática, o que representa um grande
avanço para o período. Os colégios se
destinamao ensino de jovensde ambos os
sexos, o que já representa um avanço para os
padrões da época de sua atuação, com idade
variando de 11 a 13 anos, para cursar etapa de
ensino, que atualmente corresponde ao ensino
fundamental II, indo do 6º ao 9º ano.
Segundo Mota (2013), Os Ginásios
Vocacionais oferece uma matriz curricular
diversificada e inovadora para o seu tempo, ele
apresenta disciplinas de Artes Industriais,
Práticas comerciais, práticas agrícolas,
educação domestica, educação física e artes
plásticas, adota uma pedagogia baseada em
círculos concêntricos de aprendizagem, onde,
nos quatro anos de formação em que o aluno
permanece nos Ginásios Vocacionais, o
primeiro é dedicado a contextualização do
município, o segundo o foco é direcionado ao
Estado de São Paulo, o terceiro tem ênfase no
Brasil e no quarto ano, a correlação das
disciplinas e o aprendizado é feito com o
mundo. Nota-se que a ênfase é dada ao estudo
dos meios,atrelando teoria e pratica,
objetivando a formação de cidadãos críticos e
participativos, concatenados com seu mundo.
Segundo Chiozzini, (2005) O conceito
vocacional dos Ginásios embora sugira em
nossa mente, não está vinculado a profissão, o
termo está ligado a escolha do campo
profissional de atuação do jovem, o qual será
identificado a partir das experiências
vivenciadas nas diversas disciplinas e
atividades, permitindo a empatia do aluno a
área de trabalho onde ele pode atuar de forma
mais competente e satisfeito, para materializar
esse principio, os Ginásios vocacionais traz
como marca o desenvolvimento do trabalho
interdisciplinar, que se realiza em grande parte,
através de atividades práticas, associada as
disciplinas teóricas, tendo como objetivo
desenvolver no aluno uma formação para o
mundo do trabalho com um amplo repertório de
conhecimentos e potencialidades para a
descoberta de sua vocação e ingresso no
campo profissional.
Um dos principais objetivos desta proposta era formar jovens conhecedores da realidade em que viviam para assumirem o papel de transformadores de sua própria ação. (ROVAI, 2005, p.17)
Tendo a democrática como um dos
pilares de sua metodologia, os Ginásios
Vocacionais valoriza a participação dos pais.
Proporciona apais e alunos participar de
reuniões e processos de gestão da escola,
através dos conselhos de pais e alunos, onde
se discute propostas e encaminhamentos para
custear projetos e ações, que podem ser
gerados na própria escola ou externos.
Toda essa infraestrutura institucional permitiu o desenvolvimento de uma experiência educacional efetivamente vanguardista com resultados quase inquestionáveis por todos aqueles que dela participaram. (CHIOZZINI, 2014, p.94)
O processo seletivo para o ingresso
nas unidades é realizado de acordo com o
percentual per capto da população da
localidade, destinando proporcionalmente,
representação a todos os extratos econômicos
da sociedade nas unidades escolares.
As vagas seguem um padrão pré-
determinado de preenchimento para alunos
oriundos das classes baixa, media e alta, com
a ideia de proporcionar o convívio entre grupos
econômicos heterogêneos no ambiente
escolar.

39 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
Os professores eram submetidos a um
processo de capacitação com duração de seis
meses, antes de assumirem suas funções.Os
docentes tem uma política de valorização
profissional em pecúnia, sendo
comparativamente, bem melhor remunerado
que os profissionais da época, para cumprirem
um regime integral com uma carga horária de
40 horas semanal, das quais 20 destinadas
para planejamento.
Os Ginásios Vocacionais não eram
atrelados a burocracia administrativa da
secretaria de Educação, elesprestavam conta
de forma direta ao secretário.
Em dezembro de 1969, os Ginásios
Vocacionaissão fechados pelos militares, por
julgarem suas atividades subversivas ao
regime da ditadura militar. Alunos, professores,
paise diretores são presos, algumas unidades
invadidas e documentos extraviados (MOTA,
2013).
Após um período de quase duas
décadas sem registro de uma experiência
significativa de Educação integral no Brasil,
surgem nos anos 80, os Centro Integrados de
Educação Publica (CIEP), no Rio de Janeiro.
Um dos mais importantes projetos de
Educação Integral no Pais, devido a extensão e
visibilidade de sua rede de ensino, de acordo
com Borges(1994).
Entre 1985 e 1987, foram implantados
127 CIEPs no Rio de janeiro. Suas unidades
sãolocalizadas, prioritariamente, em regiões
carentes. Idealizado porDarci Ribeiro, os
Centros oferecemum currículo de tempo
integral para as crianças da etapa de ensino
que atualmente corresponde ao ensino
fundamental. Alunos passam a ter cerca de oito
horas diária na escola, tendo as aulas da base
comum, complementadas com estudo dirigido,
atividades esportivas e culturais; isso aliado a
alimentação e cuidados básicos nutricionais,
odontológicos, médicos, psicológicos e
assistenciais.
Os atendimentos nas unidades vão
muito além das questões pedagógica
puramente
(...) assumindo como verdadeiros alguns dos supostos fatores pelos quais os alunos não permanecem nas escolas ou não obtêm rendimento adequado ( desnutrição, dificuldade para aquisição de material escolar, doenças infecciosas, deficiências de saúde ,problemas dentários, visuais e auditivos), o CIEP se propõe superar esses obstáculos mediante programas de alimentação, subsídios aos pais e programas de atendimento médico-odontológico, de modo que os alunos tenham melhores condições de aprender. (Paro, 1988, p.20)
A escola de dia completo, vale dizer, a que atende seus alunos das 7 ou 8 da manha até às 4 ou 5 da tarde, não é nenhuma invenção do Brizola nem minha,nosCIEPs.Este é o horário de todo mundo civilizado. Todas essas horas de estudo são absolutamente indispensável para que o menino Frances aprenda a ler e escrever em Frances,ou japonês em japonês.oferecer a metade dessa atenção e as vezes ainda menos a uma criança mais carente que a daqueles países, porque afundada na pobreza e porque recentemente urbanizada, é condená-la a fracassar na escola e depois na vida. (DARCY RIBEIRO, apud MOLL, 2014,p17)
Os Cieps nascem, e tem seu auge de
funcionamento durante os governosde Leonel
Brizola, no Rio de Janeiro, o primeiro de 1983 á
1987 e o segundo de 1991 à 1994. Porém,
após esses períodos, os CIEPs passam por um
processo de descaracterização de sua
proposta inicial em sua forma pedagógica, ao
deixar de ofertar a educação em tempo
integral; e de responsabilidade, ao sofrer um
processo de municipalização, sendo

40 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
incorporada a rede municipal de ensino. As
escolas que não possuíam um trabalho
consolidado, foramdesativadas ou na maioria
dos casos, deixaram de ofertar a modalidade
do ensino Integral.
Atualmente muitos CIEPs estão em funcionamento, parte dele ainda ofertando educação em tempo integral. Cerca de 100 deles foram municipalizados em 1986, integrados a rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. Aqueles que ainda funcionam em regime de tempo integral constituem uma experiência de certa maneira consolidada, apesar de terem ocorrido muitas mudanças na condução da proposta original do PEE.(CELLA,2010,p 33)
Alguns autores, como Cavaliere (2007)
e paro (1998), realizam críticas ao modelo
educacional dos CIEPs, por acharem que a
proposta traz a escola uma demanda que não é
da área do ensino, sobrecarregando-a de
pautas e responsabilidades, o que leva a um
desvio no foco principal da finalidade da escola,
que é a preocupação com a qualidade do
ensino ofertado, no qual foi deixada em
segundo plano, suplantada pelo debate das
questões sociais, que obtiveram sobrepujança
em relação as questões educacionais. Outro
fator susceptível à criticas nos CIEPs, é o fato
do mesmos ser projetado para atender ao
público oriundo das classes econômicas menos
favorecidas e desenvolver um marketing nessa
linha, o que ajudou a aumentar o preconceito,
o que tornou essas escolas estigmatizadas
enquanto escolas de pobres. (MIRANDA e
SANTOS 2012).
Cavaliere (2007), ressalta que os
CIEPs produziram uma experiência muito
significativa e uma contribuição bastante
interessante para a educação brasileira no
tocante“a cultura organizacional da escola,
envolvendo questões da estrutura física,
profissional e social da escola e,
principalmente, da articulação coletiva do
trabalho pedagógico”. (CAVALIERE, 2002, p.
99).
Entre os anos de 1986 a 1993, o
governo de São Paulo desenvolve o Programa
de Formação Integral da Criança (PROFIC) o
qual amplia a jornada escolar dos alunos
paulistas, o programa é desenvolvido em
convênio com as prefeituras,as quais
desenvolvem parcerias com assecretarias do
estado e ou organizações não governamentais,
a fim de oferecer uma formação complementar
ao estudante, o programa não prevê a
construção de instalações físicas, as atividades
sãorealizadas em espaços já existentes, na
escola ou fora dela, em qualquer local que
possa ser viabilizado a partir da negociação da
escola com a comunidade, ou entidades não
governamentais e ou órgãos da administração
publica, para o realização das oficinas e
atividades complementares. Ressalta-se a
condição que o PROFIC desencadeia de
realizar atividades sistematicamente fora do
espaço da escola.
O PROFIC, foi a primeira experiência
explicita de parceria nos projetos educacionais
de ET. Ele desenvolve atividades
complementares diversificadas no contra turno
escolar, especialmente para alunos de baixa
renda, com o objetivo de aumentar a qualidade
da educação e tornar a escola mais atrativa de
forma a combater os altos índices de evasão e
repetência escolar verificado naquela época no
estado (MOTA ,2013).
O PROFIC, sofre criticas de alguns
profissionais de educação da época,inclusive
pelo Conselho Estadual de São Paulo, que
acusam que a iniciativa tem como objetivo
central ocupar as crianças de rua ou as
oriundas das classes menos favorecidas
economicamente, durante todo o dia, e desta

41 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
forma, proteger a população dos riscos e danos
que esses jovens trás a sociedade. A proposta
ocupa os professores com tarefas, que
segundo seus críticos, pouco contribuem para
a melhoria do ensino. Não deixa explicito como
preocupação principal, a elevação e melhoria
da qualidade da educação e o oferecimento de
efetiva oportunidade de mudança de vida para
os alunos, desvinculando-se da função
primordial da escola, que é o depromover um
ensino de qualidade (FERRETTI; VIANNA e
SOUZA,1991).
A década de 80, no século XX, é
marcada pela efervescência de projetosde ETI
no país. Verifica-se a implantação de ETI
pública em alguns estados, onde há
experiências de grande vulto, como em Minas
Gerais e no Rio Grande do Sul, no entanto,
essas escolas não prosperaram e não se
consolidam como um modelo pedagógico
viável e eficaz no Brasil, devido a maioria dos
modelo de ETI deste período, terem assumido
como característica, a postura de uma escola
assistencialista, preocupada em demasia com
problemas sociais, assumindo uma agenda de
demandas e responsabilidades que se
encontram, além das obrigações cotidianas da
escolas, como no caso dos CIEPs e PROFIC.
Essas escolas se tornam muito onerosas, o alto
custo de seu funcionamento pode ter sido
determinante para a falta de êxito do modelo do
período.
Em 14 de maio de 1991, o governo
federal, na gestão do presidenteFernando
Collor de Melo, lança um projeto de vasta
amplitude para a implantação de ETI em todo
território nacional,denominado de “Minha
Gente”. O programa surge com o propósito de
desenvolver ações integradas de educação,
saúde, assistência e promoção social em um
único local, e em jornada ampliada de tempode
permanência de crianças e adolescentes na
escola, as quais, recebem atendimento de
saúde e cuidados básicos, convivência
comunitária e desportiva, tudo concentrado em
um único equipamento publico. O
programaapresenta metas significativas a
serem alcançadas nos próximos quatro anos,
são elas a implantação de cinco mil unidades
físicasem todo território nacional; atender a
aproximadamente seis milhões de crianças,
das quais, 3,7 milhões em escolas de ensino
fundamental, nomenclatura atual, e 2,3 milhões
em creches e pré-escolas.
São construídas instalações especificas, para serem as unidades de desenvolvimento das atividades do Minha Gente. Esses prédios recebem projeto arquitetônico padrão, capaz de proporcionar além das salas para aulas, espaços para atendimento a saúde e cuidados básicos, prática desportiva e convivência comunitária, Essas unidades recebem o nome de Centro Integrado de Atenção à Criança e ao Adolescente (CIACs). (SOBRINHO E PARENTE,1995).
O “Minha Gente” foi implantado
inicialmente pela Legião Brasileira de
Assistência, com coordenação a cargo do
Ministério da Criança e, posteriormente, pela
Secretaria de Projetos Especiais da
Presidência da República.
A partir de 1992, com a Saída do
Presidente Fernando Collor, o programa
perdeu o ímpeto dos discursos fervorosos
observados em sua implantação e arrefeceu os
esforços em atingir as metas anunciadas. Seu
sucessor, o Presidente Itamar Franco,
promoveu algumas reformas no seu contexto, a
Secretaria de Projetos Especiais da
Presidência da República, órgão que era
responsável pela administração do Programa,
foi extinto, e os encargos do projeto passaram
para pasta do Ministério da Educação e do
Desporto, o qual criou a Secretaria de Projetos

42 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
Educacionais Especiais para administrar o
projeto.
O programa Minha Gente, em 1993,
passou a se chamar de Programa Nacional de
Atenção Integral à Crianças e ao adolescente
(PRONAICA), e as unidades físicas, CIACs,
passam a se chamar de Centros de Atenção
Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC),
com a proposta inicial de criação de 5.000
unidades, onde apenas 440 escolas foram
construídas, um numero bem aquém da meta
estabelecida, chegando a menos de 10% do
projeto inicial.
O PRONAICA apresentava na
construção de suas unidades um projeto
arquitetônico padrão, geralmente localizados
em áreas periféricas das metrópoles ou de
cidades de grande contingente populacional, e
possuía como característica de gestão e
financiamento a parceria e corresponsabilidade
entre o governo federal, estadual, municipal e
comunidade local.
A responsabilidade pelo financiamento do PRONAICA é compartilhada entre o governo federal, os estados, os municípios e a comunidade local. O governo federal tem como principais responsabilidades no programa: a elaboração do projeto arquitetônico e de engenharia; a construção da estrutura física; os equipamentos; a manutenção das equipes de coordenação geral e técnica; a realização de pesquisas para a avaliação do programa; a assistência ao estudante pelos programas da Fundação de Assistência ao Estudante — FAE (Alimentação; Livro Didático; Material Escolar e Bibliotecas Escolares ). Aos governos estaduais compete assegurar os recursos humanos necessários ao funcionamento — dirigentes e docentes — e compartilhar com os municípios as despesas de operação e manutenção dos CAIC's. Aos municípios competem a aquisição do terreno e a manutenção dos CAIC's, com o
uso de recursos próprios ou do apoio financeiro estadual, de organismos privados e da comunidade local. (SOBRINHO,PARENTE,1995,p11)
No ano de 1995, no governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, foi
extinta a Secretaria de Projetos Educacionais
Especiais do Ministério da Educação e com ela
o PRONAICA. As unidades educacionais,
foram repassadas as gestões estaduais e
municipais, e a maioria delas teve seu projeto
inicial descaracterizado, passando-se
aabandonar o modelo de ensino de tempo
integral e aderindo-se ao sistema educacional
parcial por turnos.
Percebe-se, que até a década de 90,
século XX, que as experiências práticas de
Escolas de tempo integral no país, apresentam
como ponto em comum, a descontinuidade das
ações e desconfigurações das propostas
iniciais dos projetos. Essa realidade começa a
mudar a partir de fatores que impulsionam a
descoberta de um sistema de ensino mais
eficiente para a educação brasileira, enessa
década a educação integral, é vista como um
dos possíveis caminhos para a melhoria da
qualidade do ensino. Um dos fatos que
podemos destacar como impulsionador para o
desenvolvimento desse pensamento foi a
Conferencia Mundial de Educação para todos,
que ocorreu em 1990, em Jomtien, na
Tailândia. Na qual, alguns países em
desenvolvimento, entre eles o Brasil, se
comprometem através da assinatura de um
acordo, a promover a melhoria da
educação.Este foi um acontecimento
importante no contexto de ações e programas
para a melhoria da Educação Brasileira, uma
vez que o país firma um pacto internacional
estipulando metas a serem atingidas em prazos
determinados, com vistas a melhoria geral dos
seus sistemas de ensino e aprendizagem. Para

43 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
isso, fez-se necessário a adoção de medidas
que diminuíssem os índices de analfabetismo,
de evasão escolar, de repetência, de distorção
idade e série, e também buscar formasde
promover a universalização do acesso a
educação básica e sua melhoria para todos.
Ao buscar atender aos compromissos
firmados internacionalmente, foram
implantados inúmeros programas e ações para
a reestruturação do ensino, novos modelos
pedagógicos como o do ensino em tempo
integral, ganham visibilidade e entram na pauta
de discussão, como uma das possibilidades
que podem promovermudanças positivas no
atual quadro da educação no Brasil e
consequente melhoria de sua qualidade.
Ao orientar-se a partir dos
compromissos firmados e no ensejo de
alcançar as metas de melhoria, o governo
federal, adota uma serie de programas e ações
estruturadoras no setor educacional, em
parceria com os governos estaduais e
municipais, como Fundo de Manutenção e
desenvolvimento do Ensino Fundamental e
valorização do Magistério (FUNDEF), o
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), o
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD),
os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs),
os Sistemas de Avaliação da Educação Básica
(SAEB). (MIRANDA, 2012, p.1075).
Um divisor de águas, no sentido de
impulsionar a implantação e consolidação do
ensino em tempo integral, foi a promulgação da
Leide Diretrizes e Bases da Educação –
9394/96 (LDB), em 1996, a qual já tramitava
no congresso a oito anos. A LDB, além de
impulsionar o debate a respeito do aumento da
jornada escolar, definiu os critérios de tempo
mínimo para oferecimento da modalidade de
ensino integral. Além de propor esforços
integrados das redes de escolares públicas
para implantarem o regime de Tempo Integral,
como fica bem explicito em seu artigo 34:
Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. § 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. Art. 87. É instituída a década da educação, a iniciar-se um ano a partir da publicação desta Lei. §5ºSerão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral
Embora esteja previsto no artigo 87 da
LDB, que a década da educação com metas a
serem seguidas pelos Governos Federal,
Estaduais e Municipais, iniciaria após um ano
da publicação da LDB , somente em 09 de
janeiro de 2001, através da publicação da Lei
10.172, foi instituído o Plano Nacional de
Educação (PNE), o qual colocou metas e
formulou algumas normas e diretrizes a serem
cumpridas em até dez anos, ou seja até 2010.
O PNE estabelece que os Estados e
Municípios também devem criar seus
respectivos planos decenais de educação em
consonância com os objetivos , as metas e
diretrizes do PNE.
O PNE explícita que embora identifique
a importância de todas as ações contidas no
plano, reconhece a insuficiência de recursos
financeiro para implantar todas nos moldes dos
países desenvolvidos, por isso,algumas ações
serão priorizadasem função de apresentarem
maior relevância para a elevação da qualidade
da educação.
Síntese dos objetivos Gerais do PNE 2001:

44 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
- A elevação global do nível de escolaridade da população; - A melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; - A redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na educação pública e -A democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes (PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO,2001).
O PNE 2001 é divido em partes, cada
uma delas trata de uma determinada
modalidade ensino ou de um ator especifico da
educação. Onde realiza-se o diagnóstico,
diretrizes, objetivos e metas para cada
segmento.
No capítulo destinado ao Ensino
Fundamental, as metas 21 e 22 fazem menção
a ampliação da jornada escolar e a Escola em
Tempo Integral. Atrelada às metas encontra-se
as diretrizes, nos quais, são percursos que
devem ser evidenciadas pelas administrações
dos sistemas escolares, a fim de atingir as
respectivas metas.
Meta 21. Ampliar, progressivamente a jornada escolar visando expandir a escola de tempo integral, que abranja um período de pelo menos sete horas diárias, com previsão de professores e funcionários em número suficiente. Meta 22. Prover, nas escolas de tempo integral, preferencialmente para as crianças das famílias de menor renda, no mínimo duas refeições, apoio às tarefas escolares, a prática de esportes e atividades artísticas, nos moldes do Programa de Renda Mínima Associado a Ações Sócio-educativas.( Plano Nacional de Educação,2001)
Estratégias: 20. Eliminar a existência, nas escolas, de mais de dois turnos diurnos e um turno noturno, sem prejuízo do atendimento da demanda. 21. Ampliar, progressivamente a jornada escolar visando expandir a escola de tempo integral, que abranja um período de pelo menos sete horas diárias, com previsão de professores e funcionários em número suficiente. 22. Prover, nas escolas de tempo integral, preferencialmente para as crianças das famílias de menor renda, no mínimo duas refeições, apoio às tarefas escolares, a prática de esportes e atividades artísticas, nos moldes do Programa de Renda Mínima Associado a Ações Sócioeducativas. (PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO,2001)
Ressalta-se a nesse espaço a
experiência de ETI, em Pernambuco, devido o
Estado apresentar atualmente a maior rede
pública de escolas de tempo integral no país,
com 332 ETI no ensino médio e pelo fato do
mesmo ter conquistado o 1º lugar no IDEB
2017 no Brasil, no ensino médio, o que se
sugeri uma investigação para identificar se
existerelação direta com o aumento da rede de
ETI.
Em 2003, no Estado de Pernambuco, é
criado através decreto 25596/2003 a primeira
experiência de Escola em Tempo Integral
Pública Estadual, o Centro de Ensino
Experimental Ginásio Pernambucano, através
de uma parceria publico/privada entre o
Governo do Estado e o Instituto de Co-
responsabildadeda Educação (ICE). Onde
assume a responsabilidade pela implantação e
gestão da unidade de ensino ao propor um
método diferenciado de ensino e gestão
escolar, até então nuncavivenciado na rede
publica do Estado.
O ICE, fundamenta seus princípios
pautados na iniciativa privada. A experiência de

45 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
parceria do Estado com o ICE durou até 2007,
época em que Pernambuco possui treze
Centros de Ensino Experimental.
Em 2008, o que era considerado
experimentos, através da lei complementar Nº
125/2008 torna-se Política Pública de
Educação Integral no Estado, onde, Os Centros
de Educação Experimental passam achamar-
se Escolas de Referência em Ensino Médio,
implantado-se novas unidades nos anos
seguintes.
Ocorre um processo de migração nas
escolas, a transição do ensino regular por turno
para o regime de tempo integral.
Concomitantemente a esse processo, o Estado
vai priorizando-se no oferecimento do Ensino
Médio e repassando a responsabilidade do
ensino fundamental as administrações
estaduais.
Em 2017, o estado de Pernambuco é a
maior rede publica de escolas em tempo
integral do Brasil, com 332 escolas, e a
principal aposta do estado para melhoria da
qualidade da Educação.
Em 1º de janeiro de 2007, entra em
vigoro Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb), através daEmenda Constitucional nº
53/2006 e regulamentado, inicialmente, pela
Medida Provisória nº 339, de 28 dedezembro
de 2006, até ela ser sancionada pela Lei nº
11.494, que o regulamenta,substituindo o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério (Fundef).
O Fundeb, é essencial para o
desenvolvimento do Ensino de Tempo Integral,
uma vez, que destina um repasse de verbas
maior de 25% a 30% a mais para as escolas
que oferecem a modalidade de Ensino Integral,
em relação as escolas que oferecem o ensino
regular.
Também em 2007, tem-se outro
importante mecanismo de ajuda financeira as
Escolas de Tempo Integral, o Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE), que
consiste em um conjunto de ações e projetos
com vistas a melhorar a qualidade da educação
no país e o alcance dos índices das metas
estabelecidas no PNE.
Para o estudo, destaca-se a meta 6,
por tratar diretamente sobre o progressivo
aumento da escola de tempo Integral.
PNE Meta 6 – Oferecer Educação em Tempo Integral em no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas de forma a atender, pelo menos 25% ( vinte e cinco por cento dos(as) alunos(as) da educação básica. (BRASIL,2007)
Ao buscar realizar a meta prevista no
PDE, o Governo Federal em 2017, cria através
da Portaria Interministerial nº 17 (Brasil,
2007c) e regulamenta através do decreto nº
7.083 (Brasil,2010b), O Programa Mais
Educação (PME), uma ação intersetorial entre
as políticas públicas educacionais e sociais,
que reúne em regime de colaboração com os
Ministérios da Educação, o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o
Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério
do Esporte, o Ministério do Meio Ambiente, o
Ministério da Cultura, o Ministério da Defesa e
a Controladoria Geral da União.
O PME se constitui enquanto estratégia
do Governo Federal para induzir a ampliação
da jornada escolar e a organização curricular,
na perspectiva da Educação Integral.
O programa será implementado por
meio do apoio, à realizar-se em escolas e
outros espaços socioculturais, de ações sócio-
educativas, no contraturno escolar. Incluindo os

46 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
campos da educação, artes, cultura, esporte,
lazer, mobilizando-os para a melhoria do
desempenho educacional, o cultivo de relações
entre professores, alunos e suas comunidades.
A garantia daassistência social e à formação
para a cidadania, incluindo perspectivas
temáticas dos direitos humanos, consciência
ambiental, novas tecnologias, comunicação
social, saúde e consciência corporal,
segurança alimentar e nutricional, convivência
e democracia, compartilhamento comunitário e
dinâmicas de redes. (PORTARIA NORMATIVA
INTERMINISTERIAL No- 17, DE 24 DE ABRIL
DE 2007)
O Programa Mais Educação é operacionalizado pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), em parceria com a Secretaria de Educação Básica (SEB), por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para as escolas prioritárias. (BRASIL, 2014b, p. 5)
A proposta Central do PME, é ofertar
atividades, no contra turno do estudante, de
forma que amplie sua jornada escolar, através
de atividades complementares, escolhidas
dentro de um currículo que oferece
possibilidades dentro de dez macrocampos de
conhecimento. Sendo publicado pelaResolução
n.º 19, de 05 de maio de 2008 e regulamentado
através do Decreto 7083, de 27 de janeiro de
2010, os macrocampos em questão,são
descritos no Manual Passo a Passo do PME,
da Secretaria de Educação Básica do
Ministério da Educação. São os seguintes
(Brasil, 2014, p.9)
Acompanhamento Pedagógico;Meio Ambiente; Esporte e Lazer; Direitos Humanos em Educação; Cultura e Artes; Cultura Digital; Promoção da Saúde; Educomunicação;
Investigação no Campo das Ciências da Natureza; Educação Econômica;
A escola opta pelo macrocampo e
pelas atividades que melhor lhe convenha, as
quais são desenvolvidas em consonância com
as diretrizes do programa, no qual, o que incide
sobre a mesma, é a utilização de um currículo
que possibilite o dialogo entre os saberes
escolares e os saberes comunitários como
instrumento pedagógico. O PME, utiliza-se da
mandala de saberes para orientar e deixar
visível que as ações devem ser cíclicas e
congruentes, onde o aluno deve ser visto como
o centro do processo. Deve vislumbrar os
espaços comunitários como equipamentos a
serviço da educação, ao levar como critério sua
realidade, espaço, profissionais, interesse e
tempo escolares.
OPME propõe a superação de
possíveis ideias de “hiperescolarização” ou de
escola como instituição total (FOUCAULT,
1987), apontando como alternativa, ações
inspiradas no movimento de Cidades
Educadoras, propõedescobertas de novos
territórios Educativos, para além dos muros da
escola, no bairro e na cidade, quer em
parcerias com entidades da sociedade civil,
com instituições públicas e privadas e diversos
sujeitos educadores, o PME, não destina
recursos para criação de instalações, ele
fomenta que se realize um amplo pacto em
torno e a partir da escola, desencadeando um
processo de “educar ” e “proteger”, tendo como
princípio o aumento das atividades e das horas
de atendimento a criança e adolescente.
(SILVA,SILVA, 2012,)
Nota-se que o PME é alicerçado na
parceria comunitária como forma de agregar a
comunidade em torno do processo educativo,
ao pactuar com ela esse compromisso; identificar

47 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
referencias; realizar diagnósticos do território; mapear oportunidades e parceiros; construir e gerir trilhas educativas – escolares, complementares e de apoio ( BRASIL,2008,p11)
Vale ressaltar,que o governo Federal é
apenas o incentivador do processo, habilitando
as escolas participantes a partir do rendimento
obtido no IDEB, sendo priorizadas as unidades
que apresentam menores índices e repassando
os recursos direto para as escolas através do
Programa Dinheiro direto na Escola, cabendo
aos Estados e Municípios a responsabilidade
de organizar as condições para realização do
PME.
[...] às escolas públicas das redes municipais, estaduais e distrital, que possuam estudantes matriculados no ensino fundamental. O montante de recursos destinados a cada escola será repassado por intermédio do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE/Educação Integral, em conta bancária específica, aberta pelo FNDE, no banco e agência indicado no cadastro da entidade no sistema PDDEweb, em nome da Unidade Executora Própria (UEx) representativa da unidade escolar. (BRASIL, 2014b, p. 19).
Embora não possua investimento em
instalações e em mão de obra qualificada, pois
o PME, baseia-se na parceria comunitária e no
voluntariado para ministrar as suas atividades,
o programa apresenta em sua estrutura apenas
da existência de um professor com formação
acadêmica, o qual é vinculado a instituição de
ensino, e desempenha a função de articulador,
os demais que ministram as oficinas são
monitores, não são previstos pagamento de
salário para eles, estes trabalhadores apenas
recebem uma ajuda de custo por cada oficina
ministrada, e devem, obrigatoriamente, ao
entrar no programa assinar um termo de
voluntariado, de acordo com a Lei nº 9.608, de
18 de fevereiro de 1998 (BRASIL, 1988).
O Foi PME ganhou notoriedade, diante
da vasta capilaridade alcançada, por estar
presente em todos os Estados e em vários
municípios do país.
O trabalho de monitoria deverá ser
desempenhado, preferencialmente, por
estudantes universitários de formação
específica nas áreas de desenvolvimento das
atividades ou pessoas da comunidade com
habilidades apropriadas, como, por exemplo,
instrutor de judô, mestre de capoeira, contador
de histórias, agricultor para horta escolar, etc.
Além disso, poderão desempenhar a função de
monitoria, de acordo com suas competências,
saberes e habilidades, estudantes da EJA e
estudantes do ensino médio.
Recomenda-se a não utilização de professores da própria escola para atuarem como monitores, quando isso significar ressarcimento de despesas de transporte e alimentação com recursos do FNDE. (BRASIL, 2014b, p. 18-19).
Em 2016, a partir da troca de governo
da então presidenta Dilma Roussefpara o
presidente Michel Temer, verifica-se um novo
direcionamento político empregado ao
programa, abandonando a corrente filosófica
da diversidade de atividades e ocupação dos
espaços existentes na comunidade através de
parcerias, “ cidade educadora “ para um foco
direto no aumento do rendimento escolar da
disciplina de língua portuguesa e matemática,
para tornar ainda mais evidente a
reformulação, o Programa recebe uma nova
nomenclatura e passa a se chamar , a partir da
Portaria MEC nº 1.144/2016 de Novo Mais
Educação, como fica claro na redação da
portaria.
O Programa Novo Mais Educação, criado e regido pela Resolução

48 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
FNDE nº 5/2016, é uma estratégia do Ministério da Educação quetem como objetivo melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes. (MEC 2016 )
Em conversa com um grupo de seis
gestores escolares da Região Metropolitana do
Recife, todos fizeram criticas ao PME por
atender apenas uma parcela dos alunos da
escola, distanciado-se do seu propósito inicial
de promover educação em tempo integral as
escolas publicas brasileiras, e pela baixa
remuneração oferecida aos monitores, o que
dificulta a contratação de mão de obra
qualificada para o Programa.
Em 09/10/2009 através da portaria 971
do Ministério da Educação(MEC ), o Governo
Federal cria o Programa Ensino Médio
Inovador (ProEMI), com a premissa de apoiar
as secretarias de Educação Estaduais e o
Distrito federal para o desenvolvimento de
ações que tornem a escola mais atrativa para
os jovens e possam proporcionar melhoria do
ensino médio, o ProEMI ,é um programa
estratégico do governo federal para reestruturar
o currículo e induzir a ampliação do tempo
escolar do aluno do Ensino médio.O Programa
orienta a implantação de um ensino médio com
carga horária de 3000 horas, acrescendo 600
horas à carga horária mínima prevista na LDB
9.394/96, distribuídas nos três anos desta
etapa de ensino.
[...] apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nas escolas de Ensino Médio, ampliando o tempo dos estudantes na escola e buscando garantir a formação integral com a inserção de atividades que tornem o currículo mais dinâmico, atendendo também às expectativas dos estudantes do Ensino Médio e às demandas da
sociedade contemporânea (MEC/PDE, 2011, p. 6)
O programa incentiva a realização
de projetos pedagógicos no chão da escola que
promovam atividades diversificadas, integradas
a matriz curricular, através do estimulo a essas
experiências, o MEC instiga a variedade
curricular, tornando-o mais ampliado e atrativo.
As atividades do ProEMI devem ser
desenvolvidas nas áreas da educação
cientifica, e humanista, a valorização da leitura,
da cultura,o aprimoramento da relação teoria e
prática, da utilização de novas tecnologias e o
desenvolvimento de metodologias criativas e
emancipadoras, materializadas em oito
macrocampos de conhecimentos idealizados e
prescritos para proporcionar a diversificação do
currículo do ensino médio.
Acompanhamento Pedagógico; Iniciação Científica e Pesquisa; Cultura Corporal; Cultura e Arte; Comunicação e uso de mídias; Cultura Digital; Participação estudantil; Leitura e Letramento. (BRASIL, 2011a, p. 14-17, grifos nossos).
Para participar do programa, o Estado
tem que ter aderido ao Plano de Metas
Compromisso todos pela Educação de 2007.
Na prática, O ProEMI e o Mais
Educaçao, tornaram-se os dois grandes
programas de indução do ensino em tempo
integral no país, por contarem com a adesão
de muitos Estados a sua proposta.
Em 2016, O MEC cria Programa de
Fomento à implementação de Escolas de
Tempo Integral, pela Portaria nº 1.145/2016,
tendo por objetivo a melhoria do ensino médio
na perspectiva de universalização do acesso e
permanência de todos os adolescentes de 15 a
17 anos nesta etapa da educação básica.

49 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
A proposta curricular consta do
aumento da carga horária das disciplinas de
português e matemática e do incremento de
atividades flexíveis, que devem sertratados na
visão de proporcionar um desenvolvimento
integral do aluno, como fica evidente no § 1 da
Portaria MEC nº 1.145/2016 :
A proposta pedagógica das escolas de ensino médio em tempo integral terá por base a ampliação da jornada escolar e a formação integral e integrada do estudante, tanto nos aspectos cognitivos quanto nos aspectos socioemocionais, observados os seguintes pilares: aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser.
Para aderir ao plano, estados
interessados necessitam elaborar um Plano de
Diagnóstico e Nivelamento, do Plano de
Inclusão da Comunidade, do Projeto Político
Pedagógico e do Plano de Gestão, além do
preenchimento do formulário do Plano de
Implementação, pactuando-se com a obtenção
das metas estipuladas nos prazos
determinados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se através desse passeio
histórico a respeito da ampliação do tempo
pedagógico no país que, as diversas
experiências de Educação Integral apresenta
em comum tanto uma dimensão quantitativa (
mais tempo na escola e no entorno) quanto
uma dimensão qualitativa (a formação integral
do ser), essas duas dimensões são
inseparáveis.(GADOTTI,2009). Sendo assim
compreende-se que não é apenas aumentar o
tempo do aluno na escola, mas oferecer
qualidade durante o período em que ele
encontra-se nela.
Será utilizado a citação de Moll (2009,
p.13), a respeito das experiências de educação
integral, para concluir este trabalho, uma vez
que, as inúmeras vivencias aqui relatadas,
apresentaram-se como tentativas de construir
uma escola melhor, com formação, mais
significativas e ampliação dos horizontes,
preocupados com o desenvolvimento cidadão e
a diminuição das desigualdades, esta condição
explicita nos projetos é extremamente louvável
de serem realizadas num pais de disparidades
de oportunidades imensas como o nosso.
Essas experiências, e certamente outras ainda sem registro na história da educação, contribuíram para um imaginário em que se vislumbra uma escola viva, pulsante, em contato com seu entorno e em dialogo com seus estudantes. (MOLL,2009, p.13)
REFERÊNCIAS ARROYO, Miguel. Trabalho – Educação e
Teoria Pedagógica. 5 ed. Petrópolis. Editora Vozes. p.153.
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, de 20 dez. 1996 Brasília, DF, p. 1. Disponível em: <www.mec.gov.br>. Acesso em: 02 jul 2018.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Ensino Médio Inovador - Documento Orientador, Brasília: MEC/SEF, 2011.
CAVALIERE, Ana Maria. Escolas de tempo integral versus alunos em tempo integral. Em Aberto, Brasília, v. 22, n. 80, p. 51-63, abr. 2009.
CAVALIERE, Ana Maria. Anísio Teixeira e a educação integral. Revista Paidéia, v.20 n.46 p. 249-259, mai/ago. 2010.
COSTA, Antonio Carlos Gomes da.Protagonismo juvenil: adolescência, educação e participação democrática. 1. ed. Salvador: Fundação Odebrecht, 2000.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 35. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007.
FRIGOTTO, Gaudêncio. Ensino Médio e educação profissional: A ruptura com o dualismo estrutural. Revista Retratos da Escola – Seção Entrevista. Rio de Janeiro, 2011

50 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
FRIGOTO, Gaudêncio (org.) et al. Educação e Crise do Trabalho: perspectivas de final de século. 5 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.
GADOTTI, Moacir. Educação Integral no Brasil: inovações em processo. São Paulo: Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2009.
KRAWCZYK, N. Ensino Médio : Empresários dão as cartas na escola pública. Educ. Soc. Campinas v.35, n126, p. 21-41.
MAGALHÃES, Marcos. A juventude brasileira ganha uma nova escola de Ensino Médio: Pernambuco, cria, experimenta e aprova. 1. ed. São Paulo: Abatroz: Loqui, 2008.
MAINARDES, Jefferson. Abordagem do Ciclo Políticas: Uma contribuição para a análise de Políticas Educacionais. Educ. Soc., Campinas, v. 27, n. 94, p. 47-69,
MEC. Portaria Normativa Interministerial n o 17, de 24 de abril 2007. Programa Mais Educação. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2007.
MOLL, J. O PNE e a educação integral: desafios da escola de tempo completo e formação integral. Revista Retratos da Escola, Brasilia, v. 8, n 15, p. 369-381, 2014. Disponível em <HTTP://www.esforce.org.br/>. Acesso em: 12 de jul de 2016
MOTA, Sílvia Maria Coelho. Escola de tempo integral: da concepção à prática. VI seminário da Redestrado - regulação educacional e trabalho docente. 6 e 7 de setembro de 2006. Biblioteca virtual <http://www.ppgp.caedufjf>. Acesso Em 16 de abril de 2018.
PARO, V. H. ET AL. A escola Publica de Tempo Integral: Universalizaçao do ensino e problemas sociais. Cadernos de Pesquisa, n. 65, p. 11-20, 2013
PERNAMBUCO. Lei Complementar 125, de 10 de julho de 2008. Diário Oficial do Estado de Pernambuco – Poder Executivo, Pernambuco, PE, 11 jul. 2008. p. 3.
PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16478&Ite mid=1107>. Acesso em: 17 abr. 2018.

51 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
CHAPEUZINHO VERMELHO E A PASSAGEM PELOS SÉCULOS... MAGIA E ENCANTAMENTO
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivos norteadores mostrar a trajetória e as diferentes versões do conto de fadas Chapeuzinho Vermelho, que de tantas maneiras de contar essa história encantou e ainda encanta diversas gerações, que de seu texto se apropriaram, seja através da história lida ou da história contada. Nesse estudo serão apresentadas as passagens desse conto de fadas pelos séculos, saindo das rodas de fogueira e entrando nas telas dos cinemas. A metodologia para a realização dessa pesquisa, foi a revisão de literatura de estudos abordados nessa temática. Concluindo, espera-se com esse artigo, mostrar que não importa qual vertente será utilizada na apresentação de um conto, mas o verdadeiro sentido está na forma de introduzir a magia, sem fugir da essência da história, contribuindo assim para o desenvolvimento global do ser humano. PALAVRAS-CHAVES: Versões; trajetórias; contos de fadas; imaginário infantil; medo.
RED CHAPLET AND THE PASSAGE FOR THE CENTURIES ...
MAGIC AND ENCHANTMENT
ABSTRACT The present work has as guiding objectives to show the trajectory and the different versions of the fairy tale Little Red Riding Hood, that in so many ways to tell this story enchanted and still enchants several generations, that of its text appropriated, either through the history read or of the story told. In this study will be presented the passages of this fairy tale through the centuries, leaving the bonfire wheels and entering the screens of the cinemas. The methodology for conducting this research was the literature review of studies addressed in this topic. In conclusion, it is hoped by this article to show that it does not matter which strand will be used in the presentation of a short story, but the true meaning is in the way of introducing magic, without departing from the essence of history, thus contributing to the overall development of being human.
INTRODUÇÃO
Os contos de fadas, à medida que foram
se aproximando da infância, foram se
transformando até chegar nas versões que hoje
conhecemos. Perpassaram séculos e se
mantiveram como instrumentos importantes de
ensinamentos e de deleite para adultos e
crianças. Se nos lançarmos no tempo, de volta
à nossa infância, é provável não ser necessário
recorrer a grande esforço para recordarmos
com prazer daquelas belas histórias que
marcaram nossos primeiros anos de vida.
Dentre elas, certamente encontraremos os
contos de fadas. Tais histórias arrastam-se
pelo tempo, disseminadas ao longo de diversas
gerações e contém, ainda hoje, o poder de
alegrar os dias e embalar os sonhos de tantas
crianças em todo o mundo.
Diante do exposto, enfatiza-se a
importância deste estudo para o conto de fadas
Chapeuzinho Vermelho, que já faz parte da
cultura popular, estando presente em diversos
momentos da História. E o seu encantamento
é tão fascinante que se torna gratificante a
construção deste estudo, no sentido de realizar
uma espécie de viagem no tempo para essa
abordagem, saindo das rodas de fogueira e
entrando nas telas do cinema. Desta forma,
tomando conhecimento da trajetória desse
conto, a atual pesquisa possui como
problemática de estudo: Será que o império
das imagens cinematográficas irá acabar com a
força das narrativas orais?
Denize da Encarnação Pontes

52 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
Entrando nesse túnel do tempo, vale citar
que no século XVII, a sociedade era sobretudo
formada por camponeses. Eles trabalhavam e
se distraíam juntos. Os contos ditos em voz alta
eram, antes de tudo destinados aos adultos,
que na maior parte, não sabiam ler. Para eles,
era o momento de exprimir não só a dura
realidade em que viviam, mas também de
sonhar e mudar de vida durante uma história.
Naquela época, a palavra oral ainda primava
sobre a escrita, sendo o livro de difícil
aquisição.
As histórias eram contadas ao pé da
lareira ou em tabernas, onde todos reuniam-se,
inclusive as crianças. Os contos originais dos
camponeses, na sua grande maioria, eram
formados de elementos grotescos e obscenos,
pouco se importando com a presença do
público infantil.
Os contos de fadas, por outro lado,
surgiram bem antes disso, ou seja, antes que
houvesse na sociedade uma intencionalidade
em se fazer ou escrever algo dirigido às
crianças. Conforme Radino:
Os contos de fadas são considerados por Darnton documentos históricos. Surgiram ao longo dos séculos e foram sofrendo transformações conforme a sociedade e a cultura a que se dirigiam. Segundo o autor os contos franceses retratam a França entre os séculos XV e XVIII, mostrando a realidade brutal em que viviam os camponeses (2003, p.65).
Alguns contos, porém, vieram a público
em pequenos livretos azuis a baixo preço.
Vendidos pelos mercadores ambulantes, eles
ficavam ao lado dos objetos da vida cotidiana.
Ocorre que as crianças mais ricas passavam a
infância com as amas, provenientes do povo.
Estas últimas relatavam em francês esses
contos de fadas que se transmitiam oralmente
de geração em geração.“A passagem dos
contos orais para a cultura escrita implica um
processo de transformação, paradoxalmente
profundo e perceptível à primeira vista”.
(PERRAULT, 2004, p. 31).
DESENVOLVIMENTO TEXTUAL
Esses contos de tradição oral que
circulavam entre as pessoas do povo da Idade
Média e eram utilizados como forma de
entretenimento dos adultos foram compilados
e, posteriormente, adaptados para o público
infantil. Os primeiros contos de fadas
apareceram provavelmente na Itália em formas
manuscritas em meados do século XVI (Radino
2003).
Em razão do âmbito abrangente, o atual
trabalho contribuirá com informações
específicas para o conto de fadas Chapeuzinho
Vermelho, por ter este conto uma trajetória
reveladora e enriquecedora, sendo esse o
objetivo central desta pesquisa para análise do
problema citado anteriormente.
O conto sofreu inúmeras adaptações,
mudanças e releituras. E da cultura popular
mundial, é uma das fábulas mais conhecidas
de todos os tempos. As origens desse conto
podem ser rastreadas até por vários países
europeus e mais do que provavelmente
anteriores ao século XVII.
Chapeuzinho Vermelho era narrada por
camponeses na França, Itália e Alemanha,
sempre com um caráter muito popular. Versões
antigas, contadas ao pé da lareira ou em
tabernas, mostram uma jovem heroína esperta
que não precisa se valer de caçadores para
escapar do lobo e encontrar seu caminho de
volta para casa. Numa edição comentada e
ilustrada dos contos de fadas, Maria Tatar
disponibiliza uma curiosa versão, de feitio mais
antigo, dessa história.

53 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
O conto chama-se A História da Avó e
tem as características das narrativas
folclóricas, não originalmente direcionadas para
as crianças. Por isso, não há nele nenhuma
mensagem pedagógica subliminar, nem
preocupação em suprimir os elementos
grotescos.
A História da Avó merece um
comentário, pois está fora do padrão habitual.
O começo é igual, mas mais sucinto, sem o
sermão materno, que está totalmente ausente.
O diálogo com o Lobo é breve, apenas este
pergunta por onde ela vai e segue o outro
caminho correndo para chegar antes. Devora a
avó, mas não toda, deixa um pouco de carne e
uma garrafa de sangue para depois. Quando
Chapeuzinho chega, ele pede-lhe para deixar a
cesta na despensa e a convida para comer a
carne e beber o vinho (ou melhor, o sangue)
que estão na prateleira. No fundo da cena, um
gato falante comenta que é preciso ser uma
porca para comer da carne da avó e beber o
seu sangue.
A menina não parece dar importância a
essa observação, mas está atenta ao convite
do Lobo para irem para a cama: tire a roupa,
minha filha, e venha para a cama comigo... a
cada peça de roupa que ela tira, pergunta para
o Lobo onde colocar, ele responde sempre o
mesmo: jogue no fogo, minha filha, não vai
precisar mais dela...O strip-tease é detalhado,
quanto ao avental, ao vestido, ao corpete, a
anágua e finalmente as meias, e mais
minucioso será, quanto mais o narrador quiser
acentuar as tintas eróticas da cena. Quando ela
finalmente deita, depois do diálogo conhecido
sobre as partes grandes e peludas do corpo do
Lobo, a menina tem uma súbita vontade de
urinar e pede para se aliviar lá fora, ao que o
Lobo responde que faça na cama mesmo. A
menina insiste, e ele a deixa sair, mas com um
cordão amarrado no pé. A menina amarra o
cordão numa árvore e dispara para casa tão
rápido que o Lobo não alcança.
Desde essa narrativa da tradição oral,
que considera-se a mais antiga, os aspectos
eróticos (em que Chapeuzinho se despe para
entrar na cama do Lobo-Vovozinha) e
canibalísticos (quando, antes de comer a
menina, o Lobo lhe serve a carne e o sangue
da avó), foram sendo suprimidos, substituídos
e modificados.
A PASSAGEM DO SÉCULO
Entrando para o final do século XVII e
continuando no século XVIII, essa história foi
sendo suavizada, onde Charles Perrault publica
a primeira adaptação literária impressa de
Chapeuzinho vermelho em 1697, mas mesmo
assim, poucos pais se dispunham a ler aquela
versão do conto para os filhos, pois sua
primeira versão francesa em papel não contém
um bom final para a menina: depois do diálogo
clássico, ela é definitivamente devorada pelo
Lobo.
Essa versão foi escrita para a corte do rei
Louis XIV, destinada a um público que o rei
entretinha com festas extravagantes e
prostitutas, que pretendia levar uma moral as
mulheres para perceberem os avanços de
maus pretendentes e sedutores. Um
coloquialismo comum da época era dizer que
uma menina que perdeu a virgindade tinha
visto “o lobo”. O texto de Perrault tem um
caráter de fábula moral, ensina que quem
transgride as regras se expõe ao perigo, é
punido e fim de história. Inclusive algumas
versões de Perrault trazem uns versinhos finais
que alertam as meninas ingênuas sobre o
perigo dos lobos de fala mansa:
Vemos aqui que as meninas e, sobretudo, as mocinhas lindas, elegantes e finas, não devem a

54 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
qualquer um escutar. E se fazem-no, não é surpresa, que do lobo virem o jantar. Falo “do” lobo, pois nem todos eles são de fato equiparáveis. Alguns são até muito amáveis, serenos,sem fel nem irritação. Esses doces lobos, com toda a educação, acompanham as jovens senhoritas pelos becos afora e além do portão. Mas ai! Esses lobos gentis e prestimosos são, entre todos, os mais perigosos (PERRAULT,Paris: Barbin,1697).
Os contos de Perrault são o resultado de
uma censura bastante nítida de todos os
elementos e motivos que, na versão original,
poderiam chocar ou simplesmente não ser
compreendidos pelo público mundano. Mas
Perrault não se contentou em cortar o que os
contos tinham de vulgar. Ele transformou a
narrativa e a adaptou à sociedade da época.
Originários, na maior parte, do folclore francês,
os contos adaptados literalmente por Perrault
não pertenciam de modo algum à literatura
infantil, mas à literatura oral, sempre em
movimento, destinada aos adultos dos
povoados, e eram concebidos para o
entretenimento noturno.
UM NOVO SÉCULO
Já no século XIX, a versão de
Chapeuzinho Vermelho ganha um caráter de
conto de fadas, onde cento e sessenta anos
depois (1857), os irmãos Grimm escrevem uma
continuação do conto. Duas versões da história
foram contadas a Jacob Grimm e seu irmão
Wilhelm Grimm, a primeira por Jeanette
Hassenpflug (1791-1860) e a segunda por
Marie Hassenpflug (1788-1856).
Os irmãos registram a primeira versão
para o corpo principal da história e a segunda
em uma sequência do mesmo. Nesta, após
Chapeuzinho ter sido devorada, um lenhador
que estava passando em frente à casa da avó
da menina, escutou o ronco do lobo que dormia
de barriga cheia. Ele entrou e cortou - lhe a
barriga, retirando a avó e a neta vivas de seu
ventre; após, os três preencheram o espaço
vazio do estômago do animal com pedras. O
lobo acordou com sede e acabou afundando na
água que pretendia beber, morrendo em
seguida. Perrault é quase certamente a fonte
do primeiro conto. No entanto, os Grimm,
modificaram o final.
Historicamente, os irmãos Grimm
evidenciaram a qualidade e a imaginação das
histórias alemãs. Ao mesmo tempo,
enriqueceram o fundo comum das histórias de
fadas, contribuindo com versões novas e
envolventes de histórias de caráter universal.
Há uma evidente preocupação educativa por
parte dos irmãos Grimm, manifesta na forma
como eles desenvolvem determinadas
características de seus manuscritos. Outros
temas, considerados imorais ou demasiado
cruéis, desaparecem.
E com relação a Chapeuzinho vermelho,
apesar de os finais das histórias de Perrault e
dos irmãos Grimm diferirem, seus inícios são
bastante similares. Temos uma menina
adorável, conhecida de todos pelo capuz
vermelho, presenteado pela avó, o qual andava
sempre vestindo. Um dia, sua mãe pede – lhe
que leve uns bolinhos e vinho (ou manteiga)
para sua avó que vivia na floresta. Em Grimm,
essa ordem é acompanhada de um pequeno
sermão:
Trate de sair agora mesmo, antes que
o sol fique quente demais, e, quando estiver na
floresta, olhe para a frente como uma boa
menina e não se desvie do caminho. Senão
pode cair e quebrar a garrafa, e não sobrará
nada para a avó. E quando entrar, não se
esqueça de dizer bom-dia e não fique
bisbilhotando pelos cantos da casa...

55 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
Na versão dos Grimm Chapeuzinho,
disposta a obedecer, pega o caminho conforme
lhe fora indicado, mas encontra-se com o Lobo.
No primeiro diálogo dos dois, cheio de
gentilezas, ele toma a iniciativa e lhe pergunta
aonde ela vai. Prontamente a menina conta ao
Lobo sua missão, seu trajeto e a localização
precisa da casa da avó. O ardiloso animal
elabora então um plano para devorar não uma,
mas duas criaturas. Para isso precisa de
tempo, então faz Chapeuzinho ver como o sol
está lindo e quantas flores há para colher pelo
caminho.
A menina se entusiasma com a
proposta, se distrai com as flores e admirando
borboletas, e ele consegue chegar antes à
casa da avó. O Lobo chega antes à casa da
avó, anuncia-se como sendo a neta e aproveita
para devorar a velha, vestindo suas roupas de
dormir e deitando-se em sua cama, à espera
da menina. Chapeuzinho chega depois, e,
nesse momento ocorre o clássico diálogo, que
é sempre o clímax da narrativa. Logo após,
ambas são devoradas, em seguida surge o
lenhador que acaba salvando-as e termina com
a morte do Lobo.
Na análise desse conto, percebe-se que
as várias versões frisam que ela não teve
medo, pois não sabia do perigo que corria. E
por mais variações que a história possa
produzir, existem falas que são como um
núcleo permanente. Porém, fica claro a
intenção dos Grimm em utilizar o conto, como
uma forma de alertar o público sobre os perigos
que podem surgir quando não se leva a sério
uma tarefa designada e as consequências que
podem ocasionar.
O SÉCULO XX
Neste século, a interpretação de
Chapeuzinho Vermelho foi muito popular, com
novas versões sendo escritas e traduzidas,
especialmente na esteira da análise freudiana,
desconstrução e teoria crítica feminista. A partir
da modernidade, começou a haver uma
distinção entre produtos culturais para adultos
e produtos culturais para crianças, esse tempo
levou isso tudo ao extremo, e cada idade
passou a ter seus produtos bem delimitados.
A cultura assimilou as leis do mercado,
incorporando suas prerrogativas de consumo e
publicidade. Com o passar dos anos, em
função das intenções pedagógicas e
mercadológicas, se torna então importante a
definição de um público-alvo. E Chapeuzinho
Vermelho passa a ter um forte caráter infantil.
Graças a isso, o grau de especialização
da cultura produzida para a infância tornou-se
algo a ser estabelecido com precisão. Levando
em conta a psicologia de cada época da vida,
foram surgindo ofertas culturais diferenciadas,
que estiveram sob a suspeita adulta de serem
prejudiciais ou deformadores da mente infantil.
Ao contrário dessa preocupação, os contos de
fadas ficaram isentos desse tipo de
desconfiança e continuaram a ter um grande
apreço a esse tipo de narrativa. O único senão
é um certo filtro quanto a passagens mais
cruas.
Alguns contos foram submetidos a uma
certa censura, embora seu conteúdo tivesse
sido mantido. Há muito para se pensar sobre
os contos da tradição oral que se perpetuam na
intimidade dos lares, passando a fazer parte da
formação das crianças.
NO ATUAL SÉCULO
O século XXI, trouxe ainda novas
versões do conto abordado. Uma releitura de
Chapeuzinho Vermelho que traz as tendências
da mídia virtual foi publicada na obra

56 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
Bonezinho Vermelho e a internet no século
XXI, por Ivone Gomes de Assis, em 2005.
Nesta obra ilustrada, a vovozinha é uma
hacker, que se disfarça até nas preferências do
cotidiano, afirmando não gostar de nada que é
tecnologia. A figura “feia” da vovó tenta quebrar
o mito que muitos carregam ao pensar que a
voz e a escrita, suave e gostosa, dos
participantes de chats, sempre pertencem a
pessoas bonitas e cheias de boa intenção. É
uma obra bilíngue para crianças e adultos.
Chico Buarque também faz uma paródia do
conto na publicação de Chapeuzinho Amarelo,
para o público pré-adolescente e Guimarães
Rosa, em Fita Verde no Cabelo, traz uma
versão para adolescentes.
Porém, mesmo com inúmeras versões e
contribuições no estudo desse conto,
Chapeuzinho Vermelho continua tocando em
muitas angústias da infância, mas
especialmente naquela que os psicanalistas
chamam “o medo de ser devorado”. Embora a
história de Perrault e o conto dos Grimm
possam tomar um rumo violento demais para
algumas crianças, para outras essas mesmas
histórias terminarão com uma exclamação de
prazer e um pedido de bis.
E para os que se irritam com a
incapacidade de Chapeuzinho de perceber que
a criatura deitada na cama de sua avó é um
lobo, como em Perrault e nos Grimm, as
histórias The Little Girl and the Wolf, de James
Thurber, e LittleRedRiding Hood and the Wolf,
de Roald Dahl, são bons remédios. Na versão
de Thurber, assistimos à menina tirando uma
pistola automática da sua cestinha e matando o
lobo a tiros. E a Chapeuzinho de Dahl saca
uma pistola de seu bermudão e, numa questão
de semanas, desfila com um “lindo casaco de
pele de lobo”.
E como já era de se esperar, o conto
Chapeuzinho Vermelho entra nas telas do
cinema, também com inúmeras versões, onde
é lançado em 1984 o filme de drama e fantasia
The CompanyofWolves (A Companhia dos
Lobos),de autoria da romancista britânica
Angela Carter, que retrata a maturidade da
mulher e sua vida sexual numa metáfora do
conto de Chapeuzinho Vermelho. No filme,
Rosaleen é uma jovem e ingênua aldeã que
ouve de sua avó histórias sobre os terríveis
lobos que vivem na floresta e se disfarçam de
homens para seduzir e devorar garotinhas.
As adaptações cinematográficas também
tomam direções diferentes como se pode ver
em Freeway-Sem saída (1996), de Matthew
Bright, mas exploram infalivelmente as
dimensões eróticas da história. Em 2011, surge
uma versão mais sombria do conto,
apresentada no filme RedRiding Hood (A
Garota da Capa Vermelha), onde um
lobisomem assombra um pequeno vilarejo no
qual vive a garota Valerie (interpretada por
Amanda Seyfried, com direção de Catherine
Harwicke), que deve escolher entre o
casamento prometido pela sua mãe e a fuga
planejada com seu amor de infância, ao
mesmo tempo que desconfia de quem possa
ser o lobo.
Já em 2014, Chapeuzinho é um dos
contos de fadas que aparece no filme musical
“Intothe Woods”, da Disney, com o nome em
português “Caminhos da floresta”. Nessa
versão, a menina é salva do Lobo Mau graças
ao protagonista, que deve quebrar um feitiço.
Em retribuição, ela oferece sua capa, vermelha
como o sangue, sendo um dos itens solicitados
pela bruxa má (Meryl Streep), para
desmanchar a maldição.
E finalmente em 2015, surge o filme
Chapeuzinho Vermelho no Castelo das Trevas,
de Rene Perez com Iren Levy, Nicole Stark,
Robert Amstler e Alanna Forte. Nessa versão,
baseado no clássico dos Irmãos Grimm,

57 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
Chapeuzinho Vermelho é perseguida pelo Lobo
Mau e acaba se escondendo em um antigo
castelo em meio à floresta, em sua tentativa de
fugir dos perigos escondidos na mata fechada.
No entanto, uma vez lá dentro, Chapeuzinho irá
descobrir novos perigos, problemas ainda
maiores que a colocam em risco, de maneira
iminente e fatal. A menina enfrenta seus
próprios medos para que possa se ver livre
para sempre.
As versões contadas da história de
Chapeuzinho Vermelho variam muito, com a
adição ou a diminuição de elementos de acordo
com cada autor, e pelo fato de não possuir
propriamente um sentido único, acaba se
tornando uma estrutura que permite gerar
sentidos, por isso toda a interpretação será
sempre parcial.
Os contos são formados como imagens de um caleidoscópio, o que muda são as posições dos elementos. Certos arranjos particularmente felizes por equilíbrio, beleza e força, cristalizam e formam algumas dessas narrativas que hoje conhecemos como as nossas histórias clássicas...DIANA LICHTENSTEIN CORSO.
CONCLUSÃO
Após esse estudo realizado de forma
objetiva e direta, percebe-se que Chapeuzinho
Vermelho se tornou um conto capaz de
conectar as pessoas ao elemento maravilhoso
e à multiplicidade de sentidos que caracterizam
o mito em todas as culturas e em todas as
épocas, fazendo parte de um acervo cultural de
histórias, através do qual a humanidade
reconhece a si mesma.
Mesmo hoje, neste nosso mundo regido
pela tecnologia de computadores e
videogames, os contos de fadas tradicionais
continuam a magnetizar as platéias atentas, e
isso pode ser comprovado por qualquer
contador de histórias. As histórias de fadas,
conforme citado por Bruno Bettelheim, no livro
A psicanálise dos contos de fadas, tem a
capacidade de falar simultaneamente a todos
os níveis da personalidade humana. Portanto
eles falam tanto para crianças como para
jovens ou adultos e, por trabalharem com uma
linguagem marcadamente simbólica,
estabelecem esse contato sem a intermediação
do pensamento lógico.
Temas que a literatura infantil
tradicionalmente procura ignorar ou, pelo
menos, amenizar, com os limites humanos,
manifestados sob a forma de privações,
doenças, separações, envelhecimento,
incapacidade física, demência, sofrimento e
morte são tratados nos contos de fadas com
assiduidade e num tom que beira o casual.
Sendo assim, é possível afirmar que os
contos de fadas possuem um lugar especial na
vida das crianças, jovens e até mesmo os
adultos, pois a oralidade, a leitura e a escrita se
tornam atividades integradas e
complementares utilizadas nas escolas e na
vida, onde o primeiro contato da criança com o
texto se dá através da narração oral,
independentemente de estar ou não vinculadas
ao livro.
Mas, apesar de muitos contos terem
chegado até nós pela escrita, sua
sobrevivência na história deve-se à tradição
oral. Através de uma série de rituais, os contos
de fadas eram transmitidos e puderam, dessa
forma, perpetuar durante séculos. O narrador
transformava sua função em um cerimonial em
que não só o que era transmitido importava,
mas também a ritualização de sua transmissão.
Assim, defende-se que além da presença
marcante dos contos de fadas nas gerações,
eles devem também significar o resgate das

58 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
culturas orais. Percebe-se de uma maneira
geral, que dentre os contos tradicionais,
Chapeuzinho Vermelho continua sendo um dos
melhores contos de fadas que contribui para
essa prática, onde vê-se que esse conto
sobreviveu transpassando por vários séculos,
sem perder a capacidade de estimular a
imaginação das crianças, auxiliando nos
conflitos psíquicos inconscientes que ainda
dizem respeito às crianças de hoje.
O conto de fadas nesse contexto pode
trazer significativas contribuições, pois pode
funcionar como um elo entre as práticas orais
vividas pelas crianças em seus contextos
sociais e a vida escolar. Pode ainda ser
excelente alimento para a fantasia.
E acompanhando a entrada do conto de
fadas Chapeuzinho Vermelho junto as telas do
cinema, certamente pode-se afirmar que este
conto também tem o seu poder fascinante de
encantamento junto ao público jovem e adulto.
A leitura desta pesquisa nos faz ver que o atual
império das imagens não retirou a força das
narrativas orais.
E mesmo nos deparando com as mais
novas versões cinematográficas, sempre estará
viva a originalidade e a essência desse conto
de fadas na mente de cada leitor ou ouvinte.
E hoje, para os contadores de histórias, o
importante é saber que do ponto de vista do
ouvinte infantil, não faz muita diferença se a
história é passada ou contemporânea, a sua
imaginação é livre para pensar e sentir os
contos do jeito que elas quiserem.
REFERÊNCIAS
CORSO, Diana Lichtenstein; CORSO, Mario. Fadas no Divã: Psicanálise nas Histórias Infantis. Porto Alegre: Artmed, 2006.
BETTELHEIM, Bruno. A psicanálise dos Contos de Fadas.18ª ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.
TATAR, Maria. Contos de Fadas: Edição comentada e ilustrada. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.
FROMM, Erich. A Linguagem Esquecida. Rio de Janeiro: Zahar, 1964.
RADINO, Glória. Contos de fadas e realidade psíquica: a importância da fantasia no desenvolvimento. São Paulo: Casa do psicólogo, 2003.
PERRAULT, Charles. Histórias ou Contos de Outrora. São Paulo: Landy Editora, 2004.
SORIANO, Marc; JAHN, Heloisa. Contos de Grimm. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1996.
MELLON, Nancy. A arte de contar histórias. Tradução Amanda Orlando Rodrigues. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.
PERRAULT, Charles. Le Petit Chaperon Rouge. Histoires ou Contes dutemps passe, avecdesmoralités. Paris: Barbin, 1697.
BUARQUE, Chico. Chapeuzinho Amarelo. 2ª ed., Rio de Janeiro: José Olímpio,1997.
SOUZA, Renata Junqueira; FEBA, Berta Lúcia Tagliari. Leitura literária na escola: reflexões e propostas na perspectiva do letramento. 1ª ed.; Campinas, São Paulo: Mercado de letras, 2011.
SIMONSEN, Michéle. O Conto Popular. São
Paulo: Martins Fontes,
ANEXO I
Chapeuzinho Vermelho – Versão original
de Charles Perrault
Era uma vez uma pequena aldeã, a
menina mais bonita que poderia haver. Sua
mãe era louca por ela e a avó, mais ainda. Esta
boa senhora mandou fazer para a menina um
pequeno capuz vermelho. Ele se assentava tão
bem que por toda parte aonde ia a chamavam
Chapeuzinho Vermelho.
Um dia sua mãe, que assara uns
bolinhos, lhe disse: “Vá visitar sua avó para ver
como ela está passando, pois me disseram que
está doente. Leve para ela um bolinho e este
potinho de manteiga.”
Chapeuzinho Vermelho partiu
imediatamente para a casa da avó, que morava
numa outra aldeia. Ao passar por um bosque,

59 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
encontrou o compadre lobo, que teve muita
vontade de comê-la, mas não se atreveu, por
causa dos lenhadores que estavam na floresta.
Ele lhe perguntou para onde ia. A pobre
menina, que não sabia que era perigoso parar
e dar ouvidos a um lobo, respondeu: “Vou
visitar minha avó e levar para ela um bolinho
com um potinho de manteiga que minha mãe
está mandando.”
“Sua avó mora muito longe? ”perguntou
o lobo.
“Ah! Mora sim”, respondeu Chapeuzinho
Vermelho. “Mora depois daquele moinho lá
longe, bem longe, na primeira casa da aldeia.”
“Ótimo! ”disse o lobo. “Vou visitá-la
também. Vou por este caminho aqui e você vai
por aquele caminho ali. E vamos ver quem
chega primeiro.”
O lobo pôs-se a correr o mais que podia
pelo caminho mais curto, e a menina seguiu
pelo caminho mais longo, entretendo-se em
catar castanhas, correr atrás das borboletas e
fazer buquês com as flores que encontrava. O
lobo não demorou muito para chegar à casa da
avó. Bateu: Toc, toc, toc.
“Quem está aí?
“É sua neta, Chapeuzinho Vermelho”,
disse o lobo disfarçando a voz. “Estou trazendo
um bolinho e um potinho de manteiga que
minha mãe mandou.”
A boa avó, que estava de cama por
andar adoentada, gritou: “Puxe a lingüeta e o
ferrolho se abrirá.”
O lobo puxou a lingueta e a porta se
abriu. Jogou-se sobre a boa mulher e a
devorou num piscar de olhos, pois fazia três
dias que não comia. Depois fechou a porta e foi
se deitar na cama da avó, à espera de
Chapeuzinho Vermelho, que pouco tempo
depois bateu à porta. Toc, toc, toc.
“Quem está aí?”
Ouvindo a voz grossa do lobo,
Chapeuzinho Vermelho primeiro teve medo,
mas, pensando que a avó estava gripada,
respondeu:
“É sua neta, Chapeuzinho Vermelho.
Estou trazendo um bolinho e um potinho de
manteiga que minha mãe mandou.”
O lobo gritou de volta, adoçando um
pouco a voz: “Puxe a lingüeta e o ferrolho se
abrirá.”
Chapeuzinho Vermelho puxou a lingueta
e a porta se abriu. O lobo, vendo-a entrar,
disse-lhe, disse-lhe, escondendo-se na cama
debaixo das cobertas:
“Ponha o bolo e o potinho de manteiga
em cima da arca, e venha se deitar comigo.”
Chapeuzinho Vermelho tirou a roupa e
foi se enfiar na cama, onde ficou muito
espantada ao ver a figura da avó na camisola.
Disse a ela:
“Minha avó, que braços grandes você
tem!”
“É para abraçar você melhor, minha
neta.”
“Minha avó, que pernas grandes você
tem!”
“É para correr melhor, minha filha.”
“Minha avó, que orelhas grandes você
tem!”
“É para escutar melhor, minha filha.”
“Minha avó, que olhos grandes você
tem!”
“É para enxergar você melhor, minha
filha.”
“Minha avó, que dentes grandes você
tem!”
“É para comer você.”
E dizendo estas palavras, o lobo
malvado se jogou em cima de Chapeuzinho
Vermelho e a comeu.

60 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
ANEXO II
Chapeuzinho Vermelho – Versão original
de Jacob e Wilhelm Grimm
Era uma vez uma menininha
encantadora. Todos que batiam os olhos nela a
adoravam. E, entre todos, quem mais a amava
era sua avó, que estava sempre lhe dando
presentes. Certa ocasião ganhou dela um
pequeno capuz de veludo vermelho.
Assentava-lhe tão bem que a menina queria
usá-lo o tempo todo, e por isso passou a ser
chamada Chapeuzinho Vermelho.
Um dia, a mãe da menina lhe disse:
“Chapeuzinho Vermelho, aqui estão alguns
bolinhos e uma garrafa de vinho. Leve-os para
sua avó. Ela está doente, sentindo-se
fraquinha, e estas coisas vão revigorá-la. Trate
de sair agora mesmo, antes que o sol fique
quente demais, e quando estiver na floresta
olhe para frente como uma boa menina e não
se desvie do caminho. Senão, pode cair e
quebrar a garrafa, e não sobrará nada para a
avó. E quando entrar, não esqueça de dizer
bom-dia e não fique bisbilhotando pelos cantos
da casa. ”
“Farei tudo que está dizendo”,
Chapeuzinho Vermelho prometeu à mãe.
Sua avó morava no meio da mata, a
mais ou menos uma hora de caminhada da
aldeia. Mal pisara na floresta, Chapeuzinho
Vermelho topou com o lobo. Como não tinha a
menor idéia do animal malvado que ele era,
não teve um pingo de medo.
“Bom dia, Chapeuzinho vermelho”, disse
o lobo.
“Bom dia, senhor Lobo”, ela respondeu.
“Aonde está indo tão cedo de manhã,
Chapeuzinho Vermelho? ”
“À casa da vovó.”
“O que é isso debaixo do seu avental?”
“Uns bolinhos e uma garrafa de vinho.
Assamos ontem e a vovó, que está doente e
fraquinha, precisa de alguma coisa para animá-
la”, ela respondeu.
“Onde fica a casa da sua vovó,
Chapeuzinho?”
“Fica a um bom quarto de hora de
caminhada mata adentro, bem debaixo dos três
carvalhos grandes. O senhor deve saber onde
é pelas aveleiras que crescem em volta”, disse
Chapeuzinho Vermelho.
O lobo pensou com seus botões: “Esta
coisinha nova e tenra vai dar um petisco e
tanto! Vai ser ainda mais suculenta que a
velha. Se tu fores realmente matreiro, vais
papar as duas.”
O lobo caminhou ao lado de
Chapeuzinho Vermelho por algum tempo.
Depois disse: “Chapeuzinho, notou que há
lindas flores por toda parte? Por que não para e
olha um pouco para elas? Acho que nem ouviu
como os passarinhos estão cantando
lindamente. Está se comportando como se
estivesse indo para a escola, quando é tudo tão
divertido aqui no bosque.”
Chapeuzinho Vermelho abriu bem os
olhos e notou como os raios de sol dançavam
nas árvores. Viu flores bonitas por todos os
cantos e pensou: “Se eu levar um buquê
fresquinho, a vovó ficará radiante, com
certeza.”
Chapeuzinho Vermelho deixou a trilha e
correu para dentro do bosque à procura de
flores. Mal colhia uma aqui, avistava outra
ainda mais bonita acolá, e ia atrás dela. Assim,
foi se embrenhando cada vez mais na mata.
O lobo correu direto para a casa da avó
de Chapeuzinho e bateu à porta.
“Quem é?”
“Chapeuzinho Vermelho. Trouxe uns
bolinhos e vinho. Abra a porta.”

61 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
“É só levantar o ferrolho”, gritou a avó.
“Estou fraca demais para sair da cama.”
O lobo levantou o ferrolho e a porta se
escancarou. Sem dizer uma palavra, foi direto
até a cama da avó e a devorou inteirinha.
Depois, vestiu as roupas dela, enfiou sua touca
na cabeça, deitou-se na cama e puxou as
cortinas.
Enquanto isso Chapeuzinho Vermelho
corria de um lado para outro à cata de flores.
Quando tinha tantas nos braços que não podia
carregar mais, lembrou-se de repente de sua
avó e voltou para a trilha que levava à casa
dela. Ficou surpresa ao encontrar a porta
aberta e, ao entrar na casa, teve uma sensação
tão estranha que pensou: “Puxa! Sempre me
sinto tão alegre quando estou na casa da vovó,
mas hoje estou me sentindo muito aflita.”
Chapeuzinho Vermelho gritou um olá,
mas não houve resposta. Foi então até a cama
e abriu as cortinas. Lá estava sua avó, deitada,
com a touca puxada para cima do rosto.
Parecia muito esquisita.
“Ó avó, que orelhas grandes você tem!”
“É para melhor te escutar!”
“Ó avó, que olhos grandes você tem!”
“É para melhor te enxergar!”
“Ó avó, que mãos grandes você tem!”
“É para melhor te agarrar!”
“Ó avó, que boca grande, assustadora,
você tem!”
“É para melhor te comer!”
Assim que pronunciou estas últimas
palavras, o lobo saltou fora da cama e devorou
a coitada da Chapeuzinho Vermelho.
Saciado o seu apetite, o lobo deitou-se
de costas na cama, adormeceu e começou a
roncar muito alto. Um caçador que por acaso ia
passando junto à casa pensou: “Como essa
velha está roncando alto! Melhor ir ver se há
algum problema.” Entrou na casa e, ao chegar
junto à cama, percebeu que havia um lobo
deitado nela.
“Finalmente te encontrei, seu velhaco”,
disse. “Faz muito tempo que ando à sua
procura.”
Sacou sua espingarda e já estava
fazendo pontaria quando atinou que o lobo
devia ter comido a avó e que, assim, ele ainda
poderia salvá-la. Em vez de atirar, pegou uma
tesoura e começou a abrir a barriga do lobo
adormecido. Depois de algumas tesouradas,
avistou um gorro vermelho. Mais algumas, e a
menina pulou fora gritando: “Ah, eu estava
apavorada! Como estava escuro na barriga do
lobo.” Embora mal pudesse respirar, a idosa
vovó também conseguiu sair da barriga. Mais
que depressa Chapeuzinho Vermelho catou
umas pedras grandes e encheu a barriga do
lobo com elas. Quando acordou, o lobo tentou
sair correndo, mas as pedras eram tão pesadas
que suas pernas bambearam e ele caiu morto.
Chapeuzinho Vermelho, sua avó e o
caçador ficaram radiantes. O caçador esfolou o
lobo e levou a pele para casa. A avó comeu os
bolinhos, tomou o vinho que a neta lhe levara,
e recuperou a saúde. Chapeuzinho Vermelho
disse consigo: “Nunca se desvie do caminho e
nunca entre na mata quando sua mãe proibir.”

62 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
PESQUISA EM EDUCAÇÃO; MÉTODOS E MODOS DE FAZER, UMA ABORDAGEM NAS PERSPECTIVAS DE MARILDA DA SILA & VERA TERESA VALDEMARIM.
RESUMO Este ensaio é parte de uma análise da temática “Método de Avaliação, uma abordagem nas perspectivas de Marilda da Sila e Vera Teresa Valdemarim”, tem como objetivo discutir e analisar as causas e consequências dos métodos de avaliação. Pautadas em princípios que foram objetos de pesquisa das autoras supracitadas. O livro fundamenta-se na ideia de Pierre Bourdieu que consta da epígrafe. É claro, muito mais modesto, tendo em vista a envergadura da inspiração. Palavras-chave: Pesquisa educação; métodos e modos de fazer.
RESEARCH IN EDUCATION; METHODS AND WAYS OF DOING, AN APPROACH IN THE PERSPECTIVES OF MARILDA DA SILA & VERA TERESA VALDEMARIM.
ABSTRACT
This essay is part of an analysis of the thematic "Assessment Method, an approach in the perspectives of Marilda da Sila and Vera Teresa Valdemarim", aims to discuss and analyze the causes and consequences of evaluation methods. Based on principles that were the object of research by the authors mentioned above. The book is based on the idea of Pierre Bourdieu that appears in the epigraph. Of course, much more modest in view of the breadth of inspiration. Key words: Research education; methods and ways of doing.
INTRODUÇÃO
Seu objetivo é tornar públicas
reflexões, ensaios e relatos acadêmicos sobre
os intrincados processos desenvolvidos para a
consolidação de linhas de trabalho e formação
de novos pesquisadores. Para isso, reunimos
autores vinculados ao Programa de Pós-
Graduação em Educação Escolar da
Faculdade de Ciências e Letras de
Araraquara/Unesp, convidamos a Professora
Maria do Rosário Mortatti, do Programa de
Pós-Graduação em Educação da Faculdade de
Ciências de Marília/Unesp e aproveitamos a
oportunidade criada pelo Programa de
Publicações Digitais da Pró-Reitoria de Pós-
Graduação da Unesp, dadas as possibilidades
que oferece para que essas contribuições
cheguem aos leitores visados: aqueles que
estão iniciando atividades de pesquisa.
A construção do Objeto de Pesquisa
a autora apresenta como fonte de
inspiração da pesquisa Bourdieu, pensador que
contribuiu significativamente para a formação
do pensamento sociológico do século XX,
dando destaque “o homo acadêmicus gosta do
acabado. Como os pintores acadêmicos, ele
faz desaparecer de seus trabalhos os vestígios
da pincelada, os toques e os retoques”.
Na visão da autora, descrever
metodologia de pesquisa, elencar
procedimentos e justificar sua utilização
constitui elementos necessários para pleitear
ingresso em programas de pós-graduação por
meio dos quais se avalia se o candidato
expressa preocupações com os modos mais
pertinentes para desenvolver suas intenções;
as agências de fomento valem-se dos mesmos
critérios para avaliar a viabilidade de o trabalho
chegar aos resultados pretendidos; as editoras
Terezinha de Jesus Brito
Ieda Gomes da Silva Santos

63 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
fornecem grande variedade de obras dedicadas
ao tema indicando tratar-se de uma demanda
dos leitores; as instituições formadoras
oferecem cursos e disciplinas dedicados a
essas discussões. São, portanto, diferentes
manifestações da importância e da dificuldade
do tema aqui abordado.
Juntando esforços coletivos,
pretendemos afirmar a importância dessa
discussão e o entendimento de que a pesquisa
se desenvolve por um conjunto de regras ou
passos validados pela comunidade científica
que é objeto de transmissão formalizada;
procuramos também evidenciar a variedade de
procedimentos pertinentes estabelecidos
mediante diferentes perspectivas de análise e
de objetos postos para a investigação;
esperamos, ainda, exemplificar que a
metodologia comporta apropriações pessoais
de seus usuários que, tomando-a para si,
transformam um conjunto de regras prescritas
em um instrumental analítico para a construção
de interpretações originais.
Daí decorre a escolha dos autores e os
respectivos relatos dos modos de uso crivados
pela experiência acadêmica e pela
intencionalidade que a ela dedicaram.
História da educação e Retórica, ethos e
pathos como meio de prova.
Pierre Bourdieu (2003, p.59) define
“teoria científica” como um programa de
percepção e de ação só revelado no trabalho
empírico em que se realiza, difere da teoria,
que é um discurso profético ou programático
que tem em si mesmo o seu próprio fim e que
nasce e vive da defrontação com outras
teorias. Construção provisória elaborada para o
trabalho empírico, a teoria científica sugere
que, tomar o partido da ciência é optar,
acrescentar, asceticamente, por dedicar mais
tempo e mais esforços ao por em ação os
conhecimentos teóricos adquiridos, ao invés de
os condicionar, de acordo com o modo, para a
venda, metendo-os num embrulho de
metadiscurso.
Essas reflexões dão ensejo ao que
pretendo desenvolver neste escrito,
considerando uma situação delicada que se
apresenta a mim, como a muitos que orientam
estudantes em diversos estágios de formação,
sejam graduados, sejam pós-graduados.
Quando alguém deseja ter familiaridade com os
nossos programas de pesquisa, boa parte de
nossa tarefa consiste em discutir com o
interessado aquilo que Bourdieu denomina
“teoria teórica”, outra parte, bem mais
complexa, consiste em aproximar de nosso
habitus científico, o iniciante, o que exige
mostrar-lhe as soluções que temos dada para o
problema concreto de investigação.
Segundo a autora, assim afirma: Penso
que nossa incumbência, neste último setor, é
apresentar soluções teórico-práticas, uma vez
que o faça assim, dessa forma e não de outra,
envolve um exercício que não é meramente
operacional. Se o que desejamos é fazer
emergir no outro o desejo de pesquisar,
comprometendo-nos com a iniciação numa
arte, fundindo necessariamente três elementos:
orientações estritamente programáticas
elaboradas no diálogo com outras teorias;
desenvolvimentos técnicos que já se
demonstraram eficientes; e delineamentos que
são, a um só tempo, teóricos e práticos, já
organizados ou apenas imaginados; só se
compreende uma pesquisa quando se visualiza
essa conjunção.
A história epistemológica que se vai
construindo um relato, a pesquisa tal como foi
desenvolvida nos programas de pós-graduação
e portanto, nas universidades, é atividade
medida pelo tempo. A denominação dos

64 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
diferentes níveis para sua realização indica
expectativas em relação ao tratamento do
tema, a sofisticação do repertório conceitual
mobilizado, à abrangência dos dados trazidos
para a interpretação, entre outras. Todas elas
recebem uma demarcação temporal fixadas
pelas instituições de fomentos ou pelas
instituições formadoras na qual está
pressuposta a ascensão do conhecimento.
Embora a racionalidade que preside a
formação do pesquisador estabeleça etapas,
certificação, indicação científica, mestrado,
doutorado, livre docência, e a conquista
progressiva da autonomia, o movimento
cognitivo do pesquisador não está
necessariamente, traduzida nessa linearidade.
Na formação da atividade de pesquisa em
“ofício de cientista” conforme denominação de
Pierre Bourdieu, (2008) estão relacionadas
elementos teóricos e modelos
Como Fazer uma Tese
para fundamentação a autora traz para
o centro da discussão Maria do Rosário Longo
Mortatti, “mares, rotas, monstros piratas e
naufrágios, tudo ista ainda é um desafio. Não
se pode dar por terminada a viagem sem ter
chegado ao destino, mas se nós mesmos o
fazemos, frágil limite entre o épico e o cômico”.
Como abordar esse tema, sem incidir em
redundâncias ou discursos prescritivos
elaborados por um “especialista” no assunto e
destinados à execução por parte de outros, os
professores de 1º e 2º grau? Como abordar os
problemas envolvidos na formação de
professores a partir de dentro, mesmo desse
processo formativo? Onde encontrar a voz e
resgatar sua vivência de formação e atuação,
para torná-lo sujeito, em vez de mero objeto de
investigação? Como apresentar uma proposta
para o ensino de Português, sem prescrever o
que deveria ser feito por todos os professores,
mas sem tampouco desconsiderar minha
experiência tanto de formação e atuação
docente enquanto de formadora de outros
professores, nem me emitir de mostrar e
discutir o que fiz e por que o fiz? Como dar
forma a tais questões, como apresentá-las e
sobre elas refletir em um texto acadêmico-
científico, em que usualmente não cabiam
vozes “menores”, vivências cotidianas,
discursos não autorizados, sobre tudo quando
enunciados na primeira pessoa do singular.
Segundo Mortatti, afirma: Também esta
viagem não me parece terminada, tanta coisa
havia e ainda há para fazer, tantos riscos
desconhecidos, um novo um novo milênio
iniciando. Quanto ao tema da tese, penso ainda
que cabe perguntar: que rumos propomos para
a formação de professores e para o ensino de
português em nosso País? E quanto a este
texto, também cabe pelo menos uma pergunta
fundamental: consegui explicar, corretamente,
o que fiz em minha tese de doutorado e
´porque o fiz? Frente as possíveis respostas
negativas, invoco M.R. e apresento,
antecipadamente, minha defesa. Talvez
também a mim tenham faltado engenho e arte
e talvez eu também tenha arranjado mais
problemas que soluções, “mesmo assim ouso
pedir, não queiram prender como inseto no
alfinete da interpretação; basta que a torturada
vida das palavras, deite seu fogo ou mel na
folha quieta. Num texto qualquer com um nome
embaixo” (Luft, 1984).
REFERÊNCIAS
AZANHA, J.M.P. Uma ideia de pesquisa
educacional. São Paulo: Edusp/Fapesp,
1992.
BACHELARD, G. O racionalismo aplicado.
Rio de Janeiro: Zahar. 1997.

65 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
BENCOSTA, M.L. (Org). Culturas escolares,
saberes e práticas educativas.
Itinerários históricos. São Paulo. Cortez.
2007.

66 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
A EDUCAÇÃO POPULAR COMO MECANISMO INFLUENCIADOR
DAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS
RESUMO
A Educação popular nasceu fora da escola, no seio das organizações populares, mas seus princípios e sua metodologia, com bases emancipatórias, tiveram uma repercussão tão grande na sociedade que acabaram cruzando fronteiras e os muros das escolas, influenciando práticas educativas, tanto as que acontecem nos espaços escolares, como as que ocorrem em outros espaços educativos, como nos sindicatos, nas ONGs, Associações de Moradores, Reuniões do Orçamento Participativo (OP), nos conselhos populares etc. Seus desafios não são pequenos nos dias atuais (WERTHEIN, 1985, p. 22). Nesse sentido a Educação popular acompanha, apoia e inspira ações de transformação social. Nela, o processo educativo se dá na ação de mudar padrões de conduta, modos de vida, atitudes e reações sociais. Portanto, se a realidade social é ponto de partida do processo educativo para transformá-la acredita-se que esse movimento de “abrir janelas” significa a possibilidade de reacendermos a “chama da esperança”, lembrando-se que “[...] a esperança é necessária, mas não é suficiente. Ela só não ganha a luta, mas, sem ela, a luta fraqueja e titubeia. Palavras-chave: educação, popular, práticas, educacionais.
POPULAR EDUCATION AS AN INFLUENCING MECHANISM
OF EDUCATIONAL PRACTICES
ABSTRACT
Popular education was born out of school, within popular organizations, but its principles and methodology, with emancipatory bases, had such a great repercussion in society that they crossed borders and the walls of schools, influencing educational practices, both those that happen in schools, such as those that take place in other educational spaces, such as in unions, NGOs, Resident Associations, Participatory Budget Meetings (PB), etc. Their challenges are not small these days (WERTHEIN 1985: 22). In this sense popular education accompanies, supports and inspires actions of social transformation. In it, the educational process occurs in the action of changing patterns of conduct, ways of life, attitudes and social reactions. Therefore, if social reality is the starting point of the educational process to transform it, it is believed that this movement of "opening windows" means the possibility of rekindling the "flame of hope", remembering that " Hope is needed, but it is not enough. She just does not win the fight, but without her, the fight falters and hesitates "” Key words: education, popular, practical, educational.
INTRODUÇÃO
Para experimentar sua capacidade de
pensamento, argumentação e criação. A
Educação popular explicita o lado político da
educação e ganha um caráter de classe, na
medida em que questiona a forma como as
relações de poder que sustentam a sociedade
capitalista reproduzem-se na educação
bancária e que orienta as atividades para a
construção de um projeto histórico nacional
voltado para a criação de uma sociedade justa
e igualitária, enfatizando a solidariedade de
todos os setores que possam compartilhar esse
projeto. Podemos dizer que “os projetos de
Educação popular são os que implicam ao
mesmo tempo maiores desafios e maiores
potencialidades, tanto educacionais como
sociais” (WERTHEIM, 1985, p. 60).
Grandes são os desafios atuais dos
movimentos sociais e da Educação popular
com seu projeto emancipatório. Trata-se de
combater a trivialização do sofrimento humano.
Podemos dizer que “[...] o objetivo principal do
Cybelle de Jesus da Costa Silvestre

67 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
projeto educativo emancipatório consiste em
recuperar a capacidade de espanto e de
indignação e orientá-la para a formação de
subjetividades inconformistas e rebeldes”
(SANTOS, 1996, p. 17).
Educação Popular construção de uma
educação pública popular
A educação popular é um movimento
prático e teórico em educação, presente em
processos de organização das classes
trabalhadoras, sobretudo, que apresenta
profunda crítica à educação dominante e que,
segundo Paulo Freire (1958), tem promovido o
‘silêncio dessas minorias, defendendo outro
fazer educativo definido por uma educação
com o homem, e não sobre o homem, ou
simplesmente, para ele.
Uma educação promotora de
mudanças criadoras de outras e novas
disposições mentais no humano, enquanto
coloca-o na sua contextura sociocultural, em
condição compreensiva de seu mundo mesmo.
(Melo Neto (2011, p.32).
Na expectativa de apontar o que é
essencial sobre Educação Popular presente na
sua pesquisa, Ana Grijó Santos (2005) por ser
natural do interior do Estado do Amazonas, da
cidade de Anori, traz consigo o conhecimento
da comunidade como sua matéria prima, e
caracteriza a EP como cultura popular ideal.
Segundo Santos (2005, p.11):
Sem dúvida, a experiência citadina, lócus mais evidentes das contradições, era menos alentadora e mais voraz que a vivência no mundo rural. Mas, ao mesmo tempo, também era mais educadora, à medida que as experiências com os conflitos destruíam e reconstruíam novas ilusões e desilusões. Ali encontramos os resquícios dos sonhos passados da história da
educação brasileira onde há muito por fazer. Ou seja, a Educação Popular permite que as comunidades e os moradores considerados à margem da sociedade urbana, vejam-se como parte integrante dela. Isso porque, tudo a que se remete ao “popular”, passou a ter outro significado quando essas pessoas “oprimidas” puderam se autovalorizar a partir da importância de ser um sujeito social com uma consciência cidadã, e isso geralmente era adquirido nos movimentos sociais, sindicatos e outros (SANTOS, 2005, p.11).
Antes da Segunda Guerra Mundial, na
Espanha, a educação popular estava ligada
aos movimentos de resistência da ditadura
franquista, como educação do povo,
estreitamente ligada ao movimento anarquista.
Ela chegou à América Latina por meio de
intelectuais orgânicos ligados ao anarquismo
(GADOTTI & TORRES, 1994).
Nos anos 70 essas duas tendências
continuaram. Com os regimes autoritários da
região a educação popular refugia-se nas
ONGs e movimentos sociais, sindicais e
políticos sob a forma de educação não-formal,
fora do estado, contrapondo-se á educação
escolar (BRANDÃO, 1982).
As décadas de 70 e 80 foram
chamadas de “décadas perdidas” por conta do
obscurantismo das ditaduras na América
Latina. Mas o processo de radicalização da
democracia foi retomado. Com a retomada da
democracia, nos anos 80, começam parcerias
das ONGs com o Estado. Surge em São Paulo,
com Paulo Freire, a “Escola Pública Popular”
(TORRES, 1997).
A educação Popular, como modelo
educativo emergente, depois da Grande Guerra
(anos 50), associado a um desenvolvimento
econômico autônomo, distanciando-se do
pensamento importado dos países
hegemônicos, possibilitou aos países da

68 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
América Latina um salto qualitativo na sua
educação, principalmente em contextos
revolucionários (Cuba, Nicarágua, Granada...),
quanto em outros contextos, combatendo a
“invasão cultural” (Paulo Freire no Brasil, Fals
Borda na Colômbia, Francisco Gutiérrez na
Costa Rica) ainda segundo a mesma autoria.
Hoje podemos dizer que a educação
popular se constitui como “um conjunto de
atores, práticas e discursos que se identificam
em torno de umas ideias centrais: seu
posicionamento crítico frente ao sistema social
imperante, sua orientação ética e política
emancipatória, sua opção com os setores e
movimentos populares, sua intenção de
contribuir para que estes se constituam em
sujeitos a partir do alargamento de sua
consciência e subjetividade, e pela utilização
de métodos participativos, dialógicos e críticos”
(TORRES, 2011:76).
Grandes são os desafios atuais dos
movimentos sociais e da Educação popular
com seu projeto emancipatório. Trata-se de
combater a trivialização do sofrimento humano.
Podemos dizer que “[...] o objetivo principal do
projeto educativo emancipatório consiste em
recuperar a capacidade de espanto e de
indignação e orientá-la para a formação de
subjetividades inconformistas e rebeldes”
(SANTOS, 1996, p. 17).
Após a revisita ao contexto
sociopolítico vivido no último período e à
história da Educação popular no Brasil,
podemos reafirmar, a partir de Freire (2000),
que essa concepção de Educação e
metodologia tem muito a contribuir na
resistência das classes populares no jogo de
disputas de forças, às vezes invisíveis, que
sustenta o capitalismo neoliberal. Um exemplo
que podemos citar foi a gestão democrática e
popular do PT na cidade de São Paulo. Eleita
como prefeita do município, em 1989, Luiza
Erundina convidou Paulo Freire para assumir a
Secretaria de Educação. Freire, em sua gestão,
“[...] comprometeu-se com a construção de
uma educação pública popular, tendo como
característica principal a Educação como
prática da liberdade” (SAUL, 1998, p. 156).
Foi criado o Movimento de
Alfabetização de Jovens e Adultos (Mova) a
partir de sua compreensão de educação
popular (...). O Mova-SP tornou-se modelo de
educação popular e de alfabetização de adultos
para muitas das secretarias municipais de
educação de governos progressistas e outras
instituições educativas. (FREIRE, 2005, p. 23)
A Educação popular é um território de
denúncias e anúncios de que a história não
chegou ao final; por isso é importante ressaltar
que: Nenhuma realidade é porque tem que ser.
A realidade pode e deve ser mutável, deve ser
transformável. Mas, para justificar os interesses
que obstaculizam a mudança, é preciso dizer
que “é assim mesmo”.
O discurso da impossibilidade é,
portanto, um discurso ideológico e reacionário.
Para confrontar o discurso ideológico da
impossibilidade de mudar, tem-se de fazer um
discurso também ideológico de que tudo pode
mudar. Eu não aceito, eu recuso
completamente essa afirmação, profundamente
pessimista, de que não é possível mudar.
(FREIRE, 2001, p. 169).
“Pensar a questão da Educação popular em uma conjuntura de crise pode também evocar uma imagem de abrir uma janela. É possível que a crise nos leve a abrir janelas que não abriríamos caso não houvesse a crise” (VALLA, 1998, p. 4).
Ao investirmos no reconhecimento, na
validação e valorização dos saberes presentes
nas experiências de Educação popular,
estamos percorrendo uma lógica inversa à

69 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
lógica do mercado. Estamos investindo na
potência das experiências locais como campo
de produção de “outras globalizações”
(SANTOS, 2001).
Falar em Educação popular, hoje, é
falar do conflito que move a humanidade; é
falar dos sonhos e ao mesmo tempo dos
sofrimentos humanos. É falar de uma
perspectiva de Educação cujo ponto de partida
é a realidade social, que tem como objetivo
reacender “a chama da esperança”, a crença
de que “um outro mundo é possível”, por meio
de novas formas de participação social, rumo à
construção de uma sociedade mais justa e
mais humana. É por essa experimentação do
homem no mundo, e vice-versa, que se adquire
conhecimento e se cria o inédito viável, motivo
pelo qual a Educação popular, desde seu
nascimento, não concebe o educando como
“recipiente vazio” (FREIRE, 1974).
Para Brandão (2002), existem quatro
posturas visíveis quando se trata de refletirmos
a respeito da educação popular. A primeira
postura está ligada ao não reconhecimento da
educação popular como escolha da educação
que queremos, por não ser considerada como
uma visão de mundo, de práticas pedagógicas
que aconteceram num dado momento histórico.
É entendida como práticas não científicas,
primitivas, superadas, enfim, distante de um
conhecimento científico, o qual é privilegiado
em nossa sociedade. A segunda postura está
ligada à importância do viés cultural da
educação popular. Encontra-se mais associada
ao campo dos movimentos sociais do que à
própria educação, pelo fato e como o senso
comum prega não ser vista como tendo um
viés político, militante, mas apenas como
prática profissional. A terceira postura está
direcionada à educação popular como um
fenômeno datado na história da educação de
alguns países da América Latina,
principalmente no Brasil, tendo como referência
principal o educador Paulo Freire. Esta se
construiu por meio de experiências de
alfabetização popular direcionadas aos jovens
e adultos das classes trabalhadoras, e dos
Movimentos de Educação de Base, associando
projetos de alfabetização à ação comunitária.
Configurou-se, assim, como um momento em
que esta passou a ser reconhecida e estendida
a nível internacional, vista como uma prática
educacional relevante. A quarta postura
explicita que a educação popular não foi uma
experiência única, mas que “é algo ainda
presente e diversamente participante na
atualidade da educação entre nós” (BRANDÃO,
2002, p.142).
Dessa maneira, a educação popular
não pode ser considerada como algo realizado
como um acontecimento situado e datado,
caracterizado por um esforço de ampliação do
sentido do trabalho pedagógico a novas
dimensões culturais, e a um vínculo entre a
ação cultural e a prática política. A educação
popular foi e prossegue sendo uma sequência
de ideias e de propostas de um estilo de
educação em que tais vínculos são
reestabelecidos em diferentes momentos da
história, tendo como foco de sua vocação um
compromisso nas relações pedagógicas de teor
político realizadas através de um trabalho
cultural estendido a sujeitos das classes
populares compreendidos como não
beneficiários tardios de um “serviço”, mas como
protagonistas emergentes de um “processo”
(BRANDÃO, 2002, pp.141-142).
A partir dessa perspectiva, pode-se
dizer que os projetos de Educação popular são
os que implicam, ao mesmo tempo, maiores
desafios e maiores potencialidades, tanto
educacionais como sociais” (WERTHEIM,
1985, p. 60).

70 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
Dessa forma, é possível o incentivo ao
exercício da utopia de sociedade, o exercício
para uma outra sociedade, estando presente
no dia a dia das pessoas. Em todos esses
ambientes, vivenciando-se os direitos
humanos, considerando que a sua ausência
não pode ser o referencial para a vida humana.
A educação popular para os direitos
humanos destaca a multiculturalidade,
expressão da unidade dessa variedade.
Entendida, portanto, como “criação histórica e,
como tal, exige de todos nós o estabelecimento
democrático coletivo de fins comuns para uma
convivência ética” (PADILHA, 2005, p.171).
Paulo Freire e a Educação Popular
Freire nasceu no Recife, e este dado é de
extrema relevância, tendo em vista o estado de
Pernambuco em sua esfera social, como
“epicentro nordestino de situação humana, social
e política” (JORGE, 1981, p. 07).
Após a crise econômica de 1929, participa
de sua primeira experiência existencial enquanto
oprimido pelo sistema, migrando para a cidade
de Jaboatão dos Guararapes (PE). Assim,
“nessa cidade interiorana, ele passará fome e compreenderá, pelo sofrimento, o que seria a fome dos outros, não só qualitativamente, mas quantitativamente. ” (JORGE, 1981, p. 8).
Afirmado por Gadotti (1996) que acredita
que a coragem de pôr em prática um autêntico
trabalho de educação que identifica a
alfabetização com um processo de
conscientização, capacitando o oprimido tanto
para a aquisição dos instrumentos de leitura e
escrita quanto para a sua libertação fez dele um
dos primeiros brasileiros a serem exilados.
Em 02 de maio de 1997, aos 75 anos,
Paulo Freire morre, nos deixando o exemplo de
um educador amoroso. A ele foi outorgado o
título de Honoris Causa por vinte e sete
universidades. Por seus trabalhos na área
educacional, recebeu, entre outros, os seguintes
prêmios: “Rei Balduino para o Desenvolvimento”
(BÉLGICA, 1980), “UNESCO da Educação para
a Paz” (1986) e “Andres Bello” da Organização
dos Estados Americanos, como Educador dos
Continentes (1992).
Com isso, “a repercussão do trabalho de
Freire na vida pedagógico-acadêmica da
atualidade é impressionante e não pode ficar
restrita ao processo de alfabetização”.
(TORRES, 1996, p. 13). Pode-se argumentar
que o trabalho de Freire tem sido,
simultaneamente, reinterpretado ou
"reinventado", como Freire diria, em sociedades
industrialmente avançadas por aqueles que
tentam construir uma nova síntese teórica
juntando Freire, Dewey e Habermas. (...). Além
disso, a filosofia política de Freire tem
influenciado as perspectivas socialistas
democráticas da educação nos Estados Unidos.
(TORRES, 1996, pp. 13-14). Dessa forma, “não
há dúvida de que Paulo Freire foi um grande
humanista” (GADOTTI, 1996, p. 347).
Como recorda Gadotti (1996), ao citar
Linda Bimbi e sua contribuição para o prefácio da
edição italiana da Pedagogia do Oprimido, Paulo
Freire é “inclassificável”. Arrancar massas
oprimidas das mãos dos opressores é o objetivo
primaz da Educação Popular de ótica freireana.
Uma educação que permita e possibilite a
libertação do “oprimido que hospeda o opressor”
(FREIRE, 1987, p.17), por meio do movimento
de cultura popular. Suas práxis são incorporada
por grupos de educadores, militantes e
trabalhadores dos movimentos populares,
visando a existência política no trabalho
educativo. Sua preocupação se dá, portanto, de

71 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
modo ético, comprometido com os “condenados
da Terra” (FREIRE, 1987).
O próprio Paulo Freire (1999, p.19) a
definiu da seguinte maneira:
Entendo a educação popular como o esforço de mobilização, organização e capacitação das classes populares; capacitação científica e técnica. Entendo que esse esforço não se esquece, que é preciso poder, ou seja, é preciso transformar essa organização do poder burguês que está aí, para que se possa fazer escola de outro jeito. Não há conscientização se, de sua prática não resulta a ação consciente dos oprimidos, como classe explorada, na luta por sua libertação. Por outro lado ninguém conscientiza ninguém. O educador e o povo se conscientizam através do movimento dialético entre a reflexão crítica sobre a ação anterior e a subsequente no processo de luta (FREIRE, 1980, pp. 109-110).
A questão política faz-se constantemente
presente em sua obra, de modo que, em seu
livro Pedagogia da Autonomia (1996, p. 69),
afirma que:
“A qualidade de ser política é inerente a sua natureza. É impossível a neutralidade na educação (...). A educação não vira política por causa deste ou daquele educador. Ela é política”.
Os educandos são convidados a pensar.
Ser consciente não é, nesta hipótese, uma
simples fórmula ou um mero ‘slogan’. É a forma
radical de ser dos seres humanos enquanto
seres que, refazendo o mundo que não fizeram,
fazem o seu mundo e neste fazer e re-fazer se
re-fazem, são porque estão sendo”. (FREIRE,
1978, p. 23).
Para Paulo Freire: “a Educação não
transforma o mundo. Educação muda pessoas.
Pessoas transformam o mundo”. Todavia, a
Educação popular é vista como fonte de
produção do conhecimento altamente carregada
de intencionalidade. Pela primeira vez se
estabelece um vínculo entre educação e política,
e educação e luta de classes. A educação deixa
de ser vinculada somente à transmissão de
saberes e passa a ser ato político (FREIRE,
2003).
Formação de Professores contribuições na
confluência de desejos sobre a Educação
O perfil para o mundo do trabalho é
imortalizado dentro das redes públicas de
ensino que abarcam as camadas populares da
sociedade. Essa proposição ainda contribui
para tencionarmos as orientações educacionais
rumo à Educação Popular. A construção da
Educação Popular é conjunta dos educandos
(as), educadores (as), gestão escolar, ambiente
físico em que toda sua essência será aplicada.
Assim, ela se sustenta na prática dos
movimentos com a classe popular, mas que
principalmente atinja, nas relações entre os
participantes, a sinceridade, o respeito, a
empatia.
“(...) Por mais fundamentais que sejam os conteúdos, a sua importância efetiva não reside apenas neles, mas na maneira como sejam apreendidos pelos educandos e incorporados à sua prática. ” (FREIRE, 1997, p.86).
Isto posto, a possível construção de um
coletivo popular dentro do ambiente
educacional depende da interação e da
confluência de desejos sobre a Educação.
Dentre eles, praticar a emancipação crítica que
garante a liberdade justa das camadas
populares é o caminho mais importante.
Emancipar alguém significa libertar, liberar e
desobrigar alguém – no caso os educandos(as)
– das imposições centralizadoras e verticais

72 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
que pretendem conservar um único destino à
eles ainda conforme Freire (1997).
Portanto, trabalhar coletivamente e
conjuntamente pela transformação social é
usar a Educação obrigatória, como mediadora
da emancipação:
“(...) você só trabalha realmente em favor das classes populares se você trabalha com elas, discutindo com respeito seus sonhos, seus desejos, suas frustrações, seus medos, suas alegrias. ” (FREIRE, 1997, p.85).
O contexto da formação de professores
(as) requer um olhar para as principais políticas
ou programas educacionais do país e constata-
se que é recente a educação como política
pública no Brasil (SPEYER, 1983), e também,
deficitária, como pontua Triviños (2003).
Para termos uma ideia, Almeida (1989),
pontua que as primeiras profissões
reconhecidas no Brasil, foram concedidas
diretamente pelo rei D. João VI no início do
século XIX. O autor destaca que, após 1808,
inicia-se uma série de nomeações de
professores de latim, inglês, geometria, língua
francesa e gramática latina, nesta ordem, e
desse modo à situação educacional sofre
mudanças bruscas, ainda que os limitantes
fossem de ordem gigantesca. Para ilustrar: Os
esforços feitos pelo governo do reino do Brasil
em favor da instrução primária e as despesas
consideráveis para a época não produziram os
frutos que disso se esperavam.
Este resultado deve ser atribuído mais
às circunstâncias desfavoráveis que à inércia
dos poderes públicos. Os instrutores primários
(mestres régios) que começaram a ser
recrutados não tinham, em geral, mais que uma
breve instrução elementar e não haviam
prestado exame – isto teria sido muito difícil;
cada um ensinava o que sabia, mais ou menos,
imperfeitamente, e não se lhes podia exigir
mais (ALMEIDA, 1989, p. 42-43).
No Brasil, a formação de
professores(as) surge de maneira mais
explícita, apenas após a independência,
momento em que se pensa em organizar a
instrução de forma massiva (ALMEIDA, 1989).
Nesse mesmo sentido, Paiva (1973) destaca
que a Constituição de 1824 estabelece a
gratuidade da instrução para todos os
cidadãos. No entanto, os(as) professores(as)
não eram pagos pela nação. Além disso,
começou-se a pensar e estruturar o ensino
universitário em detrimento do ensino
elementar. A mesma autora sublinha ainda
que, no ano de 1931, foram colhidas as
primeiras informações sobre a educação no
Brasil. Muito próximo ao período em que eram
levantados os dados sobre a educação
brasileira, constata-se que, mais precisamente,
em 1929 aconteceu a terceira Conferência
Nacional de Educação tratando do tema
educação rural, algo que, até então, não fora
cogitado como interesse governamental e,
demonstrativamente o número maior de
analfabetos encontrava-se no campo (PAIVA,
1973).
Para adentrarmos na discussão do
período ditatorial propriamente dito é
necessário reconhecer que, a partir da década
de 1930, é que a educação no Brasil teve uma
abrangência que nunca tivera enquanto
educação pública (PALUDO, 2001).
Foi nesse período, entre 1932 a 1939,
que são criados os institutos de educação
implantados no Distrito Federal. Um deles é
implementado em 1932 por Anísio Teixeira e
dirigido por Lourenço Filho, e outro, implantado
em São Paulo, por Fernando de Azevedo em
1933. Os dois, sob o ideário da Escola Nova
(SAVIANI, 2009).

73 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
De acordo com Marques (2000, p. 20),
havia, enquanto organização nacional, a ABE
(Associação Brasileira de Educação), criada
em 1924, a qual, “gestou o Manifesto dos
Pioneiros (...). Lançava-se a luta pela
reconstrução educacional, com as teses gerais
da laicidade, gratuidade, obrigatoriedade e
coeducação. ” Esta instituição foi à decadência
por pressão da política da ditadura militar, e
assim, permaneciam abertos espaços como os
da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC) para reuniões e discussões em
torno da educação brasileira.
E na tentativa de recriar a ABE,
surgiram entidades com objetivos determinados
como a Associação Nacional de Educação
(ANDE), o Centro de Estudos, Educação e
Sociedade (CEDES), a Associação Nacional de
Pós-Graduação em Educação (ANPED), “as
associações de docentes universitários, os
Centros Estaduais de Professores,
congregando nestes nos diversos estados, os
professores da rede pública, com seus
momentos fortes na articulação dos
movimentos grevistas” (p.21).
De acordo com Paludo (2001), anterior
ao período ditatorial (1964-1984), eram muitas
as experiências de educação popular
florescidas no Brasil, que, por sua vez, estavam
grandemente articuladas a um projeto de
transformação social, e a ditadura veio a
impedir. De acordo com a mesma autora, ainda
que o projeto dos militares tenha aniquilado
muitas das experiências de educação popular,
e se apropriado de outras, deturpando-as, não
se pode afirmar que este regime conseguiu
banir a educação de caráter transformador,
pois ela margeava e continuava sendo
idealizada e construída por milhares de
pessoas.
O período ditatorial foi marcado pelo
contexto de uma educação elitizada, com
predominância do Ensino Superior, em
detrimento da educação básica. Esse contexto
político demarca um regime altamente
repressivo, em que não só estudantes, mas,
também, educadores (as) que contrapunham
essa forma de organização governamental,
foram proibidos de discutir a educação
unilateral, nos pressupostos da sociedade
socialista, pois o que estava em questão era o
tecnicismo (SAVIANI, 2007). Com o golpe
militar de 1964, a Escola Normal foi substituída
pela habilitação específica de magistério (1971-
1996).
Com essas transformações todas,
ficamos com modelos contrapostos de
formação de professores, compreendendo-se:
a) modelo dos conteúdos culturais-cognitivos:
para este modelo, a formação de professores
se esgota na cultura geral e no domínio
específico dos conteúdos da área de
conhecimento correspondente à disciplina que
irá lecionar. b) modelo pedagógico didático:
contrapondo-se ao anterior, este modelo
considera que a formação do professor
propriamente dita só se completa com o efetivo
preparo pedagógico didático (SAVIANI, 2009,
p. 149).
Saviani (2007), considerava que o
regime militar possuía uma prática política de
controlar o comportamento das pessoas e uma
das formas foi por meio da educação em nome
da construção de um país produtivo. Dessa
forma, o sistema escolar necessitaria de uma
educação que preparasse homens e mulheres
para mão de obra das empresas, inclusive, isto
se explica pela participação de empresários
nesse regime. Quanto à formação de
educadores, estes possuíam uma formação
que se dizia neutra cientificamente, apoiando-
se também nos princípios da eficiência e da
produtividade.

74 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
Para isso, os pacotes de ensino
assepticamente programados por especialistas,
cuja forma de veiculá-los é tida como mais
relevantes que os próprios conteúdos, e a
hierarquização e o parcelamento do processo
pedagógico constituem-se em formas de
controle da produção e divulgação do saber
que se processa na escola e, enquanto tais, de
controle social mais amplo (FRIGOTTO, 1989,
p.170).
Para tanto a semelhança da
organização da escola e da universidade e o
trabalho fabril, sobretudo no que se refere,
“também o parcelamento do trabalho
pedagógico com a especialização de funções,
postulando-se a introdução, no sistema de
ensino, de técnicos de diferentes matizes”
(SAVIANI, 2007, p. 380).
A reestruturação do ensino, bem como
da organização do Estado num todo, baseava-
se nos princípios da Segurança Nacional, com
vistas a manutenção do regime instituído,
sendo que nessa organização, é priorizado o
desenvolvimento econômico. Para isso, a
educação se vincula ao projeto de
modernidade brasileiro (PALUDO, 2001),
sendo a educação popular excluída nesse
projeto.
Para Ianni (1986, p.35), esse período,
trabalhava para “as determinações básicas do
capital”. Contudo, no dizer de Paludo (2001),
mesmo com um regime opressor, na década de
1970, o movimento de Educação popular
ressurge, contrapondo o contexto de violência
e lutando pela transformação social. Muitos
educadores e educadoras, bem como
estudantes se organizavam para pensar e
propor alternativas ao regime em vigor contra
as práticas autoritárias. Na sequência, na
década de 1980, de acordo com Marques
(2000), surge a proposta da I Conferência
Brasileira de Educação (CBE), no movimento
de união das entidades ANPED, SBPC; ANDE,
CEDES, tendo a política educacional como
tema central [...], incorporando agora em seus
debates, de forma explícita e reiterada, a
questão dos cursos de formação do educador”
(MARQUES, 2000, p.22). .
Este é um período de intensas
discussões acerca da formação de educadores
e das diretrizes político-pedagógicas, sendo
que Na década dos anos 80, o acontecimento
central da educação brasileira é a presença
coletiva organizada dos professores, em
movimento de âmbito nacional, pela afirmação
do caráter profissional do trabalhador em
educação e pela defesa da prioridade das
condições de trabalho, do caráter e função
pública dos serviços à educação e da gestão
democrática da escola de qualidade para
todos. A partir de então, ganha novo sentido a
luta pela reformulação dos cursos de formação
(MARQUES, 2000, p. 23).
Para melhor compreendermos este
processo é importante considerarmos as
tendências pedagógicas que sulearam o
processo educativo brasileiro. De acordo com
Saviani (1986), no final da primeira metade do
século XX, o escolanovismo apresentava
graves sinais de desgaste, resultando em
frustração às expectativas depositadas da
renovação da escola a partir da mesma. A
pedagogia nova tornou-se dominante enquanto
concepção teórica, a ponto de se tornar senso
comum compreendê-la “como portadora de
todas as virtudes e de nenhum vício, ao passo
que a pedagogia tradicional é portadora de
todos os vícios e de nenhuma virtude”
(SAVIANI, 1986, p.15).
O problema foi que, na prática, a
pedagogia nova não deu conta da questão da
marginalidade. Logo, “surgiram tentativas de
desenvolver uma espécie de ‘Escola Nova
Popular’, cujos exemplos mais significativos

75 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
são as pedagogias de Freinet e de Paulo
Freire” (SAVIANI, 1986, p.15).
Desafios docentes na
contemporaneidade
Inicialmente o NEPE era dotado de
certa autonomia para a elaboração e
desenvolvimento de seus projetos. Sua
competência compreendia desde catalogar
conhecimentos e experiências para subsidiar
técnica e cientificamente os educadores e as
entidades à produção dessas experiências no
âmbito da Educação Popular
(REGULAMENTO..., 1992).
Para Martins (2002), a conjuntura
político-econômica do final dos anos 1990
impeliu o Núcleo a buscar recursos fora dos
oferecidos diretamente pela UA, viabilizados
por sua Pró-reitora de Extensão (PROEXT).
Sobre esta conjuntura, Feitoza (2008, p. 217)
explica que: considerando as dificuldades
institucionais para a viabilização das demandas
em EJA, acirradas neste contexto por
divergências locais sobre as funções da
Universidade neste setor (implantar cursos ou
formar educadores-alfabetizadores?) e diante
da assinatura de convênio entre a UFAM e o
PAS (1997), o NEPE passou a atuar em 1998
na assessoria e acompanhamento de alguns
dos municípios amazonenses, contemplados
pelo PAS, pelos seus elevados índices de
analfabetismo na população entre 15 e 17
anos. Para entender o momento de mudanças
de paradigmas quanto ao projeto de Educação
Popular existente na origem do NEPE.
Já Melo Neto (2001) observa que
nesse período, no Brasil, precisamente nos
anos de 1990, a educação popular entra em
crise e passa de ações ofensivas para ações
defensivas: [...] baseando-se na ideia de
construir novas alianças, nas quais os
movimentos populares não apenas recebem os
benefícios sociais, mas participam como
sócios, parceiros na definição das políticas
públicas, perdendo, dessa forma, seu caráter
reivindicativo ou revolucionário e assumindo
seu caráter programático. (COÊLHO, 2002, p,
47).
Citado por Coelho (2002), querer
conquistar o Estado não combinava mais com
as manifestações que se multiplicavam no país.
Logo, os pensamentos revolucionários se aliam
ao modelo capitalista onde antes se pensava a
possibilidade de transformação sócio-político
econômico através da educação. Mas, logo a
realidade mostrava que a dispersão dos grupos
reivindicatórios se dividia em pequenas
experiências. E é nesse percurso que surgem
os núcleos de estudos ligados com as
instituições de ensino superior. Ora, diante
desse processo de transformação da educação
popular dentro de uma política capitalista, a EP
segue como um elo entre a sociedade civil e o
Estado, como enfatiza Coelho (2002, p.48)
quando diz que a Educação Popular:
“[...], portanto, perde unidade e ganha diversidade, ao mesmo tempo em que, também, constitui mecanismos de democratização”. Os desafios e as perspectivas da educação popular que se fazem presentes no contexto atual, contudo, persistem em atender os sujeitos dentro das expectativas do pensamento freiriano, denominada de emancipação humana. Essa emancipação está sujeita as instabilidades, como afirma Souza (1998, apud COÊLHO, 2002, p. 51).
Para o autor os desafios da atualidade
compreendo-os como preocupação e ocupação
dos envolvidos com processos e com as
práticas da Educação Popular. Desafios, esses,
de ordem pedagógico e de ordem política que
revelam a EP como prática que está sempre

76 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
em processo de construção. As dificuldades de
adquirir recursos para a implementação de
seus próprios projetos, unidas às divergências
de concepções, internas à Universidade,
estabelecem para o NEPE um novo desafio: o
de integrar-se às políticas federais de formação
para jovens e adultos, já estabelecidas, que por
vezes se distanciam da postura reivindicatória
de uma educação participativa para
emancipação, defendida pelo Núcleo desde
sua existência.
Esta postura de participação dos
sujeitos envolvidos faz parte da essência do
NEPE, e se evidenciou em nossa pesquisa
como o constitutivo preponderante da
concepção de EP, que pode ser visivelmente
demonstrado no Art. 4º do Capítulo III de seu
regulamento que institui como seus membros
professores da FACED e de outras faculdades
e institutos da Universidade do Amazonas,
estudantes bolsistas e representantes do
Movimento Popular que desenvolvam projetos
articulados ao Núcleo (REGULAMENTO...,
1992).
Considerada uma outra evidência da
valorização da participação no NEPE está
presente no parágrafo primeiro do Art. 6º, que
delega a função de coordenador do Núcleo
qualquer um dos seus “participantes
orgânicos”, conforme disposto acima, no Artigo
4º (REGULAMENTO..., 1992, p. 3).
O novo desafio que se apresenta ao
NEPE a partir de meados da década de 1990 é
o mesmo que se apresenta aos movimentos
que trabalham com EP quando se veem
impelidos a integrar-se às políticas
governamentais instituídas fora dos mesmos.
Por outro lado, isto tem seu lado positivo
porque ajuda a produzir um relacionamento
“entre os sistemas escolares, movimentos
sociais e políticos e universidades, no sentido
de superarmos as dificuldades de integração
entre essas esferas” (MELO NETO, 2001, p.
50).
A educação popular dentro desse novo
cenário não pode ser vista e conhecida, como
afirma Melo Neto (2001) como um processo
direcionado somente as classes populares,
mas sim como uma educação para todos, sem
diferenças de classes. Vale ressaltar que a
criação do Núcleo partiu do descontentamento
de alguns professores insatisfeitos com o
currículo do curso de Pedagogia – que
apresentava um teor bastante tecnicista – e
que também estavam envolvidos nas
discussões do processo de democratização da
UFAM. Dentre eles destacaram-se as
professoras Marlene Ribeiro e Cidúlia Mello
(CHAGAS, 1998).
Sendo assim, o núcleo foi construindo
seu espaço na instituição com as atividades
que aproximavam os professores e técnicos
das redes estadual e municipal de ensino ao
trabalho pedagógico do curso de pedagogia e
dos educadores das demais licenciaturas da
UFAM (CHAGAS,1998).
Dessa maneira, o NEPE foi sendo
reconhecido como o lugar de referência que
atenderia a educação não-formal e informal.
Essas formas de educação eram
“desenvolvidas nos sindicatos, associações,
pastorais, entidades de apoio à causa indígena
e movimentos populares, entre outros”
(CHAGAS, 1998, p. 112). Muitos conflitos
foram enfrentados pelo NEPE durante o seu
período de fundação de seus marcos na
instituição, dentre eles o impedimento por parte
do Conselho Departamental da FACED em
ceder carga horária para que seus membros
pudessem ter maior tempo disponível para as
ações demandadas pelo Núcleo (RIBEIRO,
1995).
A atitude de resistência tomada
naquele momento pelas pessoas membros do

77 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
NEPE, conforme a análise de Ribeiro (1995)
evidencia que a teoria que substanciava o
Núcleo era alimentada também pelas ações. A
práxis do NEPE se consubstanciava na
resistência à vertente tecnicista da Faculdade
de Educação que não associava ao processo
de formação técnica dos acadêmicos a
necessidade da formação política, instigada
pelo Núcleo em seus debates teóricos e em
sua prática incentivadora da participação
popular nos projetos institucionais da UFAM.
Enfim, apesar do leque de metas propostas
pelo Projeto de Dinamização do NEPE,
somente a primeira foi aprovada pelo INEP,
que era “recolher e catalogar estudos,
experiências e pesquisas na área da educação
popular”, sendo aprovado em outubro de 1990
(CHAGAS, 1998, p.117).
Essa meta foi atribuída no Catálogo
Preliminar de Estudos, Experiências e
Pesquisas Educacionais no Estado do
Amazonas (RIBEIRO, 1995). Nesse sentido,
Chagas (1998, p. 120) relata que: os membros
do núcleo defendiam uma prática baseada em
uma proposta pedagógica “libertadora” e
“progressista”, divergindo assim das práticas
tradicionais de alguns professores e
professoras da UFAM que apresentavam
“discursos avançados, mas práticas tradicionais
e autoritárias”.
Diante destes, as ações do NEPE se
mostravam sistematicamente desqualificadas
pela falta de titulação de seus membros.
Portanto, podemos observar que dentro dessa
perspectiva de dinamização do NEPE, o núcleo
estava buscando pôr em prática às concepções
pedagógicas que estavam presas nas salas de
aulas, através das inúmeras atividades e de
alguns projetos citados, buscando atender
tanto a comunidade quanto a instituição. Pois o
objetivo principal da consolidação do núcleo
para seus integrantes era fazer a diferença no
curso de Pedagogia da UFAM, ou seja, “o
NEPE se colocou como um polo gerador desse
novo projeto de educação” (CHAGAS, 1998, p.
115).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo após diversas leituras na
literatura especializada buscou demonstrar que
a Educação Popular no Brasil sob o
direcionamento do Professor Paulo Freire que
ela foi idealizada para acrescer o conhecimento
em todos os níveis educacionais, A
oportunidade para que todo cidadão tenha
direito à Educação.
Dessa maneira a formação de
educadores citado por Paulo Freire deriva-se
de inspirações de sua prática e de suas
análises e construções sobre a questão da
docência. Para Freire que discute a docência
em meio a uma trama conceitual na qual várias
categorias do seu pensamento se entrelaçam:
diálogo, relação teoria-prática, construção do
conhecimento, democratização e politicidade
da educação, entre outras.
Quanto a Formação permanente de
educadores Paulo Freire (1993) compreende
que o ser humano é um ser inconcluso e tem
sempre a perspectiva de ser mais. A Educação
permanente para os educandos em momentos
de sua escolarização, mas a todo o ser
humano em qualquer etapa de sua existência.
A educação permanente está aliada à
compreensão de que ela incide sobre a
realidade concreta, sobre a realidade prática.
Daí ao entendimento de que um programa de
formação permanente de educadores exige
que se trabalhe sobre as práticas que os
professores têm. Paulo Freire (1993):
“ A partir da prática que eles [os educadores] têm é que se deve descobrir qual é a teoria embutida ou quais são os fragmentos de

78 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
teoria que estão na prática de cada um dos educadores mesmo que não se saiba qual é essa teoria”.
Em suma: acredita-se que o
profissional da educação contemporânea seja
um educador que, busque a excelência em seu
comprometimento cotidiano para respaldar que
seu aluno possa adquirir uma aprendizagem
significativa munida de todas as habilidades e
competências exigidas nas práticas
pedagógicas estabelecidas através de seus
componentes curriculares, assim os
preparando para um mercado competitivo.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, J. R. P. de. História da instrução
pública no Brasil (1500-1889).
Tradução de Antônio Chizzotti. São
Paulo: PUC/ INEP, 1989.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues, 1982.
Educação popular. São Paulo:
Brasiliense.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A educação
popular na escola cidadã. São Paulo:
Editora Vozes, 2002.
COÊLHO, Raimunda de Fátima Neves.
Caminhos e Perspectivas da
Educação Popular e o Legado de
Paulo Freire na Contemporaneidade.
Caderno de Educação Popular, João
Pessoa, p. 46-61, 2002.
CHAGAS, Lilane Maria de Moura.
Alfabetização de jovens e adultos:
trajetória histórica de uma experiência
- NEPE/UFAM (1989-1996). 1998. 201 f.
Dissertação (Mestrado) – Programa de
Pós-Graduação em Educação da
UFSCar, Florianópolis-Sc, 1998.
DOWBOR, L. “Prefácio”. In: FREIRE, P. À
sombra desta mangueira. São Paulo:
Olho d’Água, 1995.
FREIRE, A.M. de A. (org.) , Pedagogia dos
sonhos possíveis. São Paulo: Unesp,
2001.
__________. “Utopia peregrina”. Revista
Memória da Pedagogia: Paulo Freire: a
utopia do saber. n. 4. São Paulo:
Segmento-Dueto, 2005. pp. 16-29.
FREIRE, P. Uma educação para a liberdade.
Porto/Portugal: Textos Marginais, 1974.
_________. Pedagogia da esperança: um
reencontro com a pedagogia do
oprimido. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra,
1992.
_________. Cartas à Guiné-Bissau: registros
de uma experiência em Processo. 2ª
ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
__________. Pedagogia do Oprimido. 17ª ed.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
__________. Que fazer: Teoria e prática em
Educação Popular. 5ª ed. Petrópolis:
Vozes, 1999.
___________. Conscientização: teoria e
prática da libertação, uma introdução
ao pensamento de Paulo Freire. São
Paulo: Moraes, 1980.
___________. Política e Educação. 3. ed. São
Paulo: Cortez, 1997.
___________. Educação e Atualidade
Brasileira. 3. ed. São Paulo: Cortez;
Instituto Paulo Freire, 2003.
FRIGOTTO, G. A produtividade da escola
improdutiva: um (re) exame das
relações entre educação e estrutura
econômico-social capitalista. 3. ed.
São Paulo: Cortez, 1989.
. FEITOZA, Ronney da Silva. Movimentos de
educação de pessoas jovens e adultas
na perspectiva de educação popular
no Amazonas: matrizes históricas,
marcos conceituais e impactos
políticos. João Pessoa, PB, 2008. 432 f.
Tese (Doutorado) - Programa de Pós-

79 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
graduação em Educação, na área de
Educação popular, comunicação e
cultura da UFPB, João Pessoa, 2008.
GADOTTI, Moacir & Carlos Alberto Torres,
1994. Educação popular: utopia latino-
americana. São Paulo: Cortez/Edusp.
_________. Concepção dialética da
educação. São Paulo: Cortez, 1983
_________. Paulo Freire, uma biobliografia.
São Paulo: Cortez, Instituto Paulo
Freire, 1996.
IANNI, O. Classe e nação.Petrópolis: Vozes,
1986.
JORGE, J. Simões. A ideologia de Paulo
Freire. São Paulo: Loyola, 1981.
MARQUES, M. O. A formação do profissional
da educação. Ijuí: Unijuí, 2000.
MARTINS, Ana Cristina Fernandes; MIRANDA,
Alair dos Anjos Silva de. As políticas
públicas em educação de jovens e
adultos: reflexões sobre as ações do
Programa Alfabetização Solidária
desenvolvidas através da
Universidade federal do Amazonas
(1998- 2000). Manaus, 2002. 127 f.
Dissertação (Mestrado) - UFAM/FACED,
2002.
MELO NETO, J. F. de. et. al. Cadernos de
Educação Popular, nº 09. Produção
Discente. João Pessoa: UFPB/Editora
Universitária, 2001.
PADILHA, Paulo Roberto. Educação em
direitos humanos sob a ótica dos
ensinamentos de Paulo Freire. In:
SCHILLING, Flávia (Org.). Direitos
humanos e educação: outras palavras,
outras práticas. São Paulo: Cortez, 2005.
p. 166-176.
PAIVA, Vanilda. Educação popular e
educação de adultos- contribuições à
história da educação brasileira. São
Paulo: Loyola, 1973.
PALUDO, C. Educação popular em busca de
alternativas:uma leitura desde o
campo democrático popular. Porto
Alegre: Tomo Editorial, 2001.
REGULAMENTO do Núcleo de Estudos,
Experiências e Pesquisas Educacionais
– NEPE. Anexo. Resolução Nº
004/1992, aprovado pelo Conselho
Departamental da FACED/UFAM em
18/08/1992.
RIBEIRO, Marlene A. Universidade vai ao
povo ou o povo vai à Universidade?
Um estudo sobre a crise da
universidade moderna e de
alternativas para uma Universidade
brasileira democrática e competente.
340 f. 1995. Tese (Doutorado em
Educação). Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, 1995.
SANTOS, B.S. “Por uma Pedagogia do
conflito”. In: SILVA, L.H. da. Novos
mapas culturais, novas perspectivas
educacionais. Porto Alegre:Sulina, 1996.
___________. “Por uma Pedagogia do
conflito”. In: SILVA, L.H. da. Novos
mapas culturais, novas perspectivas
educacionais. Porto Alegre:Sulina, 1996.
___________. “Os processos da
globalização”. In: Globalização:
fatalidade ou utopia? Porto/Portugal:
Afrontamento, 2001. pp. 31-106.
SAVIANI, D. História das Idéias Pedagógicas
no Brasil. Campinas: Autores
Associados, 2007.
___________. Formação de professores:
aspectos históricos e teóricos do
problema no contexto brasileiro.
Revista Brasileira de Educação. v. 14 n.
40, p.143 -155, 2009.
SAUL, A.M. “A construção do currículo na
teoria e prática de Paulo Freire”. In:
APPLE, M. &

80 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
SPEYER, Anne Marye. Educação e
Campesinato. Uma Educação para o
Homem Rural. São Paulo: Loyola, 1983.
TORRES, Carlos Alberto, 1997. Pedagogia da
luta: da pedagogia do oprimido à
escola pública popular. Campinas:
Papirus.
TORRES, Alfonso, 2011. La educación
popular: trayectoria y actualidad.
Bogota: El Buho.
VALLA, V.V. A revalorização da Educação
popular numa conjuntura de crise.
WERTHEIN, J. (org.) Educação de Adultos na
América Latina. Campinas/SP: Papirus,
1985.

81 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
DISCUSSÕES ACERCA DO ENEM 2017 – A SURDEZ EM EVIDÊNCIA
RESUMO Em 1998 o Ministério da Educação (MEC) anunciou a proposta de avaliar o desempenho do estudante ao final da escolaridade básica e, desde então, este passou a ser um dos indicadores da qualidade do sistema educacional brasileiro, além de ser também um critério de seleção para os estudantes que intencionam o ingresso no ensino superior. Este artigo pretende elencar questões apresentadas na proposta de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 2017, onde tenciona a produção de texto que decorra sobre as dificuldades da pessoa surda em seu desenvolvimento escolar e contrastar essa asserção com a legislação vigente e ênfase na ideia de disseminação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), fundamental para proporcionar mudanças positivas dessa realidade. Assim concebida, espera-se que contribua para um encadeamento de informações que subsidiem a importância da LIBRAS, na perspectiva da educação inclusiva, haja posto que o objetivo deste estudo é reconhecer a possibilidade da inclusão desta língua no currículo da educação básica. Palavras chave: Surdez - Exame Nacional do Ensino Médio - Língua Brasileira de Sinais.
DISCUSSIONS ABOUT ENEM 2017 - DEAFNESS IN EVIDENCE
ABSTRACT
In 1998, the Ministry of Education (MEC) announced the proposal to evaluate the performance of the student at the end of basic schooling, and since then, it has become one of the indicators of the quality of the Brazilian education system, as well as being a selection criteria for students who intend to enter higher education. This article intends to raise issues presented in the proposal of writing the National Examination of the Middle School (ENEM) in 2017, where it has the production of text that develops on the difficulties of the deaf person in their school development and to contrast this assertion with the legislation and emphasis on the idea of dissemination of the Brazilian Sign Language (LIBRAS), fundamental to provide positive changes of that reality. It is hoped, therefore, that it will contribute to a chain of information that subsidizes the importance of LIBRAS, in the perspective of inclusive education, since the aim of this study is to recognize the possibility of including this language in the curriculum of basic education. Keywords: Deafness - National Examination of the Middle School - Brazilian Language of Signals
INTRODUÇÃO
Este estudo apresenta uma discussão
acerca do tema da redação do Exame Nacional
do Ensino Médio /2017 – “Desafios para a
formação educacional de surdos no Brasil”.
Considerando, portanto, que a história da
formação educacional dos surdos brasileiros
tem muitos aspectos constituídos a partir dos
diferentes contextos regionais, propostas e
programas desenvolvidos adotados em
momentos distintos, este estudo pretende
evidenciar a reflexão sobre a importância da
LIBRAS e a sua implementação no currículo da
Educação Básica.
Há que se sobrelevar, no entanto, que os
objetivos desta análise são propiciar um
diálogo entre legislação e reflexão a despeito
do tema proposto na redação, na perspectiva
inclusiva, que dê significado e sentido para esta
específica condição em questão – a surdez.
Que esse tema seja democratizado e ganhe
espaço na sociedade, assim como seja
disponibilizado o oferecimento da segunda
língua oficial do país. Os estudantes foram
contemplados com esse questionamento e
levados a sugerir soluções para que as
dificuldades apontadas nos textos motivadores
sejam transformadas, dessa forma, essa se
Elisabete Aparecida Perez Ferreira

82 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
torna a justificativa deste estudo, a certeza de
que há fundamentos legais para essa
mudança, mas ações ou políticas públicas
insuficientes para realizá-la.
Sendo assim, a metodologia utilizada
baseia-se em pesquisa bibliográfica e
referenciais legislativos. Está organizado em
quatro subitens: O primeiro elucida a respeito
da criação e o objetivo do ENEM, o segundo
aborda a difusão da LIBRAS na Educação
Básica, no terceiro encontram-se duas
produções textuais que obtiveram a pontuação
máxima – a nota mil e o quarto traz alguns
pontos da Base Nacional Comum Curricular
com suas menções perante a LIBRAS.
Por fim, esta proposta possibilitará
reflexões quanto à importância do acesso à
comunicação em resposta a proposta de
redação do ENEM 2017.
O Exame Nacional do Ensino Médio –
ENEM
O ENEM foi criado em 1998 com o
objetivo incipiente de avaliar o aprendizado dos
educandos brasileiros do Ensino médio,
viabilizando indicadores para a criação de
políticas educacionais para este segmento da
Educação Básica. Em 2009, o exame passou
por uma reformulação com o intuito de unificar
os vestibulares das instituições federais
nacionais e no ano de 2015 a nota obtida no
ENEM tornou-se elemento no processo de
ingresso destas universidades.
Segundo informações de Luis Fortes, o
ENEM 2017 teve mais de 3,7 milhões de
inscritos e registrou 29,9% de taxa de
abstenção, ocorreu em dois finais de semana,
nos dias 5 e 12 de novembro. (FORTES, 2018).
Foram 4.725.330 provas corrigidas e
registradas 309.157 notas zero e 53 redações
notas mil.
A escola como instituição social
desenvolve seu papel embasado pelas políticas
educacionais, no caso da surdez, a Lei nº
10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe
sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e
o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de
2005, que a regulamenta. Todas essas
orientações legais que subsidiam as ações
direcionadas à acessibilidade de alunos surdos
surgiram após Conferências, das quais o Brasil
é signatário na organização de uma educação
inclusiva.
Ao procurar na matriz pedagógica, em
todos os segmentos da educação básica, não
há indicativos para o desenvolvimento
pedagógico do ensino da LIBRAS como a
segunda língua oficial do país. Existe a
obrigatoriedade apenas no ensino superior, nos
cursos de licenciatura, promulgado no Decreto
5.626 (art. 3º), porém não há menções
detalhadas, tendo como exemplo o tempo que
essa disciplina deverá ser cursada pelos
futuros educadores.
Posto isso, o ENEM é um exame que
pode ser realizado por alunos do ensino público
ou privado, entretanto, de que forma o aluno
ouvinte tem contato com essa situação?
Reconhece a figura do intérprete de LIBRAS no
espaço escolar? Há interação entre este e os
demais alunos da turma? Por que tantos
brasileiros ainda se referem ao surdo como
“surdo-mudo”?
Assim, o tema proposto desencadeou
discussões acerca dos critérios para a
avaliação das mesmas frente ao consenso de
educadores do território nacional diante ao
conhecimento superficial, generalizado e até
genérico dos alunos a despeito da surdez.
Pozza escreveu em sua reportagem
Muitas pessoas, inclusive professores e
participantes do ENEM criticaram o tema não
pela sua notável importância, mas pela sua

83 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
suposta incoerência com o nível de ensino e de
conhecimento dos candidatos do exame, já que
a grande maioria está se formando no Ensino
Médio e se debateu inclusão na escola o fez de
modo geral, não especificando o caso dos
surdos. (apud, 2017)
A difusão da LIBRAS na Educação
Básica
Em 2002 a LIBRAS passa a ser
reconhecida como a primeira língua para a
pessoa surda e o português como segunda
língua.
O contato dos ouvintes com essa língua
visual-motora se faz por meio das mídias e de
situações cotidianas quando há o encontro com
pessoas que a utilizam. Entretanto, estudantes
que em algum ano de escolaridade
compartilharam a sala de aula com um colega
surdo, puderam vivenciar a rotina da classe
com um integrante a mais – o intérprete de
LIBRAS.
Essa sala de aula ganha uma
característica peculiar, pois a comunicação
ultrapassa a língua portuguesa e convida a
todos para uma intercomunicação bilíngue.
Desta maneira, as experiências são diversas, já
que cada instituição ou sistema de ensino
adéqua o disposto na lei, a partir de sua
concepção e abordagem educacional.
Mas, e os alunos que não tiveram essa
experiência? Seria impossível supor que a
questão da surdez não fizesse parte do
contexto daquela turma ou até mesmo daquela
unidade escolar?
A história da educação dos surdos
perpassa pelas transformações
correspondentes ao próprio paradigma histórico
do país, ou seja, conceitos específicos voltados
para cursos superiores, onde se estuda todas
as concepções e metodologias utilizadas,
dentre elas evidenciam-se as abordagens
Oralista, comunicação Total e Bilinguismo,
sendo esta última a proposta atual.
Sendo assim, a educação dos surdos
possui características distintivas e muitos
estudantes não detêm um acervo com tais
especificidades.
Nota mil
O MEC disponibiliza a Cartilha do
Participante - Redação com orientações e
explicações sobre os critérios a serem
avaliados na redação do ENEM. É por meio
dela que professores e alunos planejam
estratégias para alcançar a tão sonhada nota
mil.
A consulta dos espelhos referente às
notas obtidas nas redações de 2017 foi
viabilizada a partir de dezenove de março deste
ano e segundo o site G1, apenas cinquenta e
três alunos alcançaram a nota máxima,
enquanto no ano anterior, setenta e sete
pessoas conseguiram. (G1, 2018).
A seguir, veremos duas redações que
atingiram os parâmetros pretendidos, a
primeira é de Yasmin Lima Rocha, do Piauí:
A formação educacional de surdos
encontra no Brasil, uma série de empecilhos.
Essa tese pode ser comprovada por meio de
dados divulgados pelo Inep, os quais apontam
que o número de surdos matriculados em
instituições de educação básica tem diminuído
ao longo dos últimos anos. Nesse sentido, algo
deve ser feito para alterar essa situação, uma
vez que milhares de surdos de todo o país têm
o seu direito à educação vilipendiado,
confrontando, portanto, a Constituição Cidadã
de 1988, que assegura a educação como um
direito social de todo cidadão brasileiro.
Em primeira análise, o descaso estatal
com a formação educacional de deficientes

84 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
auditivos mostra-se como um dos desafios à
consolidação dessa formação. Isso porque
poucos recursos são destinados pelo Estado à
construção de escolas especializadas na
educação de pessoas surdas, bem como à
capacitação de profissionais para atenderem às
necessidades especiais desses alunos.
Ademais, poucas escolas são adeptas do uso
de libras, segunda língua oficial do Brasil, a
qual é primordial para a inclusão de alunos
surdos em instituições de ensino. Dessa forma,
a negligência do Estado, ao investir minimante
na educação de pessoas especiais, dificulta a
universalização desse direito social tão
importante.
Em segunda análise, o preconceito da
sociedade com os deficientes apresenta-se
como outro fator preponderante para a
dificuldade na efetivação da educação de
pessoas surdas. Essa forma de preconceito
não é algo recente na história da humanidade:
ainda no Império Romano, crianças deficientes
eram sentenciadas à morte, sendo jogadas de
penhascos.
O preconceito ao deficiente auditivo, no
entanto, reverbera na sociedade atual, calcada
na ética dilitarista, que considera inútil pessoas
que, aparentemente menos capacitadas, têm
pouca serventia à comunidade, como é o caso
de surdos. Os deficientes auditivos, desse
modo, são muitas vezes vistos como pessoas
de menor capacidade intelectual, sendo
excluídos pelos demais, o que dificulta aos
surdos não somente o acesso à educação, mas
também à posterior entrada no mercado de
trabalho.
Nesse sentido, urge que o Estado, por
meio de envio de recursos ao Ministério da
Educação, promova a construção de escolas
especializadas em deficientes auditivos e a
capacitação de profissionais para atuarem não
apenas nessas escolas, mas em instituições de
ensino comuns também, objetivando a
ampliação do acesso à educação aos surdos,
assegurando a estes, por fim, o acesso a um
direito garantido constitucionalmente.
Outrossim, ONGs devem promover, através da
mídia, campanhas que conscientizem a
população acerca da importância do deficiente
auditivo para a sociedade, enfatizando em
mostrar a capacidade cognitiva e intelectual do
surdo, o qual seria capaz de participar da
população economicamente ativa (PEA); como
fosse concedido a este o direito à educação e à
equidade de tratamento, por meio da difusão
do uso de libras. Dessa forma, o Brasil poderia
superar os desafios à consolidação da
formação educacional de surdos. (G1, 2018)
A segunda é de Larissa Fernandes
Silva de Souza, do Pará:
A Declaração Universal dos Direitos
Humanos – promulgada em 1948 pela ONU –
assegura a todos os indivíduos o direito à
educação e ao bem-estar social. Entretanto, o
precário serviço de educação pública do Brasil
e a exclusão social vivenciada pelos surdos
impede que essa parcela da população usufrua
desse direito internacional na prática. Com
efeito, evidencia-se a direito internacional na
prática. Com efeito, evidencia-se a
necessidade de promover melhorias no sistema
de educação inclusiva no país.
Deve-se pontuar, de início, que o aparato
estatal brasileiro é ineficiente no que diz
respeito à formação educacional de surdos no
país, bem como promoção da inclusão social
desse grupo. Quanto a essa questão, é notório
que o sistema capitalista vigente exige alto
grau de instrução para que as pessoas
consigam ascensão profissional. Assim, a falta
de oferta do ensino de libras nas escolas
brasileiras e de profissionais especializados na

85 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
educação de surdos dificulta o acesso desse
grupo ao mercado de trabalho. Além disso, há
a falta de formas institucionalizadas de
promover o uso de libras, o que contribui para a
exclusão de surdos na sociedade brasileira.
Vale ressaltar, também, que a exclusão
vivenciada por deficientes auditivos no país
evidencia práticas históricas de preconceito. A
respeito disso, sabe-se que, durante o século
XIX, a ciência criou o conceito de determinismo
biológico, utilizado para legitimar o discurso
preconceituoso de inferioridade de grupos
minoritários, segundo o qual a função social do
indivíduo é determinada por características
biológicas. Desse modo, infere-se que a
capacidade associada hodiernamente aos
deficientes tem raízes históricas, que acarreta a
falta de consciência coletiva de inclusão desse
grupo pela sociedade civil.
É evidente, portanto, que há entraves
que os deficientes auditivos tenham pleno
acesso à educação no Brasil. Dessa maneira, é
preciso que o Estado brasileiro promova
melhorias no sistema público de ensino do
país, por meio de sua adaptação às
necessidades dos surdos, como oferta do
ensino de libras, com profissionais
especializados para que esse grupo tenha seus
direitos respeitados. É imprescindível, também,
que as escolas garantam a inclusão desses
indivíduos, por intermédio de projetos e
atividades lúdicas, com a participação de
familiares, a fim de que os surdos tenham sua
dignidade humana preservada. (G1, 2018)
As duas redações demonstram a
responsabilidade e a sensibilidade destas
jovens em reconhecer que algo precisa ser
feito para reverter essa situação. Ambas
consideram a necessidade da oferta do ensino
da língua – LIBRAS. Contudo, seria suficiente a
implementação de um ensino e aprendizado
desta língua apenas para os surdos? Sabe-se
que em muitas instituições essa prática já é
realizada, mas seus usuários permanecerão a
utilizá-la somente entre si? A segunda língua
oficial do país permanecerá à margem do
currículo nacional?
Quanto aos critérios de avaliação e em
resposta às dúvidas surgidas após a
divulgação e polêmica em torno do tema, o
MEC informou que não seria exigido das
dissertações argumentativas um conhecimento
técnico ou específico em relação aos surdos e
os respectivos desafios da inclusão destes na
escola ou sua inserção no mercado de
trabalho, bem como não haveria prejuízo na
escrita do termo “deficientes auditivos”.
(POZZA, 2017)
A Base Nacional Comum Curricular
e a LIBRAS
A Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) é definida como:
Um documento plural e contemporâneo,
resultado de um trabalho coletivo inspirado nas
mais avançadas experiências do mundo. A
partir dela, as redes de ensino e instituições
escolares públicas e particulares passarão a ter
uma referência nacional comum e obrigatória
para a elaboração dos seus currículos e
propostas pedagógicas, promovendo a
elaboração da qualidade do ensino com
equidade e preservando a autonomia dos entes
federados e as particularidades regionais e
locais. (BRASIL, 2018, p. 5)
Na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN), em seu artigo 26
parágrafo 10, encontra-se explicitado que a
inclusão de novos componentes curriculares
obrigatórios na BNCC necessita da aprovação
do Conselho Nacional de Educação e ser
homologada pelo Ministro de estado da

86 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
Educação, conforme alteração dada pela Lei nº
13.415, de 2017. (BRASIL, 1996)
Embora se apresentem alterações com a
aprovação da BNCC, na LDBEN permanece
assegurada às comunidades indígenas a
utilização das respectivas línguas maternas, a
obrigatoriedade do estudo da língua inglesa e a
oferta em caráter optativo, mas preferencial do
idioma espanhol. (apud, art. 35)
Este artigo intenciona elencar questões
que propicie a reflexão sobre a oferta
obrigatória e opcional de línguas estrangeiras -
muito úteis ao desenvolvimento pedagógico e
social dos alunos, porém contesta-se a
ausência de ao menos a menção da oferta
optativa da LIBRAS. Quanto tempo foi preciso
para entender a importância de valorizar e
respeitar a(s) cultura(s) indígena(s)? Se a
língua é fator para estabelecer a presença de
uma cultura, pergunta-se: quanto tempo levará
para incluir a LIBRAS na Educação Básica em
respeito à cultura surda? Quando a criança
surda terá o direito de ser alfabetizada em sua
primeira língua (L1), quando na própria BNCC
afirma-se como competência geral a utilização
de diferentes linguagens – verbal (oral ou
visual-motora, como a LIBRAS) e a
intencionalidade que no ensino médio se
consolide as habilidades de uso e reflexão
sobre as linguagens? (BRASIL, 2018, pp. 94 e
467)
Essa reflexão almeja incitar a busca por
fundamentos, ideias e ações que alcancem a
prática e o compromisso da cidadania
envolvida com a defesa e a promoção de
direitos humanos,
Sem o respeito aos Direitos Humanos
não será possível consolidar uma democracia
substancial, nem garantir uma vida de
qualidade para todos. Será preciso o
compromisso com a construção de uma cultura
de direitos, contribuindo para o bem estar de
todos e afirmação das suas condições de
sujeitos de direitos. (BRASIL, 2011, p. 25)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerar o papel da linguagem no
processo de interação social ao fato de que
ouvintes e surdos não compartilham as duas
línguas – Língua Portuguesa e LIBRAS, no
sentido de seu uso e entendimento fluente,
esta situação já implica a interferência direta na
convivência inclusiva.
Diferente dos indígenas que usam a
língua materna nas aldeias e entre si, os
surdos e ouvintes partilham dos mesmos
espaços e ambientes.
Isso impacta sobremaneira a educação
oferecida aos alunos, especificamente no que
se refere ao acesso do aluno surdo em
processo de alfabetização.
Tendo em vista que o aprimoramento da
comunicação pode ser entendido como um
processo, observa-se que no sistema atual e a
maneira em que a LIBRAS se apresenta em
algumas instituições escolares, há dificuldades
no que se diz respeito à implantação de ações
que a defina - seja pela ausência de subsídios
legais ou pela necessidade mostrar-se mais
intensa atualmente.
A surdez ganha espaço ao ser tema da
redação, por sua vez, a contrariedade
silenciada nos desafios vividos por surdos em
sua formação educacional permanece à
disposição de estudos mais específicos, já que
pessoas recém formadas no ensino médio ou
em anos anteriores não tiveram em sua
educação básica o estudo aprofundado dessa
deficiência específica.
E, de fato quando será que os
estudantes brasileiros e a sociedade em geral
terão o direito a aprender sua segunda língua
oficial?

87 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
Se finda essas considerações na
esperança e na expectativa de que essa
realidade composta por ações descritas, mas
indefinidas no investimento para a formação
continuada de professores; na cobrança por
uma construção escrita que respeite técnicas
de um texto argumentativo, sem a exigência do
conhecimento técnico – ao qual não foi
explorado na matriz curricular, em consonância
com o respeito aos direitos humanos, mas
tendo este também sofrido as consequências
de “uma pergunta feita sobre uma matéria não
dada”, pode-se depreender que, muito embora
o Brasil venha evoluindo nos ideais de uma
educação para todos, há que se apontar as
dicotomias entre esse ideal, legislação e
realidade.
Resta-nos, enquanto sociedade inquirir
fóruns e espaços onde se discutam as
possibilidades e metas que atendam os alunos
na perspectiva da diversidade e a criação de
medidas que efetivem o rompimento das
barreiras comunicativas existentes entre a
Língua Portuguesa e a LIBRAS expressas em
políticas públicas que elevem a qualidade da
educação nacional. Assim, enxergando e
vivenciando os obstáculos que ainda dificultam
a educação dos surdos no Brasil, os jovens
terão a experiência necessária não apenas
para escrever, mas também sobrepô-las.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Conselho Nacional de Educação.
Texto orientador para a elaboração
das Diretrizes Nacionais da Educação
em Direitos Humanos. Brasília – DF,
2011.
BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Básica: diversidade e
inclusão / Organizado por Clélia Brandão
Alvarenga Craveiro e Simone Medeiros.
Brasília: Conselho Nacional de
Educação: Ministério da Educação,
Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização, Diversidade e
Inclusão, 2013.
BRASIL, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996. Estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional. Diário Oficial da
União, Brasília, DF, 23 dez. 1996.
BRASIL, Lei nº 13.145, de 16 de fevereiro
de2017. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação
nacional. Brasília, 2017.
BRASIL. Ministério da Educação. Base
Nacional Comum Curricular. Parceria:
Conselho Nacional de Secretários de
Educação – CONSED e União dos
Dirigentes Municipais de Educação –
UNDIME, 2018.
BRASIL. Ministério da Educação. Institui o
Exame Nacional do Ensino Médio.
Recuperado de
http://portal.mec.gov.br/enem-sp-
2094708791.
FORTES, L. Número de redações nota zero
cresceu no ENEM 2017; resultado
melhora em 3 áreas. Último Segundo –
ig. Disponível em:
<http://ultimosegundo.ig.com.br/educaca
o/2018-01-18/enem-2017-
resultados.html>. Acesso em 06 de maio
de 2018.
G1. ENEM 2017: leia redações nota mil.
Disponível em:
<https://g1.globo.com/educacao/noticia/l
eia-redacoes-nota-mil-do-enem-
2017.ghtml>. Acesso em: 05 de maio de
2018.
O GLOBO. ENEM 2017 registra aumento de
redações com nota “zero”. Disponível
em:

88 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
<https://oglobo.globo.com/sociedade/edu
cacao/enem/enem-2017-registra-
aumento-de-redacoes-com-nota-zero-
22300924>. Acesso em 06 de maio de
2018.
POZZA, C. D. Redação ENEM 2017:
polêmicas. Disponível em:
<https://www.infoenem.com.br/redacao-
enem-2017-polemicas/>. Acesso em 05
de maio de 2018.
.

89 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
EDUCAÇÃO POPULAR: PERSPECTIVA FREIRIANA PARA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL DA ATUALIDADE BRASILEIRA
RESUMO
A Educação popular acompanha e inspira ações de transformação social. Nela, o processo educativo se dá na ação de mudar padrões de conduta, modos de vida, atitudes e reações sociais. Portanto, se a realidade social é ponto de partida do processo educativo para transformação da sociedade. (WERTHEIN, 1985, p. 22). A Educação popular na perspectiva freireana, constitui-se como uma proposta educativa, voltada para a necessidade de construção de uma consciência crítica do indivíduo em relação à realidade em que está envolvido no sentido de torná-lo um sujeito ativo na construção e transformação desta realidade e na intenção, não de inseri-lo no mundo, uma vez que dele nunca deixou de fazer parte, mas, de fazer-se “reconhecer a ele mesmo e aos outros, enquanto homem e enquanto cidadão, como parte integrante deste, e indispensável na dinâmica das relações sócio, político-culturais existentes nele. Palavras-chave: educação popular, freiriana transformação social
POPULAR EDUCATION: FREIRIAN PERSPECTIVE FOR TRANSFORMATION SOCIAL IN BRAZILIAN NEWS
SUMMARY
Popular education accompanies and inspires actions of social transformation. In it, the educational process occurs in the action of changing patterns of conduct, ways of life, attitudes and social reactions. Therefore, if social reality is the starting point of the educational process for the transformation of society. (WERTHEIN, 1985, p.22). Popular education in Freirean perspective, constitutes an educational proposal, focused on the need to build a critical awareness of the individual in relation to the reality in which he is involved in making him an active subject in the construction and transformation of this reality and in the intention not to insert him into the world, since he never ceased to be a part of it, but to make himself "recognize himself and others, as a man and as a citizen, as an integral part of this, and indispensable in the dynamics of socio-political-cultural relations existing in it Keywords: popular education, freiriana social transformation
DISCURSOS INICIAIS
A Educação popular explicita o lado
político da educação e ganha um caráter de
classe, na medida em que questiona a forma
como as relações de poder que sustentam a
sociedade capitalista reproduzem-se na
educação bancária5 e que orienta as atividades
para a construção de um projeto histórico
nacional voltado para a criação de uma
sociedade justa e igualitária, enfatizando a
solidariedade de todos os setores que possam
compartilhar esse projeto.
Podemos dizer que “os projetos de
Educação popular são os que implicam ao
mesmo tempo maiores desafios e maiores
potencialidades, tanto educacionais como
sociais” (WERTHEIM, 1985, p. 60). Conforme
Brandão (2006) que “preconiza um primeiro
passo dizendo a teoria de educação popular, é
basicamente uma relação entre a palavra e o
poder. Porque a palavra é um ato de poder, o
que equivale afirmar que ela não é apenas um
entre os seus outros símbolos, mas o seu
exercício.
O direito de falar e ser ouvido são o
ofício do senhor”. Os súditos calam ou repetem
a palavra que ouvem, fazendo seu o mundo do
outro. A diferença entre um e outro é que o
primeiro detém a posse do direito de pronunciar
o sentido do mundo e, por isso, o direito de
ditar a ordem do mundo social.
Cybelle de Jesus da Costa Silvestre

90 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
Entretanto, a Educação Popular
considerada, impreterivelmente, legado do
Educador Paulo Freire (1921-1997) que trouxe
importantes reflexões sobre os sujeitos postos
à margem da sociedade do capital. Por
entender as classes populares como
detentoras de um saber não valorizado e
excluídas do conhecimento historicamente
acumulado pela sociedade, nos mostra a
relevância de se construir uma educação a
partir do conhecimento do povo e com o povo
provocando uma leitura da realidade na ótica
do oprimido, que ultrapasse as fronteiras das
letras e se constitui nas relações históricas e
sociais segundo o mesmo autor.
Dessa maneira, ainda considerado pelo
autor onde o oprimido deve sair desta condição
de opressão a partir da fomentação da
consciência de classe oprimida Brandão (2002,
p.269), os movimentos populares viveram e
vivem momentos de transformação ainda não
concluídos, por se abrirem a lutas mais amplas
em prol dos direitos humanos, onde a pessoa
cidadã “é o sujeito de deveres sociais de teor
político, em nome dos quais não apenas
reclama os seus direitos”, mas age para
construir “um outro mundo possível” de
realização plena dos direitos humanos ainda
segundo o mesmo autor.
Para tanto o contexto analisado nos leva à
compreensão de que os movimentos sociais de
diversas naturezas surgidos em torno de temas
como etnia, gênero, ambiente, entre outros,
passam a incorporar, de algum modo, o ideário
popular. Isso ressalta que a Educação popular
não se origina de uma única fonte social, mas
parte de ampla gama de ideias, ações “nunca
tão política ou ideologicamente centralizada”
(BRANDÃO, 2002).
Nesse aspecto pode-se considerar que a
Educação e a cultura como importantes
instrumentos de transformação social,
passando a ser pensadas, propostas e
praticadas a partir das condições das classes
subalternas e da visão de mundo das classes
populares. Assim, conforme nos alerta Paiva
(1984 apud OLIVEIRA, 2001, p.25), a
compreensão da cultura popular deveria partir
da valorização da produção cultural das
massas e da criação das condições para que o
povo pudesse não somente produzir cultura,
mas usufruir da sua própria cultura.
Transformação Social no Brasil
Na década de 40 foi um período em que
questões relacionadas à Educação de base
começam a aparecer no país, pois “[...] até a
Segunda Guerra Mundial, a Educação popular
era concebida como a extensão da educação
formal para todos, sobretudo para os
habitantes das periferias urbanas e zonas
rurais” (VALE, 1992, p. 7).
Já para Paiva (1987), final da década de
50, aconteceu o II Congresso Nacional de
Educação de Adultos, em que educadores
manifestaram diferentes posições relacionadas
à nova perspectiva educacional. Dentre essas
concepções, encontramos o pensamento de
Paulo Freire, o qual atrai vários adeptos, como:
educadores, intelectuais, estudantes, líderes
comunitários de todo o país, em prol de uma
Educação popular que “[...] preconizava a
alfabetização e a conscientização de todos”
(BEISIEGEL, 1989).
Os anos de 1970/1980 aparecem como um
período de luta e resistência política. Os
movimentos sociais se sobressaem como
mobilizadores sociais pela democratização das
relações econômico-político-sociais no Brasil.
Para Caldart (2004), o momento onde “novos
sujeitos sociais coletivos se constituíram”,
representando a emergência de uma nova
configuração das classes populares no cenário

91 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
público ou anunciando o aparecimento de um
novo tipo de expressão dos trabalhadores
(GADOTTI, 1980 apud OLIVEIRA,2001, p.29).
Para tanto, a Educação popular
acompanha e inspira ações de transformação
social. Nela, o processo educativo se dá na
ação de mudar padrões de conduta, modos de
vida, atitudes e reações sociais. Portanto, se a
realidade social é ponto de partida do processo
educativo, a ela para transformá-la.
(WERTHEIN, 1985, p. 22) Santos (2000), as
consequências das grandes promessas feitas
pela Modernidade há pelo menos 200 anos,
“[...] que permanecem ou o seu cumprimento
redundou em efeitos perversos”
A educação de base era entendida como o
processo educativo destinado a proporcionar a
cada indivíduo os instrumentos indispensáveis
ao domínio da cultura de seu tempo, em
técnicas que facilitassem o acesso a essa
cultura − como a leitura, a escrita, a aritmética
elementar, noções de ciências, de vida social,
de civismo, de higiene − e com as quais,
segundo o mesmo autor. Que considera as
capacidades de cada homem pudesse
desenvolver-se e procurar melhor ajustamento
social (BEISIEGEL, 1989, p. 14).
Sendo assim, Paulo Freire com outros
educadores, sugeriu: a revisão dos
transplantes que agiram sobre o nosso sistema
educativo, a organização de cursos que
correspondessem à realidade existencial dos
alunos, o desenvolvimento de um trabalho
educativo com o Homem e não para o Homem,
a criação de um grupo de estudo e de ação
dentro do espírito de autogoverno, o
desenvolvimento de uma mentalidade nova no
educador, que deveria passar a sentir-se
participante do trabalho de soerguimento do
país; e, finalmente, a renovação dos métodos e
processos educativos com a rejeição daqueles
exclusivamente auditivos, substituindo o
discurso pela discussão e utilizando as
modernas técnicas de educação de grupos
com a ajuda de recursos audiovisuais. (PAIVA,
1987, p. 210)
Para Freire, a Educação não poderia ser
vista apenas como ferramenta para a
transmissão de conhecimentos e reprodução
das relações de poder instituídas no
capitalismo, como acontecia na Educação
bancária (cf. FREIRE, 1987), mas, sim, como
uma ação capaz de libertação e emancipação
das pessoas. “Uma prática cultural libertadora
deveria envolver um trabalho intelectual de
reelaboração dos elementos ideológicos da
tradição de um povo” (BRANDÃO, 2008, p. 28).
Grandes são os desafios atuais dos
movimentos sociais e da Educação popular
com seu projeto emancipatório. Trata-se de
combater a trivializarão do sofrimento humano.
Podemos dizer que “[...] o objetivo principal do
projeto educativo emancipatório consiste em
recuperar a capacidade de espanto e de
indignação e orientá-la para a formação de
subjetividades inconformistas e rebeldes”
(SANTOS, 1996, p. 17). A Educação popular é,
assim, um projeto de memória, denúncia e
anúncio. Todavia o capitalismo advindo “[...]
para que o ambiente pudesse dinamizar a
produção, mas não soube até hoje criar
mecanismos eficientes de distribuição. Na
realidade, a própria estrutura de poder gerada
pelos privilégios e pelo enriquecimento de
minorias torna inviável a distribuição
equilibrada” (DOWBOR, 1995, p. 10).
Educação Popular no Brasil
A Educação popular como esforço de
mobilização, organização e capacitação das
classes populares; capacitação científica e
técnica. Paulo Freire afirmava que esse esforço
se pautava para o poder, ou seja, é preciso

92 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
transformar essa organização do poder
burguês que vigorava, para que se possa fazer
a escola de outro jeito. Há estreita relação
entre escola e vida política.
A função social do sistema educacional,
Manfredo Berger afirma que, em sociedades
dependentes, pode ser proposta e defendida a
tese de que tanto no passado quanto no
presente o sistema educacional é sempre
funcional. o sistema educacional se transforma
muito facilmente em instrumento das classes
dominantes, posição que se origina em
Mannheim afirmando que:
” a educação tende a tornar-se parte da nova arte de manipular o comportamento humano e pode transformar-se num instrumento de supressão da maioria em favor de uns poucos”.
Segundo Fávero (1983) foram esses os
movimentos de cultura popular os grandes
sementeiros de ideias e de implementação de
experiências. Paulo Freire se torna nesse
contexto um dos maiores idealizadores e
inspiradores da educação popular, enquanto
uma das concepções de educação do povo.
Já a sociedade civil expressa o momento
da persuasão e do consenso que,
conjuntamente com o momento da repressão e
da violência asseguram a manutenção da
estrutura de poder. Na sociedade civil, a
dominação se expressa sob a forma de
hegemonia; na sociedade política, sob a forma
de ditadura.
Segundo Ferreira Gullar a cultura
popular e a consciência de que ela tanto pode
ser instrumento de conservação como de
transformação social. E essa visão
desmistificada dos valores culturais que leva o
intelectual a agir sobre seus próprios
instrumentos de expressa0 para, através deles,
contribuir na transformação geral da sociedade,
impossível entender o fenômeno da cultura
popular sem levar em conta o espaço e o
tempo históricos em que surgiu. e a tomada de.
Consciência da realidade brasileira. r
compreender que o problema do
analfabetismo, como o da deficiência de vagas
nas Universidades, não está desligado da
condição de miséria do camponês, nem da
dominação imperialista sobre a economia do
pais.
Ademais a cultura popular conforme
Fávero (1983), não trata, pois, de revolucionar
a cultura existente, eliminando-a por outra
qualitativamente nova. Mas sim tem,
entretanto, seu propósito último que é a
educação revolucionária das massas. Um
movimento de cultura popular só surge quando
o balanço das reações de poder começa a ser
favorável aos setores populares da
comunidade e desfavorável aos seus setores
de elite. Para Fávero (1983). Esta nova
situação caracteriza de modo genérico, o
quadro atual da vida brasileira.
Ainda para o autor que considera a
conquista alcançada através do esforço
organizado das massas populares, criou novas
condições que se traduzem na possibilidade do
movimento de cultura popular a ser financiado
por recursos públicos e ser apoiado pelos
poderes públicos. Tal fato é praticamente
inexistente no resto do país, onde, via de regra,
os movimentos de cultura popular encontram,
como condições adversas a sua existência e ao
seu funcionamento, a hostilidade do poder
público e a ausência de dotações
orçamentárias para fins de cultura popular.
(1983, p.90).
Já no Brasil (1914-1964), foram criadas
as condições institucionais, políticas e culturais
mínimas para a consolidação de uma
civilização propriamente urbano-industrial e, a
partir de 1945, as massas começaram a ter
participação política e a contribuir nas

93 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
formulações dos objetivos para o
desenvolvimento nacional. Neste contexto, o
projeto econômico nacional-desenvolvimentista
e a estratégia da política de massas, nos
moldes getulistas, constituíram o projeto de
modernização do país. O desenvolvimento
deste modelo resultaria, até a década de 1950,
em rompimentos políticos e econômicos
internos e externos que permitiriam, segundo
Ianni (1968, p. 8),
A Revolução Brasileira, por significar o
desenvolvimento do capital industrial e de suas
bases de sustentação, particularmente, a
estruturação de uma burguesia nacional, a qual
exigia a modernização e a democratização do
país. O que poderia resultar na independência
econômica em relação aos países imperialistas
e autodeterminação econômica, política e
cultural. Em decorrência, seria possível o
tensionamento das estruturas sociais e suas
contradições, que originariam uma organização
para superação da ordem existente (PRADO
JR, 1977; IANNI, 1968).
Para Freire que apresenta uma
compreensão dualista da sociedade neste
momento ao entender que a sociedade vivia
um processo de transição de uma “sociedade
arcaica” para uma “sociedade moderna”, que
promovia a saída do Brasil das estruturas
econômicas e culturais herdadas do período
colonial, em que se configurava por uma
produção agroexportadora dependente,
precária na vida urbana, reflexa em sua
economia e na cultura e mantida por relações
verticalizadas e antidialogal, para uma estrutura
típica dos países industriais e democráticos,
tendo como modelo, mais precisamente, os
países desenvolvidos (FREIRE, 1982, p. 49).
Neste entendimento, no setor tradicional,
reconhecido como parasitários, atrasados,
decadentes, que defendiam ideologias
retrógradas, agrupar-se-iam a classe
latifundiária, a burguesia mercantil, a classe
média não-produtiva e parcelas do proletariado;
por sua vez, o setor moderno, agruparia, mais
frequentemente, a burguesia industrial, o
proletariado (urbano e rural) e a classe média
produtiva (TOLEDO, 1978, p. 117).
Paulo Freire (2001, p. 9-10) as
discussões educacionais e refletia sobre a
educação oferecida naquele momento, a qual
deveria ser totalmente revisada, por
apresentar-se inorgânica e instrumental para o
homem que deveria integrar-se à sociedade
brasileira em transformação. Aproximando-se
do pensamento escola novista formulou críticas
contundentes à educação vigente,
considerando que ela não contribuía para a
formação do homem necessário a essa
sociedade. As críticas eram dirigidas tanto aos
padrões de organização e funcionamento,
como aos princípios, conteúdos e métodos, que
ainda estavam fortemente embasados na
educação tradicional. Dentro de um enfoque
social, identificou como maior problema
educacional a marginalização do processo de
escolarização da maioria da população e, por
este motivo, defendia reformas educacionais e
uma eficiente organização do ensino que
servisse aos ideais democráticos e fomentasse
a participação da comunidade na escola e,
desta, em sua realidade.
A escola democrática, para Freire (2001,
p.85-91), deveria enfatizar a prática ao incitar a
participação, a ingerência e o diálogo; com
atividades plurais, ela deveria ser uma
comunidade do trabalho e do estudo,
privilegiando o trabalho em grupo e a pesquisa.
Deveria fazer o aluno “aprender a aprender” ao
enfrentar as dificuldades, resolver questões,
desenvolver hábitos de solidariedade, de
participação, de investigação e, ainda, criar
disposições mentais críticas e oportunidades
de participação no próprio comando da escola,

94 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
tendo o autogoverno como uma das principais
preocupações. Portanto, as tarefas
fundamentais da educação, sob as condições
fraseológicas, seriam criar disposições mentais
no homem brasileiro, críticas permeáveis, com
que ele pudesse superar a força de sua
“inexperiência democrática” (FREIRE, 2001, p.
79).
Paulo Freire, neste contexto,
preocupava-se com a educação existente,
excludente e autoritária, incapaz de
desenvolver no homem as características
necessárias à sociedade em desenvolvimento
e em abertura democrática. Ao enfatizar a
importância de uma reforma total da escola
brasileira, Freire (2005, p.87; 1982, p. 94)
afirmava que a sociedade tinha um duplo
desafio: erradicar o analfabetismo, o que criaria
melhores condições para a mão-de-obra
especializada, para o desenvolvimento técnico
e para a participação política em uma
sociedade em pleno desenvolvimento
econômico; e a erradicação da "inexperiência
democrática" brasileira, por meio de uma
educação para a democracia numa sociedade
que se democratizava.
Ao transferir a centralidade do professor
ao educando, do processo de ensino para o
processo de aprendizagem, o professor e o
aluno se igualam como sujeitos cognoscentes.
Assim, a atuação do professor passa a
deslocar-se para o “[...] processo de
aprendizagem do aluno e para o estudo do
meio que oferecerá reação, entraves e
estímulos à aprendizagem” (VALDEMARIN,
2004, p. 193).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme Harmon (1975), a pedagogia
proposta por Freire é fundamentada numa
antropologia filosófica dialética cuja meta é o
engajamento do indivíduo na luta por
transformações sociais. Sendo assim, a relação
pedagógica necessita ser antes de tudo uma
relação dialógica que assegure à confiança de
ambas as partes na construção do saber, na
conscientização, tornando os alunos
motivados, desinibidos, autoconfiantes, e
capazes de criar, quando vencem o primeiro
passo para sentirem a importância, a
necessidade e a possibilidade de se
apropriarem da leitura e da escrita. Ao serem
alfabetizados partem então para a
compreensão ampla do mundo e de sua
realidade para a reflexão sobre as mudanças
cabíveis e possíveis para a construção de um
futuro melhor.
Segundo Saviani (2007, p. 272-275) que
destaca a hipótese, que segundo ele deve ser
melhor investigada, de que a concepção
pedagógica mais adequada a esse processo de
transformação da sociedade brasileira estava
dada pelo movimento escola novista.
Analisamos que a Educação Popular
brasileira ainda necessita de uma maior
evolução, visto que no contexto
socioeconômico há a real necessidade para a
descoberta de um novo olhar educacional dos
professores e educadores ativos no processo
sistemático educacional.
Em suma: o processo educacional
vislumbra um maior empenho de seus
docentes sabendo-se que, o professor em
plena atividade laboral ainda não despertou
sua real essência para o desenvolvimento
social do seu aluno/pais/responsáveis pois, a
partir desse crescimento individual e para o
coletivo haverá uma grande evolução social
EDUCAÇÃO POPULAR em todos os âmbitos
educacionais na evolução humana em todos os
níveis do conhecimento.

95 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
REFERÊNCIAS
BEISIEGEL, C. de R. Política e Educação
Popular: a teoria e a prática de Paulo
Freire no Brasil. São Paulo: Ática, 1989.
BRANDAO, C. R. Educação Popular. 3ª ed.
SP, Brasiliense, 1986
BRANDÃO, C.R. História do menino que lia o
mundo. 3. ed. Veranópolis/RS: Iterra –
Instituto de Capacitação e Pesquisa da
Reforma Agrária, 2001.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A educação
popular na escola cidadã. São Paulo:
Editora Vozes, 2002.
FÁVERO, O. (org.) Cultura popular: memória
dos anos 60. Rio de Janeiro: Edições
Graal, 1983.
FREIRE Paulo; NOGUEIRA Adriano: Que
Fazer: Teoria e Prática em Educação
Popular Paz e Terra; 2001. 8ª Edição
FREIRE, P. Educação e atualidade
brasileira. São Paulo: Cortez: Instituto
Paulo Freire, 2001.
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17. ed.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
FREIRE, P. Uma educação para a liberdade.
Porto/Portugal: Textos Marginais, 1974.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17.
ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981
GADOTTI, Moacir. Pensamento pedagógico
brasileiro. São Paulo: Ática, 2000.
HARMON, Maryllen C. Paulo Freire:
Implications for a theory of pedagogy.
Tese de doutorado. Boston, School of
Education, University of Boston, 1975.
Ianni (1968, p. 55), instituições democráticas,
destinadas a garantir o acesso dos
assalariados a uma parcela do poder”.
K.Mannheim, A crise da sociedade
contemporânea, citado por M.Berger,
op. cit., p. 204.
M. Berger, Educação e dependência (Porto
Alegre: DIFEL, 1976, p. 202.
OLIVEIRA, Elizabeth Serra. Diferentes
sujeitos e novas abordagens da
educação popular urbana.
Universidade Federal Fluminense-UFF.
Dissertação de mestrado. Niterói, 2001,
pp.152
PAIVA, V Educação popular e Educação de
adultos. São Paulo: Edições Loyola,
1987.
PAIVA, Vanilda (Org.) Perspectivas e dilemas
da educação popular. Rio de Janeiro:
Graal, 1984.
SANTOS, B.S. “A crítica da razão indolente:
contra o desperdício da experiência.
2. ed. São Paulo: Cortez, 2000.
SANTOS, B.S. “Por uma Pedagogia do
conflito”. In: SILVA, L.H. da. Novos
mapas culturais, novas perspectivas
educacionais. Porto Alegre:Sulina, 1996.
TOLEDO, C. N. ISEB: fábrica de ideologias.
São Paulo: Ática, 1978.
VALDEMARIN, V. T. Os sentidos e a
experiência: professores, alunos e
métodos de ensino. In: SAVIANI,
Dermeval [et. al.]. O legado educacional
do século XX no Brasil. Campinas, SP:
Autores Associados, 2004. p. 163-203.
WERTHEIN, J. (org.) Educação de Adultos na
América Latina. Campinas/SP: Papirus,
1985.

96 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
SALA PROJETO E A TEORIA HISTÓRICO – CULTURAL:
UMA NECESSÁRIA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO
RESUMO O conteúdo deste artigo decorre da pesquisa intitulada Sala Projeto e a teoria histórico-cultural: uma necessária organização do ensino, na visão de Vasili V. Davydov. Busca responder como a teoria do desenvolvimental, pode ser alternativa teórico-metodológica para a apropriação do ensino-aprendizagem dos alunos da sala projeto da E.M.Thereza Magri, no município de Praia Grande. Considerando a organização do ensino como eixo norteador para a obtenção de uma educação de fato e de direito. O objetivo é apresentar a proposta de organização de ensino desconhecida presente na teoria do ensino desenvolvimental formulada por Davydov – como uma alternativa fundamental para a educação, sobretudo quando a escola tem por finalidade o desenvolvimento humano global e suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica que preconizam a BNCC- Base Nacional Comum Curricular, assegurando os direitos de aprendizagens essenciais. Palavras-chaves: Sala Projeto, Teoria histórico-cultural, Organização do ensino, BNCC.
ROOM DESIGN AND HISTORICAL-CULTURAL THEORY:
A NECESSARY ORGANISATION OF TEACHING
ABSTRACT
The content of this article stems from the research entitled Project Room and historical-cultural theory: a necessary organisation of teaching, in the vision of Vasily V. Davydov. Search answer as developmental theory, theoretical and methodological alternative may be for the appropriation of the teaching and learning of E.M. Design room Thereza Magri, in the municipality of Praia Grande. Whereas the organisation of teaching as a guide to obtaining an education in fact and law. The goal is to present the proposal of organization of teaching in theory of education present unknown development formulated by Davydov – as a fundamental alternative for education, especially when the school aims at the human development global and its dimensions physical, emotional, intellectual, social, ethical, moral and symbolic advocate BNCC-National Common Curricular Base, ensuring the rights of essential learnings. Keywords: Design, historical and cultural Theory, Organisation of teaching, BNCC.
INTRODUÇÃO
Na perspectiva da Educação
Contemporânea, é papel da educação tornar o
ser humano contemporâneo à sua época por
meio da apropriação do conjunto cultural
acumulado historicamente (Saviani, 2013).
Neste contexto, situa-se a Sala Projeto
da E.M. Thereza Magri, do município de Praia
Grande/SP – tendo como alunado crianças em
fase silábica alfabética e com dificuldades de
aprendizagem severas durante o processo de
alfabetização e letramento. Tendo consciência
do desafio desse problema a escola
estabeleceu uma ação proposta denominada
Sala Projeto. A ação não tem regulamentação
própria e é legitimada por um projeto
constituído pela Equipe Técnica da unidade
escolar, para atender as necessidades do
alunado e direcionado como um plano de ação.
Faz-se mister, entender que ao nascer,
o individuo humano encontra um meio
culturalmente constituído como processo
histórico. “A totalidade das objetivações
humanas resultaram de todo processo histórico
desenvolvido pela humanidade, não sendo
herdada, deve ser apropriada pelo homem”. E
nesse processo de apropriação é o que se
Magna Gois De Almeida

97 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
deve denominar “educação” (Saviani, 2013,
p.80).
Neste contexto as práticas
pedagógicas tem papel fundamental, para
assegurar que os alunos se apropriem dos
conhecimentos escolares científicos junto à
Sala Projeto. Também é necessária a
valorização de suas vivências, experiências e
conhecimentos adquiridos nas práticas
cotidianas. Logo, um dos problemas que nos
deparamos é estabelecer de como alcançar
essas finalidades mediante um trabalho
pedagógico e didático, através de outras
teorias/metodologias para o ensino-
aprendizagem na Sala Projeto.
Nesse movimento, encontra-se como
alternativa teórica/metodológica para o ensino-
aprendizagem a organização do ensino
através da Teoria do ensino desenvolvimental e
a teoria da atividade de estudo de Vasili V.
Davydov, como `chave ´ para a organização
do ensino, para promoção e garantir o sucesso
do aluno com dificuldade de aprendizagem, no
processo ensino-aprendizagem na Sala
Projeto.
Neste estudo, investigaremos a
intervenção pedagógica de uma prática social
efetiva na formação e desenvolvimento, do
aluno com dificuldade de aprendizagem,
visando mudanças qualitativas no atendimento
quanto a Sala Projeto. O ensino se refere à
orientação que é dada ao aluno e o que
pretende propiciar o desenvolvimento mental.
Assim, entendendo que o sujeito tem uma ação
ativa com o objeto e com a transformação do
meio histórico, é importante compreender os
elementos da teoria histórico cultural/ teoria do
ensino desenvolvimental de Vasili Vasielievich
Davydov – como precursor da teoria da
atividade de estudo. Pois, a finalidade mais
importante do ensino e aprendizagem do
ensino fundamental nos anos iniciais é
assegurar aos alunos oportunidades de se
apropriarem dos conteúdos como um meio
privilegiado de desenvolver a capacidade de
pensar criticamente a realidade a fim de
compreendê-la, para nela, ser um sujeito. Uma
condição para isso é que os alunos,
especificamente, da Sala Projeto aprendam os
conceitos na perspectiva materialista dialética.
A pesquisa culminará, com evidência empírica
e as premissas do ensino proposto por
Davydov.
Por conseguinte, temos que validar a
transformação qualitativa da educação
compreendendo o como conhecimento
científico fundamentalmente estruturante com a
contribuição da teoria do ensino
desenvolvimental. Mas, é na sala de aula, na
aprendizagem mediada pelo processo de
ensino, que deve ocorrer à apropriação do
conceito científico e sua sistematização na
concepção histórico-cultural.
Assim, a pesquisa que contempla este
artigo está delineada, a partir de uma revisão
bibliográfica sobre o tema, com base na
abordagem histórico-cultural, o papel
significativo da organização do ensino e sua
viabilidade na sala Projeto, a práxis desse tipo
de ensino possibilitando um contado direto com
o objeto pesquisado, admitindo a descrição dos
acontecimentos, das situações de ensino, que
são fundamentais para a pesquisa. A intenção
é verificar como determinados problemas
educacionais podem ser resolvidos a partir da
aplicação de uma nova organização de ensino,
a saber, a teoria desenvolvimental. Além disso,
a pesquisa qualitativa dará condições para
entender, aquilo que está além das aparências,
uma vez que a intenção é dimensionar a
realidade que se insere na prática de fato.
Para a coleta de dados recorreu-se a
observação, a analise de documentos. A
observação permite uma ampla variedade de

98 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
descobertas, de percepções, de
representações e de aprendizagens, sobre o
objeto de investigação. Pois, segundo Lüdke e
André: “[...] a experiência direta é, sem dúvida,
o melhor teste de verificação de ocorrência de
um determinado fenômeno” (Lüdke; André,
1986, p.26).
Assim, a observação se constitui em um
meio fundamental para levantar informações
sobre a organização do ensino e como os
alunos lidam com o conhecimento adquirido, a
participação e a relação com os objetos de
aprendizagem em todas as disciplinas.
A análise documental, desse estudo,
constitui uma: “[...] técnica valiosa de
abordagem de dados qualitativos, seja
complementando as informações obtidas por
outras técnicas , seja desvelando aspectos
novos de um tema ou problema” (Lüdke; André,
1986, p.38). Pode-se dizer que, nos limites do
contexto da pesquisa de cunho histórico-
cultural, além dos pontos destacados, outros
podem ser extraídos pelos leitores interessados
na melhoria do processo de ensino-
aprendizagem.
Práticas pedagógicas escolares e a teoria
do ensino desenvolvimental.
No contexto das práticas pedagógicas
escolares a teoria do ensino desenvolvimental
de Vasili V. Davydov tem contribuído como
alternativa teórico-metodológica aos alunos
com dificuldade de aprendizagem – da sala
Projeto da E.M.Thereza Magri, sendo a chave
para a apropriação do ensino- aprendizagem e
como resultado exige-se um estudo sobre o
trabalho pedagógico efetuado e promoção da
sua regulamentação.
A constituição de uma Sala Projeto
precisa ser abordada através de diferentes
olhares e sem menosprezar a prática
pedagógica aplicada como estratégia principal
para romper as estruturas atuais.
A teoria histórica cultural – parte do
materialismo dialético, que por sua vez,
ressaltar a explicação histórica do
desenvolvimento e das transformações da
sociedade por meio de contradições sociais,
como resultado da própria atividade humana.
Assim, buscamos refletir: As formas
historicamente significativas e universais da
atividade prática, também historicamente
originado na vida humana concreta, no que
tange a Sala Projeto; Identificar a constituição
do processo ensino-aprendizagem; Verificar a
proposta de Vasili V. Davydov - a
sistematização da teoria histórico-cultural para
o ensino e aprendizagem na Sala Projeto;
Refletir sobre a necessidade do ensino
desenvolvimental como novo aporte a
organização do ensino à atividade dos alunos
para o estudo e aprendizagem.
Para tanto, é sine qua non subsidiar
informações junto ao sistema de ensino
municipal para a promoção da regulamentação
da Sala Projeto, como ação efetiva no contexto
de uma Educação Contemporânea constituída
e proposta pela BNCC – (Base Nacional
Comum Curricular – um conjunto de
aprendizagens essenciais que todos os alunos
devem desenvolver ao longo da Educação
Básica seus conhecimentos e competências,
cujos propósitos são a formação humana
integral para uma construção de uma
sociedade justa, democrática e inclusiva).
Vasili vasilievich e a teoria
histórico-cultural
Vasili Vasilievich Davydov nasceu em
Moscou em 1930. Ingressou no Departamento
de Psicologia da Faculdade de Filosofia da
Universidade Estadual de Moscou – cursou

99 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
Filosofia e Psicologia, formando-se em 1953 e
morreu aos 68 anos (1998), tornando-se um
grande contribuidor da teoria histórico-cultural
com suas pesquisas relevantes a organização
do ensino e preconiza nova concepção teórico-
prática, a teoria desenvolvimental.
Davydov defende a sistematização da
teoria histórico cultural para o ensino e
aprendizagem. Pois, ao tratar este processo de
ensino aprendizagem na escola como condição
sine qua non para a apropriação de conceitos
teóricos pelos alunos. Ou seja, para
compreender um conceito, antes é preciso
compreender sua essência. Isso chamou de
pensamento teórico – é o meio para alcançar o
conteúdo, sua relação principal. Este tipo de
pensamento requer que o sujeito (aluno) se
ocupe dos objetos (conteúdos) e fenômenos
num sistema, numa rede de relações comum a
um todo. Porém, o pensamento teórico não é
suficiente... Ele precisa relacionar-se com o
conteúdo sociocultural, mediando à teoria com
a prática conforme a concepção lógica
dialética.
O pensamento teórico também é o tipo
de pensamento presente nos conceitos
científicos. Ao aprenderem um conteúdo novo
ou outro aspecto relevante ao conteúdo, os
alunos devem apropriar-se dele não apenas
como resultado de investigações, mas como
processo de pensamento utilizado para o
conteúdo. Dessa forma, a aprendizagem passa
a ser desenvolvida pelas funções mentais
ligadas ao objeto (conteúdo) que eles ainda
não haviam formado. De acordo com essa
proposta, a organização do ensino, se dá
através da organização da atividade do aluno;
propiciando um caminho para obter as
conclusões necessárias sobre os objetos
(conteúdos) e de seus conceitos.
O ensino focado na formação de
conceitos é a forma de ensino pela qual os
alunos conseguem compreender a origem dos
objetos de conhecimento e estabelecendo uma
aprendizagem – o ensino desenvolvimental.
Para Davydov, o ensino
desenvolvimental mantém a premissa básica
da teoria histórica cultural necessária ao
desenvolvimento humano, seja num processo
interligado aos fatores socioculturais ou a
atividade interna dos indivíduos. Contudo, há o
entendimento de que o conteúdo da atividade
de aprendizagem é importante e necessário
como conhecimento teórico cientifico e,
portanto a base do ensino desenvolvimental é o
conteúdo, de onde se derivam os métodos de
ensino. Mas, de ensinar ao aluno as
competências e habilidades de aprender por si
mesmos.
A partir, de então dar-se-á a relevância
da formação do pensamento teórico científico
através da lógica dialética:
• Integração entre os conteúdos
científicos e o desenvolvimento dos processos
de pensamento;
• Necessária correspondência entre a
análise de conteúdo e os motivos dos alunos
no processo de ensino e aprendizagem. Ou
seja, a análise do conteúdo consiste em
verificar os conceitos, de tal modo que o
professor possa extrair uma estrutura de
tarefas de aprendizagens compatíveis com os
motivos dos alunos;
• Fundamentação teórica dos
professores no conteúdo da disciplina e
também sua didática. Davydov refere-se sobre
um aspecto específico da formação de
professores, sobre o domínio teórico específico
da matéria de ensino.
Na acepção de Davydov o
conhecimento teórico ou pensamento teórico,
refere-se à capacidade de desenvolver uma
relação principal geral que caracteriza um
conteúdo e aplica essa relação para analisar

100 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
outros problemas específicos desse conteúdo.
Esse processo produz um número de
abstrações cuja intenção é integrá-las ou
sintetizá-las como conceitos, segundo Chaiklin
(2003). Essa tarefa depende fortemente da
estrutura da atividade de aprender e da
realização de todos os componentes
mobilizados na prática educativa. Os principais
elementos dessa estruturação são: uma tarefa
de aprendizagem, as ações de aprendizagem e
as ações de controle e de avaliação.
A realização dessas ações pode ser
caracterizada como investigações que os
alunos realizam de forma dirigida e mediada.
Ao complementar as ações, os alunos se
apropriam dos conceitos, o que ocorre quando
são capazes de estabelecer relações entre sua
própria atividade de aprendizagem e os
conceitos que têm estudado.
Outro elemento fundamental na
estrutura da atividade de aprendizagem é o
controle que permite ao aluno manter a
correspondência entre suas ações, expressa
nas tarefas e nos objetivos de aprendizagem. O
controle para Davydov permite ao aluno, ao
mudar a composição operacional das ações,
“[...] descobrir sua relação com umas ou outras
peculiaridades dos dados da tarefa a ser
resolvida e do resultado obtido”. (Davydov,
1988, p.184). Assim, o controle ajuda na
operacionalização da aprendizagem.
Nesse conjunto de elementos, a
avaliação possibilita acompanhar se o aluno
está assimilando o procedimento de solução da
tarefa de aprendizagem e se o resultado das
ações está correspondendo ao objetivo final.
Sendo, a avaliação um instrumento
fundamental, uma vez que informa aos sujeitos
se estão aprendendo determinada tarefa de
aprendizagem e onde se faz necessário
intervir.
Pensar no ensino como atividade que
desenvolve o pensamento teórico, por meio do
domínio dos procedimentos lógicos do
pensamento, implica em fazer com que o
professor compreenda o seu papel, e isso
envolve compromisso político, ético,
profissional, domínio dos conteúdos,
conhecimentos didático-pedagógicos, entre
outros elementos que envolvem a atividade
docente para utilização de um ensino que
impulsione o desenvolvimento cognitivo.
É por isso que a teoria histórico-cultural,
a teoria da atividade e a teoria do ensino
desenvolvimental, vêm sendo difundida como
experimento didático-formativo no processo de
ensino-aprendizagem. Ou seja, uma nova
metodologia de ensino cujo objetivo é intervir
nas ações cognitivas dos alunos que
apresentam dificuldades de aprendizagem no
processo de apropriação do conhecimento, de
modo que os saberes apropriados sejam
mediadores de suas próprias ações mentais
causando as mudanças qualitativas na
aprendizagem.
Sala projeto e a teoria do ensino
desenvolvimental
No enfrentamento, para atender as
necessidades dos alunos com dificuldades de
aprendizagem, são constituídos diversos meios
para explicitar objetivos e processos de
intervenção metodológica e organizativa
referente à Educação, a saber, a Sala Projeto.
Apesar de não regulamentada, a sala projeto
visa o entendimento, global e intencionalmente
dirigido, dos problemas educativos e, para isso
sua importância é legítima e contempla uma
Educação Contemporânea promovida no
ambiente escolar com uma nova organização
de ensino que ofereça condições para a

101 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
formação humana integral, democrática e
inclusiva.
Segundo Libâneo (1.999), “a educação
associa-se, pois a processos de comunicação e
interação pelos quais os membros de uma
sociedade assimilam saberes, habilidades,
técnicas, atitudes, valores existentes no meio
culturalmente organizado e, com isso, ganham
o patamar necessário para produzir outros
saberes, técnicas, valores etc.”
Os resultados obtidos dessa
investigação servem de orientação da ação
educativa, determinam princípios e formas de
atuação, ou seja, dão uma direção de sentido à
atividade de educar. Cabe destacar duas
características fundamentais do ato educativo
intencional: a atividade humana intencional e a
prática social.
Neste contexto, a Sala Projeto introduz
o elemento diferencial nos processos
educativos que se manifestam em situações
históricas e sociais concretas. Constitui-se
através de finalidades sociopolíticas e forma de
intervenção organizativa e metodológica do ato
educativo e com plena legitimidade
configurando o sujeito que se educa, o
educador, o saber e os contextos em que
ocorre.
A partir da constituição da Sala Projeto,
iniciamos a busca de uma prática pedagógica
que concretizasse determinadas expectativas
educacionais solicitando uma intervenção
planejada e cientifica. Uma intervenção
pedagógica como instrumento de emancipação
que considera a práxis como uma forma de
ação reflexiva que pode transformar a teoria
que a determina, bem como transformar a
prática que a concretiza.
Sabe-se que a educação é uma prática
social humana, é um processo histórico cultural
que compreende a teoria do ensino
desenvolvimental como parte integrante do
processo de ensino e aprendizagem aplicado
aos alunos com dificuldade de aprendizagem
da Sala Projeto.
A teoria do ensino desenvolvimental foi
aplicada na Sala Projeto, com o intuito de
contribuir com a prática pedagógica. Na
acepção de Davydov, a forma de propor
aprendizagem pautada na atividade de
aprendizagem com o objetivo de domínio do
conhecimento teórico obtido pela
aprendizagem de conhecimentos comuns a
diversas áreas.
Segundo Davydov (1.988 p.3) a tarefa
da escola contemporânea não consiste em dar
as crianças uma soma de fatos conhecidos,
mas em ensiná-los a orientar-se
independentemente na formação cientifica e
em qualquer outra. Isto significa que a escola
deve ensinar os alunos a pensar, quer dizer,
desenvolver ativamente neles os fundamentos
do pensamento contemporâneo para o qual é
necessário organizar um ensino que impulsione
o desenvolvimento. Chamemos esse ensino de
desenvolvimental.
O processo de desenvolvimento
humano exige concomitante a teoria e a
prática. A atividade prática pensante leva a
apropriação, onde nossa consciência capta e
reproduz o movimento das coisas na situação
real.
Logo, “a criança deve realizar em
relação a elas uma atividade prática ou
cognitiva que seja proporcional
(commensurate) (ainda que não idêntica) à
atividade humana incorporada nelas” (Davydov,
1988.p.23).
Sendo assim, o desenvolvimento das
atividades de ensino na perspectiva
desenvolvimental contribui essencialmente na
Sala Projeto, pois deu condições para que o
aluno com dificuldades de aprendizagem
internalizasse mentalmente e incorporasse no

102 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
seu fazer os conceitos necessários para
solucionar problemas de toda ordem, e que,
mesmo diante de situações imprevistas e
aparentemente novas que acontecem no
cotidiano, passa a desenvolver a habilidade de
organizar mentalmente os conceitos,
informações e saberes necessários para
discernir situações e tomar as decisões mais
acertadas na situação.
Portanto, a teoria do ensino
desenvolvimental propõe um papel ativo dos
sujeitos na aprendizagem, especificamente nas
suas necessidades de desenvolver habilidades
de pensamento e competências cognitivas que
se constituem uma prática educacional
importante na perspectiva do ensino
desenvolvimental, apesar do conceito
fundamental de atividade da psicologia
soviética derivado da dialética materialista. Sua
essência reflete a relação mediatizada no
processo de ensino-aprendizagem como o
diferencial de organização do ensino à Sala
Projeto.
CONSIDERAÇÕES
A forma de recepção das ideias da
teoria histórico-cultural, a teoria do ensino
desenvolvimental como intervenção para a
solução de problemas no processo de ensino-
aprendizagem, assim como a constituição da
sala projeto – é a resposta cabível para
atualização dos currículos.
Com a nova proposta da BNCC, a
teoria desenvolvimental de Vasili. V. Davydov
cria historicamente um enfoque diferencial no
que tange as contribuições, especialmente em
relação aos processos de desenvolvimento e
aprendizagem. Por sua vez, precisamos
compreender melhor e promover a
instrumentalidade dessa organização de ensino
junto à atividade humana, a relação entre a
atividade de ensino, a atividade de
aprendizagem e o desenvolvimento.
Por conseguinte, não podemos deixar
de explicitar a necessidade da regulamentação
da Sala Projeto como intervenção pedagógica,
metodológica e organizativa contra os
problemas educativos emergentes para o
desenvolvimento de uma Educação
Contemporânea.
Entretanto, o grande desafio da
Educação Brasileira é fundamentar uma
educação contemporânea voltada para atender
as necessidades dos seres humanos na
escola, tendo em vista o pleno
desenvolvimento dos indivíduos, enfatizando a
importância da educação nesse processo.
A educação é um fenômeno humano,
social e histórico essencial, que precisa ser
escrito, avaliado e superado. O processo de
ensino-aprendizagem precisa constituir
caminhos que permitem superar obstáculos e
pensar novas e diferentes práticas para se
conduzir no mundo contemporâneo.
Ainda, temos que pensar a educação no
seu momento dialético, conectar as boas
práticas e fortalecer as redes insistindo num
aprendizado mais aberto a elaboração da
história e ao contato com o outro, o diferente. É
a educação humanizada e voltada para a
reconstrução, se sentir parte do processo. Pois,
somente com um processo de desenvolvimento
humano a educação pode ser transformada.
Diante de mudanças qualitativas no
processo ensino-aprendizagem, a teoria
histórico-cultural e a teoria de Davydov podem
organizar o ensino e desenvolver o
conhecimento científico. As contribuições
desse ensino na sala Projeto vêm promovendo
e alinhando o desenvolvimento do pensamento
teórico dos alunos e superando as dificuldades
de aprendizagem.

103 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
O estudo tem o intuito de fornecer
análises e reflexões sobre a organização do
ensino, as expectativas das tarefas de
aprendizagem, a apropriação do conceito de
mediação didática, a formação do pensamento
teórico, na perspectiva histórico-cultural. Pois, a
aprendizagem é um processo complexo e
influenciado por diversos fatores socioculturais.
Contudo, esse entendimento impõe a
necessidade de considerar criticamente o
poder das teorias e metodologias de ensino
para mudar as práticas pedagógicas, sejam em
salas projetos ou regulares. Logo, cabe
reafirmar o principio materialista dialético da
práxis e a ação humana envolvida no processo
de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, o
ensino desenvolvimental de Davydov nos
mostra um aporte didático exclusivo do
contexto e dos sujeitos da pesquisa. Os
significados são construídos, ao longo da
história de vida dos indivíduos, por meio de um
processo de interação com o meio físico e
social. Essa relação propicia a apropriação da
cultura elaborada pelas gerações
subsequentes, fazendo com que o ser humano
não seja só um produto de seu contexto social,
mas, também, um agente ativo na criação da
história.
Todo esse quadro impõe à escola
desafios ao cumprimento do seu papel em
relação à formação das novas gerações. É
importante que a instituição escolar preserve
seu compromisso de estimular a reflexão e a
análise aprofundada e contribua para o
desenvolvimento, no aluno, de uma atitude
crítica em relação ao conteúdo e à sua
multiplicidade.
Contudo, também é imprescindível que a
escola compreenda e incorpore mais as novas
linguagens e seus modos de funcionamento,
desvendando possibilidades no terreno da
teoria histórico-cultural. Ao aproveitar e instituir
novos modos de promover a aprendizagem, a
interação e o compartilhamento de significados
entre os sujeitos.
Além disso, e tendo por base o
compromisso da escola de propiciar uma
formação integral, balizada pelos direitos
humanos e princípios democráticos, é preciso
considerar a necessidade de desnaturalizar
qualquer forma de violência nas sociedades
contemporâneas, incluindo a violência
simbólica de grupos sociais, que impõem
normas, valores e conhecimentos tidos como
universais e que não estabelecem diálogo entre
as diferentes culturas presentes na
comunidade e na escola.
Em todas as etapas de escolarização,
mas de modo especial entre os alunos da Sala
Projeto, esses fatores frequentemente
dificultam a convivência cotidiana e a
aprendizagem, conduzindo ao desinteresse e à
alienação e, não raro, à agressividade e ao
fracasso escolar.
É necessário que escola dialogue com a
diversidade de formação e vivências para
enfrentar com sucesso os desafios de seus
propósitos educativos. A compreensão dos
alunos como sujeitos com histórias e saberes
construídos nas interações com outras
pessoas, tanto do entorno social mais próximo
quanto do universo da cultura, fortalece o
potencial da escola como espaço formador e
orientador para a cidadania consciente, crítica
e participativa.
REFERÊNCIA
BRASIL. Constituição da República
Federativa do Brasil (1988). Brasília,
DF: Senado Federal, 1988. Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/con

104 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
stituicao/constituicaocompilado. htm>.
Acesso em: 23 mar. 2017
BRASIL, Ministério da Educação. Base
Nacional Comum Curricular. Proposta
preliminar. Segunda versão revista.
Brasília: MEC, 2016. Disponível
em‹http://basenacionalcomum.mec.gov.b
r/documentos/bncc-
2versao.revista.pdf›.Acesso em 23mar.
2017.
CHAIKLIN, S. Developmental Teaching in
upper-secondary scholl. In:
Hedegaard, Mariane e Lompscher,
Joachim. Learning activity and
development. Aarhus (Dinamarca):
Aarhus University Press, 1999.
CHARLOT, Bernard. Da relação com o saber:
elementos para uma teoria. Porto
Alegre: Artmed, 2000.
DAVÍDOV, V. V. Tipos de generalización en
la enseñanza. Havana: Pueblo y
educación, 1978.
DAVÍDOV, V. Analisis de los princípios
didacticos de la escuela tradicional y
possibles princípios de enseñanza en
el futuro proximo. In: SHUARE, M. La
Psicologia evolutiva y pedagogia en la
URSS. Antologia. Moscu: Editorial
Progreso, 1987.
DAVÍDOV, V.V. Problems of developmental
teaching – The experience of
theoretical and experimental
psychological research. Soviet
Education, New York, Aug., Sep., Oct.,
1998a.
DAVÍDOV, Vasili. La enseñanza escolar y el
desarrollo psíquico. Prefácio. Moscu:
Editorial Progreso, 1988b.
DAVÍDOV, V.V. A new approach to the
interpretation of activity structure and
Content. In: Hedegaard, M.; Jensen U.
J. Activity theory and social practice:
cultural-historical approaches. Aarhus
(Dinamarca): Aarthus University Press,
1999.
DAVÍDOV, Vasili V. El aporte de A . N.
Leontiev al desarrollo de la psicología.
In: DUARTE, N. Educação Escolar,
teoria do cotidiano e a Escola de
Vigotski. Campinas, SP: Autores
Associados, 1996.
______. Sociedade do conhecimento ou
sociedade de ilusões: quatro ensaios
crítico-dialéticos em Filosofia da
Educação. Campinas: Autores
Associados, 2003a.
ELHAMMOUNI, M. Recepción de Vigotsky en
América Latina. Terreno fértil para una
psicología materialista. In: GOLDER, M
(Org.). Vigotsky, Psicólogo Radical. 1 ed.
Buenos Aires: Ateneo Vigotskiano de la
Argentina, 2001, v. 1, p.51-66.
FREITAS, Raquel A. M. da M. Aprendizagem
e formação de conceitos na teoria de
Vasili Davydov. In: LIBÂNEO, José C.,
SUANNO, Marilza V. LIMONTA, Sandra
V. (orgs). Concepções e práticas de
ensino num mundo em mudança:
diferentes olhares para a didática.
Goiânia:CEPED Publicações, 2011.
GATTI, Bernadete Angelina. A pesquisa e a
didática. In: EGGERT, E. et ali. (Orgs.).
Trajetórias e processos de ensinar e
aprender: didática e formação de
professores. Porto Alegre: EDIPUCRS,
2008. XIV ENDIPE. Anais.
GOLDER, M (Org.). Vigotsky, Psicólogo
Radical. 1 ed. Buenos Aires: Ateneo
Vigotskiano de la Argentina, 2001, v. 1.
______. Angustia por la utopía. Buenos Aires:
Ateneo Vigotskiano de la Argentina,
2002.
______. (Org). Leontiev e a Psicologia
Histórico-Cultural – um homem em

105 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
seu tempo. São Paulo: Grupo de
Estudos e Pesquisa sobre Atividade
Pedagógica; Xamã. 2004.
KOZULIN, Alex. O conceito de atividade na
psicologia soviética: Vygotsky, seus
discípulos, seus críticos. In: DANIELS,
H. (Org.). Uma introdução a Vygotsky.
São Paulo: Loyola, 2002.
LAVILLE. Chistian; DIONNE, Jean. A
construção do saber: manual de
metodologia da pesquisa em ciências
humanas. Trad. Heloísa Monteiro e
Francisco Settineri. Porto Alegre/Belo
Horizonte: Artmed/Editora UFMG, 1999.
LEONTIEV, A. N. Actividad, conciencia,
personalidad. La Habana: Editorial
Pueblo y Educación, 1983.
LIBÂNEO, J. C. Fundamentos teóricos e
práticos do trabalho docente. Estudo
introdutório sobre Pedagogia e
Didática. PUC São Paulo - Faculdade de
Educação. Tese de doutorado, 1990.
LIBÂNEO, José C. Docência universitária:
formação do pensamento teórico-
cienttífico e atuação nos motivos dos
alunos. Ser professor na
contemporaneidade: desafios, ludicidade
e protagonismo. 1.ed. Curitiba: Editora
CRV, 2009.
LIBÂNEO, José C.; FREITAS, R. A. M.M.
Vasily Vasilyevich Davydov: a escola e a
formação do pensamento teórico-
científico. In: LONGAREZI, Andréa
Maturano; PUENTES, Roberto Valdes
(Orgs.). Ensino desenvolvimental: vida,
pensamento e obra dos principais
representantes russos. Uberlândia:
Editora Edufu, 2013, v.1,p. 275-305.
LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Eliza D. A. Pesquisa
em educação: abordagens
qualitativas. São Paulo: EPU,1986.
MARZARI, Marilene. Ensino e aprendizagem
de didática no curso de pedagogia:
contribuições da teoria
desenvolvimental de V. V. Davídov.
2010. Tese (Doutorado em Educação) –
Pontifícia Universidade Católica de
Goiás, Goiânia, 2010.
______ . Didática no curso de pedagogia e
as contribuições da teoria
desenvolvimental de V.V. Davídov.
Revista Panorâmica On-Line. Barra do
Garças – MT, vol 13, p. 27- 40, abr.
2012.
MEIRIEU, P. Aprender... sim, mas como/
Philippe MEIRIEU; trad. Vanise Dresch
– 7. Ed. Porto Alegre: Artes Médicas,
1998.
MOURA, M. O. A atividade de ensino como
ação formadora. In: CASTRO, A. D. de;
CARVALHO, A. M.de. (Orgs.). Ensinar a
ensinar: didática para a escola
fundamental e média. São Paulo:
Pioneira Thomson Learning, 2002.
SAVIANI, N. Saber escolar, currículo e
didática – Problemas da unidade
conteúdo-método no processo
pedagógico. Campinas: Autores
Associados, 1994.
SFORNI, M. S. de F. Aprendizagem
conceitual e organização do ensino:
contribuições da teoria da atividade.
São Paulo: FE/USP, 2003. Tese de
Doutorado.
VYGOTSKY, L. S. A formação social da
mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984.
VYGOTSKY, L.S. Pensamento e Linguagem.
São Paulo: Martins Fontes, 1987.
ZINCHENKO, V. P. A psicologia histórico-
social e a teoria psicológica da
atividade: retrospectos e prospectos.
In:

106 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
WERTSCH, J. V.; DEL RÍO, P.; ALVAREZ, A.
(Orgs.). Estudos socioculturais da
mente. Porto Alegre: Artmed, 1998, p.
41-55.

107 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
A IMPORTÂNCIA DA LEITURA PARA A PRODUÇÃO DE TEXTO
RESUMO
O presente artigo tem como tema: A importância da leitura para a produção de texto. Na atualidade nota-se que a prática da leitura está cada vez mais defasada entre nossos alunos, favorecendo para a predominância de um baixo nível de competência leitora e escritora entre eles. Isso ocorre porque ainda hoje, muitas escolas estão alheias ao comprometimento com a educação. A leitura requer muito mais, logo, nosso objetivo é analisar a contribuição da leitura para o processo de construção do conhecimento e, consequentemente, da produção textual. A metodologia utilizada para a realização do trabalho está alicerçada na pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa. Sendo assim, verificou-se a escola está mais propensa a ensinar a Língua Portuguesa de forma mecânica dando prioridade apenas as regras gramaticais, promovendo o desinteresse do aluno que acaba escrevendo sem técnica e sem finalidade. A partir do exposto, conclui-se que a leitura é fonte de conhecimento, no entanto é preciso ser estimulada pela família e pela escola objetivando a realização de um trabalho mais comprometido que possibilite ao indivíduo a construção de uma bagagem cultural capaz de permitir a construção de textos críticos, claros e coerentes. Palavras-chave: Leitura, Escrita, Produção de texto
THE IMPORTANCE OF READING FOR TEXT PRODUCTION
ABSTRACT
This article has as its theme: The importance of reading for the production of text. At present, it is noticed that the practice of reading is increasingly lagged between our students, favoring the predominance of a low level of reading and writing competence between them. This is because even today, many schools are oblivious to the commitment to education. Reading requires much more, so our aim is to analyze the contribution of reading to the process of knowledge construction and, consequently, textual production. The methodology used to carry out the work is based on bibliographical research with a qualitative approach. Thus, it was verified that the school is more prone to teach the Portuguese language mechanically giving priority only the grammatical rules, promoting the disinterest of the student who ends up writing without technique and without purpose. From the above, it is concluded that reading is a source of knowledge, but it is necessary to be stimulated by the family and the school aiming at a more committed work that enables the individual to build a cultural baggage capable of allowing the construction of clear, coherent texts. Key words: Reading, Writing, Writing
INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como tema: A
importância da leitura para a produção de
texto, cujo objetivo geral é analisar a
contribuição da leitura para o processo de
construção da produção textual. Mediante tal
conjectura, é indispensável entender a
importância do ato de ler e escrever nos
tempos atuais, onde o avanço das ciências da
educação requer uma constante apropriação
do saber para a melhoria e qualidade da
educação, visando sanar certas dificuldades
enfrentadas pelos alunos durante o processo
de aprendizagem.
Com o avanço da globalização e das
novas tecnologias de informação e
comunicação, a apropriação da leitura é uma
ferramenta fundamental para a comunicação e
o diálogo entre as pessoas, contribuindo
significativamente para o desempenho da
competência comunicativa do indivíduo nas
variadas práticas sociais e profissionais do seu
cotidiano, pois “[...] ao ler, o ser humano
Silva, Mª de Lourdes Aleixo Mendonça da

108 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
apodera-se dos conhecimentos registrados nos
textos escritos; sendo assim, quanto mais o
sujeito ler maior será a sua capacidade de
articulação linguística com o mundo que o
rodeia [...]”. (ROSSI, 2015, p. 13).
No entanto, apesar dos avanços
requererem a formação integral do sujeito,
ainda existe uma grande parcela da população
brasileira vivendo à margem da sociedade. São
pessoas alienadas, sem instrução e com um
baixo nível de competência leitora, insuficiente
para estabelecer um diálogo ou uma discussão
sobre temas tão relevantes para a sociedade e
que diz respeito a si mesmo.
No âmbito escolar, não é diferente.
Muitos educando demonstram sua insegurança
na comunicação com o outro. Para eles, a
leitura é uma atividade defasada, por isso,
ainda há em plena era da comunicação um
grande índice de deficiências em seu
desempenho linguístico, pois eles não
conseguem expressar suas próprias ideias,
seus pensamentos e pontos de vistas, e
apresentam uma grande incapacidade de ler,
articular e organizar o pensamento e,
consequentemente, apropriar-se do saber para
a escrita.
Diante disso, ressalta-se que a
metodologia do trabalho está alicerçada na
pesquisa bibliográfica com abordagem
qualitativa, tendo como fontes a pesquisa em
artigos acadêmicos, teses de mestrado, livros e
em conversas com profissionais da área da
educação, buscando fazer um levantamento
das principais questões que envolvem o
processo de leitura e escrita.
Ler é uma habilidade fundamental para
a boa escrita. Ela garante a boa informação,
possibilita a construção de novos
conhecimentos, proporciona o diálogo e a troca
de informações entre os sujeitos, constrói
significados, fornece subsídios para o bom
diálogo e a boa comunicação, além de
contribuir para a produção do conhecimento e
inserir o homem ao mundo letrado. Aquele que
não lê, de fato está propenso a viver à margem
da sociedade e alienado do mundo multicultural
em que vivemos.
O artigo está organizado com quatro
títulos. O primeiro faz uma síntese sobre a
importância do ato de ler e escrever,
habilidades fundamentais para a construção do
conhecimento e a inserção do homem ao
mundo letrado. O segundo apresenta, um
histórico dos fatores que interferem no
processo de leitura e escrita dificultando a
processo de ensino-aprendizagem. O terceiro
expõe a formação docente, dando ênfase na
qualificação do professor para atuar frente aos
fatores que interferem na construção de
habilidades e competências que envolvem o
processo de leitura. E o quarto e último título
apresenta as contribuições que a leitura
oferece para a construção de uma boa
produção textual. Encerra-se o artigo com as
considerações finais e referências.
O ato de ler e escrever
Segundo SENNA (2015, p. 136) a
leitura é uma “[...] atividade cognitiva por
excelência, a qual se envolve não somente sua
natureza cognitiva, mas também os aspectos
linguísticos e socioculturais”, que permitem a
construção dos sentidos. Portanto, a leitura,
acessa a memória, a apropriação da
informação, o domínio da linguagem e o
conhecimento de mundo, fatores que se tornam
elementos primordiais para o enriquecimento
da escrita, e isso se esclarece nas palavras de
GERALDI (2003, p. 4) quando ressalta que “[...]
o texto deve servir de pretexto para a prática de
produção de textos orais ou escritos”.

109 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
O ato de ler favorece o ato de escrever,
tornando-se alicerce fundamental para a
construção do conhecimento e fator importante
para a formação do leitor/escritor
contemporâneo, pois “[...] a priori, então, não
se chega a escrita sem a leitura, e a leitura, por
sua vez, não é realizada, sem a fala. Trata-se
de um sistema interligado” (ROSSI, 2015, p.
76). Sendo assim, observa-se que a leitura
favorece para a formação do senso crítico e
para o amadurecimento das ideias, pois
querendo ou não todos os indivíduos estão
imersos ao mundo letrado, onde a importância
do ato de ler e escrever tornam-se habilidades
imprescindíveis para a construção do saber.
Sendo assim, pode-se dizer que a
leitura favorece a escrita, e está é capaz de
reproduzir por escrito as informações obtidas
na leitura com o propósito de produção textual,
ao produzir textos bem estruturados que
possam atingir as expectativas do bom leitor. A
leitura e a escrita são o fundamento da
linguagem comunicativa, são habilidades de
extrema importância para a formação do
leitor/escritor contemporâneo, aquele que se
utiliza da leitura para aperfeiçoar sua escrita na
produção de textos com mais conteúdos, com
mais criticidade e coerência.
Leitura e escrita são modalidades da
linguagem verbal explícitas no dia-a-dia das
pessoas, são os verdadeiros pilares do ensino
de língua portuguesa que permitem a
participação do homem no mundo, tornando-se
em ações permanentes que se complementam
e ampliam o processo de interação da
linguagem e do conhecimento. Sendo assim,
são habilidades que merecem serem
trabalhadas com especial atenção, pois não
basta apenas ensinar o aluno a ler e escrever,
é preciso mediar o conhecimento para que o
aluno obtenha a compreensão daquilo que se
lê e se escreve, pois o ato de ler “[...] implica
sempre percepção crítica, interpretação e “re-
escrita” do lido [...]”. (FREIRE, 2006, p. 14).
[...] não basta a alfabetização para que os alunos se tornem leitores, pois decodificar textos não significa lê-los: é necessário que haja, de fato, o letramento, ou seja, o processo de ler deve fazer com que os alunos assimilem o conhecimento a sua volta, como seres sociais que são, fazendo inferências e levantando hipóteses. (SANTOS, 2012, p. 40).
Salienta-se então, que não basta ler o
enunciado, é preciso entender o que se lê,
compreendendo o sentido do texto para a
garantia bem estruturada, clara e concisa, que
atinjam as expectativas do leitor, pois “[...] ao
ler, o ser humano apodera-se dos
conhecimentos registrados nos textos escritos;
sendo assim, quanto mais o sujeito ler, maior
será a sua capacidade de articulação
linguística com o mundo que o rodeia [...]”.
(ROSSI, 2015, p. 163).
A leitura, facilita a organização do
pensamento, levando o leitor a fazer ilações
necessárias para a sua compreensão. Dessa
forma, o sujeito leitor é capaz de ler, reler,
construir e escrever a partir das leituras que
realiza, e das experiências do seu próprio
contexto, do seu próprio cotidiano,
conquistando uma gama de informações, para
com destreza, dialogar e interagir por meio da
fala e da escrita, pois para ROSSI (2015, p. 75)
“O ensino da escrita, para ter sentido de fato,
não pode ser realizado de modo isolado, sem
ser contextualizado com a vivência de mundo
do aluno”.
Em cada leitura, o leitor mobiliza sua biblioteca interna, ou seja, todos os livros lidos/vividos anteriormente, dialogando com eles e com o contexto de sua produção e circulação. Numa sociedade grafocêntrica, ler assa a

110 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
ser índice de relevante posição social. (PAULINO, 2001, p. 24).
Corroborando com a ideia,
ZILBERMAN (1988, p.13) reforça que:
A aprendizagem da leitura constitui uma tarefa permanente que se enriquece com novas habilidades na medida em que se manejam adequadamente estes textos cada vez mais complexos. Por isso, a aprendizagem da leitura não se restringe ao primeiro ano de vida escolar. Atualmente, sabe-se que aprender a ler é um processo que se desenvolve ao longo de toda a escolaridade e de toda a vida.
RIBEIRO (2012, p. 71), ressalta que “A
leitura é o ato de poder perceber o mundo,
conhecer e compreender seu entorno social. O
homem precisa ser motivado a ler o mundo; a
partir daí, ele se motivará a fazer uso da leitura
e da escrita para viver melhor num universo
onde conhecerá cada vez mais”. O ato de ler e
escrever, incentivado dentro e fora da escola,
contribui para o desenvolvimento do aluno,
permitindo uma aprendizagem autônoma que
lhe sirva para a vida. Nesse viés, TIEPOLO
(2014, p. 104), complementa que “Ler é muito
mais do que juntar letras em palavras, frases e
parágrafos. É perceber que em todo o texto há
alguém, em um determinado tempo e lugar,
que expressa suas visões de mundo”.
Diante disso, ressalta-se que a leitura
desenvolve a criatividade, a imaginação, o
pensamento e as ideias, permitindo com que o
leitor amplie seus conhecimentos e adquira
com precisão, novas informações e um
vocabulário que lhe permita a construção de
uma boa escrita. Esta, por sua vez, tem grande
importância nas relações sociais. Quem ler
com fluência e compreensão está mais propício
a escrever bem, colocando no papel, textos
claros, concisos e bem estruturados, pois a
leitura é a base para a escrita e ambas se
complementam proporcionando a construção
do conhecimento e a inserção do homem na
cultura letrada da sociedade. Segundo os
Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua
Portuguesa:
O trabalho com a leitura tem como finalidade a formação de leitores competentes e, consequentemente a formação de escritores competentes, pois a possibilidade de produzir textos eficazes tem sua origem na prática da leitura, espaço de construção da intertextualidade e fonte de referências modelizadoras. A leitura, por um lado, nos fornece a matéria-prima para a escrita: o que escrever. Por outro lado, contribui para a constituição de modelos: como escrever. (BRASIL, 1997, p 53).
Diante disso, percebe-se que a escrita
requer leitura e releitura visando a organização
e a compreensão do texto pelo sujeito que ler.
Nesse sentido, é de suma importante que a
escola adquira a constante utilização da leitura
e escrita em suas práticas pedagógicas com os
alunos, visando aperfeiçoar as habilidades e
competências que envolvem essas ações, com
vistas a sanar as dificuldades apresentadas
quanto ao domínio da leitura e escrita,
habilidades tão necessárias para o processo
comunicativo entre a pessoas e para o
exercício da cidadania.
O domínio da língua, oral e escrita, é fundamental para a participação social e efetiva, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento. (BRASIL, 1997, p. 15).
A leitura é fonte de saber, é deve ser
sempre estimulada para que os alunos
adquiram o seu domínio e aprendam a se

111 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
expressar, seja de forma oral ou escrita. Pois
só assim, os indivíduos se apropriarão de um
arcabouço teórico para dialogar, se comunicar
e projetar mudanças onde todos possam ter
vez e voz, interagindo entre si e com o mundo
através da leitura e escrita, pois o processo de
leitura tem grande relevância na aprendizagem
do indivíduo, pois é através da apropriação
dessas aptidões que o homem é inserido na
cultura letrada, apropriando-se de um mundo
amplo de conhecimentos e significados.
Fatores que interferem no processo da
leitura e escrita
Trabalhar o processo de leitura e
escrita não é uma tarefa fácil. Esse trabalho
requer habilidade, reflexão e compromisso de
todos os atores que fazem parte do processo
de ensino-aprendizagem, pois essas
habilidades se estendem por toda a vida do
indivíduo, exercendo um papel fundamental em
sua formação, isso porque a fala e a escrita
são essenciais para o pensamento humano,
associado ao espaço da troca de experiências
e do diálogo, os quais também são válidos,
importantes e necessários para o seu
desenvolvimento. Na atualidade, percebe-se
ainda um número extremamente enorme de
pessoas analfabetas, que não tem o domínio
do saber sistematizado, não sabem interagir
com as informações do dia-a-dia, ficando
alienada e excluída do mundo letrado e,
consequentemente, da sociedade onde vive.
Aquele que não saber ler não tem acesso aos diplomas, nem ao poderoso mundo das informações [...]. Vive, assim, à margem de nossa sociedade e tudo aquilo que ela oferece por meio da escrita. [...] Saber ler, apropriar-se da escrita, não torna uma pessoa mais inteligente ou mais humana, não lhe concede virtudes ou
qualidades, mas lhe dá o acesso a uma ferramenta poderosa para construir, negociar e interpretar a vida e o mundo em que vive. (COSSON, 2014, p. 33).
A leitura e a escrita são o ponto de
acesso para a apropriação dos saberes; são
ferramentas facilitadoras da comunicação do
homem na sociedade. No entanto, percebe-se
que por trás disso, há inúmeros fatores que
interferem e dificultam a aquisição do processo
de leitura e escrita por crianças, jovens e
adultos. Dentre esses fatores encaixam-se a
desestrutura familiar em todos os seus
aspectos, a escola, os fatores psicológicos e
emocionais, e os problemas de ordem
socioeconômica e culturais, ente outros, todos
capazes de bloquear a criatividade e o estímulo
tanto de quem aprende, quanto de quem
ensina.
A Família
A insuficiência do apoio familiar na
aprendizagem do aluno é o primeiro problema
que a criança enfrenta durante a sua trajetória
escolar. Essa ausência muitas vezes está
associada ao analfabetismo que perpassa por
toda a família e às questões de ordem
financeiras que desestabilizam esse espaço
social, fazendo com que esta, não contribua
significativamente na formação do aluno. Sabe-
se que a família é a primeira instituição social
que está em constante contato com a criança,
servindo de modelo para a construção de
valores, formação da personalidade e do
caráter, sendo assim, é primeiramente no lar
que ela deve ter o contato com a leitura e a
escrita, aprendendo a valorizar essas ações
que darão subsídios para a sua vida futura.
[...] a criança para aprender o sistema de escrita, dependeria de estímulos externos

112 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
cuidadosamente selecionados ou artificialmente construídos – e sempre com o mesmo objetivo – o domínio desse sistema considerado condição e pré-requisito para que a criança desenvolvesse habilidades do uso leitura e da escrita. (SOARES, 2000, p. 20-21).
No entanto, é importante considerar
que os problemas internos da família são
pontos significativos que influenciam na
formação e no desenvolvimento da criança,
contribuindo para a práticas de atitudes e
ações que podem atrapalhar o seu processo de
aprendizagem. Para a criança, a família é o seu
esteio, o seu modelo de vida, sendo assim,
precisa exercer o seu papel de
acompanhamento, fortalecendo o compromisso
com a educação em busca da formação
integral da criança, pois ela evolui o seu
desenvolvimento com ampla facilidade e
rapidez quando percebe que a família
acompanha e valoriza o seu aprendizado.
A Escola
Outro fator que interfere no processo
de aquisição da leitura e escrita é as vezes
gerado dentro da própria escola. Isso é muitas
vezes, nitidamente percebido quando se
observa o despreparo de professores utilizando
metodologias ultrapassadas, ensinadas de
forma mecânica que dificultam o aprendizado
e, consequentemente, a apropriação do saber;
a falta de qualificação e formação para o
letramento; a falta de apoio técnico e
pedagógico; as condições precárias de trabalho
que o professor se depara no ambiente escolar;
e tudo isso, associado à falta de interesse e
atenção do próprio aluno.
Todos esses problemas são fatores
que contribuem para o agravamento das
dificuldades no processo de ensino-
aprendizagem da leitura e escrita no contexto
escolar que por ventura, prejudicam a criança
em alguma área do seu desenvolvimento. Com
isso, a criança passa a não confiar mais em si
mesma, nem na própria família e nem nos
adultos que o cercam, e assim, a sua relação
com seus pais e professores vai sendo
disfarçada, camuflada, interrompida e o
problema esquecido, sem o devido
questionamento de determinadas situações.
[...] Falta programação, falta tempo para isso. Quase sempre, o programa de gramática ocupa esse tempo. Faltam condições de trabalho para os professores, com salas superlotadas e desconfortáveis, sem clima de concentração e de trabalho assistido. Faltam professores, eles mesmos, com essa competência de escrita desenvolvidas ou em desenvolvimento, capazes de ensinar o “caminho”, pelo qual eles já passaram e passam todos os dias. (COELHO; PALOMANES, 2016, p. 19).
Essa falta de tempo, de compromisso,
de condições, de formação de professores e a
falta de ensino sistematizado oferecido pela
escola fazem com que os conteúdos que
envolvem a prática da leitura e escrita não
sejam bem explorados ou trabalhados pelo
professor, e isso de fato, faz com que os alunos
percam o interesse e o gosto pela leitura e
escrita, vendo-as como algo ineficaz, sem valor
e uma atividade enfadonha.
Fatores Psicológicos e Emocionais
Os fatores psicológicos e emocionais
também são situações que desestabilizam o
processo de ensino-aprendizagem da leitura e
escrita. Muitos problemas ocorridos na própria
família ocasionam a carência psíquica gerada
pela relação familiar incapaz de realizar o seu

113 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
papel social colaborando para que haja o
desinteresse escolar na criança e o surgimento
do desinteresse pelo estudo.
Além disso, os distúrbios como a
hiperatividade, os problemas visuais, auditivos,
os déficits de aprendizagem e outros, também
proporcionam o desanimo e o desinteresse que
os levam ao fracasso escolar.
Fatores de ordem socioeconômicos e
culturais
Os fatores de ordem socioeconômicos
e culturais também são problemas que
desencadeiam o desinteresse pela
aprendizagem. O desemprego, a pobreza, a
falta de recurso para o sustento da família,
associados a raça, cor, sexo, idade, deficiência,
ocasionam a desigualdade e a exclusão social
de muitas crianças pobres e carentes.
Todos os fatores de indiferença,
desigualdade e injustiça, acometidos na família,
na escola e em outros ambientes sociais
sempre vão ocasionar em algum tipo de
problema para a criança. Por menor que seja
esse problema, ele vai sempre refletir na escola
prejudicando o processo de ensino-
aprendizagem da criança, como também leva-
lo ao desinteresse, desânimo, ao fracasso e a
evasão escolar.
Infelizmente, o processo de aquisição
da leitura e escrita está galgado de problemas
que precisam de um olhar mais atencioso, e
serem encarados como desafios pela família e
pela escola, onde o aluno possa ter a
oportunidade de ser uma pessoa independente,
capaz de interagir e transformar a sociedade
em que vive a partir dos conhecimentos
adquiridos. Nesse sentido BOZZA (2003, p.
371), ressalta que:
Se o homem se constitui via linguagem, a escrita também é responsável por essa constituição. Se considerarmos o signo como combustível do cérebro, a aquisição de um sistema de signos amplia imensamente a capacidade intelectiva do aprendente. Se a escrita é uma das principais chaves para a aquisição do conhecimento, ensinar a ler e escrever significa promover inserção social. Logo, o ato de ensinar a ler e escrever implica num ato eminentemente político.
As dificuldades, os problemas e os
fatores que interferem para o aprendizado da
leitura e escrita ainda persistem desde longos
séculos. No entanto, é preciso promover tanto
no âmbito familiar, quanto no âmbito escolar,
situações que fortaleçam a apropriação do ler e
escrever como práticas sociais de sustentação
para a aprendizagem dos alunos, objetivando o
seu crescimento pessoal e profissional.
Portanto, a leitura e a escrita são atividades
muito complexas que requerem domínio,
resignação, tolerância e responsabilidades
entre todos os envolvidos no processo de
aquisição da leitura e escrita.
A formação docente no processo ensino-
aprendizagem da leitura
A formação docente diz respeito à
qualificação do professor, cuja qualidade dos
conhecimentos possibilita inovar as práticas
educacionais docente no ensino da leitura.
Essa formação tem a finalidade de
proporcionar aos professores uma atualização
de suas práticas pedagógicas que garantam a
melhoria do seu trabalho no contexto escolar.
Portanto, a qualificação profissional objetiva
dotar os profissionais da educação de
conhecimentos e qualidades para o
desenvolvimento de sua prática pedagógica
dentro da escola.

114 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
Tal formação tem como objetivo
principal o preparo do professor para atuar
frente as demandas do público escolar,
permitindo ao professor analisar, refletir e
entender a partir das experiências e situações
vividas na escola, as dificuldades que seus
alunos têm no processo de aquisição da leitura
e construção de textos. Nesse contexto,
GASBARRO (2007, p. 6) ressalta que a
formação docente deve:
[...] se dá nos cursos iniciais de formação, no cotidiano da sala de aula, na interação com as crianças, nos cursos de especialização de maior ou menor duração e na troca de experiência com seus pares, colegas de profissão e com as famílias das crianças. No que se refere à formação do professor, toda experiência é válida e merece consideração, seja dentro ou fora do ambiente escolar, seja teórica ou prática, já que as duas caminham sempre juntas. Importar-se com a contínua formação dos profissionais da educação é importar-se com as melhoras na qualidade do trabalho no ambiente educativo desse nível de ensino, uma vez que um professor reflexivo imprimirá intencionalidade ao seu trabalho. Antes de toda proposta de atividade ele fará uma análise sobre sua clientela e os motivos pelos quais acredita que aquele conteúdo será importante para ela.
Kleiman (apud MAGALHÃES, 2001, p.
245), complementa dizendo que: “[...] o modelo
reflexivo objetiva favorecer situações nas quais
o professor tenha a oportunidade de se
distanciar de sua prática para refletir sobre o
processo de ensino-aprendizagem e repensar a
prática e seus conceitos subjacentes”. Sendo
assim, é importante que o professor repense e
reveja a sua prática pedagógica tendo como
resultado a aprendizagem do aluno frente aos
conhecimentos de leitura e escrita, habilidades
primordiais para a sua atuação dentro da
sociedade onde está inserido.
O mundo globalizado e informatizado
requer profissionais formados e bem
capacitados, sendo assim, a qualificação do
professor é um grande avanço para a
qualidade do processo de ensino-
aprendizagem, pois na atual Lei de Diretrizes e
Bases da Educação – LDB nº 9.394/96, em seu
Título VI, é cobrado dos profissionais da
educação, a formação em nível superior para
atuar na educação infantil, como também nos
anos iniciais do ensino fundamental, com
formação mínima para o exercício do
magistério, visando a melhoria do nível
profissional de todos os educadores.
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. (LDB, 2017, p.42).
Nesse diapasão, WINTER (2017, p.
145-146) comenta que a formação do professor
deve ser sempre contínua emergindo “[...] das
questões contemporâneas e dos problemas
educacionais que invadem as escolas e as
salas de aula, exigindo que professores
invistam em atualizações pedagógicas”. A
formação e capacitação do professor deve
estar sempre progredindo, pois sua formação
refletirá na sua prática pedagógica e
consequentemente na qualidade dos
resultados obtidos.
Ensinar a ler e escrever são ações que
requerem a constante atuação do professor. No
entanto, ele precisa estar sempre em contato

115 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
com informações novas e atualizadas para
desenvolver uma prática pedagógica de
qualidade. Além disso, o professor precisa ser
ousado implementando em seu currículo
práticas metodológicas capazes de garantir o
aprendizado da leitura e escrita para que todos
os seus alunos possam ser cidadãos atuantes
na sociedade, pois segundo FREIRE (2006, p.
71) desde a infância “[...] aprendemos a
entender o mundo que nos rodeia. Por isso,
antes mesmo de aprender a ler e escrever
palavras e frases, já estamos “lendo”, bem ou
mal, o mundo que nos cercam. Mas este
conhecimento que ganhamos de nossa prática
não basta. Precisamos ir além dele”.
As contribuições da leitura para a
produção textual
O desenvolvimento das capacidades
de ler e escrever precisam ser estimuladas
dentro e fora do espaço escolar, pois em todas
as situações da vida cotidiana, o indivíduo está
sempre em contato com a leitura e a escrita e,
interagem com elas sem se dar conta de tal
fato.
A leitura proporciona a descoberta do
novo, garantindo ao indivíduo que lê uma gama
de informações necessárias para a
comunicação. Aquele que lê, tem mais
oportunidade de conhecer o mundo e todos os
conhecimentos acumulados pela humanidade.
Nesse sentido, é conveniente dizer que a
leitura é o aprimoramento do senso crítico, pois
possibilita ao sujeito que lê a atribuição de
significados ao texto lido, ampliando dessa
forma a sua visão de mundo para agir com
autonomia na sociedade em que está inserido.
Segundo os PCNs, o ensino de Língua
Portuguesa deve “valorizar a leitura como fonte
de informação, via de acesso aos mundos
criados pela literatura e possibilidade de fruição
estética, sendo capaz de recorrer aos materiais
escritos em função de diferentes objetivos”.
(BRASIL. 1998, p. 33).
Aprender a ler exige desafios, pois o
homem vive em uma cultura letrada e precisa
interagir com ela para garantir a sua
sobrevivência, dessa forma, é impossível viver
alienado diante de tantos avanços ao seu redor
e diante disso, COSTA (2017, p. 51) enfatiza
que a leitura “é uma prática libertadora ao
permitir ao indivíduo o acesso ao mundo das
palavras e a outros universos de saber”.
Nesse viés, é importante salientar que
a leitura contribui significativamente para a
produção do conhecimento e para o
aprimoramento da escrita, pois ela ativa as
funções intelectuais e cognitivas do cérebro
para deixar fluir a imaginação, o pensamento e
as ideias. Sendo assim, é imprescindível que a
escola seja mais compromissada com a
formação do aluno e ofereça condições e
espaço para que se resgate no indivíduo o
gosto pela leitura, pois aquele que lê tem a
oportunidade de fazer parte da construção do
seu próprio conhecimento, acumulando uma
bagagem cultural que será fundamental para a
formação do ser cidadão.
O compromisso de ensinar a ler e escrever na escola constitui-se em um meio e uma meta para todos os educandos. Meta porque alfabetizar é uma atribuição formal da escola. Meio porque, sem o domínio da leitura e escrita, nossos alunos ficariam à margem dos propósitos educativos mais amplos; entre eles, o de participar efetivamente de muitas práticas sociais de comunicação. (COLLELO, 2011, p. 11).
Aqui, o papel do professor, dentro do
espaço escolar, fará a diferença na formação
do aluno, pois ele terá a oportunidade de
estimular nesse aluno o gosto pela leitura,

116 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
fomentando situações que possam contribuir
para a sua formação leitora/escritora, e a partir
daí, tornar-se um ser crítico e atuante na
sociedade. BELTER (2014, p. 27) esclarece
que o “papel do professor requer a capacidade
de ser criativo e flexível, combinando métodos
e procedimentos para possibilitar o
aprendizado dos alunos”. No entanto, os
Parâmetros Curriculares Nacionais ressaltam
que:
Não se formam bons leitores oferecendo materiais de leitura empobrecidos, justamente no momento em que as crianças são iniciadas no mundo da escrita. As pessoas aprendem a gostar de ler quando, de alguma forma, a qualidade de suas vidas melhora com a leitura”. (BRASIL, 1997, p. 36).
É preciso que o professor domine os
conteúdos necessários ao processo de ensino-
aprendizagem que envolvem as habilidades do
ler e escrever, objetivando criar em seus alunos
o hábito da leitura para a boa escrita, fontes de
saber que viabilizam a compreensão do outro e
do mundo. Para fortalecer tais objetivos, o
trabalho com os gêneros textuais e a utilização
de recursos tecnológicos são instrumentos que
contribuem significativamente para a conquista
de habilidades e competências necessárias a
formação do cidadão. Corroborando com essa
ideia CARVALHO (2010, p. 15) ressalta que:
[...] apresentar uma ampla variedade de textos é favorecer um mergulho no mundo da escrita, com a exploração de mil e uma possibilidades. [...] Para formar indivíduos letrados, não apenas alfabetizados, o repertório e as situações de leitura, tanto das crianças quanto dos jovens e adultos, precisa ser ampliado para conter diversos tipos de textos que circulam intensamente na vida social.
Segundo os PCNs:
Os textos a serem selecionados são aqueles que, por suas características e usos, podem favorecer a reflexão crítica, o exercício de formas de pensamento mais elaboradas e abstratas, bem como a fruição estética dos usos artísticos da linguagem, ou seja, os mais vitais para a plena participação numa sociedade letrada. (BRASIL, 1998, p. 24).
A contribuição da leitura para a
produção escrita pode ser desenvolvida a partir
de estratégias produtivas que possam
aprimorar o conhecimento do indivíduo e inseri-
lo no convívio social com a finalidade de fazê-lo
exercer a sua cidadania. No entanto, é preciso
que a família e também a sociedade possam
colaborar com a escola no sentido de contribuir
para que se resgate no indivíduo o gosto pela
leitura, oferecendo tempo, espaço e todos os
aparatos que o indivíduo necessite para a
apropriação das habilidades e competências
que darão significado ao seu saber e a sua
posição no mundo, e a partir da diversidade de
informações será possível a sua interação no
mundo com o propósito de transformá-lo
conforme as suas necessidades vitais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante o exposto, é possível perceber
que a leitura é uma ferramenta indispensável
para a construção do conhecimento, servindo
de alicerce para o fortalecimento da
comunicação/diálogo entre os homens e,
consequentemente, fonte de interação para a
escrita, pois é a partir da leitura que o aluno
ampliará a sua visão de mundo, tornando-se
um ser crítico e reflexivo pronto para atuar com
mais firmeza e autonomia.

117 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
É fato que as interferências que
assolam o processo de ensino-aprendizagem
sempre irão existir, pois na escola, vivencia-se
a cada dia as carências expostas pelos alunos
que vão desde a ausência da família,
ocasionada por diversos aspectos que
envolvem as questões sociais, emocionais,
econômicos, entre outros, até os problemas de
ordem escolar, ocasionadas pelo despreparo
do professor, a metodologia mecânica e
defasada, a ausência de formação continuada,
a falta de apoio técnico e pedagógico, enfim,
tudo isso causa frustração e desinteresse que
levam o aluno ao fracasso e a evasão escolar.
A leitura é fonte de conhecimento e sua
prática é o principal fator para que os alunos
sejam capazes de produzir textos com mais
qualidade, críticos e coerentes. No entanto, a
leitura precisa ser estimulada pela família e
pela escola objetivando a realização de um
trabalho mais comprometido que possibilite ao
aluno a construção de uma bagagem cultural
capaz de permitir a construção do
conhecimento.
É claro que as dificuldades sempre irão
existir, no entanto, é imprescindível a busca de
soluções para sanar as defasagens existentes.
Os desafios são muitos, porém é
verdadeiramente oportuno e eficaz resgatar o
valor da leitura e compreender a sua
importância e contribuição para a
transformação de um mundo melhor. Para isso
é preciso que a escola busque parcerias com a
família do aluno visando uma atuação com
mais propriedade em sua vida escolar, além de
providenciar para a utilização de uma prática
pedagógica mais atrativa e atrelada ao
cotidiano do aluno que permita a valorização do
seu conhecimento, para que a aprendizagem
da leitura se torne mais significativa em seu
processo de formação.
REFERÊNCIAS
BELTHER, J. (2014). Didática I. São Paulo: Pearson Education do Brasil.
BOZZA, Sandra. Letramento uma questão de vida. In: Jornada de Educação Norte Nordeste, 8ª, 2003, Fortaleza. Temas em Educação II. Futuro Congresso e Eventos, São Paulo, 2003.
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental (1997). Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa. Brasília: MEC/SEF.
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental (1998). Parâmetros Curriculares Nacionais: 3º e 4º ciclos do ensino fundamental: Língua Portuguesa. Brasília: MEC/SEF.
CARVALHO, M. (2010). Guia prático do alfabetizador. São Paulo: Ática.
COELHO, F. A.; PALOANES, R. (orgs). (2016). Ensino de produção textual. São Paulo: Contexto.
COLELLO, S. M. G. (2011). Textos em contextos. 2ª. ed. São Paulo: Sammus.
COSSON, R. (2014). Círculos de leitura e letramento literário. São Paulo: Contexto.
COSTA, A. C. [et.al.] (2017). Linguística textual e ensino. São Paulo: Contexto.
FREIRE, P. (2006). A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 48. ed. São Paulo: Cortez.
GASBARRO, Ana Lúcia Marques. (2007). Estrutura e Organização da Escola de Educação Infantil. São Paulo: Editora Sol.
GERALDI, J. W. (org) (2006). O texto na sala de aula. 4ª. ed. São Paulo: Ática.
LBD: Lei de diretrizes e bases da educação nacional (2017). Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas. Disponível em: <http//www2.senado.leg.br/bdsf//bitstream/handle/id/.../lei_de_diretrizes_e_bases_1edpdf>. Acesso em: 02 de mai de 2018.
MAGALHÃES, L.M. (2001). Modelos de educação continuada: os diferentes sentidos da formação reflexiva do professor. In: KLEIMAN, A.B (org). A formação do professor: perspectivas da linguística aplicada. Campinas- SP: Mercado de Letras.
PAULINO, G. et.al. (2001). Tipos de texto, modos de leitura. Belo Horizonte: Formato.
RIBEIRO, M. A. de P. (2012). Técnicas de aprender: conteúdos e habilidades. Petrópolis, RJ: Vozes.
ROSSI, A. (2015). Linguística textual e ensino de Língua Portuguesa. Curitiba: InterSaberes.
SANTOS, L. W. (2012). Análise e produção de texto. 1ª. ed. São Paulo: Contexto.

118 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
SENNNA, L. A. (2015). Literatura, expressões culturais e formação de leitores na educação básica. Curitiba: InterSaberes.
SOARES, M. (2000). Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.
TIEPOLO, E. V. (2014). Falar, ler e escrever na escola: práticas metodológicas para o ensino de Língua Portuguesa. Curitiba: InterSaberes.
WINTER, E. M. (2017). Didática e os caminhos da docência. Curitiba: InterSaberes.
ZILBERMAN, Regina. (org) Leitura Perspectivas Interdisciplinares. São Paulo, Editora Ática, 1998

119 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)

120 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
CURSO TÉCNICO EM COMPOSIÇÃO E ARRANJO DO CONSERVATÓRIO PERNAMBUCANO DE MÚSICA: CARACTERÍSTICAS E RELEVÂNCIA.
RESUMO O presente artigo tem por objetivo demonstrar a importância que tem o Curso Técnico em Composição e Arranjo do Conservatório Pernambucano de Música e o respaldo que ele possui perante as Leis que fundamentam e justificam o funcionamento do Curso. A metodologia utilizada foi o levantamento dos documentos, leis, pareceres e resoluções que demonstra o firme fundamento curso. Mostra de maneira impar a importância de ser ter um curso deste no meio pernambucano, onde a cultural é um forte elemento a ser cultivado e preservado para as futuras gerações. Além de procurar incentivar outros a trilhar este caminho tão amplo de atuação, outras perspectivas e olhares não foram abordados, nem discutidos, fica aqui a esperança que outros possam refletir e desenvolvem o(s) tema(s) aqui abordados no futuro. Palavras Chaves: Composição e Arranjo; Conservatório Pernambucano de Música; Educação Musical, Lei n° 9.394/96, Lei n° 3.857/08.
CURSO TÉCNICO EN COMPOSICIÓN Y ARRANJO DEL CONSERVATORIO PERNAMBUCANO DE MÚSICA: CARACTERÍSTICAS Y RELEVANCIA.
ABSTRACT
The purpose of this articles is to show the importance of the Techinical Course in Composition and Arrangement in Pernambuco Music Conservatory and the support it holds before the laws that underlie and justify its operation. The methodology used was collecttion of documents, legislation, reports and resolutions manifesting the course´s firm foundation. Revealing to future generations unique relevance on having such sort of course in Pernambuco society, whereculture is to be cultivated and preserved. Beyond encouraging others to walk this broad filed of activity, but to see through distinctive perspectives which were not yet addressed, nor discussed; hoping that in the future the themes here may be futher examined and developed. Keywords: Composition and Arrangement; Pernambuco Music Conservatory; Musical Education, Law n°9.394/96, Law n° 3.857/08.
INTRODUÇÃO
O presente artigo nasce da pesquisa
realizada no âmbito da Instituição
Conservatório Pernambucano de Música
(CPM), com o fim de expor o curso mais
recente implantado no mesmo, e sua
importância, sua relevância para os
profissionais que resolverem trilhar por ele no
meio da sociedade pernambucana. São poucos
os cursos na área de música, dentro do estado,
em especial no que se refere à Composição e
Arranjo essa escassez piora ainda mais, daí a
importância do tema não só para músicos
como para a sociedade em geral.
O Estado de Pernambuco tem uma
riqueza cultural invejável, um patrimônio
cultural e artístico que poucos estados da
federação possuem, porém, em detrimento
desta condição que desfruta ainda não
apresenta de estabelecimentos educacionais
voltados para o registro, manutenção, fomento
e desenvolvimento desta mesma cultura, na
mesma proporção. O curso de Composição e
Arranjo do CPM procura preencher ou
amenizar esta lacuna deixada no ambiente
artístico educacional pernambucano.
Este artigo contribui para o
desenvolvimento da cultural musical
pernambucana, ao influenciar uma geração de
Wendell Nogueira da Silva

121 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
músicos as áreas de composição e arranjo e
abrir o leque de possibilidades para o seu
desenvolvimento cultural e artístico, assim
como propiciar um amplo campo de aplicação e
promoção da sua arte. Serve, pois, também de
ponto de partida para outras discussões e
reflexões sobre o tema já que objetiva-se não
por um ponto final, e sim servir de ponto de
partida para vôos mais altos e amplos.
O objetivo maior deste artigo é expor
as bases gerais legais nas quais o curso
fundamenta-se e funciona, através das Leis,
resoluções e pareceres que fornecem estas
bases jurídicas para o pleno funcionamento do
Curso. Desse modo é feito um resumo historio
de como surge o Curso de Composição e
Arranjo dentro do CPM, segue-se com a
estrutura do curso e finaliza demonstrar as leis,
pareceres e resoluções que servem da base
para o seu desenvolvimento.
Percusso histórico da formação do curso
técnico em composição e arranjo do
conservatório pernambucano de música
O Curso Técnico em Composição e
Arranjo é um dos mais recentes, oferecido pela
Instituição Conservatório Pernambucano de
Música, uma Instituição pública, que participa
ativamente da vida cultural e artística da
sociedade pernambucana há mais de oito
décadas, mais ou menos 87 anos. Durante seu
tempo de vida passaram por ela vários músicos
da cena pernambucana, brasileira e porque
não dizer mundial.
Eles ocuparam as cadeiras da
instituição quer como aluno, quer como
professores, alguns como os dois, foram alunos
e depois foram professores da Instituição. O
Conservatório Pernambucano de Música vem
desde então fomenta de maneira profícua o
Ensino, a pesquisa e a promoção de música
em âmbito estadual. É referência desde então
de música de boa qualidade, assim como o
ensino e a pesquisa que desenvolve através de
seus docentes. (BARZA, 2016)
No que se refere à pesquisa a
instituição sempre incentiva o corpo docente, a
serem pesquisadores e desenvolverem seus
projetos, o Conservatório possui vários grupos
de diversos formatos, pode-se citar dentre eles
o Sá Grama, conhecido no cenário musical,
não somente Pernambucano, como no Brasil
todo, assim como Internacionalmente.
Principalmente depois de produzir a trilha
sonora do Autor da compadecida, de Ariano
Suassuna, o Coro de Câmara, a Orquestra de
Câmara, etc. (MANUAL ACADÊMICO, 2013
p.04)
Vários formatos de Currículos foram
utilizados, alguns ainda hoje continuam e
outros foram propostos pelo Conservatório,
disponibiliza a população vários formatos de
cursos, que vão desde a Iniciação Musical,
onde a maioria dos alunos tem seus primeiros
contatos com os instrumentos e a manipulação
dos sons. Passa pelo Preparatório onde os
alunos desenvolvem e a prática com o
instrumento juntamente com a parte teórica.
Existe também o curso de extensão,
que é mais prático, para alunos que já
possuem uma desenvoltura maior no
instrumento sem que necessariamente tenha o
conhecimento ou domínio da partitura e/ou da
teoria musical. Por fim tem-se o curso técnico
que se destina a aluno com certa vivência
musical, pois o modo de seleção é através de
exames teóricos e práticos onde vão avaliar o
nível de conhecimento da teoria da música,
assim como o nível técnico na prática com o
respectivo instrumento.
No que se refere ao Curso Técnico
hoje (2018), o Conservatório disponibiliza os
seguintes cursos por áreas: Canto (Erudito e

122 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
Popular), Percussão (Erudita e Popular,
Bateria), Cordas Friccionadas (Violino, viola,
Violoncello, Double-bass), Cordas Dedilhadas
(Guitarra, Contrabaixo, Violão Erudito e
Popular, Viola, Cavaquinho, Bandolin, etc..),
Teclas (Piano Erudito e Popular, Teclado,
Sanfona), Sopros (Sax, trompete, trombone,
Flauta doce, Flauta Transversa, oboé, clarinete,
etc...).Completando os cursos Técnicos ainda
temos: Regência e o curso de Composição e
Arranjo, todos com duração mínima de 3 (três
anos) e máxima de 4 (quatro) anos. (HAZIN,
2017 p.04)
Dentre os cursos acima citado o de
Composição e Arranjo é o mais novo foi
aprovado em 2014, É até então um dos cursos
mais recentes oferecido pela instituição. O
Curso ganha vida exatamente no dia 17 de
Julho de 2014, quando é publicada no diário
Oficial a portaria Secretaria Estadual de
Educação n° 3845 regulamenta o
funcionamento do mesmo, como se pode
observar:
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, no uso de suas atribuições e nos termos da Lei Federal nº 9.394/96 e da Resolução CEE/PE 01/13, torna público o Parecer SEE/PE n° 19/2014-SEEP de 22/06/2014 que aprova a Autorização do Curso Técnico em Composição e Arranjo, Eixo Tecnológico – Produção Cultural e Design, ministrado pelo Conservatório Pernambucano de Música, localizado na Av. João de Barros, n° 694, Santo Amaro, Recife/PE, pelo prazo de quatro anos. (Diário Oficial PE, 2014. p.4)
ESTRUTURA DO CURSO
O Curso tem duração prevista de 3
(três) anos, está dividido em 3 (três) módulos,
cada módulo com 2 (dois) períodos [seis
meses], com aulas duas a três vezes na
semana, sempre à tarde. O aluno tem uma
grade obrigatória para cursar, onde no 1°
Fig. 01
(Matriz Curricular CPM, 2014)
período ele não pode modificar as matérias
determinadas pela direção. A matriz Curricular
do curso de Composição e Arranjo está
disposta da seguinte maneira, como vemos no
quadro abaixo.
O Módulo I está disposto da seguinte
forma, são 2 (dois) períodos cada um dura 1
(um) semestre, os quais contém cada período 5
(cinco) disciplinas, num total de 18 (dezoito)
aulas semanais, com uma carga horária de 324
(trezentos e vinte e quatro) horas no primeiro
módulo. O segundo módulo está estruturado da
seguinte forma:
(Matriz Curricular CPM , 2014 )
Fig. 02
O Módulo II por sua vez está disposto da
seguinte forma, são também 2 (dois) períodos
cada durando 1 (um) semestre, contendo cada
um 6 (seis) disciplinas, num total de 18
(dezoito) aulas semanais, com uma carga
horária de 324 (trezentos) horas no primeiro

123 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
módulo. Em seguida por fim tem-se o terceiro
módulo que está estruturado do mesmo modo
que o terceiro com disciplinas diferentes.
(Matriz Curricular CPM , 2014 )
(Matriz Curricular CPM , 2014 )
Fig. 3
Como se pode observar nas figuras
acima o curso está estruturado em 3 (três)
módulos, cada um dividido em 2 (dois)
semestres, onde a cada semestre são
dispostas de 5 (cinco) à 6 (seis) disciplinas,
num total de 34 (trinta e quatro) disciplinas. O
total de horas aulas em cada módulo é de 324
(trezentos e vinte e quatro horas), soma-se um
total de 972 (novecentas e setenta e duas
horas) no final do curso. (Matriz Curricular CPM
, 2014 )
LEIS, PARECERES E RESOLUÇÕES
O Curso foi pensado e desenvolvido a
partir das Leis, resoluções e pareceres que
embasam, e dão suporte para o
desenvolvimento legal do mesmo, vejamos:
segundo o Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos (CNCT, 2016 p.177), mencionando o
Curso de Composição e arranjo, coloca a carga
horária do mesmo em 800 (oitocentas horas).
Desse Modo, o curso do Conservatório
Pernambucano de música está dentro das
exigências da Resolução Conselho Nacional de
Educação/Câmara de Educação Básica n°
06/12, com uma carga horária ao final do curso
de 972 horas. Veja o que diz o Capítulo III, o
art.29.
Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio oferecidos nas formas subseqüentes e articuladas concomitante, aproveitando as oportunidades educacionais disponíveis, portanto sem projeto pedagógico unificado, devem respeitar as cargas horárias mínimas de 800, 1.000 ou 1.200 horas, conforme indicadas para a respectivas habilitações profissionais co Catálogo Nacional de Cursos Técnicos instituído e mantido pelo MEC. (BRASIL, Resolução CNE/CEB n° 06/12, p. 09)
O curso funciona dentro das normas e
nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, n° 9.394/96, desde a sua
implantação. Todas as disciplinas estão em
conformidade com a legislação em vigor, como
pode-se observar no art. 42 da citada
lei: “As escolas técnicas e profissionais, além
dos cursos regulares oferecerão cursos
especiais, aberta à comunidade, condicionada
a matrícula à capacidade de aproveitamento e
não necessariamente ao nível de
escolaridade.” (BRASIL LDBEN, 2005, p.14)
O público alvo do curso é
prioritariamente para músicos e que possuam
certa experiência, não se destina a iniciantes.
O objetivo no final do Curso é que o aluno
possa desenvolver composições as mais
diversas observando os Estilos e formas
músicas já estabelecidas e consagradas
durante a História da Música. Apóia e ratifica o
que se tem no Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos, quando se refere ao Perfil
profissional de conclusão:
Compõe e elabora arranjos aplicados a orquestras, big-bands, grupos de câmaras, canto e coral.

124 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
Desenvolve processos de improvisação e estruturação considerando variações rítmicas, harmônicas e melódicas. Desenvolve habilidades e atitudes da prática coletiva em música. Cria e edita trilhas sonoras. Elabora jingles para programas comerciais. (CNCT, 2016 p.177)
O curso é importante e relevante para a
sociedade pernambucana por fomentar, e
desenvolver os futuros compositores,
arranjadores e profissionais capacitados para
desenvolverem sua profissão nos mais
diversos locais onde necessite a atuação de
um músico com essas características, amplia o
leque de atuação profissional.
O campo de atuação de um músico
com estas especificidades e formação é mais
ampla, pode atuar nos seguintes locais como
descreve o CNCT “Estúdios de gravação.
Rádio, Televisão, cinema. Produtoras
comerciais. Agências de propaganda. Grupos
de teatro e dança. Corais, orquestra, bandas,
conjuntos de música populares e grupos de
câmara” (CNCT, 2016 p.177)
A lei n° 3.857 de 22 de dezembro de
1960, em seu Capítulo II, artigo 30 reforça e
demonstra de forma mais clara as áreas de
atuação de um profissional habilitado para a
função, veja:
Incumbe privativamente ao compositor de música erudita e ao regente:
a) exercer o cargo de direção nos teatros oficinas de óperas ou bailado;
b) exercer cargos de direção musical nas estações de rádio ou televisão;
c) exercer cargo de direção musical nas fábricas ou empresas de gravações fonográficas;
d) ser consultor técnico das autoridades civis e militares em assuntos musicais;
e) exercer cargo de direção musical nas companhias produtoras de filmes cinematográficos e do
Instituto Nacional de Cinema Educativo;
f) dirigir os conjuntos musicais contratados pelas companhias nacionais de navegação;
g) ser diretor musical das fábricas de gravações fonográficas;
h) dirigir as seções de música das bibliotecas públicas;
i) dirigir estabelecimentos de ensino musical;
j) ser diretor técnico dos teatros de óperas ou bailados e dos teatros musicados;
k) ser diretor musical da seção pesquisas folclóricas do Museu Nacional do Índio;
l) ser diretor das orquestras sinfônicas oficiais e particulares;
m) ensaiar e dirigir orquestras sinfônicas;
n) preparar e dirigir espetáculos teatrais de ópera bailado ou opereta;
o) ensaiar e dirigir conjuntos corais ou folclóricos;
p) ensaiar e dirigir bandas de música; q) ensaiar e dirigir orquestras
populares. (BRASIL, Lei n° 3.857, art. 30, 1960, p.52)
Em seu parágrafo único, falando de
diretores de orquestras ou conjuntos
relacionados ao art. 30 e 31 da Lei n° 3.857
nos diz que “deverá ser diplomado em
composição e regência pela Escola Nacional
de Música ou estabelecimento equiparado ou
reconhecido” (BRASIL, Lei n° 3.857, Parágrafo
Único, p.52)
No seu artigo 38 ao falar das
atribuições do arranjador e orquestrador ela
diz:
a) fazer arranjos musicais de qualquer gênero para coral, orquestra sinfônica, conjunto de câmara e banda de música;
b) fazer arranjos para conjuntos populares ou regionais;
c) fazer o fundo musical de programas montados em emissoras de rádio ou televisão e em gravações fonomecânicas. (BRASIL, Lei n° 3.857, art. 38, 1960, p. 53)

125 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
O curso funciona desde sua
autorização dentro dos termos da lei, está em
conformidade também com o Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos dentro de seus
parâmetros. É aberta a Comunidade
Pernambucana mediante a realização de
matrícula previamente estabelecida como
consta no art.42 da lei federal n° 9.394 dentre
outros, dá subsídios e sustentação para o
curso como se observa:
As escolas técnicas e profissionais, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, e condicionada a matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. (LBDEN, 2005 p, 20)
Assim como a Resolução Conselho
Estadual de Educação/PE n° 1/2013, também
revela que os cursos oferecidos pelo
Conservatório Pernambucano de Música, em
especial o curso de Composição e Arranjo
estão normatizados e funciona conforme pede
e rege a Resolução CEE/PE n° 1/2013 e como
descreve o Catálogo Nacional, citado acima. É
deste modo descrito no art. 7°, e no § 1º :
Art.7º . Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Técnico Médio, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional para o Trabalho, entre os quais estão incluídos os cursos especiais, abertos à comunidade, condicionado –se a matrícula á capacidade de aproveitamento dos educandos e não necessariamente aos correspondentes níveis de escolaridade. § 1º. Os cursos e os programas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio são organizados por eixos tecnológicos, possibilitando itinerários formativos flexíveis, diversificados e atualizados, segundo interesses dos sujeitos e
possibilidades das instituições educacionais, atendendo ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, observando a identificação das ocupações no mercado de trabalho, mediante a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO (PERNAMBUCO, CEE/PE n°1/2013, Cap.I, ART 7º, § 1º, p.18)
A Instituição promove a cada 6 (seis)
meses, inscrições para os seus cursos, É
disponibilizado exclusivamente via internet,
mediante a Secretaria de Educação a
efetuação da inscrição. São realizadas provas
de conhecimento específico sobre teoria
musical, leitura métrica e solfejo, além do
exame prático onde o candidato comprova o
domínio básico requerido à prática e
desenvolvimento do instrumento e domínio de
Escrita (Composição). O Curso Técnico de
Composição e Arranjo disponibiliza de 3 à 6
vagas por semestre. (HAZIN, 2018 p.04)
O processo todo de seleção dura em
torno de 2 (dois) meses, da elaboração,
confecção, aplicação, correção e divulgação
dos mesmos, encerra-se o processo com o
edital dos aprovados fixado nos painéis de
aviso da instituição assim como disponíveis, no
site e nas redes sociais . É requisito básico
para que o candidato venha a curso um dos
cursos técnicos ter terminado ou ainda estar no
ensino médio.
A lei n° 11.741 de 16 de Julho de 2008,
altera os dispositivos da Lei n° 9.394, de 20 de
dezembro de 1996. A Seção IV-A, art.36-B vai
nos dar essas referencias acima citadas à
educação profissional técnica de nível médio
será desenvolvida em forma continuada, como
se indica: “no parágrafo I articulada com o
ensino médio e II subseqüente, em cursos
destinados a quem já tenha concluído o ensino
médio”. (BRASIL, 2008, p. 05)

126 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
O curso é importante no cenário
musical de Recife e no Estado pro proporcionar
aos jovens e Adultos também o conhecimento
ligado a fundamentos científicos- tecnológicos
assim como sócio-histórico e cultural, pois está
inserido na sociedade desenvolve e perpetua a
sua cultura musical. Como está previsto na
Resolução Conselho Nacional de
Educação/Câmara de Educação Básica, n°
06/12, Capítulo I, no art. 4 e 5, veja:
art.4 A educação Profissional Técnica de nível Médio, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, articula-se com o Ensino Médio e suas diferentes modalidades, incluindo e Educação de Jovens e Adultos (EJA), e com as dimensões do trabalho, da tecnologia, da ciência e da cultura; art.5 Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio têm por finalidade proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e competências profissionais necessários ao exercício profissional e da cidadania, com base nos fundamentos científicos-tecnológicos, sócio-históriocos e
culturais. (BRASIL, CNE/CEB n° 06/12, Cap. I, art. 4 e 5, p.02)
A resolução Conselho Estadual de
Educação/PE n° 1/2013, de 08 de Abril de
2013, “estabelece normas e regula
procedimento correlato à oferta de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, no âmbito
do Sistema de Ensino do Estado de
Pernambuco”. (PERNAMBUCO, 2013, p.18) O
curso é oferecido pelo Estado mediante a
Instituição, baseado nos termos da Lei como se
pode observar no Capítulo I, Das Disposições
Gerais, art.1:
O Credenciamento e recredenciamento, Autorização e renovação de Cursos, Encerramento de Atividades Escolares e Descredenciamento de Instituição de Educação Profissional Técnica de Nível
Médio, mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado e pelo poder público estadual, pertencentes ao Sistema de Ensino do Estado de Pernambuco, ficam sujeitos às normas desta resolução.
(PERNAMBUCO 2013, P.18)
Outras partes da Resolução também
são importantes para perceber-se . A
Fundamentação Jurídica em que o curso está
baseado, para ter seu funcionamento dentro do
estabelecido por lei, no mesmo Capítulo I, no
Parágrafo Único diz o seguinte: A Secretaria de
Educação do Estado tem autonomia de
credenciar e recredenciar estabelecimentos,
autorizar e renovar cursos de sua própria rede,
(PERNAMBUCO, 2013, p. 02) de certa forma
ratifica o que foi dito no art. 3º.
O Conselho Estadual de Educação é competente para o Credenciamento de Instituições para a oferta de Educação Profissional de Nível Médio integrante do Sistema de Ensino do Estado de Pernambuco, bem como para a autorização dos seus cursos. (CEE/PE n°1/2013, Cap.I, ART 3º)
A fiscalização do exercício das
atividades relacionadas à área musical, assim
como a seleção, disciplina e defesa da classe,
fica a cargo da Ordem dos Músicos do Brasil
(OMB), Instituição criada por meio da Lei
Federal n° 3.857 de 22 de Dezembro de 1960.
Veja o que diz o Capítulo I, onde dispõe da
Ordem dos Músicos do Brasil:
Fica criada a Ordem dos Músicos do Brasil com a finalidade de exercer em todo o país, a seleção, a disciplina, a defesa da classe, e a fiscalização do exercício da profissão do músico, mantida as atribuições específicas do Sindicato respectivo. (BRASIL, Lei n° 3.857, art. 1, 1960, p.48)

127 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
Para exercer as atividades de músico,
compositor e arranjador é necessário estar
dentro dos paradigmas estabelecidos nesta Lei
de n° 3,857, que em seu II Capítulo, no artigo
16 fala que “só poderão exercer a profissão
depois de regularmente registrados no órgão
competente do ministério da Educação e
Cultura e no conselho Regional dos músicos”, o
qual deverá procurar a Instituição na jurisdição
em que tiver sua atividade. O qual é
complementado no artigo 28:
É livre o exercício da profissão de músico, em todo o território Nacional, observados o requisito da capacidade técnica e demais condições estipuladas em lei:
a) aos diplomados pela Escola Nacional de Música da Universidade do Brasil ou por estabelecimento equiparados ou reconhecidos;
c) aos alunos dos dois últimos anos, dos cursos de composição, regência ou de qualquer instrumento da Escola Nacional de Música ou estabelecimentos equiparados ou reconhecidos. (BRASIL, Lei n° 3.857, art. 28, 1960, p. 51)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em meio a situação que se encontra
nosso país, o descrédito crescente que vem
sofre as Instituições Públicas, em especial as
que trabalham com o ensino, é motivo de
satisfação e orgulho mostrar a sociedade
Pernambucana a seriedade com que é tratada
a Educação Musical neste estado, através do
Conservatório Pernambucano de Música. Onde
há o desenvolvimento, fomento e pesquisas
sérias sendo realizadas no âmbito da
Instituição.
O Curso de Composição e Arranjo é
uma dessas ferramentas utilizadas para a
promoção, manutenção e desenvolvimento de
novos valores regionais que estão a trilhar os
caminhos da arte musical no cenário deste
estado, seja na área Erudita como na Popular.
E isto feito regularmente com as devidas
autorizações, balizado e coberto pelas devidas
leis que regem a Educação Brasileira vigente,
portanto amplamente amparado, com docentes
capacitados, concursados com eficiência
comprovadas nas suas respectivas atribuições.
Assim fica evidente a importância deste
curso no meio musical pernambucano, pois ele
procura incentivar, despertar e aprimorar o
compositor e arranjador que há dentro de cada
músico, muito desenvolvem intuitivamente
algumas especificidades da composição e do
arranjo, No Curso de Composição e Arranjo o
estudante é levado a fazê-lo de maneira
embasada e refletida em uma herança musical
organizada e repassada durante o tempo.
Deixo votos de que num futuro bem
próximo esta pesquisa possa ser ampliada,
desenvolvida ou até mesmo contestada,
contribuindo assim para o crescimento e
ampliação do material de pesquisa e estudos
realizados na área de Composição e arranjo
musical. Não almeja ser a referencia sobre o
assunto, pois o propósito não é esse, mas um
começo para vôos cada vez mais alto e amplo
neste vasto território que é a Academia.
REFERÊNCIAS
AQUINO, Italo de Souza. Como escrever
Artigos científicos sem arrodeios e sem medo da ABNT. 7ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. (ISBN 978-85-02-09547-2)
BRASIL, Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. 3ª Edição. Ministério da Educação – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, Brasília: 2016.
BRASIL, Coleção das Leis: de 1960 – Volume VII. Departamento de Imprensa Nacional, Brasilia: 1961. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/publicacoes/republi

128 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
ca/colecao7.html> Acesso no dia 01 de Maio de 2018.
BRASIL, Diário Oficial da União. Imprensa Nacional, Brasília: 2008. Ano CXLV n° 136, quinta-feira, 17 de Julho de 2008. Disponível em: <http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/07/2008&jornal-1&pagina=1&totalArquivos=80> Acesso no dia 01 de Maio de 2018.
BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Senado Federal , Secretaria Especial de Editoração e Publicações – Subsecretaria de edições técnicas, Brasilia: 2017. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/529732/lei_de_diretrizes_e_bases_1ed.pdf > Acesso dia 01 de Maio de 2018
BRASIL, Ressolução n° 06 de Dezembro de 2012. Ministério da Educação – Conselho Nacional de Educação – Câmara de Educação básica, Brasilia: 2012. Disponível em: <http://potal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view+downloads.&alias=11663-rce006-12-pdf&category_slug=setembro-2012-pdf&Itemid=30192> Acesso no dia 01 de Maio de 2018.
CONSERVATÓRIO PERNAMBUCANO DE MÚSICA – Matriz Curricular do Curso de Composição e Arranjo – Recife: 2014.
MATIAS-PEREIRA, José. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. #a Edição. São Paulo: Atlas, 2012.
PERNAMBUCO, Diário Oficial do Estado. Companhia Editora de Pernambuco, Recife: 2014. Ano, XCI. n° 129. Disponível em: <http://docplayer.com.br/18217016-Estado-de-pernambuco-poder-executivrecife-sexta-feira-18-de-julho-de-2014-estado-avanca-no-resgate-de-alunos-com-defasagem-escolar.html> . Acesso dia 03 de Março de 2018
PERNAMBUCO, Diário Oficial do Estado. Companhia Editora de Pernambuco, Recife: 2013. Ano XC, n° 75. Disponível em: <http://200.238.101.22/docreader/docreader.aspx?bib=2013&pasta=Abril\Dia%2024> Acesso no dia 01 de Maio de 2018.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Editora Cortez, 2013.
SILVA JR, Jário Carlos da. Como fazer Artigo Científico. Caruaru, PE: Editora Aletheia, 2016. 46p.
VOLPI, J. H; VOLPI, S.M. Orientações para elaboração do artigo científico. Apostila do Curso de Especialização em
Psicologia Corporal do Centro Reichiano. Curitiba: Centro Reichiano, 2014. Disponível em: <HTTP://www.centroreichiano.com.br/artigos.html> Acesso em 17 de Abril de 2018.
BARZA, Sérgio N. História do Conservatório Pernambucano de Música. 2016. Disponível em: <http://www.conservatorio.pe.gov.br/historico/> acesso no dia: 15 de Maio de 2018.
HAZIN, Roseane. Et al. Edital do Processo Seletivo para os Cursos técnicos do Conservatório Pernambucano de Música, 2018.2. Disponível em: <http://wwwconservatorio.pe.gov.br/wp-content/uploads/2018/04/EDITAL-2018.2.pdf > acesso no dia 15 de Maio de 2018.
PERNAMBUCO. Manual Acadêmico Conservatório Pernambucano de Música. Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, Recife, 2013. 16p. (distribuição interna aos novatos dos diversos cursos ingressos no ano 2013).

129 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
UMA DISCUSSÃO ACERCA DO JOGO NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
RESUMO
Este trabalho tem como objetivo levantar uma discussão sobre o papel do jogo no processo de ensino aprendizagem nas aulas de Educação Física, com os alunos do ensino médio. Esta pesquisa surgiu a partir da busca de inovações para melhorar as técnicas de aprendizagem, num período em que a Educação passa por grandes transformações. Para tal, são abordados os seguintes temas: o histórico da Educação Física na Educação e o seu ingresso no currículo nacional; o Jogo enquanto conteúdo e método de ensino-aprendizagem, além de suas possíveis contribuições, na aquisição e na assimilação do conhecimento. A metodologia de pesquisa utilizada é a bibliográfica, a partir da leitura de alguns teóricos da Educação Física: a visão do jogo na área pedagógica, de acordo com o contexto social, histórico e cultural, em que está inserido. Com base nesses dados históricos, propõe-se uma discussão sobre o papel do jogo e como as suas características lúdicas poderão facilitar o processo de ensino-aprendizagem, não mais para a educação infantil e fundamental, mas, agora, direcionada ao ensino médio, cujo intuito é oferecer um aprendizado mais atrativo e motivacional para os alunos. Palavras Chaves: Jogo. Processo ensino aprendizagem. Educação Física. Lúdico. Ensino médio A DISCUSSION ABOUT THE GAME IN THE TEACHING PROCESS LEARNING IN THE PHYSICAL
EDUCATION LESSONS FOR MIDDLE SCHOOL STUDENTS
ABSTRACT This work aims to raise a discussion about the role of the game in the process of teaching learning in Physical Education classes with high school students. This research emerged from the search for innovations to improve learning techniques, at a time when Education undergoes major transformations. To this end, the following themes are addressed: the history of Physical Education in Education and its entry into the national curriculum; the Game as a content and teaching-learning method, in addition to its possible contributions, in the acquisition and assimilation of knowledge. The research methodology used is the bibliographical one, based on the reading of some theorists of Physical Education: the vision of the game in the pedagogical area, according to the social, historical and cultural context in which it is inserted. Based on these historical data, it is proposed a discussion about the role of the game and how its playful characteristics can facilitate the teaching-learning process, no longer for basic and infantile education, but now directed to secondary education, whose It is intended to provide a more attractive and motivational learning experience for students. Key Words: Game. Teaching learning process. PE. Ludic. High school
INTRODUÇÃO A Educação é uma ciência que
constantemente renova-se e impulsiona à
todos que trabalham com ela a buscar novas
estratégias para desenvolvê-la. Este estudo
surgiu a partir da busca de inovações para
melhorar o processo de ensino- aprendizagem,
num período em que a Educação passa por
grandes transformações. Imbernón (2000,
p.195) diz que “ao longo do século XX, o
conceito de educação mudou muito, pois os
sistemas educativos tiveram de adaptar-se a
demandas sociais que nem sequer eram
previsíveis no século XIX.” E acrescenta mais
adiante que construir um novo modelo de
Educação requer dois requisitos básicos: um
debate social, não só conteudista, além da
transformação da própria figura do professor,
ou seja, que este profissional possa,
constantemente, refletir sobre a sua prática
pedagógica.
Alguns teóricos trouxeram uma nova
perspectiva para a Educação Física, ao
determinar os conteúdos a serem trabalhados,
em cada série e, através, de uma proposta de
Santana, Rosiane Karla

130 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
ciclo, que defende um aprendizado processual
e não acabado em cada etapa
(TAFFAREL,1993). Os professores, a partir de
então, têm um conteúdo programado para
desenvolver nas aulas, mas fica a cargo do
professor utilizá-los de acordo com o contexto
de em que a escola está inserida, isto é, o seu
projeto político pedagógico.
Ao trabalhar o conteúdo “jogo”, observa-
se que o mesmo poderia ser o objeto desse
estudo, mas não com suas particularidades,
mas como um método de ensino-aprendizagem
atrativo e motivacional, principalmente para os
alunos do ensino médio, que cada vez mais,
têm se mostrado mais ausentes das aulas de
Educação Física.
Este novo olhar sobre o papel do jogo
surgiu através da experiência em sala de aula
como professora de educação Física no ensino
médio, ao perceber o desinteresse de alguns
alunos nas aulas práticas, decorrente de vários
fatores, como as instabilidades emocionais da
puberdade, crenças e a falta dessa vivência na
infância e adolescência.
No entanto, quando o assunto é o jogo,
eles parecem ficar mais motivados e
interessados. Num encontro realizado pela
Secretária de Educação, denominado
CARAVANA DO ESPORTE, em 2017, onde os
educadores de várias disciplinas da rede
municipal e estadual, foram “provocados” a
repensar sua prática através do jogo, senti-me
instigada com tal provocação e, sendo assim,
me questionei: “porque não usá-lo também
como um método de motivação nas aulas de
Educação Física, com os alunos do ensino
médio?”. O jogo deve perder seu caráter único
de utilização e deve ser visto em outras
situações e disciplinas (JÚNIOR, 2009).
Durante uma aula no ensino médio, o jogo foi
usado como um instrumento avaliativo, ao
trabalhar o conteúdo “ginástica”. O interesse e
o envolvimento da turma na atividade foi
perceptível! Baseado nesta situação didática,
“porque não estudar essa possibilidade, para
melhorar a participação e o envolvimento dos
alunos com o aprendizado?” Levando-se em
consideração uma geração que se apresenta
repleta de informações e conhecimentos de
todos os lados.
Alguns pontos importantes são
enfatizados durante este estudo, tais como: a
história da Educação Física; o jogo e o seu
papel na Educação; sua definição e sua
aplicabilidade nas aulas de Educação Física.
Esses temas abordados têm a intenção de
apresentar como o jogo pode contribuir no
processo de ensino-aprendizagem no ensino
médio, entendendo seu papel na Educação,
sua definição e a sua importância. Analisamos
também algumas tendências pedagógicas que
embasam todo esse estudo sobre a percepção
que os docentes a respeito dessas práticas na
Educação física.
De acordo com Kishimoto (2008), o jogo
educativo possui duas funções que devem
estar em constante equilíbrio. Uma delas diz
respeito à função lúdica, que está ligada a
diversão, ao prazer e até o desprazer. A outra,
a função educativa, que objetiva a ampliação
dos conhecimentos dos educandos.
A problemática que direciona essa
pesquisa é delineada da seguinte forma: “Até
que ponto a utilização do jogo, nas aulas de
educação física, poderão contribuir,
satisfatoriamente, para o processo de ensino-
aprendizagem dos alunos do Ensino Médio?”
Para responder essa problemática de pesquisa,
começo a falar, inicialmente, sobre a própria
contextualização histórica da Educação Física
no nosso país.

131 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
UM PANORAMA A RESPEITO DA
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO
BRASIL
O século XIX foi um período importante
para a Educação Física, por ser o momento em
que conceitos sobre o corpo e o seu papel,
como força de trabalho, são formulados. De
acordo com alguns estudiosos como Lino
Castellani Filho (1988), Paulo Ghiraldelli Júnior
(1998) e Carmem Lúcia Soares (2007), a
história dessa disciplina reflete um momento
em que a burguesia e a classe operária são
estabelecidas na Europa. Este novo olhar
sobre o “homem novo”, que está presente no
campo, na fábrica, na família e na escola, terá
na Educação Física um meio para construir
esse homem. Este trabalho não vem questionar
o ponto de vista desses autores em seus
estudos, mas no entender deles próprios,
alguns aspectos que a Educação Física
apresenta, ao longo de sua narrativa, e
norteiam sua prática.
Todo o momento em que a Europa vivia,
com a Revolução Industrial (final do século
XVIII) forjou uma nova realidade social, que
não estava preparada para lidar com o
progresso crescente, e que trouxe influências
para o Brasil. Como por exemplo, a
industrialização e a urbanização desenfreada e
desorganizada das grandes cidades brasileiras.
Problemas estruturais de saúde pública
também surgem nas grandes cidades, como a
miséria, as condições de habitação e os fatores
causadores de doenças, o que despertou em
estudiosos o interesse em sanar tais
problemas. E, neste contexto, a Educação
física, antes tratada como ginástica, surge com
uma visão biológica e naturalizada da
sociedade, com seu conteúdo médico-
higiênico, disciplinar, da ordem e da saúde
como responsabilidade individual.
No caso do Brasil, a Educação Física
aparecerá vinculada aos ideais eugênicos de
regeneração e embranquecimento da raça,
figurando em congressos médicos, em
propostas pedagógicas e em discursos
parlamentares (SOARES,2007, p.18).
A Educação Física passa a ter uma visão
positivista de ciência, que fornecerá as
justificativas para o seu modo de ser e de viver,
onde integra o nascimento e a construção de
uma nova sociedade, de modo que não haja
questionamentos sobre os privilégios e
conquistas da burguesia. As orientações dos
exercícios físicos eram realizadas por médicos
higienistas, “o professor desempenha um papel
secundário, digamos assim, um papel de
auxiliar direto, um papel de executor de tarefas
pensadas e fiscalizadas pelo médico”
(SOARES, 2007, p.130). Ainda, segundo
Soares:
[...] Na consolidação dos ideais da Revolução burguesa, a Educação Física se ocupará de um corpo a-histórico, indeterminado, um corpo anatomofisiológico, meticulosamente estudado e cientificamente explicado (SOARES,2007, p.06).
A instituição escolar contribui para
disciplinar essa nova sociedade, com políticas
educacionais e higiênicas; alguns estudiosos
como John Locke (1632-1704); Rousseau (séc
XIX); Jean Antoine Nicolas de Caritat (1743-
1794); Louis Michel Leppelletier de Sant-
Fargeau (1760-1793); Johan Bernard Basedow
(1723- 1790) e J.H. Pestallozzi (1746-1827)
formulam propostas de cuidado com o corpo e
seu importante papel para a educação. Os
princípios político-democráticos formulados por
Rousseau, influenciaram vários educadores da
época, como Rui Barbosa e Fernando
Azevedo, sobre as primeiras sistematizações
da Educação Física. Segundo Soares:

132 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
[...] A extensão da escolarização primária foi colocada, então, como um dos mecanismos privilegiados para o controle das formas de pensamento e de ação do ‘campo social’, e, dentro da escola, ganhava espaço um conteúdo bastante enaltecido pelo pensamento médico e pedagógico ao longo de todo o séc. XVIII. Estamos nos referindo ao exercício físico como elemento da educação, tão enaltecido por Rousseau, Basedow, Pestallozzi e pelos políticos revolucionários franceses que fizeram a educação, lei, como Condorcet e Leppelletier (SOARES, 2007, p.48).
Inicialmente, a Educação Física no Brasil
é denominada Ginástica e oficializa-se, com a
reforma Couto Ferraz, em 1851. Em 1882, Rui
Barbosa (apud DARIDO,2008, p.2) ao dar seu
parecer, sobre a “Reforma do Ensino Primário,
Secundário e Superior”, mostra a importância
da Ginástica para a formação do povo
brasileiro, e ao relatar a situação da Educação
Física em países mais adiantados
politicamente, defende a Ginástica como
elemento indispensável para formação integral
do jovem.
Ele propõe instituir uma sessão essencial
de Ginástica em todas as escolas e ampliar a
sua obrigatoriedade para ambos os gêneros
(masculino e feminino), já que as meninas não
tinham obrigatoriedade em fazê-la; implantar a
Ginástica nos programas escolares como
matéria de estudo e em horas distintas ao
recreio e após a aula, além de buscar a
equiparação, em categoria e autoridade,
desses professores em relação aos
professores de outras disciplinas.
Os “métodos ginásticos” , na intenção de
sistematizar a ginástica dentro da escola
brasileira, confere à Educação Física uma
perspectiva eugênica, higienista e militarista,
pelo qual o exercício físico deveria ser utilizado
para a aquisição e a manutenção da higiene
física e moral (Higienismo), além de preparar
os indivíduos, fisicamente, para o combate
militar (Militarismo).
O método alemão, fundado por Guts
Muths, é implantado no Brasil na primeira
metade o século XX, pelo exército brasileiro e
permanece até o ano de 1912. Esse método
tem como fundamento as bases fisiológicas, e
que cada prática do exercício ginástico, é
baseado na constituição física de cada
indivíduo.
Em 12 de abril de 1921, através do
decreto n. 14.784, a ginástica francesa é
oficialmente aplicada no Brasil, e substitui o
método alemão. Ela chega, na verdade, em
1907, através de uma missão militar e, desse
acontecimento também ocorre a fundação da
Escola de Educação Física de São Paulo.
Tem como característica uma educação
voltada para o desenvolvimento social, para a
população, com uma prática direcionada para a
formação do homem de uma forma completa, e
com mais respaldo da fisiologia. Para seu
fundador, D. Francisco de Amoros y Ondeaño
(1770-1848), os exercícios deveriam preparar o
homem para qualquer situação, tornando-o
mais habilidoso, adestrado, veloz e resistente,
evitando a fadiga.
A partir de 1850, a ginástica amorosiana integrará os currículos de todas as escolas primárias e será obrigatória para as escolas normais, mesmo sem contar com pessoal capacitado para ministrar as aulas, que eram dadas por suboficiais do exército, absolutamente despreparados do ponto de vista pedagógico e científico (SOARES, 2007, p.64).
Desta forma já se ensaiava uma
sistematização dos exercícios físicos, na
França, que tinha como foco os objetivos
higienistas, mas que refletia-se aqui no Brasil
também.

133 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
O método sueco tem em Rui Barbosa um
grande defensor, por relacionar-se com a
medicina e os médicos. Pehr Henrik Ling
(1776-1839) o propõe pautado na anatomia e
na fisiologia. E, aqui, a ginástica tem um papel,
ainda médico, e não pedagógico, por isso que
quem definia o caminho da Educação Física
eram as instituições médicas e militares.
Todos esses métodos de ginástica
tinham suas semelhanças e diferenças, mas
todos eles estavam voltados para o trabalho
higiênico, de cuidados com a saúde e o bem
estar social da população. Tais métodos
colaboraram com a legitimação da Educação
Física como disciplina curricular, como o
decreto n. 7.247 de 19 de abril de 1879,
assinado por Carlos Leôncio da Carvalho
(SOARES, 2007, p.92), mas faltava, ainda, o
professor assumir o seu papel na orientação
dos exercícios físicos.
Com a legitimação da Educação Física,
outros estudos surgem para justificar sua
permanência no ambiente escolar. As
tendências pedagógicas aparecem como fruto
de inquietações do papel da educação física,
bem como da uma busca de identidade para
ela.
TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS DA
EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL
A Educação Física, até se consolidar
como uma disciplina curricular sofre algumas
influências pedagógicas que norteiam a prática
dos professores. Estas tendências surgem em
determinadas épocas de acordo, com o
contexto histórico e social em que estava
inserido, e ainda hoje ditam a prática dos
docentes, seja de forma mais explícita ou não.
Bracht (1997, p.14) traz sua contribuição
ao afirmar que a definição do objeto da
Educação Física está relacionada com a
função ou com o papel social a ela atribuído, e
que define até o tipo de conhecimento buscado
para sua fundamentação.
Andrade Filho (2013) afirma que Bracht,
Em suas revisões da história geral da Educação Física na modernidade, o autor percebeu que a Educação Física, desde meados do século XVIII, 1750 em diante, até os anos de 1980 do século XX, caracterizou-se inicialmente como uma prática pedagógica social e, depois, também como uma área de conhecimento acadêmico, sem autonomia e legitimidade pedagógica e acadêmica, sem objeto de conhecimento próprio (ANDRADE FILHO, 2013, p.06).
Ou seja, não havia até então uma
definição do objeto de estudo da Educação
Física. Alguns estudiosos, traçam esse
percurso histórico, no intuito de deixar claro
esse objeto da Educação Física. Ghiraldelli
(1998), filósofo, professor e escritor brasileiro,
apresenta cinco tendências marcantes na
Educação Física brasileira: A Higienista (até
a1930); a Militarista (1930-1945); a tendência
Pedagogicista (1945-1964); a visão
Competitivista ( pós- 64) e a educação física
Popular.
A tendência pedagógica “higienista” foi
esboçada, de modo significativo, no final do
século XIX. Nas primeiras décadas do século
XX, tal época histórica abrangeu o marco da
Primeira Guerra Mundial e, no Brasil, percebeu-
se, de forma significativa, o baixo nível de
saneamento básico, além das mazelas sociais.
Mas o que vem a ser higienismo? Gois, Jr
(2000) diz que
definições enciclopédicas eram muito restritas, definindo-os como estudiosos da Higiene, como médicos sanitaristas. Porém o “movimento higienista” era muito mais amplo. Contava com apoio de educadores, políticos,

134 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
advogados, engenheiros, instrutores de ginástica. Enfim, uma gama bastante diversa de profissões foi influenciada pelos pressupostos higienistas. Assim, não entendemos os higienistas como apenas médicos. Então, pensamos em caracterizá-los como intelectuais que tinham em comum o desejo de melhorar as condições de saúde coletiva da população brasileira (GOIS JR., 2000, p.11).
Essa tendência vislumbra a possibilidade
e a necessidade de resolver o problema da
saúde pública pelo ensino. É um produto do
pensamento liberal, onde a Educação Física
entraria com o papel de contribuir para manter
a saúde e o asseio do povo e, no
desenvolvimento das aulas, o médico e mais
especificamente o médico higienista, tem um
papel destacado. Em suas primeiras tentativas
de compor o universo escolar, surge como
promotora da saúde do corpo, da limpeza
corporal e mental, da regeneração ou
reconstituição das raças, norteada pelos
métodos ginásticos,
Era preciso cuidar da população para pautar a questão do desenvolvimento econômico nos termos da época. Assim, a Educação Física, sem ter outra escolha, fazia parte do projeto higienista e desenvolvimentista no Brasil. Mas qual seria a melhor aplicação da Educação Física respeitando estes ideais? Era o método francês (GOIS Jr,2000, p. 153).
Este método ginástico, na França,
passa por uma sistematização dos exercícios
físicos, orientada pelo conteúdo médico-
higiênico, e tem alguns representantes como
George Demeny e Philipe Tissié (SOARES,
2007). Estes foram bastante citados por Rui
Barbosa e Fernando de Azevedo no Brasil, ao
defenderem as bases científicas da Educação
Física e a sua inclusão na escola. Rui Barbosa
acreditava que a higiene do corpo e a higiene
da alma significavam uma coisa só, e da
Educação Física, como disciplina escolar, ao
proporcionar às crianças um prazer pelo
movimento.
A escola deveria modificar os problemas
sócio higiênicos e, através de orientações
educativas e pedagógicas, buscar levar esse
conhecimento para a infância. Fernando de
Azevedo, educador da época, por meio do
movimento escolanovismo, defende que
haveria possibilidade do progresso e
desenvolvimento do Brasil, com a criação de
campanhas, juntamente com o povo para o
controle da saúde.
Já com o advento da República, os
médicos higienistas voltam as suas atenções
para o cuidado com as crianças, além da
educação higiênica do povo, que são
implementadas ao logo da década de 1920.
Nas palavras de Soares (2007, p. 119): “o
pensamento médico higienista, em sua vertente
eugênica, atravessa o pensamento pedagógico
e influencia fortemente a construção e
estruturação da Educação Física no Brasil”.
A Educação Física no Brasil república,
na verdade, também pode ser dividida em dois
períodos: a primeira referente ao período de
1890 até a Revolução de 1930 e o segundo,
seria o período após a Revolução de 1930 até
1946.
Como já foi apresentado anteriormente,
o método ginástico francês fornece o alicerce
para grande parte da Educação Física no
Brasil, durante o período da tendência
militarista. Em 1930, com a implantação do
Estado Novo, a escola passa por
transformações nos programas das disciplinas.
Os professores de Educação Física recorrem à
tendência Militarista, que visa a formação do
“cidadão-soldado”, capaz de obedecer
cegamente e de servir de exemplo para o

135 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
restante da juventude pela sua bravura e
coragem.
No modelo militarista, os objetivos da Educação Física na escola eram vinculados à formação de uma geração capaz de suportar o combate, a luta, para atuar na guerra; por isso, era importante selecionar os indivíduos “perfeitos” fisicamente e excluir os incapacitados (DARIDO & RANGEL, 2008, p. 03).
A educação é direcionada para preparar
os jovens, para possíveis guerras, havia um
amor à pátria, uma preocupação com a
hegemonia das raças e aqueles que não
apresentavam aptidões físicas, para servir nas
guerras, eram excluídos das aulas de
Educação Física. A preocupação com a saúde
aparece na prática, com o intuito de cuidar
desses soldados fortes, não mais com um
cuidado com o corpo. Tem, também, como
objetivo o desenvolvimento da aptidão física e
a autodisciplina. O método ginástico e militar
são marcantes para a educação brasileira.
É importante ressaltar que neste período,
os professores de Educação física eram
instrutores formados pelas instituições
militares, que ministram as aulas, com métodos
de disciplina militar e de respeito à hierarquia.
O conhecimento era passado por ex-
praticantes. E cabia aos alunos o papel de
reprodutores e cumpridores as tarefas
infligidas. Mesmo assim, este período foi a
base da construção pedagógica dessa matéria
escolar, por ser introduzido nas instituições
escolares. O primeiro estabelecimento voltado,
inteiramente, para a formação de professores
foi a Escola de Educação Física do Exército,
fundada em 1933.
Em vários momentos, percebe-se a
ligação militar com essa disciplina, e Castellani
(1988, p, 26) coloca bem isso ao afirmar que
“pode assim dizer estar a história da Educação
Física no Brasil se confundindo, em muitos de
seus momentos, com a dos militares”
Tanto no período higienista, como no
militarista, a Educação Física busca orientar,
de acordo com os princípios anátomo-
fisiológicos, à procura da criação de um homem
obediente, submisso e acrítico à realidade
brasileira.
A tendência Pedagogicista (1945-1964)
surge no final da segunda guerra e o fim da
ditadura do Estado Novo no Brasil. E propõe
outro olhar para a educação física, que é
encarada, não somente como uma prática
capaz de promover saúde ou disciplina, mas
uma visão educativa. Diferentemente do que
apresenta a tendência higienista e militarista,
não preocupa-se, apenas, com as instruções
para a saúde e a aptidão física ao analisar o
corpo, somente numa perspectiva biológica,
agora, amplia seu campo de atuação, quando
engloba a cultura, os aspetos psicológicos e os
fisico-morfológicos.
Em termos históricos, é preciso ter claro que a adoção da Educação Física Pedagogicista, ligada ao trabalho escolar e muito influenciada pelas teorias escolanovistas de Dewey, não significa o abandono, na prática, de uma Educação Física comprometida com uma organização didática ainda sob parâmetros militaristas. Afinal, não podemos esquecer que até os anos 50 o “Regulamento n. 7”, ou “Método Francês”, era oficialmente obrigatório como diretriz da prática da Educação Física na rede escolar brasileira (GHIRALDELLI, 1998, p.29).
O Estado busca integrar a Educação
Física como disciplina educativa por excelência
no âmbito da rede pública de ensino no Brasil,
voltada para a juventude que está na escola,
com atividades de ginástica, dança, esporte e
outros. Esta encontra-se intimamente ligada ao
crescimento da rede de ensino público nos

136 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
anos de 1950 e 1960. Este crescimento e a
prática de uma Educação Física mais
sistematizada e organizada para a população
mais carente provocam um redirecionamento
da teoria da Educação Física brasileira.
Tinha como preocupação despertar os
jovens para o social e a solidariedade, ao
aprender a cuidar do seu país. Pode-se dizer
que essa tendência impulsionou, aos poucos,
algumas alterações na prática da educação
física e na postura do professor, e este
profissional começa a ser mais valorizado.
Ghiraldelli (1998, p.19) diz que “o sentimento
corporativista de ‘valorização do profissional de
Educação Física’ permeia a concepção
pedagogicista”.
O desporto já crescia no meio social
desde os anos de 1920 e 1930, e este também
deixou sua marca na Educação Física no Brasil
e no mundo. Na visão Competitivista (pós-64),
a Educação Física reduz-se, meramente, ao
esporte. A ginástica e o jogo recreativo dão
lugar ao desporto, tornando-se a grande
influência do sistema escolar. O aluno passa a
ser o atleta – herói, e o conteúdo dessa
disciplina é determinado pelo esporte, com
seus princípios de racionalidade, eficiência e
resultado. Não há diferença entre professor e
treinador, este é contratado pelo seu
desempenho nas atividades desportivas. O
professor deixa de ser instrutor para ser
treinador, e esta tendência se fortalece na
pedagogia tecnicista.
Esta tendência sustenta-se por
ideologias militares que assumem o poder
executivo do Brasil em março de 1964, e que
tem como principal objetivo, nesta disciplinar,
melhorar o rendimento esportivo e trazer
medalhas olímpicas para o país.
É nessa fase da história que o rendimento, a seleção dos mais habilidosos, o fim justificando os meios estão mais presentes no
contexto da Educação Física na escola. Os procedimentos empregados são extremamente diretivos, o papel do professor é bastante centralizador e a prática, uma repetição mecânica dos movimentos esportivos (DARIO&RANGEL, 2008, p.4).
Os resultados da seleção brasileira de
futebol nas copas do mundo de 1958 e 1962
contribuem para manter este conteúdo nas
aulas de Educação Física, quando estabelece
também a importância dessas conquistas para
o povo e quando trabalha a ideologia de
conquistas sociais a partir das medalhas
alcançadas. Tenta-se ludibriar o povo
brasileiro, ao oferecer o desporto de alto nível,
em detrimento às melhorias sociais e
econômicas. Acaba por embutir na mentalidade
dos alunos-atletas, que através do esporte,
eles poderão conquistar seus sonhos,
principalmente nas camadas mais pobres da
sociedade.
Esse período também é conhecido como
tradicional, tecnicista ou mecanicista, e foi
bastante criticado na década de 1980, no
ensino superior, por defender que para ser um
bom professor, deveria também ser um bom
atleta.
A Educação física popular, que se
estende do período de 1985/1988 até 1996,
caracteriza-se, antes de tudo, pela ludicidade e
cooperação, emerge da prática social dos
trabalhadores e, em especial, das iniciativas
ligadas aos grupos de vanguarda do
movimento operário e popular. Ghiraldelli
(1998) diz que
A Educação Física Popular é, sim, uma concepção de Educação Física que emerge da prática social dos trabalhadores e, em especial, das iniciativas ligadas aos grupos de vanguarda do Movimento Operário e Popular (GHIRALDELLI, 1998, p. 33).

137 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
A ludicidade, a solidariedade, a
organização e a mobilização dos trabalhadores
na tarefa de construção de uma sociedade
efetivamente democrática, é o objetivo dessa
tendência. A Constituição da República de
1988, no Art. 217 deu um tratamento especial à
atividade física e institucionaliza o
entendimento das práticas desportivas como
um direito. Possibilitando assim, que todos da
população tenham acesso à prática esportiva,
de uma forma mais democrática.
Neste momento, a Educação Física não
apresenta uma linha teórica definida. Não se
preocupa com a saúde pública, não pretende
disciplinar as pessoas e nem está voltada para
busca de medalhas. Representa assim, um
momento de crise de identidade para a
Educação Física. Esta passa a estar ligada a
modismos (academia, testes físicos, novas
modalidades desportivas). No entanto, bem
como todas as outras tendências apresentadas
até agora, a Educação Física Popular, também
não vai ser encontrada isoladamente na
sociedade. Elas aproximam-se, distanciam-se,
ou entrelaçam-se em vários momentos da
prática do professor, até os dias atuais.
Essas tendências marcam a Educação física e sua história, que também são influenciadas por concepções pedagógicas que fazem com que ela comece a ocupar seu papel na Educação. No Brasil, na década de 1980, várias propostas pedagógicas surgem para esta disciplina na escola de educação básica, com o intuito de legitimá-la e quebrar esse modelo tecnicista, esportivista e tradicional. E estas são psicomotricidade, desenvolvimentista, construtivista, crítico-superadora, crítico-emancipatória, saúde renovada e PCNs (Parâmetro curricular nacional). (DARIDO& RANGEL, 2008).
A psicomotricidade, defendida pelo
francês Jean Le Boulch (1986), aparece no
final da década de 1970 e trata do estímulo ao
desenvolvimento psicomotor e aptidões físicas,
através da prática do movimento. Inicialmente,
é uma proposta educacional direcionada para
alunos portadores de deficiência física e
mental, e tem como foco o desenvolvimento da
criança, em todos os seus âmbitos de
aprendizagem.
A abordagem Desenvolvimentista
destaca a importância do movimento, ou seja,
direciona a Educação Física para o
desenvolvimento e aprendizagem motora. Há
um respeito ao desenvolvimento do homem, na
aquisição dos movimentos, através de uma
hierarquia que vai deste o início da vida, com
movimentos reflexos até a complexidade de
combinar os movimentos. É limitada, por não
levar em consideração, o contexto sócio-
cultural sobre o aprendizado motor.
A abordagem Construtivista sofre
influência das teorias levantadas por Vygostky
e por Jean Piaget, os quais afirmam que a
construção do conhecimento passa pela
relação do sujeito com o mundo. Esta
abordagem possibilita uma integração do
movimento ensinado com o conhecimento que
o aluno já apresenta, ao utilizar jogos e
brincadeiras que fazem parte do seu acervo
cultural. Os alunos aprendem a resolver
problemas, por intermédio das situações
apresentadas no jogo. O jogo tem um destaque
especial nessa proposta, porque faz parte do
cotidiano dos alunos e é realizado ludicamente.
A abordagem critico-superadora vem
colaborar, como as outras abordagens, por
entender que o aprendizado perpassa vários
pontos significantes do ensino. Os conteúdos
trabalhados nas aulas de Educação Física
devem considerar o social, as considerações
culturais e o aspecto cognitivo dos alunos, ao
proporcionar uma relação com o conhecimento
comum e o científico. Propõe que os conteúdos

138 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
sejam organizados simultaneamente, mais
aprofundados ao logo das séries. O seu objeto
de estudo é a cultura corporal como linguagem.
Esta abordagem foi apresentada por Taffarel e
colaboradores (1993), que ao publicar suas
propostas, de forma organizada e estruturada
de conteúdo, e até mesmo do processo de
avaliação, trouxe um olhar mais pedagógico e
social para a Educação Física. Todas essas
abordagens contribuem para que se crie uma
perspectiva educacional à Educação Física, e
assim sua legitimidade e o seu papel
pedagógico sejam estabelecidos, de fato, nas
escolas.
A Educação Física, na legislação educacional brasileira atual, é tratada no parágrafo 3º do artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. E graças a esse processo de legitimação, algumas mudanças aconteceram, como sua obrigatoriedade como componente curricular, à inclusão de todos os alunos e a consequente importância da diversificação das aulas, à busca de abranger todos os elementos da cultura corporal, e não somente o esporte, entre outras necessidades. Esta, apesar de todos estes anos, ainda está em vigor (MONTEIRO, [s.d.]).
Enquanto componente curricular e
legítimo, a Educação física é uma prática
pedagógica da Educação que se encontra na
área de linguagens, códigos e tecnologias de
acordo com alguns documentos oficiais, dentre
os quais se destacam a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB. 1996) e as
Orientações Curriculares para o Ensino Médio
(OCEM). (BRASIL, 2010). E como uma área de
linguagem, o corpo é o meio de expressar o
seu conhecimento e o seu aprendizado. Surge
de acordo com as necessidades sociais
concretas, e ao longo da história teve
diferentes entendimentos sobre seu objeto de
estudo. Entende-se que o movimento corporal
é uma forma de expressar seu pensar, seus
valores, sua cultura e em que contexto o
humano encontra-se na sociedade. Segundo
Taffarell et al (1993), a Educação Física deve
ter um olhar que
Busca desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o acervo de formas de representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da história, exteriorizadas pela expressão corporal: jogos, danças, lutas, exercícios ginásticos, esporte, malabarismo, contorcionismo, mímica e outros, que podem ser identificados como formas de representação simbólica de realidades vividas pelo homem, historicamente criadas e culturalmente desenvolvidas (TAFFAREL, 1993, p.38).
Como já tratado acima, Taffarel et al
(1993) traz uma nova discussão sobre a
expectativa da Educação Física em que tem
como objetivo a reflexão sobre a cultura
corporal, isso possibilita uma pedagogia que
desenvolve um novo pensar sobre valores
como solidariedade, cooperação, distribuição e
principalmente a liberdade de expressão dos
movimentos.
Nessa perspectiva da reflexão da cultura corporal, a expressão corporal é uma linguagem, um conhecimento universal, patrimônio da humanidade que igualmente precisa ser transmitido e assimilado pelos alunos na escola. A sua ausência impede que o homem e a realidade sejam entendidos dentro de uma visão de totalidade. Como compreender a realidade natural e social, complexa e contraditória, sem uma reflexão sobre a cultura corporal humana? (TAFFAREL,1993, p. 42)
Ver a Educação Física de forma
pedagógica, ao ter como área de conhecimento
a cultura corporal e aprender a expressão
corporal como linguagem, o jogo, a ginástica, o

139 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
esporte, a dança e a luta, proporcionam uma
nova forma de tratamento na escola. Um
tratamento que direciona um conhecimento
mais específico e dentro de um contexto social,
vivido pelo aluno. Segundo Silva (2005, p. 86),
por ser uma disciplina que tem como objeto de
estudo a corporeidade, as experiências práticas
corporais dos seres humanos são elementos
fundamentais. Então, cada conteúdo que é
desenvolvido nas aulas de Educação Física,
tem que ter um compromisso com o aluno, de
modo que o inserir dentro desse processo de
aprendizagem, faz com que ele interaja, o
tempo todo, com o conhecimento adquirido.
Segundo Freire (2005):
A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a libertação não pode furtar-se numa compreensão dos homens como seres vazios a quem o mundo “encha” de conteúdos; não pode basear-se numa consciência espacializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos homens como “corpos conscientes” e na consciência como consciência intencionada ao mundo. “Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a da problematização dos homens em suas relações com o mundo” (FREIRE,2005, p. 77)
A Educação Física passa a ser tratada
numa perspectiva em que a práxis pedagógica,
acontece através de uma reflexão do ser
humano sobre sua ação. Nesse estudo, o jogo
terá essa finalidade, inserido na cultura dos
alunos e com suas características lúdicas, ao
apresentar fatores favoráveis no processo de
ensino-aprendizagem.
O JOGO NO CONTEXTO
PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO FÍSICA
O jogo como integrante da cultura da
humanidade, esteve e está presente na
Educação, por proporcionar meios mais
prazerosos para a assimilação do
conhecimento. É um conteúdo da Educação
Física, desde que esta disciplina passou a ser
tratada como um componente curricular (Lei
9.394/96) pelo seu caráter pedagógico e
educacional. Como conteúdo, apresenta
grande relevância pelas suas características
que oportunizam ao processo de ensino-
aprendizagem, desde que esteja incluído
dentro de um projeto pedagógico e apresente
objetivos educacionais (FREIRE, 1997, p.75).
A esse conteúdo, que é tratado enquanto
sinônimo de brincadeira, ou seja, ambos têm o
mesmo conceito. Atribui-se o caráter de
ludicidade, por considerar sua tradução
original, do latim clássico ludus "jogo,
divertimento, recreação". A palavra ludicidade
não aparece no dicionário da Língua
Portuguesa.
Segundo Taffarel et al (1993, p.65), “o
jogo (brincar e jogar são sinônimos em diversas
línguas) é uma invenção do homem, um ato em
que sua intencionalidade e curiosidades
resultam num processo criativo para modificar,
imaginariamente, a realidade e o presente.” Ou
seja, é inerente a sua característica de
diversão, de lazer, presentes nas brincadeiras
infantis.
Como a vida acadêmica da criança inicia-se nos primeiros anos de vida, o jogo, nesta época, tem seu papel valorizado, por fazer parte de sua realidade e de seu desenvolvimento. Não dá para ensiná-las sem utilizar o lúdico, em algum momento, como método de ensino- aprendizagem. Por isso, vários são os estudos sobre a sua atuação na Educação, em diversos campos de conhecimento, que utiliza o jogo como um método de ensino aprendizagem, podemos citar os trabalhos clássicos de PIAGET (1977) e VYGOTSKY (1989) ou, mais atuais como o de MELO (2003); FREIRE(2009); BRACHT

140 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
(1992); KISHIMOTO(2008) e RAU (2007)
Jean Piaget, filósofo, biólogo,
especialista em epistemologia genética e em
psicologia evolutiva. Realizou pesquisas sobre
o desenvolvimento da criança, por mais ou
menos 50 anos, e tais estudos resultam em sua
teoria. Ao estudar o desenvolvimento cognitivo
nas crianças, defendeu a teoria de etapas ou
estágios. Onde dividia o processo de
equilibração (que é a sintonia entre assimilação
e acomodação) em estágio sensório-motor,
estágio pré-operacional, estágio das operações
concretas e estágio as operações formais,
todos baseados em suas fundamentações ao
longo das pesquisas (BARANITA,2012).
Os seres humanos, desde o nascimento
até à fase da adolescência, vão passando por
várias mudanças de forma ordenada e
previsível. Sobre a influência do brincar neste
processo de desenvolvimento infantil, Piaget
destaca que a atividade lúdica é o princípio das
atividades intelectuais da criança, por isso de
fundamental importância à prática pedagógica.
E apresenta três formas de jogo: o de
exercício; o simbólico e o de regras, que
passam do período inicial da infância até o
período de socialização (SILVA DE; LAUTERT,
2001p.8).
Tanto Vygotsky como Piaget, trazem
contribuições ao entender que o contexto social
e cultural da criança através do jogo, irão
interferir no aprendizado da criança.
Lev Semenovich Vygotsky nasceu em
Orsha, na extinta União Soviética. Professor e
pesquisador, ele contribuiu nas áreas da
educação: como filosofia, pedagogia,
psicologia, literatura, deficiência mental, e
outros. Defendia que o indivíduo é um ser sócio
histórico, pelo fato de o meio cultural em que
está inserido, influenciar o seu
desenvolvimento. Sobre o processo de ensino-
aprendizagem das crianças na escola, ele
afirmava que, a brincadeira é a atividade
predominante nos primeiro anos de vida, ao
criar fonte de desenvolvimento proximal, ou
seja, que caminho o indivíduo vai percorrer.
(SILVA DE; LAUTERT, 2001, p.8)
Tanto que Kshimoto (2007) afirma que a
análise do jogo é feita a partir da imagem da
criança, inserida em seu cotidiano, em um dado
momento. Segundo Bruner (apud KSHIMOTO,
2007, p.144), destaca que a criança aprende a
solucionar problemas por meio do brincar, ao
levar em consideração três elementos que
participam da aprendizagem: a aquisição de
uma nova informação, a sua transformação ou
recriação e a avaliação. Ou seja, através do
contato com o jogo e suas formas de brincar,
ao ver possibilidades de mudar a maneira de
brincar, de acordo com situações reais e
verificar como essas alterações foram
benéficas para o objetivo proposto.
Alguns estudiosos como Friedmann
(1996) citado por Rau (2007) afirma que o
recurso lúdico como elemento pedagógico é
importante na medida em que o educador pode
conhecer a realidade do brincar dos seus
alunos, seus interesses e necessidades,
comportamentos, conflitos e dificuldades.
Os estudiosos da área do lúdico definem
o lúdico como recurso que se presta ao
diagnóstico do processo de aprendizagem
infantil como uma maneira de o professor
perceber seu aluno em uma perspectiva
cognitiva, afetiva, psicomotora e social. A
propósito, Friedmann, em seus estudos,
destaca a importância do lúdico como recurso
pedagógico por meio do qual o educador pode
conhecer a realidade lúdica dos seus alunos,
seus interesses e necessidades,
comportamentos, conflitos e dificuldades”
(RAU, 2007, p. 81).

141 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
Outro estudioso, Johan Huizinga (2008,
p.5) professor e historiador holandês,
conhecido por seus trabalhos nas áreas da
história cultural, da teoria da história e da crítica
da cultura, relata o seguinte: “Encontramos o
jogo na cultura, como um elemento dado
existente antes da própria cultura,
acompanhando-a e marcando-a desde as mais
distantes origens até a fase da civilização em
que agora nos encontramos”. O jogo é uma
atividade lúdica que está presente no
desenvolvimento do ser humano e em nossa
sociedade. Tavares (2011) diz que ele pode ser
apresentado em vários contextos e objetivos:
O jogo aparece como momento de descontração de aulas altamente disciplinadas; o jogo aparece como instituição esportiva, sendo exigido o rendimento técnico; o jogo aparece enquanto momento de lazer, de brincadeira caracterizando-se como catarse de um ensino autoritário; o jogo aparece enquanto premiação após a realização de sessões de aulas com alto índice de desgaste físico; o jogo aparece enquanto “conteúdo” mais adequado a ser trabalhado com os alunos: queimado para as meninas e futebol para os meninos. (TAVARES, 2011, p. 126)
Mesmo com um perfil informal, o jogo
passa a fazer parte da infância e de cada fase
do desenvolvimento humano, com graus de
importância diferenciados. Conceituá-lo é
importante para entender como sua utilização
pode intervir na aquisição do conhecimento. De
acordo com alguns estudiosos como Rau
(2007):
O jogo “é essencialmente desejo satisfeito”, originado dos “desejos insatisfeitos” da criança que se tornam afetos generalizados. Define, como característica do jogo, o fato de que, nele, uma situação imaginária é criada pela criança. O brincar da criança é a
imaginação em ação (RAU, 2007, p. 46).
A imaginação está presente no
processo de desenvolvimento da criança: a
imaginação influencia o jogo e o jogo influencia
a imaginação. Trata-se de um exercício para a
vida adulta da criança. Um outro estudo
interessante, que enfatiza que a imaginação
não é só coisa de criança, foi feito com jovens
que usam o jogo eletrônico CS, em que o
imaginário está o tempo todo relacionando com
o real, e onde as sensações comuns aos jogos
são sentidas também.
Há uma dinâmica de imagens que age a favor do espírito comunitário, de um estar-junto no universo da lanhouse, podia sentir m seus olhares muito mais que duas equipes(terrorista e Contra-terroristas) “lutando” entre si, um querer estar ali saboreando um conjunto imagético que não se fecha naquele espaço, mas esxtrapola para as suas vidas.( QUEIROZ,2006, p. 40)
Apesar de esse estudo não estar
diretamente relacionado com o ambiente
escolar, não podemos deixar de ilustrar que as
novas tecnologias, fazem parte da vida
cotidiana da humanidade, e por isso não pode
ficar fora da escola. E porque não usar também
os jogos eletrônicos, como método de ensino-
aprendizagem? Já que a satisfação e o
interesse da nova geração de crianças e jovens
é visível. No entanto, esse não é o
direcionamento deste estudo, e sim discutir o
seu uso, seja qualquer tipo de jogo.
Então, nos questionamos: “Porque não
tratar o lúdico como recurso pedagógico em
toda a educação básica, para atender às
necessidades e interesses dos alunos e
professores no processo ensino-
aprendizagem?” Para Huizinga (2008):
O jogo é uma atividade ou ocupação
voluntária, exercida dentro de certos e

142 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
determinados limites de tempo e de espaço,
segundo regras livremente consentidas, mas
absolutamente obrigatórias, dotado de um fim
em si mesmo, acompanhado de um sentimento
de tensão e de alegria e de uma consciência de
ser diferente da vida quotidiana
(HUIZINGA,2008,p.33).
Esta definição colocada acima é que vai
embasar todo o conceito de jogo a ser tratado
neste estudo, justamente, por enfocar a
presença importante da ludicidade na nossa
cultura e no processo de ensino aprendizagem,
e o quanto é importante trazê-la de volta.
Enquanto conteúdo, o jogo é divertido e
prazeroso, e proporciona um aprendizado mais
efetivo e eficiente, por envolver campos de
conhecimento a nível cognitivo, físico, social e
afetivo. Na escola, o jogo apresenta uma nova
conotação, e ao mesmo tempo não, pois ele
não perde suas características lúdicas, mas
apresenta uma concepção pedagógica ao
proporcionar uma forma de desenvolver o
aprendizado. Independentemente do tipo de
brincadeira realizada, todos têm um caráter
educativo. Essa afirmação é reforçada por
Claparède (1911) , quando ela comenta que
“Todos os jogos são, por sua própria essência,
educativos” (KISHIMOTO, 2007, p. 108).
A partir de uma brincadeira, vários
conceitos são elaborados, valores são
aprendidos, relacionamentos são realizados,
conhecimento é produzido para acrescentar ao
comportamento das pessoas e da sociedade,
mudanças no agir e no pensar. Os costumes e
a cultura são influenciados assim também, por
essa troca de experiências. Kshimoto (2008)
acredita que o jogo e a cultura estão
intimamente relacionados:
O jogo é antes de tudo o lugar de construção (ou de criação, mas esta palavra é, às vezes, perigosa!) de uma cultura lúdica. Ver nele a invenção da cultura geral falta ainda ser provado.
Existe realmente uma relação profunda entre jogo e cultura, jogo e produção de significado, mas no sentido de que o jogo produz a cultura que ele próprio requer para existir. É uma cultura rica, complexa e diversificada (KSHIMOTO,2008, p. 30).
O jogo e a cultura estão intimamente
relacionados, ao ser um dependente do outro.
Tanto pode a cultura de um povo determiná-lo,
como uma atividade lúdica determinar as
características de um povo, ou de uma
sociedade.
Nos seus estudos, Rau (2007) leva o
leitor a refletir sobre o brincar como um eixo
fundamental no desenvolvimento e na
aprendizagem do ser humano e estimula a uma
formação com os docentes, para que os
mesmos modifiquem sua práxis educativa.
Assim, criar um espaço, nos currículos
de formação docente, que aborde o lúdico
como práxis educativa escolar pode ser uma
alternativa por meio da qual o educador
conheça a realidade do seu grupo de crianças,
seus interesses e necessidades,
comportamentos, conflitos e dificuldades e que,
paralelamente, constitua um meio de estimular
os desenvolvimentos cognitivo, social,
linguístico e cultural, propiciando
aprendizagens específicas (RAU, 2007, p.49).
Freire (2008) realizou uma pesquisa
onde utilizou o jogo para auxiliar no processo
pedagógico em escolas da rede municipal de
Ensino de Florianópolis (SC). Ou seja, o
recurso lúdico também pode ser utilizado em
outras disciplinas, cujo intuito é tornar o
aprendizado mais atrativo e propiciar aos
educadores outras técnicas de ensino. Essa
experiência também fez com que os alunos
conseguissem envolver-se mais nas atividades,
ao desenvolver a capacidade de resolver os
problemas, interagir como os outros e, de uma
forma mais democrática, entender os pontos de

143 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
vistas apresentados durante as atividades.
Nessa experiência, a emoção aparece porque
é uma atividade que lida o tempo todo com as
sensações de acerto e de erro; podendo
caminhar para a satisfação ou para a
desilusão, sentimentos comuns no dia a dia
das pessoas.
Temos que entender que a emoção
está presente no jogo. Elaine Prodócimo (2007)
quando estuda o jogo nas aulas de Educação
Física num artigo sobre jogos e emoções,
afirma que não há como abstrair a emoção do
jogo.
o ambiente das aulas de Educação Física é privilegiado, pois as transformações de comportamento e o autoconhecimento ocorrem, como já citado do interno para o externo, do que realmente “nos toca” (emociona) para que assim possamos agir ou reagir, mas o que nos distinguirá será a consciência ou não dos nossos atos (PRODÓCIMO, 2007, p 136).
Todos esses estudos mostram a
aplicabilidade do jogo para a Educação. Ou
seja, como podemos adequar o ensino a uma
realidade mais prazerosa, já que o brincar,
durante tanto tempo, auxilia na aquisição do
conhecimento em diferentes etapas escolares.
Ao usá-lo para inserir uma nova forma de
ensinar e de aprender, educadores e
educandos renovam o seu olhar sobre o
processo de aquisição do conhecimento, que
passa a ser ampliado. No entanto, para essa
mudança de paradigma, a atuação dos
docentes é de suma importância. Ao trabalhar
com o jogo na Educação, o educador deve ter
claro seu papel pedagógico no contexto
escolar. (RAU,2007, p. 53)
Ainda tem-se poucos estudos sobre a
Educação Física no ensino médio,
a produção acadêmica sobre o Ensino Médio
no Brasil é uma forma de refletir sua relevância
acadêmico-científica na contemporaneidade.
Porém, o número de pesquisas neste nível de
ensino tende a ser reduzido em comparação na
já pouca produção sobre a Educação Física
escolar. (RUFINO et al.,2014 p.355)
Este estudo de Rufino (2014) teve
como objetivo analisar, tanto de forma
quantitativa quanto qualitativa a produção
acadêmico-científica sobre a Educação Física
no Ensino Médio no Brasil, entre os anos de
2001 até 2011. Entretanto, ainda há uma
deficiência em pesquisas sobre esse nível de
ensino. Assim, é de extrema importância que
estudos sejam feitos sobre a Educação física,
neste período da Educação Básica, para
também justificar sua permanência no currículo
escolar, diante dessas reformas educacionais
que estão acontecendo.
METODOLOGIA
Esta pesquisa foi planejada e
desenvolvida de acordo com as regras
previstas na pesquisa bibliográfica, onde o
pesquisador passa a ter contato com boa parte
do material que foi desenvolvido a respeito da
pesquisa em tela (GAIO,2008); seja na
utilização de livros, artigos científicos e
dissertações, cuja principal finalidade é
relacionar o problema de pesquisa aos dados
teóricos.
Para um maior entendimento do objeto
da pesquisa, e de acordo com o que foi citado
anteriormente, esse estudo busca explicações
nas concepções interacionistas de Piaget e
Vygotsky, que são clássicos do estudo sobre o
desenvolvimento cognitivo, especialmente na
infância, a partir do trabalho com os jogos, e
também ao Coletivo de Autores, por acreditar
que seus estudos trouxeram uma
sistematização e organização aos conteúdos
da Educação Física.

144 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
O tipo de pesquisa etnográfico
caracteriza-se por um contato direto do
pesquisador com a situação pesquisada, com
uma abordagem qualitativa, relacionando o
material teórico retirado de livros, artigos,
documentos e dissertações sobre a Educação
Física, com a experiência do pesquisador em
sala de aula com alunos do ensino médio. Os
procedimentos de procura e levantamento de
informações foram feitos de forma aleatória
para todas as coletas, referindo-se aos termos
inseridos nas buscas a partir dos termos a
seguir: “Educação Física”, ”jogos” e “Ensino
Médio”.
Esta pesquisa é qualitativa por dois
aspectos importantes: primeiro, porque a forma
dos dados serem coletados se deu a partir da
etnografia e, segundo, porque não se utiliza de
dados numéricos, visto que a observação
participante foi fundamental na interação entre
o pesquisador e o seu objeto de pesquisa
(alunos do ensino médio); neste tipo de
realidade estudada, o pesquisador tem sempre
um grau de interação com a situação estudada,
afetando-a e sendo afetada por ela.
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
O Ensino Médio pela LDBN (Lei de
diretrizes e bases da Educação Nacional) de
1996 é a etapa que completa a Educação
Básica, definindo-a como a conclusão de um
período de escolarização de caráter geral. Em
seu artigo 35 prevê que o Ensino Médio, etapa
final da Educação Básica, com duração mínima
de três anos, terá como finalidade:
I – a consolidação e o aprofundamento
dos conhecimentos adquiridos no Ensino
Fundamental, possibilitando o prosseguimento
de estudos; II – a preparação básica para o
trabalho e a cidadania do educando, para
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de
se adaptar com flexibilidade a novas condições
de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
III – o aprimoramento do educando como
pessoa humana incluindo a formação ética e o
desenvolvimento da autonomia intelectual e do
pensamento crítico; IV – a compreensão dos
fundamentos científico-tecnológicos dos
processos produtivos, relacionando a teoria
com a prática, no ensino de cada disciplina.(
GARIGLIO,2017, p.57).
Baseando-se na proposta pedagógica do
Ensino médio, este estudo quer levantar e
discutir as possíveis contribuições que o jogo,
como um método didático neste período
escolar pode proporcionar, já que em muitos
momentos e por suas características, o jogo
produz o exercício da socialização, interação e
respeito a valores, importantes no
desenvolvimento de um ser crítico e atuante na
sociedade.
Além de reforçarmos os debates sobre a
legalidade da Educação Física neste contexto,
apesar de que esse não é o nosso foco. As
reformas educacionais atuais mexem com o
currículo do Ensino médio. Essas novas
mudanças no ensino levantam uma questão
sobre a legitimidade da Educação Física,
principalmente nesse período de ensino.
E é neste cenário, que a Educação
Física deve buscar encontrar seu alicerce na
Educação, seu objeto de estudo, seu “norte”, e
garantir seu espaço, cada vez mais, ao
incentivar à participação e o resgate da cultura
do movimento nesse nível de ensino. A partir
do momento em que o número de aulas no
ensino médio de Educação Física é reduzido
ou, quando essas aulas passam a depender de
cada escola, o que exige do professor uma
nova postura didática, para atender aos
conteúdos proposto para esse nível de ensino
e para garantir que seja eficiente na
transmissão de conhecimento.

145 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
Em seus estudos sobre a Educação
Física no ensino médio da rede estadual do
município de Petrópolis, Brandolin et al (2015)
diz que a Educação Física ainda é a disciplina
que mais gera satisfação aos alunos do ensino
médio. Apesar de todos os estudos
apresentados, é importante considerar que esta
discussão só poderá promover uma mudança
de paradigma nas aulas de Educação Física,
se o docente tiver uma clara convicção do
papel dessa disciplina e estiver disposto a
inovar sua atuação didática. Será que ao
mudar a prática utilizada com esses alunos,
não estarei (enquanto educadora)
resignificando o aprendizado desses alunos? E
o jogo por tudo que representa não contribuiria
de uma forma mais prazerosa e satisfatória
para o processo de ensino-aprendizagem dos
alunos do Ensino Médio?”
A partir das pesquisas que foram
levantadas para fundamentar este estudo,
percebeu-se a importância do jogo nas aulas
de Educação Física ir além do seu papel de
conteúdo, e adentrar nos outros conteúdos, e
possibilitar ao educando o prazer de aprender
ao jogar, de forma prazerosa e divertida,
sensações ímpares do jogo.
Que o jogo, enquanto conteúdo é atrativo
e tem um significado, não só para as crianças
como também para as outras etapas de
desenvolvimento, isto é um fato. Quando houve
essa proposta de apresentar uma nova
perspectiva de usar o jogo como uma
ferramenta didática, no ensino médio, teve por
finalidade retomar o espaço que ele já ocupava
na escola, de educativo, mas ao mesmo tempo
lúdico e prazeroso. O intuito não é “jogar por
jogar”, ou simplesmente “dar a bola”, mas
aproximar mais o conhecimento do alunado
através de algo que, de certa forma, terá um
olhar mais encantador para os adolescentes e
jovens do ensino médio. Os jovens dessa
geração Y nasceram essencialmente na
mesma época do início das evoluções
tecnológicas e da globalização, fatos que
influenciaram nas características, nos ideais e
no comportamento desses indivíduos. Eles são
estimulados continuamente de várias formas e
através de uma infinidade de meios. E o
ambiente escolar deve buscar inovar suas
ações didáticas, nesse intuito de atraí-los e
conquistá-los.
É a primeira geração da história a ter maior conhecimento do que as anteriores na tecnologia. Convivendo com a diversidade das famílias, tendo passado a infância com a agenda cheia de atividades e de aparelhos eletrônicos, as pessoas dessa geração são multifacetadas, vivem em ação e administram bem o tempo. (COMAZZETTO et al, 2016, p.147)
Neste contexto, as aulas de Educação
Física devem propor também um aprendizado
que leve em consideração estas características
apresentadas. O fato de trabalhar com o jogo
tem por finalidade estimular a participação dos
alunos ao tratar-se de conteúdos que fazem
parte das aulas e que não são tão atrativos
como os esportes, como por exemplo a dança
e ginástica.
Esta pesquisa tem como objetivo
levantar uma discussão sobre o papel do jogo
no processo de ensino aprendizagem nas aulas
de Educação Física, com os alunos do ensino
médio, mas no decorrer das pesquisas
bibliográficas verificou-se uma escassez de
estudos sobre esse tema ou temas
correlacionados que pudessem embasar uma
discussão. Foi verificado também em muitos
trabalhos e estudos sobre a importância na
fase inicial da Educação básica, ou seja, nos
primeiro anos de ensino. Assim, como vários
outros onde o jogo é um método didático em
outras disciplinas em diferentes níveis de
estudo. Sant’Anna (2011) ao analisar sobre

146 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
novos métodos no ensino da matemática,
trouxe à tona o jogo, por ser mais atrativo e
divertido, mas principalmente por entender o
papel do lúdico, na aquisição de conhecimento
na história da humanidade. Mostra também, só
como o jogo é visto nas aulas de Educação
Física, ele aponta que,
Os povos primitivos davam à educação física uma importância muito grande e davam total liberdade para as crianças aproveitarem o exercício dos jogos naturais, possibilitando assim que esses pudessem influenciar positivamente a educação de suas crianças.. (SANT’ANNA,2011, pg20)
Apesar desse estudo ser direcionado a
educação das crianças, pode-se entender
sobre a importância das aulas de movimento
através do jogo e tudo aquilo que o envolve,
em outras etapas de ensino.
Esse artigo acaba por levantar algumas
probabilidades de pesquisa, em que traga
outras informações sobre as possíveis
contribuições do jogo no processo de ensino-
aprendizagem nas aulas de Educação Física,
pois também nessa disciplina o interesse de
participação dos alunos é muito volúvel,
dependendo, muitas vezes, da mediação do
professor e dos métodos usados.
REFERÊNCIAS
ANDRADE FILHO, Nelson Figueiredo de.
Teoria da legitimação da educação
física brasileira: a cultura corporal de
movimento em discussão. In Anais do
XVIII Congresso Brasileiro de Ciências
do Esporte(CONBRACE). V Congresso
Internacional de Ciências do
Esporte(CONICE). Agosto.2013
BARANITA, Isabel. A importância do Jogo no
desenvolvimento da Criança.
Dissertação Mestre em Ciências da
Educação.2012
BRACHT, Valter. Educação Física e
aprendizagem social. Porto Alegre:
Magister,1992
______. Educação física: conhecimento e
especificidade. In: SOUSA, Eustáquia
Salvadora; VAGO, Tarcísio Mauro (Org.).
Trilhas e partilhas: educação física na
cultura escolar e nas práticas sociais.
Belo Horizonte: Cultura, 1997a. p. 13-
BRASIL. Secretaria de Educação Básica.
Orientações curriculares para o
Ensino Médio: Linguagens, Códigos e
suas Tecnologias. Brasília: Ministério
da Educação, 2006. 239 p. Disponível
em:
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pd
f/book_v olume_01_internet.pdf>.
Acesso em: 27 out. 2010
BRANDOLIN, Fabio; KOSLINSKI, Mariane
Campelo; SOARES, Antônio Jorge
Gonçalves. A percepção dos alunos
sobre a educação física no ensino
médio. Rev. Educ. Fís/UEM, v. 26, n. 4,
p. 601-610, 4. trim. 2015
CASTELLANI FILHO, Lino. Educação Física
no Brasil: a História que ñ se conta.
Campinas, Papirus, 1988
COMAZZETTO, Letícia Reghelin;
VASCONCELLOS, Sílvio José Lemos;
PERRONE, Cláudia Maria;
GONÇALVEZ, Julia. Um estudo
comparativo entre gerações.
Psicologia: ciência e profissão
jan./mar. de 2016 | 36 (1), 145-157.
DARIDO, Suraya Cristina; RANGEL, Irene
Conceição Andrade. Educação Física
na escola: implantações para a prática

147 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2008
FREIRE, João Batista. Educação de Corpo
inteiro: teoria e prática da Educação
Física. São Paulo: Scipione,1997
FREIRE, João Batista; FEIJÓ, Atagy Terezinha
Marciel. Oficinas do jogo: uma
abordagem pedagógica
transdisciplinar nas séries iniciais do
ensino fundamental. Revista Brasileira
de Ciências do Esporte, vol. 29, núm. 3,
mayo, 2008, pp. 107-121
GAIO, Roberta. Metodologia de pesquisa e
produção de conhecimento. Petrópolis,
RJ:Vozes,2008. parte 3(p. 147-171)
GARIGLIO, José Ângelo; JUNIOR, Admir
Soares Almeida; OLIVEIRA, Cláudio
Márcio.O “Novo” Ensino Médio
:implicações ao processo de
legitimação da Educação Física.
Revista Motrivivência, Florianópolis/SC,
v. 29, n. 52, p. 53-70, setembro/2017
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos
de pesquisa. São Paulo: Atlas,2002
GHIRALDELLI, Jr.Paulo. Educação Física
progressista: a pedagogia crítico-
social dos conteúdos e a educação
brasileira. São Paulo: Loyola, 1998.7ª
ed.
GOIS JUNIOR, Edivaldo. Os higienistas e a
educação física: a história dos seus
ideais. Dissertação de Mestrado.Rio de
Janeiro(RJ), 2000
*HUIZINGA, Johan. Homo Ludens: o jogo
como elemento da cultura. São Paulo:
Perspectiva, 2008
IMBERNÓN, Francisco (Org.). A educação no
século XXI; os desafios do futuro
imediato. Porto Alegre: Artes Médicas
Sul, 2000. 2ºed.
JÚNIOR, Adriano José Rossetto(org.). Jogos
Educativos: estrutura e organização
da prática. São Paulo: Phonte,2009. 5ª
ed.
KISHIMOTO, Tizuko Morchiba (Org.). O
brincar e suas teorias. São Paulo:
Cengage Learning, 2008
____________, Tizuko Morchiba. Jogos
Infantis: o jogo, a criança e a
educação. Petrópolis (RJ): Vozes,2007
MELO, Marcelo Soares Tavares. O ensino do
jogo na escola: uma abordagem
metodológica para a prática
pedagógica dos professores de
Educação Física. Recife: EDUPE, 2003
MONTEIRO, Fabricio. A educação física
escolar e a LDB. Prefeitura de São
Paulo – EMEF João Ribeiro de Barros
Faculdade Estácio – SP
PIAGET, Jean. O julgamento moral na
criança. São Paulo: Mestre Jou, 1977.
PRODÓCIMO et al. Jogo e emoções:
implicações nas aulas de Educação
Física Escolar. Motriz, Rio Claro, v.13
n.2 p.128-136, abr./jun. 2007
QUEIROZ, Gustavo Morais. Uma poética do
ciberespaço: um olhar mitocrítico
sobre o clan xTm e o game Counter
Strike. Dissertação de mestrado em
Antropologia da UFPE. Recife,2006
RAU, Maria Cristina Trois Dorneles. A
ludicidade na educação: uma atitude
pedagógica. Curitiba: Ibpex, 2007
RUFINO, Luiz Gustavo Bonatto; FERREIRA,
Aline Fernanda; CARVALHO, Amarílis
Oliveira; RICCI, Christiano Streb;
DARIDO, Suraya Cristina. Educação
Física Escolar no ensino médio
:analisando o estado da arte. Revista
Brasileira Ciências e Esporte,
Florianópolis, v. 36, n. 2, supl., p. S353-
S369, abr./jun. 2014

148 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
SANT’ANNA, A.; NASCIMENTO, P. R. A
história do Lúdico na educação. V.6.
Florianópolis: Reupmat, 2011.
SILVA, Ana maria. Corpo, conhecimento e
Educação Física escolar. In: SOUZA
JÚNIOR, MARCÍLIO (org). Educação
Física escolar: Teoria e política
curricular, saberes escolares e proposta
pedagógica. Recife: EDUPE, 2005. P. 86
SILVA DE, Djalma Oliveira; LAUTERT, Elin
Maria Lanius. Educação Infantil:
Sociointeracionismo (teorias que
embasam o comportamento lúdico da
criança). Revista do Professor. Porto
Alegre. jun. 2001, ano 16, nº66, p.7 a 17
SOARES, Carmem Lúcia. Educação Física:
raízes europeias e Brasil. Campinas-
SP: Autores Associados, 2007.4ª ed.
TAFFAREL, Celi N. et al. Metodologia do
ensino de Educação Física. São Paulo:
Cortez,1993
TAVARES, Marcelo; SOUZA JÚNIOR, Marcílio.
O jogo como conteúdo de ensino para
a prática pedagógica da Educação
Física na escola. In: TAVARES,
Marcelo. Prática pedagógica e formação
profissional na Educação Física:
reencontros com caminhos
interdisciplinares. Recife: EDUPE,2011.
Cap.08
VYGOTSKY, L.S. A formação social da
mente. 3. ed. São Paulo: Martins
Fontes, 1989.

149 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
RELATO DE EXPERIÊNCIA DANÇA: UM DESAFIO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RESUMO Este artigo apresenta um relato que traz a experiência das aulas de Educação Física na Escola Estadual Doutor Fábio Corrêa no segundo bimestre de 2017 e teve como objetivo desenvolver o interesse dos estudantes do Ensino Fundamental II sobre a importância da dança nas aulas de Educação Física para o desenvolvimento da expressão corporal em geral. O problema base desse relato é que os estudantes não são atraídos pelo eixo temático "dança" nas aulas de Educação Física. Inicialmente foi questionado aos alunos o que eles entendiam por dança e a partir disso foifeita uma explanação sobre a história da dança e apresentação de textos e vídeos relacionado o planejamento de cada turma. Estes vídeos eram tanto de grupos de danças profissionais, quantos de estudantes em aulas de outras escolas. Em seguida, os estudante foram levados a conhecer os fundamentos da dança (cadência, ritmo, níveis, direções e trajetos de passos). Por fim, eles apresentaram, tanto em forma de seminário quanto com uma coreografia, um estilo de dança. Foi possível ver que a resistência sobre esse conteúdo permaneceu bastante elevada, mas foi modificada após vivência e experimentação dessa prática corporal. É necessário que nós, professores de Educação Física, nos sensibilizemos mais sobre a importância desse conteúdo para o desenvolvimento dos nossos alunos, possibilitando uma reflexão sobre essa prática. Palavras-chave: Estudantes, Dança, Educação Física.
EXPERIENCE REPORT
DANCE: A CHALLENGE IN THE LESSONS OF PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
This article presents an account that brings the experience of Physical Education classes in the State School Doctor FábioCorrêa in the second bimester of 2017 and had as objective to develop the interest of Elementary School students on the importance of dance in the classes of Physical Education for the development of body expression in general. The basic problem of this report is that the students are not attracted to the thematic axis "dance" in the classes of Physical Education. The students were initially asked what they understood by dancing and from this an explanation was made about the history of dance and the presentation of texts and videos related to the planning of each class. These videos were from professional dance groups, as well as from students in classes at other schools. Then the students were brought to know the basics of dance (cadence, rhythm, levels, directions and steps paths). Finally, they presented, both in seminar form and with a choreography, a style of dance. It was possible to see that the resistance on this content remained quite high, but was modified after experimenting and experimenting with this corporal practice. It is necessary for us physical education teachers to become more aware of the importance of this content for the development of our students, allowing a reflection on this practice. Keywords: Students, Dance, Physical Education.
INTRODUÇÃO: JUSTIFICANDO A DANÇA
NO CENÁRIO ESCOLAR
Este artigo é resultado de um relatode
experiência das aulas de Educação Física, no
eixo temático dança, na Escola Dr. Fábio
Corrêa situada na Zona Norte de Recife no
segundo bimestre do ano de 2017. Foram
trabalhadas 8 turmas do 6° ao 9° anos do
ensino fundamental, onde em cada uma delas
foram vistos textos, vídeos e aconteceram
debates sobre o conteúdo. A problemática
levantada para esse relato foi de que os
estudantes não são atraídos pelo eixo temático
"dança" nas aulas de Educação Física. E teve-
se como objetivo principal desenvolver o
interesse dessesestudantes sobre a
importância da dança nas aulas para o
Renata Amanda Santos Lustoza
Maria de Jesus Teixeira Matias

150 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
desenvolvimento da expressão corporal em
geral.
Segundo Souza V. (2010) "A dança é
uma manifestação do ser humano presente em
todos os tempos e em todos os povos". Dessa
forma podemos considerá-la uma das poucas
atividades do ser humano em que o homem
está completamente envolvido, pois por meio
de suas expressões corporais manifesta seu
estado de espírito, deixando claro para quem
ver, seus sentimentos, emoções, desejos e
anseios.
De acordo com Verderi (2009): “O
homem primitivo dançava por inúmeros
significados: caça, colheita, alegria, tristeza,...
O homem dançava para tudo que tinha
significado, sempre em forma de ritual.” Isso
nos faz perceber que a dança é realmente uma
das artes mais antiga que o homem
experimentou. E que ao longo dos anos evoluiu
em conceitos, nos fatos sociais e culturais,
relevando a relação do homem com o mundo e
seus diferentes meios de vida.
A dança é movimento e não podemos
descrevê-la de forma satisfatória é preciso vivê-
la, senti-la e experimentá-la. Ela é inerente ao
ser humano, sendonecessário desmistificá-la,
cultivá-la e compartilhá-la. De acordo com
Carbonera e Cabonera (2008)
"Toda criança precisa de experiências de comunicação criativa e interpretativa por meio de movimentos. [...] A criança necessita ter a “sensação” de alegria e movimentar-se alegremente; retratar esse humor através da expressão de movimentos. Esses movimentos motivados pela emoção podem transmitir expressões francas e diretas de sentimentos, através de uma experiência de dança totalmente desenvolvida." (p.7)
Ainda segundo Carbonera e Cabonera
(2008) éprovávelalcançarauto-estema, auto-
avaliação,auto-confiança e representatividade
através da experiência de movimentos que
ofereça a oportunidade de: aprender por meio
de movimentos; ser criativo através do
movimento; aprender modelos rítmicos de
movimento; descrever as varias relações
espaciais ao manipular o corpo; aprender
padrões básicos de dança e combinar
atividades de movimentos com outras áreas
como a música, a arte, a ciência, a matemática
e a linguagem artística.
Não se pode privar os educandos de
experiências educacionais que ofereçam
aprendizagem em cada etapa do domínio
psicomotor e abranjam o ambiente de
aprendizagem mais relevante para a área não
discursiva. E é através da experiência motora
que a dança proporciona, colocando em prática
o movimento, que podemos descobrir o que o
nosso corpo pode fazer.
Durante os anos na escola muitos de
nossos estudantes não aprendem a contemplar
o movimento. É necessário primeiramente
conscientizar os educadores e educandos,
mostrando a eles como ter uma consciência
corporal será benéfica para sua vida futura.
A escola, enquanto meio educacional
deve oportunizar a prática motora, pois ela é
essencial e determinante no processo de
desenvolvimento geral da criança. Conforme
Gallahue eOzmun (2001) a escola, muitas
vezes, é o espaço onde, pela primeira vez, as
crianças vivem situações de grupo e não são
mais os centros das atenções, sendo que as
experiências vividas nesta fase darão base
para um desenvolvimento saudável durante o
resto de sua vida. Reafirmando o que os
autores supra-citados disseram, Marques
(2012, apud REIS, 2013) diz,
”a escola oportuniza acesso à dança. A escola garante continuidade de projetos de dança. À escola cabe a ampliação de conhecimentos na área de dança. Historicamente é papel da escola

151 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
organizar currículos em que a dança esteja presente. A escola é um lugar por excelência para que inter-relações críticas e transformadoras ocorram de forma compromissada entre a dança, o ensino e a sociedade". (p. 9)
Lima ([2010?]) coloca que,
"trabalhar com a dança dentro de uma visão pedagógica vai muito além do que ensinar gestos e técnicas aos alunos. Na verdade trabalhar com a dança permite ensinar, da maneira mais divertida, todo o potencial de expressão do corpo humano. É um ótimo recurso pedagógico para desenvolver uma linguagem diferente da fala e da escrita, e até mesmo aumentar a socialização da turma". (p.13)
Nesta perspectiva, tanto os limites e
possibilidades de apropriação do conhecimento
por parte dosestudantes, bem como a
diversidade devem ser considerada na
Educação Física escolar como um princípio
que aplica à construção dos processos de
ensino aprendizagem, como também orienta a
escolha de objetivos e conteúdos, visando
assim, dilatar as relações entre os
conhecimentos da cultura corporal de
movimento e os sujeitos da aprendizagem,
buscando dessa maneira, ampliar dimensões
afetivas, cognitivas, motoras e socioculturais
dos educandos.
CONTEXTO METODOLÓGICO
O desafio da Educação Física Escolar
é fazer com que os alunos vivenciem novas
experiências para ampliar suas possibilidades
de expressão, comunicação, percepção e
criatividade. Contudo, no desenvolvimento
histórico, a educação escolar tem privilegiado
valores intelectuais em relação a valores
corporais. De acordo com Gariba (2007),
"A dança é importante para a formação humana, na medida em que possibilita experiências dos(as) alunos(as), bem como proporciona novos olhares para o mundo, envolvendo a sensibilização e conscientização de valores, atitudes e ações cotidianas na sociedade." (p.162)
O eixo temático "dança" faz parte do
currículo da Educação Física no Estado de
Pernambuco, de acordo com os Pernambuco
(2013)
"durante a Educação Básica, é imprescindível a abordagem da dança [...],deve fazer parte do conteúdo da Educação Física nos diferentes ciclos do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo com a reflexão do estudante sobre a cultura corporal e a realidade material que o cerca". (p. 42,43)
Para o segundo bimestre de 2017, foi
planejadopara oito turmas do 6° ao 9° anos
(duas turmas de cada série) do ensino
fundamental da Escola Dr. Fábio Corrêa
localizada na Zona Norte do Recife"a dança"
como tema de abordagem. No planejamento
inicial, era posto que para os 6° anos seria
trabalhado as Danças Regionais Brasileiras;
para os 7° anos seria trabalhado as Danças de
Salão; para os 8° anos trabalharíamos Danças
do Mundo; e para os 9° anos seria trabalhado a
Dança como meio de contar histórias. Contudo,
quando foi levado aos estudantes esta temática
muitos deles não aceitaram, nem entenderam o
porque desse tema, pois nunca tinham feito
nada sobre isto antes, além de muitos ainda
colocarem que por cunho religioso não
poderiam participar.
Nas quatro primeiras aulas, foi levado
aos estudantes textos sobre a origem da
dança, para que eles pudessem entender que a
dança é natural do ser humano. Também para
cada turma foi apresentado textos e vídeos que

152 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
tivessem ligação com planejamento inicial,
tentando seguir, minimamente, o que teria sido
planejado. Em seguida, houve uma roda de
conversas sobre o que eles entenderam sobre
os textos e vídeos vistos em sala e quais as
suasexpectativa para as aulas práticas que
estariam por vir. Nesse momento, também foi
posto a questão dos alunos evangélicos, que
por motivos pessoais não queriam/podiam
participar das aulas. E por fim, expliquei o
processo avaliativo para esse bimestre, que
seria composto pelas participação das aulas,
apresentação de seminários e apresentação de
coreografias sobre a danças de cada turma.
Nas seis aulas seguintes foram
práticas, onde foi trabalhado os fundamentos
básicos da dança como: cadência, ritmo, tipos,
níveis, direção e velocidade de passos,
posicionamento e sequências coreográficas.
Como se tratavam de estudantes do
Ensino Fundamental II, esperava-se que
elesestivessem enquadrados em etapas
distintas nos Ciclos de Aprendizagem, que, de
acordo com o Coletivo de Autores (2012) são,
para os 6° e 7° anos,
"o ciclo de iniciação à sistematização do conhecimento. Nele o aluno vai adquirindo a consciência de suas atividade mental, suas possibilidades de abstração, confronta os dados da realidade com as representações do seu pensamento sobre eles [...]. Ele dá um salto qualitativo quando começa a estabelecer generalizações." (p. 23)
E para os 8° e 9° anos,
"o ciclo de ampliação da sistematização do conhecimento. O aluno amplia s referências conceituais do seu pensamento; ele toma consciência da atividade teórica, ou seja, de que uma operação mental exige a reconstrução dessa mesma operação na sua imaginação para atingir a expressão discursiva [...].
O aluno dá um salto qualitativo quando reorganiza a identificação dos dados da realidade através do pensamento teórico [...]." (p. 23)
Contudo, pode-se perceber que os
estudantes se encontram, basicamente no ciclo
inicial, o da sistematização do conhecimento,
onde apenas os estudantes dos sextos anos
deveriam estar. Por este motivo, as aulas
prática tiveram basicamente o mesmo
direcionamento, sendo aplicada de forma mais
simples a todas as turmas. Pode-se perceber
que, ao longo das aulas ministradas, os
estudantes se soltaram, se divertiram e
puderam perceber que a dança no meio
escolar era diferente do que eles imaginavam
inicialmente. E também foi interessante ver que
mesmo os estudantes que seriam evangélicos,
participaram das aulas prática sem se sentirem
ofendidos.
Após as aulas práticas, foram feitas as
divisões dos grupos em cada turma e o sorteio
das danças que cada um deveria apresenta,
tanto um seminário quanto uma coreografia.
Foi respeitada a ordem do planejamento, onde
os sextos anos ficaram com as danças
regionais brasileiras (samba, forró, carimbó,
maracatu, frevo, entre outras); os sétimos anos
ficaram com as danças de salão (salsa, bolero,
tango, samba, forró, etc); os oitavos anos com
as danças internacionais(onde tentamos
abranger os cinco continentes); e os nonos
anos ficaram com a danças teatrais(onde cada
equipe das duas turmas escolheram palavras
antagônicas - amo-ódio, branco-preto, riqueza-
pobreza - para representá-las dançando como
se tivessem contando uma história).
Ao longo das seis aulas seguintes, as
equipes tiveram os espaço das aulas de
Educação Física para a escolha das músicas a
serem trabalhadas, ensaiar suas coreografias,
pesquisar para o seminário, tudo sob a

153 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
orientação da professora. Foram semanas
muito intensas, onde os estudantes puderam
sentir a real intenção da dança dentro do
contexto escolar. Onde o Coletivo de Autores
(2012) diz que,
"a capacidade da expressão corporal desenvolve-se num continuum de experiências que se iniciam na interpretação espontânea ou livre, evoluindo para a interpretação de temas da dança formalizada, onde conscientemente o corpo é o suporte da comunicação." (p.59)
Na semana que antecedeu às
apresentações das danças, houve o seminário,
o qual também fazia parte da avaliação
bimestral. Nele, os estudantes puderam
explicar sobre o estilo de dança que seria
apresentado. Foi nesse momento que os
estudantes que não poderiam participar da
parte prática dessa atividade puderam dar sua
contribuição, bem como na ajuda aos grupos
com figurino, cenário entre outros.
Na semana das apresentações, os
estudantes preferiram fazê-las apenas para a
sua turma, pois alegaram ainda terem
vergonha para se apresentarem à toda
comunidade escolar. Ao término dessa
semana, pode se ver como os educandos
estavam felizes com seus trabalhos. E em
conversas posteriores foi notado como o
estereótipos da dança como eixo temático nas
aulas de Educação Física foi modificado.
RESULTADOS E CONCLUSÕES
Este artigo teve como foco relatar uma
experiência sobre a realidade das aulas de
Educação Física com o eixo temático dança,
onde apesar do ensino deste tema ser uma
realidade real ela ainda está muito aquém do
que seria ideal.
Como era de se esperar, houve a
resistência de alguns alunos, tanto nas aulas
quanto na montagem e apresentação das
coreografias. Mas foi bastante satisfatório ver
que a grande maioria das oito turmas
trabalhadas, se empenharam e apresentaram
um belíssimo trabalho. Diferentemente do que
foi problematizado, foi possívelconcluir que os
estudantes tem interesse na dança como
conteúdo de aula, mas para isso é necessário
uma sensibilização do profissional de
Educação Física que oferecer esse conteúdo,
pois o professor deve esclarecer a importância
deste para o desenvolvimento da expressão
corporal em geral dos estudantes.
Nós professor devemos modificar a
nossa visão sobre adança, porque muitas
vezes acabamos atropelando-a dentro do
nosso planejamento, dando mais atenção a
outros conteúdos, como por exemplo jogos e
esportes. Assim fazendo com que os
estudantes não tenham a vivência necessária,
e consequentemente, continuem tendo
resistência a esse tema.
Para que consigamos desencadear o
processo de aprendizagem dos educandos é
necessário que, nós professores, aceitemos o
desafio de tornar as práticas educativas mais
condizentescom a realidade dos estudantes,
possibilitando condições para que os mesmos
elaborem, critiquem o conhecimento, e dele se
apropriem.
Como resultado de relato, foi possível
avaliar a relevância de se propagar e cultivar o
eixo temático dança no contexto escolar,
sugerindo uma reflexão sobre a prática.
REFERÊNCIA
CARBONERA D.; CARBONERA S. A. A importância da dança no contexto

154 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
escolar.2008. 61 f. Trabalho de conclusão de curso(Monografia) - Pós-Graduação em Educação Física Escolar,Faculdade Iguaçu, ESAP, Cascavel, Paraná. 2008.
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino da educação física. 2 ed. São Paulo. Cortez, 2012.
GALLAHUE, D.L.; OZMUN, J. C. Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos. São Paulo.Phorte, 2003.
GABIRA, M; FRANZONI, A. Dança: uma possibilidade na Educação Física. Revista Movimento. Porto Alegre, v.13, n. 02. 2007.
LIMA, M.S.A. da S.A importância da dança no processo ensino aprendizagem. [2010?]Disponível em: <https://www.monografias.brasilescola.uol.com.br/educacao> Acessado em: 05 de julho de 2018
PERNAMBUCO. Governo do Estado. Secretaria de Educação. Parâmetros para a Educação Básica do Estado de Pernambuco - Parâmetros Curriculares de Educação Física - Ensino Fundamental e Médio. Recife: UNDIME-PE, 2013.
REIS, D. R. de. Relato de experiência: PIBD dança - relato de experiência na Escola Estadual Presidente Roosevelt no terceiro ano do Ensino Fundamental.2013. 65 f. Trabalho de conclusão de curso (Monografia) - Curso de Licenciatura em Dança,Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 2013.
SOUZA. V. M. L. de. Dança escolar: uma proposta ressignificada. Revista Digital. Buenos Aires, Año 15, Nº 147, Agosto de 2010. Disponível em:<www.edfeportes.com> Acessado em: 25 de junho de 2018
VERDERI, EB .Dança na escola: uma abordagem pedagógica. São Paulo: Phorte, 2009.

155 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
A UTILIZAÇÃO DAS CANTIGAS DE RODA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO
A pesquisa tem natureza bibliográfica e buscou compreender a contribuição das cantigas de roda no desenvolvimento das crianças da educação infantil. O referencial teórico abordou a criança, as cantigas de roda e a sua dimensão lúdica. Como achados: O valor cultural das cantigas de roda e a sua dimensão lúdica; o desenvolvimento da representação simbólica a partir da dimensão lúdica das cantigas de roda; emergiram como achados: o desenvolvimento da motricidade, afetividade, sociabilidade e linguagem verbal, deixa evidenciadas linguagens expressivas e simbólicas que contribuem no desenvolvimento das crianças na educação infantil. Palavras-chave: utilização; cantigas de roda; educação infantil.
THE USE OF WHEELCHAIRS IN CHILDREN'S EDUCATION
ABSTRACT
The research has a bibliographic nature and sought to understand the contribution of cantigas de roda in the development of children in early childhood education. The theoretical framework addressed the child, the cantigas de roda and its playful dimension. As findings: The cultural value of the cantigas de roda and its playful dimension; the development of symbolic representation from the playful dimension of the cantigas de roda; emerged as findings: the development of motricity, affectivity, sociability and verbal language reveals expressive and symbolic languages that contribute to the development of children in early childhood education. Keywords: utilization; wheel songs; child education.
INTRODUÇÃO
O presente artigo trata da contribuição
das cantigas de roda no desenvolvimento
integral das crianças da educação infantil, uma
vez que as cantigas de roda são elementos da
cultura na primeira infância, apesar de
geralmente despertar pouco interesse de
pesquisa.
O levantamento do estado do
conhecimento deste objeto de estudo
possibilitou refletirmos que são escassos
estudos acerca das cantigas, dentre os poucos
encontrados, destacamos estudo de Martins
(2012) que tratou a respeito do estético e do
poético da cantiga de roda.
Assim, define-se como objeto principal
desta pesquisa a utilização das cantigas de
roda na educação infantil, pois estas
contribuem para o desenvolvimento das
crianças.
Neste sentido, a questão primordial que
norteia este artigo consiste em saber: De que
maneira a utilização das cantigas de roda
contribuem para o desenvolvimento das
crianças da educação infantil?
Dessa maneira inscreve-se como
objetivo geral da pesquisa: compreender a
contribuição das cantigas de roda no
desenvolvimento das crianças da educação
infantil e os específicos identificar e analisar
aspectos das cantigas que contribuem no
desenvolvimento das crianças da educação
infantil.
O referencial teórico está organizado a
partir da categoria: As cantigas de roda no
desenvolvimento das crianças da educação
infantil, e tem como subcategorias: Educação
Roberta Vivianne de Oliveira Florencio S
Edijanete Angela Andrade de Sousa

156 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
infantil: a criança na primeira infância; as
cantigas de roda como expressão da cultura e
a sua dimensão lúdica no desenvolvimento da
criança da educação infantil, cuja construção
foi desenvolvida a partir do diálogo com as
autoras Haddad et al., (2015); Freitas (2014);
Martins (2012), dentre tantos outros.
A metodologia segue pressupostos
discutidos em Minayo (2002), no que trata
acerca da pesquisa bibliográfica, a qual
optamos para construção deste artigo.
E como resultados, destacamos a
dimensão lúdica, presente nas cantigas de roda
e que emerge a partir da poesia, da dança e da
música como linguagens expressivas e
simbólicas próprias dessas cantigas.
AS CANTIGAS DE RODA NO
DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL.
A Educação Infantil é uma fase de
grandes aprendizados para a criança, e há
inúmeros instrumentos que são utilizados
nesse período a fim de contribuir com o
adequado desenvolvimento, como é o caso das
cantigas de roda, as quais são comumente
usadas e facilitam o crescimento infantil.
O desenvolvimento da criança é um
trabalho gerador de cultura e é através da
cultura lúdica infantil do brincar e do contar que
há o estímulo da criatividade e sensibilidade
das crianças, uma vez que, as mesmas
passam a ter um desenvolvimento afetivo,
cognitivo e social.
Assim, no decorrer desta pesquisa,
discutimos inicialmente a criança da primeira
infância na educação infantil, com suas
concepções ao longo da história e, em seguida,
adentramos nas cantigas de roda, quanto ao
seu significado e contribuição no
desenvolvimento das crianças desta etapa de
ensino.
Educação infantil: a criança na primeira
infância.
O conhecimento acerca da criança nos
seus primeiros anos e seu papel na realidade
social é objeto de interesse de várias ciências
com perspectivas de aprofundar conceituações
e o lugar que esta, historicamente, ocupa na
realidade social. Na década de 1970, Ariès
(1975) desenvolveu um estudo sobre a história
social da criança e da família, mais
especificamente da Europa, no qual apresenta
visões de crianças que foram construídas ao
longo da idade média e moderna, evoluindo em
uma concepção mais aproximada ao que vem
sendo discutido na contemporaneidade, em
termos de reconhecimento de suas
singularidades e necessidades.
Outro estudioso, o sociólogo Charlot
(1970) dentre outras nos instiga a refletir que a
dependência da criança com relação ao adulto
é um fato social e não natural, uma vez que a
criança é sujeito integrante de uma sociedade
desigual em aspectos sociais, culturais e
políticos, o que implica na negação do direito à
criança a uma escola voltada as suas
especificidades a despeito de no âmbito da
legislação.
Dessa maneira, estudiosos como
Charlot (1970), Ariès (1975) e, mais
especificamente, Kramer (2006), contribuem
para ampliar a compreensão de que “crianças
são cidadãos, pessoas detentoras de direitos,
que produzem culturas e são nela produzidas”
(p. 15). A autora (idem) ressalta ainda que “[...]
A infância, mais que estágio, é categoria da
história: existe uma história humana porque o
homem tem infância [...]” (p. 15).Tendo em
vista o que dizem os/as autores/as acerca do

157 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
conceito de criança e de infância na
contemporaneidade, a criança é considerada
no âmbito da legislação e da literatura
específica, sujeito de direito e de cultura a ser
reconhecida em suas singularidades e dentre
estas destacamos a brincadeira como uma
maneira que a criança tem de compreender o
mundo, ao mesmo tempo em que muda a
ordem das coisas.
Assim, se inscreve a necessidade de
refletir sobre espaços de formação para a
criança no sentido de possibilitar a mesma o
exercício de seus direitos enquanto cidadã e
produtora de cultura; e dentre os espaços
formativos que atuam na educação das
crianças (família e escola) destacamos a
escola como espaço que pode possibilitar à
criança viver a sua infância em uma
perspectiva de integralidade no sentido de suas
múltiplas linguagens.
No entanto, pesquisas atuais revelam
que a escola ainda dista de um atendimento
que contemple a criança como ser de múltiplas
linguagens, que é constituída dialeticamente no
seu processo formativo em meio a interações e
brincadeiras com seus pares e adultos, tal
como está prescrito nas Diretrizes Curriculares
Nacionais de Educação Infantil (2009) em seu
artigo 9, que ressalta a brincadeira e interações
como eixo da proposta curricular na educação
infantil.
Haddad et al. (2015) destacam que a
escola ainda continua a busca pela didatização
da brincadeira em prol do atendimento de seus
fins de ensino
[...] prevalece a ideia, altamente compartilhada por professores e pais, de que as tarefas e lições são mais importantes que as brincadeiras livres iniciadas pelas crianças e de que os jogos devem ser acompanhados de um conjunto de objetivos de ensino de
conteúdos específicos (HADDAD et al., 2015, p. 12).
É visível a relevância de se tratar a
criança como sujeito de direitos e de cultura,
embora ainda seja muito recorrente a ideia de
que as ações desenvolvidas no ambiente
escolar devam estar a serviço do ensino de
conteúdos escolares, isto é, as brincadeiras
são legitimadas quando e se estão
relacionadas aos conteúdos propostos, não
visando o desenvolvimento da criança nas suas
múltiplas linguagens, especialmente na
brincadeira como espaço essencialmente
relevante no seu desenvolvimento integral.
A criança se desenvolve em meio a
interações nas suas distintas experiências nas
práticas sociais e o meio de comunicação que
mais se aproxima de seu jeito de ser e estar no
mundo é a brincadeira.
Lima (2005) enfoca como primeiro
passo para que haja um desenvolvimento em
sala de aula através das brincadeiras, que o
professor conheça os aspectos culturais das
crianças para poder desenvolver qualquer
atividade lúdica, enxergando, assim, o
potencial do desenvolvimento que está por trás
de cada brincadeira.
Enxergar o potencial de desenvolvimento, que está por trás da brincadeira, requer do educador conhecimentos sobre o tema e a adoção de atividades investigativas e reflexivas. As atividades lúdicas vivenciadas pelas crianças precisam ser transformadas em um espaço de observação atenta, no qual o educador, gradativa e progressivamente, amplia o seu conhecimento e a sua capacidade de decifrar e distinguir as diversas contribuições proporcionadas por esse tipo de atividade, na formação das capacidades humanas da criança (LIMA, 2005, p. 158).

158 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
Cada criança amplia seu conhecimento
de mundo e se desenvolve no sentido de
perceber a realidade na qual está inserida
conseguindo atuar em sua modificação e o
ambiente é visto como meio potencializador,
pois possibilita trocas entre as crianças.
Nesse contexto, é mister a participação
de um adulto na construção de ambientes
lúdicos voltados ao desenvolvimento das
crianças e dentre as possibilidades de vivenciar
situações lúdicas refletimos que as cantigas de
roda são relevantes ao desenvolvimento das
crianças (MARTINS, 2012), pois proporcionam
às mesmas o contato com a poesia, a dança e
a música enquanto linguagens expressivas e
simbólicas, comprovadamente relevantes para
o pleno desenvolvimento infantil.
Destarte, as crianças que vivenciam
uma educação com ênfase na dimensão lúdica,
no espaço escola, experimentam entre as
brincadeiras e os jogos possibilidades de
interação e compreensão da realidade em que
vivem e nesse processo se desenvolvem e se
constituem como indivíduos, além de
adquirirem a tão almejada autonomia (FELIPE,
2004). Porém Freitas (2014) postula que
professores e adultos contemporâneos, muitas
vezes por desconhecerem os benefícios da
ação lúdica, não permitem e/ou estimulam a
sua vivência, intervindo de maneira cerceadora
no desenvolvimento social e cultural das
crianças dentre outros.
Dentre as possibilidades lúdicas na
educação das crianças, Martins (2012) ressalta
que brincar com cantigas de roda é uma das
primeiras formas de cultura, uma vez que em
sua diversidade e possibilidades tende a
facilitar a interação entre as crianças e
desenvolver a autonomia das mesmas,
contribuindo na apropriação de imagens,
representações, enfim, a partir de tais
situações lúdicas estão construindo seu
conhecimento, conforme trataremos a seguir.
As cantigas de roda como expressão da
cultura e a sua dimensão lúdica no
desenvolvimento da criança da educação
infantil.
O valor cultural das cantigas de roda é
indiscutível, uma vez que a cultura permeia a
vida de todos os seres humanos que tenham
passado pelo processo de socialização. A
cultura, portanto, “[...] assinala as necessidades
humanas para que o homem possa adaptar-se
ao meio e adaptar o meio a si e é nesse
contexto que se inserem as cantigas de roda,
pois elas fazem parte da cultura lúdica infantil”
(MARTINS, 2012, p. 21).
Desta forma, falar em cantiga de roda é
tratar da cultura lúdica essencial a formação e
desenvolvimento da criança, como uma
linguagem expressiva que oportuniza as
mesmas o convívio mais íntimo com as
características sociais e culturais que devem
ser preservadas em cada ser humano, levadas
durante toda a vida.
No transcorrer da educação infantil há
inúmeras possibilidades de articulação de
linguagens expressivas, por meio das
conhecidas cantigas de roda, onde as crianças
são oportunizadas a trabalhar sua percepção,
imaginação, memorização, entre outros
aspectos fundamentais no decorrer da vida.
A criança passa a interagir e apreender
elementos da tradição oral, vivificando
manifestações que fizeram parte da cultura
lúdica de outras gerações ao longo dos anos e
que hoje permeiam a sua geração. Assim, as
cantigas de roda proporcionam um
enriquecimento do repertório linguístico lúdico
das crianças que vai sendo reinventado dia
após dia.

159 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
A brincadeira com as cantigas de roda é uma atividade simbólica que tem a função organizadora de instrumentalizar a criança para criar símbolos lúdicos que podem funcionar como uma espécie de linguagem interior, que permite a ela reviver acontecimentos interessantes ou impressionantes (MARTINS, 2012, p. 75).
Estes símbolos remetem a criança a
outros lugares, situações, possibilidades
presentes nas cantigas de roda e contribuem
no desenvolvimento infantil, uma vez que, a
própria vida e as situações que permeiam as
práticas sociais são simbólicas que vão sendo
desvendados com o crescimento pessoal e
intelectual.
Em outras palavras, as cantigas de
roda, enquanto atividades lúdicas, vão
permitindo que a criança se desenvolva
brincando, isto é, passem a adquirir novos
conhecimentos ao mesmo tempo em que
aprimoram os que já possuem acerca de
situações da realidade social e cultural.
Podemos afirmar, baseado em Martins
(2012) que o mundo de fantasias e
dramatizações está muito presentes nas
cantigas de roda, o que faz com que as
crianças comecem a relacionar o mundo real
com o mundo imaginário, até porque muitas
das cantigas de roda utilizadas na educação
infantil são facilmente adaptadas ao meio em
que a criança vive.
Em todas as composições das cantigas de roda, estão presentes dramatizações e fantasias. Numa brincadeira simbólica de construção de castelo com blocos de madeira, por exemplo, o castelo pronto como resultado da ação não importa para a criança, mas o processo de construção, que é a motivação. Já nas atividades lúdicas com as cantigas de roda, a motivação é transferida para o produto. Nessa perspectiva, o importante para a criança é que
o seu papel no brinquedo cantado afete uma plateia, que a sua comunicação seja compreendida (MARTINS, 2012, p. 82).
Assim, podemos dizer que a cantiga de
roda é um brinquedo cantado que envolve a
criança e a plateia pela dança, e a percepção
do outro. Servem de estímulo para que a
criança procure investigar o novo, divertir-se e,
acima de tudo, estimular-se por meio da
linguagem oral e corporal.
É uma atividade lúdica importante no
contexto educacional, a qual oportuniza às
crianças o desenvolvimento integral, uma vez
que potencializa o seu desenvolvimento e sua
aprendizagem nos mais distintos âmbitos. “[...]
a criança da Educação Infantil terá nas
cantigas de roda as estimulações sensoriais
que lhes ampliarão as possibilidades de
contatar com o universo, de formar impressões
perceptuais dos objetos, das relações causais,
da noção de espaço e de tempo” (MARTINS,
2012, p. 90).
A experiência com cantigas de roda na
Educação Infantil permite um significativo
desenvolvimento da criança, haja vista que a
mesma vai se familiarizando com os aspectos
do mundo real. Ao suscitar o imaginário infantil
as cantigas de roda, remetem as crianças a
lugares, personagens e situações distintas que
lhes possibilitam ampliar sua capacidade de
fazer representações, a cognição, a
motricidade, a afetividade, a sociabilidade e o
respeito pela cultura que é essencial para seu
crescimento.
A dança, música e a poesia como
linguagens expressivas e lúdicas presentes
na cantiga de roda.
A música no âmbito educacional, tem
até mesmo a questão legal para embasar este

160 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
uso, que é a Lei nº. 9.394/96, que torna o
ensino da música na Educação Básica
obrigatório, conforme dispõe o artigo 26, §6º, in
verbis: Artigo 26.§6º. As artes visuais, a dança,
a música e o teatro são as linguagens que
constituirão o componente curricular de que
trata o §2º. deste artigo. (BRASIL, 1996, p. 9).
O artigo trata da obrigatoriedade não
só da música, mas também das artes visuais,
dança e teatro enquanto linguagens relevantes
no currículo escolar.
Dentre algumas possibilidades do
trabalho com a música na educação infantil, se
inscreve a oportunidade de resgatar
manifestações culturais que possibilitam à
criança reconhecer e valorizar tais
manifestações na constituição de sua
identidade social e cultural, além de
experiências com o ritmo, o desenvolvimento
da comunicação oral, ampliando também o seu
repertório linguístico, interações com outras
crianças e adultos, o movimento corporal, a
imaginação por ser uma atividade lúdica e
prazerosa, como por exemplo, as cantigas de
roda (RABASSI e CALSA, 2012).
Quando nos referimos a brincadeira cantada também nos referimos ao conceito de folclore que está diretamente relacionado ao de cultura, pois integra identidades socioculturais de grupos, sociedades e continentes. [...] A roda pode ser considerada uma das formas mais primitiva de dançar e está presente em todos os povos com influência de várias culturas (RABASSI e CALSA, 2012, p. 3).
As brincadeiras cantadas requerem
uma questão fundamental que é a cooperação,
o que demonstra a relevância do trabalhar em
conjunto, em uma relação horizontal,
possibilitada pela formação da roda, o que
afasta uma postura de hierarquia. Todos os
indivíduos trabalham em prol de um mesmo
objetivo, o que é bastante significativo, pois a
competição tão comum em nossa sociedade é
substituída pela cooperação.
Os indivíduos são levados a perceber
que é preciso o trabalho coletivo, isto é, a união
para se chegar ao resultado esperado e, na
educação infantil, esta visão deve estar
presente para que sejam conscientes da
importância do outro, o que tende a gerar uma
sociedade mais harmônica.
Destacamos ainda que também para a
criança,
[...] a compreensão de um trecho musical está relacionada ao seu tempo métrico, pois o cérebro primeiramente compreende a unidade do som emitido para depois entender o agrupamento dessas unidades métricas estáveis na música. Finalmente, o indivíduo pode compreender o ritmo melódico como um todo. A compreensão musical está relacionada a esta busca de padrão e modelagem temporal, uma tendência do ser humano de dividir experiências longas em mais curtas (RABASSI; CALSA, 2012, p. 4).
Assim, a música permeia a vida das
pessoas, de maneira geral, desde o seu
nascimento (canções de ninar, por exemplo), o
ritmo e a melodia estão presentes nas canções,
o que faz com que a criança se comunique
pelos sons e desenvolva, dia a dia, a sua
compreensão da importância da musicalidade,
musicalidade esta que o acompanhará por toda
a vida. (BRITO, 2003)
E ainda a este respeito “o canto e a
dança estimulam também a percepção, como
já dissemos, e ao mesmo tempo a criatividade
de transformar, inventar, improvisar, organizar”
(BRITO, 2003, p. 117), uma vez que na
vivência dessa linguagem a criança se envolve,

161 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
interage e reinventa outras possibilidades de
estar, agir e compreender no mundo.
Quanto à experiência com a linguagem
da dança emergem benefícios para a criança,
no âmbito de sua expressão de sentimentos,
emoções e pensamentos, além de ser uma
manifestação artística e uma forma de
divertimento, de liberdade, de fruição para as
crianças, na qual também desenvolve pela
interação o reconhecimento do outro e de suas
potencialidades.
Em relação à poesia, vale salientar que
é possível percebê-la nas cantigas de roda, e é
justamente no componente poético das
cantigas de roda que as crianças tendem a
desenvolver o prazer pelo texto, pois “[...] o
componente poético das cantigas de roda,
numa dimensão simbólica, é um estímulo à
atividade mental” (MARTINS, 2012, p. 32).
A poesia é repleta de figuras de
linguagem, as quais possibilitam as crianças
encantamentos, emoções e sentimentos,
reconhecer e ou identificar-se com
personagens e viajar no tempo, brincar com as
palavras e adentrar em outros tempos a partir
da própria experiência com as cantigas de
roda.
A poesia para crianças, assim como a prosa, tem que ser antes de tudo, muito boa! De primeiríssima qualidade!!! Bela, movente, cutucante, nova, surpreendente, bem escrita. Mexendo com a emoção, com as sensações, com os poros, mostrando algo de especial ou que passaria despercebido, invertendo a forma usual de a gente se aproximar de alguém ou de alguma coisa. Prazerosa, triste, sofrente, se for a intenção do autor; prazerosa, gostosa, lúdica, brincante [...] (ABRAMOVICH, 1989, p. 67).
São várias as cantigas de roda e
inúmeros os aprendizados presentes nela.
Vejamos um exemplo de uma cantiga de rodas,
discutida em Martins (2012), qual seja, “O
cravo brigou com a rosa”:
I O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada, O cravo saiu ferido, E a rosa despedaçada (ou despetalada). II O cravo ficou doente. A rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio. A rosa pôs-se a chorar (RODRIGUES apud MARTINS, 2012, p. 56-57).
Esta cantiga, como tantas outras, em
uma linguagem poética, possibilita à criança
vivenciar ludicamente a música no seu ritmo e
em outros experimentos, reconhecer uma
expressão artística de domínio público, dançar,
remeter-se a outras situações, encantar-se a
partir de elementos de sua cultura, sem
prender-se à didatização que historicamente à
escola impõe às crianças.
Em face ao exposto, as cantigas de
roda permitem às crianças desenvolver sua
corporeidade, que é a utilização do corpo em
atividades que requerem o controle do
movimento. Também, desenvolvem a
musicalidade, à medida que vivem a
experiência do envolvimento com esta
linguagem, as crianças passam a se
familiarizar com ritmos, a gostar de música,
ampliar o seu repertório da diversidade nos
tipos de música e também conhecer músicos
que têm desenvolvido um trabalho mais voltado
para elas, identificando-se com as
especificidades da infância.
Assim, as crianças se divertem ao
passo que ensinam acerca de suas
singularidades ao mesmo tempo que se
desenvolvem integralmente.
Outra característica e/ou possibilidade
das cantigas de roda é a representação

162 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
simbólica, pois as crianças conseguem, na
prática, entender e representar os símbolos
presentes nas cantigas, como é o caso do
cravo e da rosa, que podem ser representados
tanto pelas flores – cravo e rosa – quanto pelas
próprias crianças.
E, em relação ao desenvolvimento da
linguagem verbal, esta é bem presente e
potencialmente instigada nas cantigas também,
já que na vivência deste tipo de brinquedo “[...]
a criança tem uma predisposição poética desde
que nasce, pois vive mergulhada num ambiente
sonoro” (MARTINS, 2012), permitindo assim
que a criança amplie o seu conhecimento de
mundo ao mesmo tempo em que vivencia
situações lúdicas.
METODOLOGIA
A pesquisa tem natureza qualitativa,
cunho bibliográfico e foi desenvolvida à luz de
postulações de Minayo (2002); no percurso de
toda a fase exploratória realizamos a busca, a
leitura, a reflexão a partir de textos que
abordam o tema em diferentes fontes tais como
artigos de revista, disponíveis na internet,
publicações em livros e também em anais de
eventos, tendo como norteadora a questão que
impulsionou a pesquisa.
ANÁLISES E RESULTADOS
A partir da leitura e interpretação do
levantamento bibliográfico apresentado,
emergiram algumas categorias, quais sejam: o
valor cultural das cantigas de roda e a sua
dimensão lúdica; o desenvolvimento da
representação simbólica a partir da dimensão
lúdica das cantigas de roda; e o
desenvolvimento da motricidade, afetividade,
sociabilidade e linguagem verbal da criança,
como potencializadores de uma prática docente
lúdica e transformadora, como veremos na
sistematização a seguir.
O valor cultural das cantigas de roda e a sua
dimensão lúdica.
Para Martins (2012) é mister que a
escola reconheça o valor das cantigas de roda,
já que,
Cada sociedade constrói sua cultura e as cantigas de roda, há muito tempo vêm sendo substituídas por outras atividades. A nossa cultura parece ter designado o brincar como uma atividade que se opõe a trabalhar, caracterizada por uma oposição ao que é sério [...]” (p. 22-23).
Para a autora (idem) as cantigas de
roda nas práticas da escola de educação
infantil, não têm sido devidamente vistas e
reconhecidas como vivências lúdicas culturais,
que possibilitam a criança viver momentos de
brincadeira e, ao mesmo tempo aprender sobre
histórias e situações vividas em gerações
passadas.
Martins (2012) afirma ainda que
Para as cantigas de roda terem lugar reservado nas atividades lúdicas da criança, elas devem através dos adultos como mediador, buscar seu espaço na cultura lúdica infantil e esse espaço deve ser preservado no mundo infantil, pois inseri-las no universo lúdico é dispor para a criança um certo número de referências que permitem interpretá-las como brincadeiras, que poderiam não ser vistas como tais por outras pessoas (p. 25).
Dessa maneira o reconhecimento das
cantigas de roda em seu valor cultural e
vivência lúdica emergem como um fator
preponderante que vislumbramos, mas que
requer ser reconhecida e possibilitada pelo

163 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
adulto, que no âmbito da escola de educação
infantil, é o professor.
O desenvolvimento da representação
simbólica a partir da dimensão lúdica das
cantigas de roda.
Esta categoria aponta para a
contribuição das cantigas de roda no
desenvolvimento da representação simbólica,
pelo conteúdo metafórico dessa forma de
expressão da cultura, no sentido de que a
criança seja levada a experimentar situações
de criticidade, dramatizações, fantasias.
Assim, é possível perceber que “[...] a
linguagem poética das cantigas de roda regida
pelo ritmo, rima e dança, convida a criança à
repetição, à imitação e à criação; seus
elementos imagéticos são narrativos e
estimulam o imaginário da criança” (MARTINS,
2012, p. 64).
É visível o simbolismo presente nas
cantigas de roda que instigam as crianças a
pensar e ou estabelecer relações com outras
situações pela simbologia advinda da poesia
que constitui os textos das cantigas e que
remetem a criança a lembranças e ou
projeções envolvendo experiências com
colegas, na família. Trata-se de uma
linguagem simbólica que propicia a criança
transcender pela ludicidade presente nas
cantigas.
O desenvolvimento da motricidade,
afetividade, sociabilidade e linguagem
verbal.
As cantigas de roda proporcionam às
crianças o desenvolvimento da motricidade,
isto é, os movimentos corporais que são
construídos em diversas atividades no âmbito
da educação infantil, o que gera inúmeros
benefícios para a vida do ser humano,
tornando-o dia após dia mais independente.
Um bom trabalho com a motricidade proporciona à criança realizar com facilidade atividades do dia a dia para se tornarem mais independentes, além de passar pelo processo de alfabetização com um desempenho significativo, com mais segurança e destreza (COELHO, 2016, p. 2).
Assim vemos o quanto o trabalho com
as cantigas de roda é bem diversificado, pois
por meio dele é possível desenvolver aspectos
fundamentais a um pleno desenvolvimento
infantil.
A questão da afetividade também está
bem presente nas cantigas de roda, onde as
crianças expressam sentimentos e emoções,
através da interação com as outras crianças,
evidenciando-se a importância do outro. Essa
interação é bastante positiva e enfatiza a
necessidade da sociabilidade, isto é, de sermos
seres sociais, para vivermos em uma
sociedade harmônica e digna para todos.
Além destes aspectos, as cantigas de
roda também englobam a linguagem verbal,
que “[...] é um recurso que permite a
comunicação entre as pessoas pela sucessão
ordenada de palavras que expressam o
pensamento [...]” (MARTINS, 2012, p. 70),
fundamental para a vida em sociedade, já que
é por meio da linguagem verbal que nos
comunicamos.
A influência dos aspectos citados
permite que a criança vá se desenvolvendo e
conhecendo mais a respeito de si mesma,
tornando-se mais independente e,
principalmente, percebendo o mundo que a
cerca, suas possibilidades de inserção e
transformação.

164 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa ora desenvolvida buscou
compreender como as cantigas de roda podem
contribuir para o desenvolvimento infantil e
emerge a dimensão lúdica, como mobilizadora
de seu desenvolvimento integral, sendo
defendida a necessidade de inserção desse
brinquedo na formação para professores da
educação infantil, como objeto de estudo, no
sentido de adentrar em possibilidades lúdicas
no trabalho junto as crianças pelo prazer que a
criança experimenta e pela valorização da
cultura em uma prática lúdica, que pode
potencializar o desenvolvimento da
corporeidade, da motricidade, da sociabilidade,
da linguagem verbal, da fantasia da
criatividade, dentre outros, em face da
dimensão lúdica que emerge no encontro da
música, da dança e também da poesia nessa
prática cultural.
Ressalta-se por fim, o desejo de que
outras pesquisas possam ser desenvolvidas,
visando aprofundar possibilidades das cantigas
de roda na educação da criança, no âmbito da
vivificação de uma expressão da cultura que
vem sendo cada vez menos reconhecida por
ela, em parte pela substituição que as mídias
têm disseminado de outras expressões de uma
cultura globalizada, que não parece contribuir
na sua emancipação enquanto sujeito crítico e
criativo.
REFERÊNCIAS
ABRAMOVICH, Fanny. Literatura infantil. São Paulo: Scipione, 1989.
ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. 2. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 1975.
BRASIL. Lei nº. 9.394 de 20/12/1996. In: Site. Disponível em: <http://portal.mec.g
ov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf>. Acesso em: 20.maio.2016.
BRITO, Teca Alencar de. Música na educação infantil: propostas para a formação integral da criança. São Paulo: Peirópolis, 2003.
CHARLOT, Bernard. Da re1ação como saber. Porto Alegre: Artmed, 1970.
COELHO, Durvalina. A motricidade na educação infantil. In: Site. Disponível em: <http://durvalinacoelho.blogspot.com.br/2016/04/a-motricidade-na-educacao-infantil.html>. Acesso em: 28.maio.2016.
FELIPE, Jane. Aspectos gerais do desenvolvimento infantil. In: CRAIDY, Carmem Maria (Org.). O educador de todos os dias: convivendo com crianças de 0 a 6 anos. Porto Alegre: Mediação, 2004.
FREITAS, Marlene Burégio. O brincar e a ludicidade como saberes da profissionalidade docente na educação infantil: contributos e paradoxos da formação continuada na escola. Recife: Universidade Federal de Pernambuco – Tese de Doutorado, 2014.
HADDAD, Lenira et al. Competências esperadas do professor e o brincar na educação infantil: reflexões a partir da técnica de substituição. Revista Educação e Cultura Contemporânea. V. 12, n. 29, 2015.
KRAMER, Sonia. As crianças de 0 a 6 anos nas políticas educacionais no Brasil: educação infantil e/é fundamental. Revista Educação e Sociedade. V. 27, n. 96, Campinas: outubro, 2006.
LIMA, José Milton. A brincadeira na teoria histórico-cultural: de prescindível a exigência na educação infantil. GUIMARÃES, Célia Maria (Org.). Perspectivas para educação infantil. 1. Ed. Araraquara: Junqueira&Marin, 2005.
MARTINS, Maria Audenôra das Neves Silva. Cantigas de roda: o estético e o poético e sua importância para a Educação Infantil. Curitiba: CRV, 2012.
MINAYO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis, Vozes, 2002.
RABASSI, Liliam Keidinez Bachete da Conceição; CALSA, Geiva Carolina. Brincadeiras cantadas: uma intervenção pedagógica para a construção da estrutura rítmica binária. Maringá: Universidade Estadual de Maringá – Seminário de Pesquisa do PPE, maio de 2012.

165 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
INSTRUMENTOS MUSICAIS ESPECÍFICOS DA CAPOEIRA ENRIQUECENDO O
PLANEJAMENTO TÉCNICO DA MODALIDADE
RESUMO
“O sistema de ensino direcionado para os esportes de luta e combate ganham a partir deste estudo uma nova realidade quando mais especificamente na modalidade da capoeira se aplica o mesmo teor de importância para a musicalidade e toda a variedade de instrumentos musicais, cantigas e ladainhas quanto para a parte de preparação física no que se diz respeito aos golpes, a ginga’, chutes e esquivas. É notável e se percebe claramente o quanto a questão cognitiva dos alunos se prendem, se aguçam e se mostram interessados quando eles se encontram diante a um desafio tão interessante e novo que é de adquirir conceitos de musicalidade para solidificar e tornar o aprendizado da capoeira cativante e atingir seus resultados na sua totalidade, vamos observar neste artigo como outras disciplinas também unidas ao ritmo e as métricas musicais podem estar presente neste processo de ensino fazendo com que o planejamento dessa modalidade nacional fique ainda mais completa e avance sem perder suas características originais. É bem comum nos dias de hoje nesta modalidade chamada capoeira notar um processo de ensino que se aplica mais a questão física do que a musical, visto que a base histórica da capoeira nunca se separou das suas propriedades musicas inclusive, são essas características que a tornam uma modalidade tão forte, única e interessante. Palavras-chave: capoeira, cantigas, cognitivo.
SPECIFIC MUSICAL INSTRUMENTS OF CAPOEIRA ENRICHING THE TECHNICAL MODEL PLANNING
ABSTRACT
The education system aimed to fighting and combat sports earn, from this research, a new reality especially in the Capoeira modality where the same significance is giving to the musical, the variety of instruments and songs as to physical preparedness specifically about the strokes, ginga, kicks, and dodges. It’s remarkable how the student’s cognitive area is captured, sharpened and how they become interested when facing a new, interesting challenge which is acquiring musicality concepts to make the Capoeira learning process captivating and reach all the results in full. It’s will be shown in this article how other subjects, joined with the rhythm and musical metrics can be in this learning process making the planning of this national modality even more complete and going forward without losing its originals characteristics. It has become usual on the Capoeira learning process a bigger attention to the physical over the musical side. Since the Capoeira historic background never split up from its musical properties, these are the characteristics that make it a powerful, unique and interesting modality. Keywords: capoeira, songs, cognitive.
INTRODUÇÃO
Todo conteúdo e planejamento de aula
direcionado para a Capoeira, inclui
separadamente as quedas, golpes, esquivas e
sequências prontas ou improvisadas de
movimentos para jogo em roda, apresentações
em grupo ou individuais ou para simplesmente
uma brincadeira no chão de terra, mas nem
sempre são na prática colocados no mesmo
nível de importância os variados instrumentos
musicais que se utilizam nessa arte e seu
contexto histórico por vezes ficam esquecidos e
suas normas e métricas passam despercebidas
deixando toda possibilidade de vivenciar
plenamente todo universo da capoeira.
A métrica musical com seus
compassos e sequências tendem sempre a
obedecer também uma ordem, na qual requer
uma certa disciplina e até um desprendimento
de regras gerando um ambiente agradável e
descontraído de aprendizagem, podendo atrair
para o meio pedagógico faixas etárias de
menor idade ainda do que se enquadra no
planejamento de ensino desta arte devido o
Luiz Fernando Ruffa

166 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
fato da utilização de variados instrumentos
musicais deste universo.
O profissional envolvido nesse tipo de
ensino deve e pode aguçar seus sentidos para
variados ritmos encontrados no nosso rico
folclore e aplicá-los no seu planejamento anual,
tais como o maculelê, a puxada de rede, a
dança do fogo, etc. Todas essas práticas
folclóricas estão atreladas ao contexto histórico
da capoeira porém com seus motivos e
realidades diferentes.
Podemos de início citar ou padronizar
uma lista destes instrumentos que podem ser
inclusos nesse planejamento como por
exemplo: xiquerê, caxixi duplo, apito, flauta,
reco-reco, agogô, bongô, prato e baqueta,
casca de palma e bastão.
E não só se limitar ao uso do berimbau,
atabaque e pandeiro; quando se está diante de
uma aula cantada e se pode ter contato com
estes diferentes instrumentos o nível de
interesse e prazer é notavelmente percebido.
Poder entrar no contexto histórico de
cada instrumento, perceber os diferentes sons
entre si, suas peculiaridades e como cada um
deles se relacionam entre si até formar uma
cantiga; torna a aula consideravelmente mais
atrativa e divertida.
A questão cognitiva do aluno fica
totalmente entregue e voltada ao tema
levantado devido justamente porque pelo
simples fato da atração áudio e visual ser um
grande e forte aliado no processo de ensino,
não há como negar o fato de que é curioso e
diferente a inserção de todo este conjunto de
instrumentos exóticos e incomuns a nossa
rotina de aula, cada item, cada instrumento e
cada suporte para os mesmos trazem consigo
indagações sobre sua sonoridade, sua
confecção, sua história e a primeira centelha de
curiosidade que vêm ao aluno é de como ele
deve agir para obter sucesso em extrair
qualquer tipo de nota musical de cada objeto a
sua frente, nesse exato momento ainda não se
criou uma relação entre eles, quero dizer que
ainda precocemente se deseja sim obter tal
musicalidade, porém a incerteza de como fazer
tal coisa misturada com a sensação do
processo de conhecimento gera uma
expectativa nunca antes vivida e é justamente
esta expectativa que torna combustível para
uma relação de vários sentimentos e valores
agregados à educação e a pedagogia que a
cada dia de aula, o aprendizado vai se
conquistando atingindo de pouco a pouco o
objetivo de dominar este e aquele instrumento,
logo com isso os alunos passam a possuir e
contemplar técnicas, habilidades e noções de
improvisação e de criação e o mais importante;
continuam dando uma sequência a um
processo histórico que já vêm desde um século
atrás, a auto valorização e uma personalidade
alegre começa a ganhar espaço favorável e
notável na construção do caráter dessas
pessoas, sejam elas crianças ou não e estejam
elas no ambiente escolar ou não, esses
benefícios não escolhem classe nem cor, não
escolhem sexo nem idade.
Métodos sugeridos e práticas
propostas
De todos os instrumentos citados
acima do texto, o berimbau dentro da
modalidade da capoeira é o instrumento de
maior importância e também passa a ser um
símbolo da capoeira como arte, como dança,
como luta e como folclore porque suas
variações sonoras e a forma como ele pode ser
tocado variando de notas e toques diferentes
traz para todos os indivíduos envolvidos no
momento pedagógico toda a ilustração musical
que a capoeira traz na sua bagagem histórica e
contemporânea, são criações tradicionais e

167 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
atuais que até hoje ilustram todo o cenário do
passado, talvez pode-se aplicar a um enredo
da literatura de Jorge Amado por exemplo, este
instrumento pode trazer para nós nos dias de
hoje porque se tocava nele um toque chamado
“ Cavalaria” , então nos deparamos agora com
uma intervenção multidisciplinar pois estamos
diante a termos um momento na aula onde
iremos tratar de um assunto histórico que gerou
fatos reais relacionados a prática proibida da
capoeira, pois justamente no toque de cavalaria
que era uma espécie de aviso, alarde, um
comunicado sonoro no qual avisava que a
guarda montada estava se aproximando, e o
ato da capoeiragem podemos assim dizer não
era aceito nem tolerado nas ruas, esquinas,
feiras e praças da época.
O toque de São Bento pequeno e
também o toque de Angola, utilizado para um
jogo mais lento onde os movimentos corporais
são executados com maior lentidão e devido a
essa característica temos diante de nós uma
oportunidade com essa métrica mais lenta de
inserir para os alunos com mais facilidade os
cantos e ladainhas, continuando temos agora o
Toque de São Bento Grande mais utilizado
para cantos corridos e um pouco mais rápidos,
facilitando e nos proporcionando nesse toque
momentos divertidos de brincadeira durante os
momentos de aula, as cantigas e ladainhas
podem também sugerir estrofes de fatos atuais
incentivando intervenções multidisciplinares.
Entramos agora num contexto muito
interessante em teor histórico onde vamos falar
sobre o toque de benguela, este toque na
época era tocado para um jogo onde a
rivalidade entre os capoeiristas era muito bem
acentuada, a história entra muito forte nessa
questão pois podemos citar a rivalidade entre
quilombos, aldeais e grandes fazendas, os
capoeiristas se enfrentavam em jogos violentos
de faca e navalha fazendo com que a atenção
para esses momentos hoje nos faz supor e
visualizar a questão social da época.
O toque de Samba de Angola ou
Samba duro só é tocado no momento do
samba de roda, esse toque descontraído não é
tocado na ordem sequencial de uma roda de
capoeira, frequentemente acontece este
momento no final de apresentações, uma festa
ou em um momento de descontração entre
amigos, no samba duro apenas os homens
entram com o samba rasteiro no pé e
simulando rasteiras e trejeitos de derrubar ou
desequilibrar o colega a sua frente, já no
samba de roda convencional, homens,
mulheres e crianças podem se divertir.
No ensino em escolas e academias o
toque de samba feito no pandeiro pode ser
muito bem aproveitado para crianças de faixa
etária com menos de seis anos, devido a sua
métrica sonora ser de fácil encaixe para
cantigas animadas, fazendo com que o público
infantil entre com mais facilidade nesse
universo.
Algumas brincadeiras como “apanha a
laranja” ou a moeda, brincadeiras de “péga-
péga” capoeira, de” meia lua congela e
esquiva”, podem ser aplicadas para qualquer
tipo de público, onde podemos observar e ouvir
os toques de Santa Maria, Jogo de dentro,
Samango, Apanha a Laranja, o improviso e o
encaixe de outros instrumentos são muito bem
vindos nessas vivências.
Novamente se formos entrar no
contexto da questão multidisciplinar, temos em
mãos ricas possibilidades no que se diz
respeito a confecção de instrumentos
específicos desta modalidade, ao iniciarmos
um processo de fabricação dos mesmos
entramos no universo das artes, pinturas,
cortes, moldes e esboços, tendo em vista por
fonte de pesquisa a característica original do
instrumento que desejamos confeccionar

168 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
iremos para o segundo passo que será analisar
quais os materiais que podemos adquirir para
fazê-lo na maior semelhança possível ao
original, temos um momento que envolve a
prática de um esporte de luta e combate
acontecendo juntamente com uma aula de
educação artística, é formidável alimentar e
inserir momentos deste teor no planejamento
anual ou semestral que seja, além das
valências físicas e motoras que serão
trabalhadas a capacidade de criação, o senso
artístico, a vinda das cores nas pinturas dos
instrumentos e tudo mais que envolve as aulas
de educação artística, agora estão inseridos na
prática de uma modalidade de arte marcial.
Procurar saber de onde vêm cada
instrumento e sua história, cada região
geográfica, a etimologia da palavra relacionada
a cada nome de instrumento, verificar se há em
sua essência e motivo de existência algum fato
histórico peculiar a sua origem. Dando margem
a esta realidade temos mais um braço
multidisciplinar se relacionando com o fato de
darmos tamanha importância a inserção do
ritmo e seus instrumentos no ensino da
capoeira, braço este que se chama história e
geografia, por isso e por outros fatos relevantes
ao ensino que se deve dar tal importância em
levar ao aluno a capoeira com toda a sua
bagagem sem exceção de conteúdo algum,
novas possibilidades surgem e novos
horizontes são explorados agindo desta forma.
DISCUSSÃO
Devemos estar prontos e visualizando
toda oportunidade nas quais os instrumentos
musicais específicos desta modalidade se
colocam como facilitador do ensino da
capoeira, mas não apenas de um ensino
limitado e estático, onde gira em torno apenas
de golpes e gingas, mas de um ensino rico e
planejado no qual traz ao aluno todas as
características da capoeira e sua essência, não
devemos tirar o direito dos alunos de
receberem tamanho conteúdo de altíssimo
valor e qualidade podando por outros motivos
toda essa característica polissêmica da
capoeira.
Então nos deparamos com barreiras
religiosas e preconceitos em geral, tanto no
ambiente escolar como no acadêmico em
relação as canções e ritmos africanos, fazendo
com que todos os benefícios talvez que nunca
cheguem a um planejamento de ensino.
Princípios e valores como a disciplina,
coleguismo, consciência de deveres e
responsabilidades, socialização entre outros
estão a bordo de toda herança cultural da
capoeira.
Atributos esses que dolorosamente por
muitas vezes não são inclusos no sistema de
ensino com constância e planejamento, isso
sem falar do desenvolvimento motor que muito
seria beneficiado se atentássemos à grande
variedade de valências físicas que a Capoeira
oferece para quem pratica por exemplo como
força, equilíbrio, lateralidade, resistência e
musicalidade isso sem falar também de
manifestações como a “Puxada de rede”,
Jongo, Samba, Maculelê entre outras.
Não necessariamente essa grande
árvore e suas profundas raízes devem receber
um título a denominando ou classificando por
classe ou cor, mas todos seus frutos podem ser
aproveitados por sistemas e métodos de
lecionar em ambientes formais e informais
onde aconteça o ensino, seja em qualquer grau
e dimensão, esses frutos do conhecimento
sempre estiveram à disposição de todos em
geral, entretanto muitas das vezes veem sido
camuflados e cobertos por outros interesses
então imaginemos uma grande feira e todos

169 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
esses frutos estando a mostra para todos que
por lá estão passando.
Assim o nosso sistema de ensino
avança atado a tantas leis e decretos, indo e
vindo para tantas direções gerando grandes
confusões e deixando tantos tesouros da
educação para trás.
O buscar por motivos antes ocorridos e
por verdadeiros fatos nos levam a refletir para
onde estamos indo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desde quando a capoeira entrou no
seu processo de marginalização e opressão, o
seu ressurgimento veio a passos lentos devido
a manchas que ficaram, mas ela nunca perdeu
o seu valor e com o passar dos anos seus
princípios de marcialidade, folclore, seus
princípios rítmicos e culturais começam a ser
resgatados por amantes e praticantes desta
arte dando surgimento como ferramenta de
ensino pois o número elevado de praticantes
começa a ser expressivo.
Porém como ferramenta de ensino
algumas arestas e deficiências começam a
surgir devido mesmo a simples falta de
esclarecimento de seus valores, deixando por
vezes as questões rítmicas de lado não
percebendo que as mesmas acrescentam
noções sem precedentes de concentração,
coordenação auditiva e motora, expressões de
canto e a variedade de formas que devemos
nos portar diante de tantos instrumentos
diferentes por isso sugerimos toda essa visão e
boa vontade no ensino da capoeira garantindo
que momentos extraordinários serão
vivenciados.
REFERÊNCIAS
BARBIERI, Cesar. Um jeito brasileiro de
aprender a ser. Brasília: DEFER, Centro
de informação e documentação sobre a
Capoeira (CIDOCA-DF), 1993.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria
de Educação Física e Desportos.
Programa nacional de capoeira.
Brasília, SEED/MEC, 1997.
BRACHT, Valter. A criança que pratica
esporte respeita as regras do
jogo...capitalista. In: Vitor Marinho de
Oliveira (org). Fundamentos
pedagógicos: Educação Física. Rio de
janeiro: Ao Livro técnico,1987.
CAMPOS, Hélio José B. Carneiro. Capoeira na
escola. Salvador: Presscolor, 1990.
CAPOEIRA, Nestor. Capoeira: Os
fundamentos da malícia. Rio de janeiro:
Record, 1992.
CARNEIRO, Édson. Negros Bantos. Rio de
Janeiro: Editora Civilização Brasileira,
1937.
COSTA, Reginaldo da Silveira. Capoeira: o
caminho do berimbau. Brasília:
Thesaurus, 1993.
FEDF. Regulamento dos centros de
aprendizagem de capoeira. Brasília,
1998.
GUIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. Educação
Física progressista: a pedagogia
crítico-social dos conteúdos e a
educação física brasileira. São Paulo:
Loyola, 1988.
LUCAS, Mestre. Nomenclatura na capoeira:
contribuição ao estudo. Aracajú, s/d.

170 (ANO III, V-9, NOVEMBRO 2018)
DIREITOS E PERMISSÕES DE UTILIZAÇÃO
Os artigos publicados são de total responsabilidade dos autores. É permitido a publicação de trechos nos manuscritos com autorização
prévia e identificação da fonte.
A UNIVERSIDAD GRENDAL utiliza o sistema eletrônico para publicação dos seus periódicos.
Todas edições e artigos estão disponíveis em: <www.grendal.education>
ISSN ELETRÔNICO Nº 2526-9224