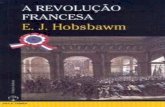ÍNDICE - presenca.pt · Eric Hobsbawm Londres, Dezembro de 1961. 11 INTRODUÇÃO ... ao...
Transcript of ÍNDICE - presenca.pt · Eric Hobsbawm Londres, Dezembro de 1961. 11 INTRODUÇÃO ... ao...
7
ÍNDICE
Prefácio .................................................................................................................... 9Introdução ................................................................................................................. 11
PRIMEIRA PARTE
OS ACONTECIMENTOS
I O Mundo na década de 1780 ......................................................................... 17II A revolução industrial...................................................................................... 36III A revolução francesa ....................................................................................... 62IV A guerra ........................................................................................................... 85V A paz ................................................................................................................ 106VI As revoluções .................................................................................................. 116VII O nacionalismo ............................................................................................... 137
SEGUNDA PARTE
OS RESULTADOS
VIII A Terra ............................................................................................................ 153IX Rumo a um mundo industrial .......................................................................... 172X Carreira aberta ao talento ............................................................................... 186XI Os trabalhadores pobres ................................................................................. 203XII Ideologia: religiosa........................................................................................... 220XIII Ideologia: secular ............................................................................................. 236XIV As artes............................................................................................................. 255XV A ciência .......................................................................................................... 279XVI Conclusão: rumo a 1848.................................................................................. 298
Mapas........................................................................................................................ 309Notas ......................................................................................................................... 321Bibliografia ............................................................................................................... 331
9
PREFÁCIO
Este livro traça o curso das transformações ocorridas no mundo entre1789 e 1848, na medida em que elas são consequência daquilo que nestelivro designarei por «dupla revolução» — a Revolução Francesa de 1789 ea Revolução Industrial (britânica), sua contemporânea. Não se trata, por-tanto, nem de uma História da Europa nem do Mundo. A medida em que asrepercussões da dupla revolução se fizeram sentir sobre determinado paísnaquele espaço de tempo, foi isso que procurei deixar registado, embora porvezes superficialmente. Permiti-me omitir os casos em que foi insignificanteo impacte da revolução no período de que me vou ocupar. Assim, o leitorencontrará algo sobre o Egipto, mas não sobre o Japão; mais sobre a Irlandado que sobre a Bulgária, mais sobre a América Latina do que sobre a África.Não significa isto, naturalmente, que a história dos países e dos povos à mar-gem deste volume seja menos importante do que a daqueles incluídos. Seesta perspectiva é primordialmente europeia, ou, mais precisamente,franco-britânica, é porque, durante este período, o mundo — ou pelo menosgrande parte dele — foi transformado a partir de uma base europeia, oumelhor, franco-britânica. Todavia, certos temas, que poderiam ter merecidoum tratamento mais minucioso, foram igualmente deixados de fora, não sópor razões de espaço, mas também porque são tratados (como a Históriados Estados Unidos), aprofundadamente, noutros volumes desta série.
O objectivo desta obra não é a narrativa pormenorizada, mas sim umainterpretação e aquilo a que os franceses chamam haute vulgarisation.O leitor ideal será o arquitecto teórico, o cidadão inteligente e instruídoque, mais do que atraído por simples curiosidade pelo passado, deseja com-preender como e porquê o mundo se transformou naquilo que é hoje, e oque será no futuro. Seria, portanto, pretensioso e descabido sobrecarregaro texto de um pesado academismo, adequado a um público mais erudito.As minhas notas referem-se quase inteiramente a citações e estatísticasactuais e, em alguns casos, a fontes autorizadas, embora controversas ousurpreendentes.
Contudo, é justo aludir ao material em que assenta um livro de âmbitotão vasto como este. Todos os historiadores são mais especialistas (ou, se
quiserem, mais ignorantes) nuns campos do que noutros. Fora de uma árearelativamente limitada, têm de confiar, em grande parte, no trabalho dou-tros historiadores. Só para o período entre 1789 e 1848 há uma quantidadetotal de literatura secundária que ultrapassa o conhecimento de qualquerindivíduo, mesmo daquele que domina todos os idiomas em que ela seencontra escrita. (Todos os historiadores estão, na melhor das hipóteses,limitados ao conhecimento de um punhado de línguas.) Grande parte destelivro é, por conseguinte, escrito em segunda ou terceira mão e conterá for-çosamente erros, bem como inevitáveis escorços, que o perito lastimará, talcomo o autor o lastima. Inclui-se biografia para estudo adicional.
Embora não seja possível deslindar a teia da História sem a destruir,torna-se essencial, para fins práticos, proceder a uma subdivisão doassunto. Tentei dividir o livro em duas partes. A primeira trata, em geral,dos principais acontecimentos do período, a segunda delineia o tipo desociedade que a dupla revolução produziu. Haverá, no entanto, sobrepo-sições propositadas, e a distinção não é uma questão de teoria, mas sim depura conveniência.
Devo um agradecimento a várias pessoas com quem discuti certosaspectos da obra, ou que leram capítulos em esboço ou em provas, as quaisnão são contudo responsáveis pelos meus erros: J. D. Bernal, DouglasDakin, Ernst Fischer, Francis Haskell, H. G. Koenigsberger e R. F. Leslie.O Capítulo XIV, em particular, deve-se em grande parte às ideias de ErnstFischer. Miss P. Ralph prestou uma inestimável ajuda como secretária eassistente de pesquisas. Miss E. Mason compilou o índice.
Eric HobsbawmLondres, Dezembro de 1961
11
INTRODUÇÃO
As palavras são muitas vezes testemunhos mais vivos do que os do-cumentos. Consideremos algumas palavras inglesas que foram inventadasou adquiriram o seu significado moderno, no período de setenta anos de queeste livro se ocupa. Palavras como, por exemplo, «indústria», «industrial»,«fábrica», «classe média», «classe operária», «capitalismo» e «socialismo».A nossa lista inclui «aristocracia» e «caminhos-de-ferro», «liberal» e «con-servador» como termos políticos, «nacionalidade», «cientista» e «enge-nheiro», «proletariado» e «crise» (económica). «Utilitarista» e «estatística»,«sociologia» e outros vocábulos das ciências modernas, «jornalismo» e«ideologia» — são termos cunhados ou adaptados durante o período.*São-no, igualmente, «greve» e «pauperismo».
Imaginar o mundo moderno sem estes termos (isto é, sem os conceitosque eles verbalizam) é medir a profundidade da revolução que eclodiu entre1789 e 1848 e constitui a maior transformação que se operou na históriahumana desde tempos remotos, quando os homens inventaram a agriculturae a metalurgia, a escrita, a cidade e o estado. Esta revolução transformou, econtinua a transformar, o mundo inteiro. Não obstante, ao considerá-la,temos de distinguir entre os seus resultados de maior alcance, que nãopodem circunscrever-se nem a uma estrutura social, nem a uma organizaçãopolítica, nem a uma distribuição do poder e dos recursos internacionais, ea sua primeira fase decisiva, que está estreitamente ligada a uma situaçãosocial e internacional específica. A grande revolução de 1789-1848 não foitriunfo da «indústria» como tal, mas sim da indústria capitalista; não daliberdade e da igualdade em geral, mas da classe média ou sociedade libe-ral «burguesa»; não da «economia moderna» ou do «estado moderno»,mas das economias e estados numa determinada região geográfica domundo (parte da Europa e algumas zonas da América do Norte), com cen-
* A maior parte destas palavras tem uso internacional, ou foi traduzida literalmentepara várias línguas. «Socialismo» e «jornalismo» são vocábulos internacionais, ao passoque a combinação «estrada de ferro» é, em toda a parte, a base do nome dos caminhos--de-ferro, excepto no seu país de origem.
12
tro em estados vizinhos e rivais: Grã-Bretanha e França. A transformaçãode 1789-1848 é, essencialmente, a sublevação gémea ocorrida nestes doispaíses e depois propagada pelo mundo inteiro.
Não deixa de ser lógico considerar esta dupla revolução — uma maispolítica, a francesa, e a revolução industrial (britânica) — não como algoque pertence à história dos dois países que foram os seus principais sím-bolos e propagadores, mas antes como a cratera comum de um enormevulcão regional. Não foi por acidente que as erupções ocorreram simul-taneamente na França e na Grã-Bretanha, com carácter ligeiramente dife-rente. Mas do ponto de vista do historiador, digamos, do ano 3000 d. C., oudo ponto de vista do observador africano ou chinês, é mais importante notarque elas tiveram lugar num ponto do Noroeste da Europa e nos seus pro-longamentos ultramarinos e que, naquela altura, só muito dificilmenteteriam ocorrido em qualquer outra parte do mundo. É igualmente impor-tante observar que seria praticamente inconcebível, na altura em que ocor-reram, elas terem constituído outra coisa que não fosse o triunfo de umcapitalismo liberal burguês.
É evidente que uma transformação tão profunda não pode ser com-preendida sem se recuar na história muito para além de 1789, ou mesmo dasdécadas que imediatamente a precederam e que reflectem nitidamente (pelomenos em retrospectiva) a crise dos antigos regimes do mundo do Noroesteeuropeu, que esta dupla revolução iria varrer. Quer consideremos ou não aRevolução Americana de 1776 como uma erupção de significado igualà anglo-francesa, ou simplesmente como o seu mais importante precursor eestimulante imediato, quer atribuamos ou não importância fundamental àscrises constitucionais e à agitação económica de 1760-1789, elas podemexplicar claramente, na melhor das hipóteses, o momento e a oportunidadeda grande arrancada e não as suas causas fundamentais. Até onde se deverecuar na história — se até à Revolução Inglesa de meados do século XVII,se até à Reforma e aos primórdios da conquista militar europeia do mundoe da exploração colonial dos princípios do século XVI, ou mais atrás ainda,é de pouca monta para o nosso objectivo, já que tal análise em profundidadenos levaria muito para além dos limites cronológicos deste volume.
Aqui precisamos apenas de observar que as forças económicas e os ins-trumentos políticos e intelectuais desta transformação se encontravam jápreparados, pelo menos numa parte da Europa suficientemente vasta pararevolucionar o resto. O nosso problema não é situar o momento em quesurge um mercado mundial, uma classe suficientemente activa de empresá-rios privados ou sequer (em Inglaterra) um estado votado à fórmula de quea maximização do lucro privado constituía o fundamento de uma políticagovernamental. Não é também traçar a evolução da tecnologia, do conhe-cimento científico, nem da ideologia de uma crença individualista, seculare racionalista no progresso. Podemos tomar como certa a existência de todosestes elementos na década de 1780, embora eles pudessem não ser sufi-cientemente poderosos, nem estar largamente propagados. Temos, ao con-
13
trário, de nos salvaguardar contra a tentação de esquecer a novidade que adupla revolução constitui, devido à familiaridade das suas roupagens exte-riores, ao facto indesmentível de que as vestes, as maneiras e a prosa deRobespierre e de Saint-Just não estariam deslocadas num ambiente doancien régime; que Jeremy Bentham, o homem cujas ideias reformadorasexprimiam a Grã-Bretanha burguesa da década de 1830, era o mesmo quepropusera essas mesmas ideias a Catarina da Rússia; e que as declaraçõesmais extremistas de economia política da classe média provieram de mem-bros da Câmara dos Lordes inglesa, no século XVIII.
Assim, o nosso problema não é explicar a existência destes elementosde uma economia e de uma sociedade novas, mas sim o seu triunfo; des-vendar não o seu entrincheiramento e acção demolidora progressivos emséculos anteriores, mas antes a sua conquista decisiva da fortaleza. E é, tam-bém, vermos as profundas alterações que este súbito triunfo provocou nospaíses mais imediatamente afectados por ele e bem assim no resto do mundoque se abrira ao impacte explosivo das novas forças, «a burguesia conquis-tadora» para citar o título de uma obra recente sobre a história universal doperíodo em questão.
Uma vez que a dupla revolução teve lugar numa parte da Europa, e queos efeitos mais óbvios e imediatos se fizeram sentir ali, é inevitável que estaobra se vá ocupar sobretudo da história regional. Inevitável também porquea revolução mundial que se propagou a partir da dupla cratera da Inglaterra eda França tomou inicialmente a forma de uma expansão europeia. A suaconsequência mais espantosa para a história do mundo foi, na verdade, esta-belecer uma dominação do globo por uns escassos regimes ocidentais (eespecialmente pelo inglês), sem paralelo na história. Velhas civilizaçõese impérios do mundo capitularam ante os mercadores, as máquinas a vapor,os navios e as armas do Ocidente — e ante as suas ideias. A Índia tornou-seuma província administrada por procônsules britânicos, os estados islâmi-cos entraram em convulsões próprias de crise, a África abriu-se à conquistadirecta. Até o grande Império Chinês foi forçado, em 1839-1842, a abrir assuas fronteiras à exploração ocidental. Por alturas de 1848, estavam porterra todos os obstáculos que se pudessem erguer à conquista de qualquerterritório que os governos ou os comerciantes do Ocidente vissem vanta-gem em ocupar, tal como nada, a não ser o tempo, se podia opor ao pro-gresso da iniciativa capitalista ocidental.
E, ainda assim, a história da dupla revolução não é apenas a história dotriunfo da nova sociedade burguesa. É também a história do aparecimentodas forças que, no espaço de um século após 1848, iam transformar a expan-são em contracção. Mais ainda: em 1848 já era em certa medida visível estaespantosa inversão de caminhos. E tem de se admitir que ainda mal se vis-lumbrava a revolta contra o Ocidente que, à escala mundial, domina o meiodo século XX. Somente no mundo islâmico podemos observar os primeirosindícios do processo pelo qual os que foram conquistados pelo Ocidenteadoptaram as suas ideias e técnicas para fazerem o feitiço voltar-se contra
14
o feiticeiro: no início da reforma interna de ocidentalização que se operoudentro do Império Turco, durante a década de 1830 e, acima de tudo, nacarreira, importante mas esquecida, de Mohammed Ali, no Egipto. Mas naEuropa já afloravam as forças e as ideias que prefiguravam a ultrapassagemda nova sociedade triunfante. O «espectro do comunismo» já assolava aEuropa em 1848. O exorcismo deu-se em 1848. Durante muito tempo iriamanter-se tão impotente como os espectros o são, especialmente no mundoocidental mais imediatamente transformado pela dupla revolução. Mas, seolharmos à volta no mundo da década de 1960, não seremos tentados asubestimar a força histórica das ideologias socialista e comunistarevolucionárias nascidas de uma reacção à dupla revolução, que em 1848teve a sua primeira formulação clássica. O período histórico que se iniciacom a construção do primeiro sistema fabril do mundo moderno em Lan-cashire e com a Revolução Francesa de 1789 termina com a construção daprimeira rede de caminhos-de-ferro e com a publicação do ManifestoComunista.
17
I
O MUNDO NA DÉCADA DE 1780
Le dix-huitième siècle doit être mis au Panthéon.
Saint-Just1
I
A primeira observação que se deve fazer sobre o mundo da década de1780 é que ele era, ao mesmo tempo, muito mais pequeno e muito maiordo que o nosso. Era geograficamente mais pequeno, porque mesmo oshomens mais bem educados e informados que então viviam — digamos,alguém como o cientista e viajante Alexander von Humboldt (1769-1859)— apenas conheciam pedaços do mundo habitado. (Os «mundos conheci-dos» de comunidades cientificamente menos avançadas e expansionistas doque as da Europa Ocidental eram ainda mais pequenos, reduzindo-se apequenos segmentos de terra, nos quais o camponês analfabeto da Sicíliaou o cultivador dos montes da Birmânia vivia a sua vida, e para além dosquais tudo era e havia de ser sempre desconhecido.) Grande parte da super-fície dos oceanos, embora não toda, fora já explorada e cartografada gra-ças ao notável saber de navegadores do século XVIII como James Cook,embora o conhecimento do leito do mar permanecesse muito limitado atémeados do século XX. Conheciam-se os principais contornos dos con-tinentes e da maioria das ilhas e arquipélagos, embora, pelos padrõesmodernos, com pouca precisão. Conhecia-se com alguma precisão o tama-nho e a altitude das cordilheiras da Europa, com pouca as de parte daAmérica Latina, mal se conheciam as da Ásia e, das situadas no continenteafricano, nada se sabia para quaisquer fins práticos (com excepção doAtlas). Salvo os da China e da Índia, o curso dos grandes rios do globo eraum mistério para todos, excepto para alguns caçadores e comerciantes, quepoderão ter tido algum conhecimento dos rios das zonas que percorriam.Na maior parte das áreas, o mapa do mundo consistia em espaços vaziosatravessados pelas rotas de mercadores ou exploradores. E esses espaços
18
em branco teriam sido ainda mais vastos, se não fosse a informação emsegunda ou terceira mão reunida por viajantes ou por funcionários desta-cados para postos distantes.
Pelo menos em termos humanos, não só o «mundo conhecido», como omundo verdadeiro, era mais pequeno. Uma vez que não havia censos dapopulação, todos os cálculos demográficos eram puras conjecturas. É, noentanto, evidente que a Terra apenas tinha uma fracção da população dehoje, provavelmente não mais do que um terço. A darmos crédito às con-jecturas mais citadas, a Ásia e a África tinham uma percentagem maior dapopulação mundial em relação ao presente do que os outros continentes: aEuropa, com 187 milhões em 1800 (hoje 600 milhões), tinha uma propor-ção mais pequena, e as Américas, naturalmente, muito mais pequena ainda.Num cálculo aproximado, em 1800, dois em cada três seres humanos seriamasiáticos, um em cada cinco europeus, um em cada dez africanos, um emcada trinta e três americanos ou da Oceânia. É evidente que esta populaçãomuito mais reduzida estava muito mais esparsamente distribuída pelo globo,com excepção, porventura, de pequenas regiões de agricultura intensa oude elevada concentração urbana em algumas zonas da China, da Índia e daEuropa Ocidental e Central, onde poderão ter existido densidades compa-ráveis às dos tempos modernos.
Se a população era mais reduzida, também o era a área efectivamentepovoada pelo homem. As condições climatéricas (provavelmente um poucomais frias e húmidas do que hoje, embora não tão frias ou húmidas comodurante o pior período da «pequena idade do gelo», entre 1300 e 1700) con-tiveram os limites do povoamento no Árctico. Doenças endémicas como amalária restringiram-no em muitas áreas, como no Sul de Itália, onde asplanícies costeiras, há muito virtualmente desocupadas, só no século XIX
começaram pouco a pouco a ser povoadas. Formas primitivas de economia,nomeadamente a caça e (na Europa) a ruinosa transumância sazonal de gadoimpediram o povoamento em vastas regiões — como nas planícies da Apúlia:as gravuras turísticas do século da campagna romana, um espaço vazio comalgumas ruínas, algumas cabeças de gado, o pitoresco de um bandido na pai-sagem, são ilustrações familiares dessas paisagens. Muita terra, onde poste-riormente o arado penetrou, era ainda, mesmo na Europa, charneca árida,pântano alagado, zona de pastagem ou floresta por desbravar.
Num terceiro aspecto ainda, a humanidade era mais pequena do que éhoje. De um modo geral, os Europeus eram consideravelmente mais bai-xos e magros. Eis um exemplo tirado das abundantes estatísticas sobrecompleição física dos recrutas militares, nas quais assenta esta generali-zação: num cantão da costa ligúrica, 72 por cento dos recrutas em 1792--1799 tinha menos de um metro e meio de altura.2 Isto não significa queos homens da última parte do século XVIII fossem mais frágeis do que nós.Os soldados magros, atrofiados e mal treinados da Revolução Francesatinham uma resistência física hoje só igualada pelos pequenos guerrilheirosdas montanhas coloniais. Era vulgar marcharem continuadamente durante
19
uma semana, com todo o equipamento às costas, à média de cinquenta qui-lómetros por dia. No entanto, pelos nossos padrões, a compleição físicahumana era fraca, como o atesta o valor excepcional que reis e generaisatribuíam aos «moços altos» que formavam os regimentos de elite de guar-das e couraceiros.
E, ainda assim, se o mundo de então era, em muitos aspectos, maispequeno, a mera dificuldade ou a incerteza das comunicações tornava-o, naprática, muito mais vasto do que é hoje. Não desejamos exagerar estas difi-culdades. A última parte do século XVIII era, pelos padrões medievais ou doséculo XVI, uma época de comunicações rápidas e abundantes e, mesmo antesda revolução do caminho-de-ferro, foram notáveis acontecimentos os melho-ramentos nas estradas, os veículos puxados por cavalo e os serviços damala-posta. Entre 1760 e o final do século, a viagem de Londres a Glásguafoi encurtada de dez-doze dias para sessenta e duas horas. A rede de diligên-cias, instituída na segunda metade do século XVIII, alargada consideravelmenteentre o fim das Guerras Napoleónicas e o começo dos caminhos-de-ferro, per-mitia não só relativa velocidade — o serviço postal de Paris para Estrasburgolevava apenas trinta e seis horas em 1833 — como também regularidade.Contudo, a rede terrestre de transporte de passageiros era reduzida e o trans-porte de mercadorias por via terrestre não só lento como proibitivo. Aquelesque estavam encarregados do comércio e dos negócios governamentais nãoestavam de modo algum isolados uns dos outros: calcula-se que vinte milhõesde cartas tenham passado pelos serviços postais britânicos no início dasGuerras Napoleónicas (dez vezes mais no final do período abrangido por estaobra). Contudo, para a grande maioria dos habitantes do mundo, as cartaseram inúteis, visto não saberem ler, e viajar — excepto porventura para osmercados — era uma experiência absolutamente invulgar. Para a maioria, asviagens terrestres eram a pé ou ao ritmo do lento rodar da carroça que, já nosprincípios do século XIX, era responsável por cinco sextos do transporte demercadorias francesas, a uma velocidade média aproximada de trinta quiló-metros por dia. Os mensageiros percorriam longas distâncias com despachos;os postilhões conduziam diligências com uma dezena de passageiros aba-nando os ossos, ou então, se os veículos estavam equipados com a novasuspensão de cabedal, provocavam terríveis enjoos nos viajantes. Os nobresviajavam em carruagens privadas. Sem embargo, para a grande maioria dapopulação do mundo, o transporte terrestre era regulado pela velocidade docarreteiro que caminhava ao lado do cavalo ou da mula.
Nestas circunstâncias, o transporte marítimo era não só mais cómodo emais barato, como também (salvo pela incerteza dos ventos e do tempo)mais rápido. Goethe levou, na sua viagem à Itália, respectivamente, quatroe três dias de Nápoles para a Sicília e volta. Quanto tempo teria levado porterra com um mínimo de conforto?... Estar perto de um porto era estar pertodo mundo: Londres estava mais perto de Plymouth ou de Leith do que dasaldeias dos condados de Breckland ou Norfolk; Sevilha de mais fácil acessode Veracruz do que de Valladolid, Hamburgo mais próximo da Baía do
20
que do interior da Pomerânia. O grande senão do transporte marítimo era asua intermitência. Mesmo em 1820, havia apenas duas malas semanais deLondres para Hamburgo e Holanda, uma por semana para a Suécia e paraPortugal, uma por mês para a América do Norte. No entanto, sem dúvidaBoston e Nova Iorque estavam muito mais em contacto com Paris do que,por exemplo, Maramaros, nos montes Cárpatos, com Budapeste. E, tal comoera mais fácil transportar homens e mercadorias em quantidade pela imen-sidão oceânica — era, por exemplo, mais fácil transportar 44 000 toneladasdos portos da Irlanda do Norte para a América no espaço de cinco anos(1769-1774) do que cinco mil para Dundee ao longo de três gerações —, tam-bém era mais fácil ligar capitais distantes do que o campo à cidade. A notí-cia da queda da Bastilha levou treze dias a chegar a Madrid; mas emPéronne, a uns escassos 133 quilómetros da capital, «as novas de Paris» sóforam recebidas a 28 de Julho.
O mundo de 1789 era, portanto, para a maioria dos seus habitantes, incal-culavelmente vasto. A não ser que fossem atingidos por qualquer desastreou imprevisto, como o recrutamento militar, quase todos viviam e morriamno condado, quantas vezes na paróquia onde tinham nascido. Até 1861, emsetenta das noventa províncias francesas, nove em cada dez franceses viviamnaquela em que tinham nascido. O que se passava no resto do mundo che-gava-lhes por boatos ou informações governamentais. Não havia jornais,excepto para um escasso número de pessoas das classes superiores e médias.Em 1814, a tiragem média de um jornal era de 5000. De qualquer modo,poucos eram os que sabiam ler. Para a maior parte, as notícias eram trazi-das por viajantes e pelo sector móvel da população: mercadores e masca-tes, viajantes, artesãos migratórios e trabalhadores sazonais, a vastapopulação mista de viandantes, desde frades itinerantes e peregrinos a con-trabandistas, salteadores e gente de feira; e, naturalmente, através de solda-dos que vinham ao contacto com a população em tempo de guerra ou queem tempo de paz se deslocavam para guarnições distantes. Havia tambémos canais oficiais — o Estado e a Igreja. Mas mesmo a maior parte dos agen-tes locais de organizações do Estado ou ecuménicas pertencia à localidadeou era destacada para prestar serviço durante uma vida inteira. Fora dascolónias, o funcionário público nomeado pelo governo central para umasucessão de postos de província apenas começava a ter existência. Entretodos os agentes subalternos do Estado só talvez os oficiais do exércitopudessem ter uma vida não localizada, buscando consolo na variedade devinhos, de mulheres e de cavalos que encontravam nas diferentes regiõesdo país para onde eram destacados.
II
O mundo de 1789 era um mundo predominantemente rural e, para ocompreender, será necessário assimilar esse facto fundamental. Em países
21
como a Rússia, a Escandinávia ou os Balcãs, onde a cidade nunca floresceraexcessivamente, 90 a 97 por cento da população era rural. Mesmo em zonascom uma tradição urbana forte, mas decadente, a percentagem rural ou agrí-cola era extremamente elevada: 85 por cento na Lombardia, 72-80 por centoem Veneza, mais de 90 por cento na Calábria e na Lucânia, de acordo comas estimativas existentes.3 De facto, se exceptuarmos algumas prósperaszonas industriais ou comerciais, seria difícil encontrar um Estado europeuem que, pelo menos, quatro em cada cinco habitantes não fossem homensdo campo. Na própria Inglaterra, a população urbana só em 1851 excedeu,pela primeira vez, a população rural.
O termo «urbano» é, evidentemente, ambíguo. Abrange as duas cida-des europeias que em 1789 se podem considerar, pelo nossos padrões,grandes cidades — Londres, com cerca de um milhão de habitantes, eParis, com cerca de quinhentos mil — e algumas com uma população de100 000 ou mais: duas em França, duas na Alemanha, talvez quatro emEspanha, cinco em Itália (o Mediterrâneo era tradicionalmente zona decidades), duas na Rússia, e uma em cada um dos seguintes países: Por-tugal, Polónia, Holanda, Áustria, Irlanda, Escócia e Turquia europeia. Masinclui também as inúmeras pequenas cidades da província nas quais amaioria dos habitantes urbanos vivia; aquelas onde um homem podiacaminhar do largo da catedral, ao longo dos edifícios públicos e das casasdos notáveis, até ao campo em escassos minutos. Dos 19 por cento dosAustríacos que, mesmo nos finais deste período (1834), vivia em cidades,mais de três quartos vivia em cidades de menos de 20 000 habitantes; apro-ximadamente metade, em cidades de entre dois e cinco mil. Estas eram ascidades pelas quais os artífices franceses passavam na sua Tour de France;cujos perfis do século XVI, conservados como moscas em âmbar pelaestagnação de séculos subsequentes, os poetas românticos alemães evo-cavam no pano de fundo das suas paisagens tranquilas; acima das quaisse erguiam as torres das catedrais espanholas; na lama das quais os judeuscassídicos veneravam os rabis milagreiros e os ortodoxos contestavam assubtilezas divinas da lei; pelas quais o inspector-geral de Gogol avançavapara atemorizar os ricos e Chichikov para meditar sobre a compra de almasmortas. Todavia, eram também as cidades das quais provinham jovensardentes e ambiciosos para fazer revoluções ou a sua primeira fortuna;Robespierre era de Arrás, Graco Babeuf de Saint-Quentin, Napoleão deAjácio.
Estas cidades de província não eram menos urbanas pelo facto de serempequenas. Os autênticos habitantes das cidades olhavam para os camposque se estendiam à sua volta com o desprezo que os inteligentes e conhe-cedores sentem pelos fortes, lentos, ignorantes e estúpidos. (Não que pelospadrões do verdadeiro cidadão do mundo a cidade sonolenta de provínciativesse alguma coisa de que se orgulhar: as comédias populares alemãstroçavam do «Kraehwinkel» — a pequena municipalidade — com tantacrueldade como dos simples camponeses.) Era bem demarcada a linha que
22
dividia a cidade e o campo, ou melhor, as ocupações da cidade das ocupa-ções do campo. Em muitos países, cidade e campo estavam separados pelabarreira fiscal, ou por vezes até pela velha linha da muralha. Em casos extre-mos, como na Prússia, o governo, preocupado em manter sob supervisão oscidadãos aos quais cobrava impostos, impunha a separação total das activi-dades urbanas e rurais. Mesmo onde não havia uma divisão administrativarígida, o homem da cidade distinguia-se fisicamente do homem do campo.Numa vasta área da Europa Oriental, eram como ilhas alemãs, judaicas ouitalianas num lago eslavo, magiar ou romeno. Mesmo citadinos da mesmareligião e nacionalidade que o camponês das vizinhanças tinham um aspectodiferente: trajavam de maneira diferente e, na maioria dos casos (com excep-ção da população explorada que trabalhava entre paredes), eram mais altose mais magros.* Eram, porventura, e disso se orgulhavam, mais vivos eletrados. E, contudo, no seu modo de vida, ignoravam quase por completoo que se passava à sua volta, quase tão fechados como a aldeia.
A cidade de província pertencia ainda essencialmente à economia e àsociedade do campo. Vivia da exploração do campesinato da região e (comrelativamente poucas excepções) dos seus próprios recursos. As classesmédia e liberal eram os negociantes de cereais e de gado, os processadoresde produtos agrícolas, os advogados e notários que tratavam dos assun-tos das propriedades dos nobres ou dos intermináveis litígios que fazemparte das comunidades agrárias; os mercadores-empresários que abasteciame recebiam dos fiandeiros e tecelões rurais; os representantes mais respei-táveis do governo, dos lordes e da Igreja. Os seus artesãos e comerciantesabasteciam o campesinato da zona e os homens da cidade. A cidade da pro-víncia entrara em declínio acentuado, depois de ter atingido o apogeu nosfins da Idade Média. Só raramente era uma «cidade livre»; só raramente con-tinuava a ser um centro de manufacturas para um mercado mais vasto ouuma plataforma para o comércio internacional. Com esse declínio, agar-rara-se teimosamente ao monopólio local do seu mercado, o qual defendiacontra todos os que chegavam: grande parte do provincianismo, de que osjovens radicais e os meninos finos da cidade troçavam, provinha deste movi-mento de autodefesa económica. No Sul da Europa, os senhores, e por vezesos nobres, viviam das rendas das suas propriedades. Na Alemanha, as buro-cracias dos inúmeros pequenos principados, que por vezes não eram maisdo que grandes propriedades, administravam os desejos do respectivoSereníssimo com os impostos pagos por um campesinato obediente e silen-cioso. A cidade de província dos fins do século XVIII podia ser uma comuni-dade próspera e em expansão, dominada por construções de alvenaria deum modesto estilo clássico ou rococó. Mas essa prosperidade provinha docampo.
* Em 1823-1827, os habitantes de Bruxelas eram em média 3 cm mais altos do queos homens das comunidades rurais dos arredores. Há uma quantidade razoável deestatísticas militares sobre este assunto, se bem que na sua maioria do século XIX.4
23
III
O problema agrário era, por conseguinte, o problema fundamental domundo de 1789, sendo fácil compreender por que razão a primeira escolasistemática de economistas continentais, os Fisiocratas Franceses, aceitoucomo coisa natural que a terra, e a renda da terra, fosse a única fonte dereceita líquida. O cerne do problema agrário era a relação entre aqueles quecultivavam a terra e aqueles que a possuíam, aqueles que produziam a suariqueza e os que a acumulavam.
Do ponto de vista das relações de propriedade agrária, podemos dividira Europa — ou melhor, o complexo económico com centro na EuropaOcidental — em três grandes segmentos. Para ocidente da Europa ficavamas colónias ultramarinas. Nestas, com a notável excepção dos EstadosUnidos da América do Norte e algumas parcelas menos importantes deagricultura independente, o cultivador da terra típico era um índio, quetrabalhava como servo ou assalariado forçado, ou um negro trabalhandocomo escravo; um pouco mais raramente, encontrava-se o rendeiro ou oco-plantador. (Nas colónias das Índias Orientais, onde o cultivo directo porplantadores europeus era mais raro, a forma típica de coerção utilizada peloscapatazes era a entrega forçada de um quinhão das colheitas, por exemplo,especiarias ou café nas ilhas holandesas.) Por outras palavras, o cultivadortípico ou não era livre ou então encontrava-se sob pressão política. O agrá-rio típico era o proprietário da grande fazenda quase feudal ou de uma plan-tação de escravos. A economia característica da fazenda quase feudal erauma economia primitiva e independente ou, pelo menos, virada para asnecessidades puramente regionais: a América Espanhola exportava produ-tos mineiros, produzidos por servos índios, mas poucos produtos agrícolas.A economia característica da zona de plantações de escravos, cujo centroficava nas Caraíbas, ao longo das costas setentrionais da América do Sul(especialmente no Norte do Brasil) e das costas meridionais dos EstadosUnidos da América, era a produção de alguns cereais importantes para aexportação, de açúcar, em menor grau de tabaco e café e, a partir da Revo-lução Industrial, sobretudo de algodão. Esta economia constituía, portanto,parte integrante da economia europeia e, através do tráfico de escravos, daeconomia africana. A história desta zona durante o período de que nosocupamos pode fundamentalmente descrever-se em termos do declínio doaçúcar e do incremento do algodão.
Para oriente da Europa Ocidental, mais especificamente para oriente deuma linha traçada ao longo do rio Elba, das fronteiras ocidentais do que éhoje a Checoslováquia, e depois para sul, para Trieste, cortando para lesteda Áustria Ocidental, ficava a região da servidão agrária. Socialmente, aItália, para sul da Toscânia e da Úmbria, e a Espanha meridional perten-ciam a esta região, embora a Escandinávia (com excepção parcial daDinamarca e do Sul da Suécia) não pertencesse. Esta vasta zona abrangiaalguns pontos onde existiam camponeses que se podiam considerar tecni-
24
camente livres: colonos camponeses alemães dispersos desde a Eslovéniaaté ao Volga, clãs praticamente independentes na região rochosa do inte-rior ilírico, camponeses guerreiros quase tão selvagens como os Pandurose os Cossacos na região que até então tinha sido a fronteira militar entreCristãos e Turcos ou Tártaros, ocupantes pioneiros longe da alçada dosenhor e do Estado, ou aqueles que viviam nas florestas imensas onde eraimpensável o cultivo das terras em grande escala. Todavia, o cultivadortípico não era um homem livre. Era, ao invés, envolvido pela onda de ser-vidão que se levantara desde os fins do século XV, princípios do século XVI.A situação não era tão nítida nas zonas dos Balcãs que haviam estado, ouestavam ainda, sob a administração directa dos Turcos. Embora o sistemaagrário originário do pré-feudalismo turco, uma divisão tosca da terra emque cada unidade apoiava um guerreiro turco não-hereditário, há muitotivesse degenerado num sistema de propriedades rurais hereditárias domi-nadas por senhores maometanos, a verdade é que estes senhores não sededicavam à agricultura. Limitavam-se a extrair tudo o que pudessem docampesinato. Esta a razão por que os Balcãs, a sul do Danúbio e do Save,emergiram do domínio turco nos séculos XIX e XX como países de cam-poneses, embora extremamente pobres, e não de propriedade agrícola con-centrada. O camponês balcânico era, legalmente, escravo como cristão e,de facto, escravo como camponês, pelo menos enquanto estivesse sob aalçada dos senhores da terra.
Na parte restante da região o camponês típico era um servo, obrigadodurante quase toda a semana a trabalhos forçados na terra dos senhores.A sua falta de liberdade era uma condição que mal o distinguia da tran-sacção de bens móveis, como na Rússia e nas zonas da Polónia onde podiaser vendido separadamente da terra. Uma notícia na Gazeta de Moscovo,em 1801, continha o seguinte anúncio: «Para venda, três cocheiros, bemtreinados e apresentáveis, e duas raparigas, de 18 e 15 anos, de boa apa-rência e especializadas em vários tipos de trabalho manual. A mesma casatem para venda dois cabeleireiros, um de 21 anos, sabendo ler e escrevere tocar um instrumento musical e trabalhar como postilhão, o outro habi-litado a exercer a profissão de cabeleireiro de senhoras e de cavalheiros;para venda também pianos e órgãos.» (Uma grande percentagem de servostrabalha como domésticos; na Rússia quase cinco por cento de todos os ser-vos em 1851.5) Nas regiões interiores do mar Báltico — a principal rotade comércio com a Europa Ocidental — a agricultura servil produzia sobre-tudo para os países importadores do Ocidente: cereais, linho, cânhamo eprodutos florestais para a construção de barcos. Noutras partes confiavamais no mercado regional, que abrangia pelo menos uma região acessívelde manufactura relativamente avançada e de desenvolvimento urbanos —a Saxónia e a Boémia e a grande cidade de Viena. Todavia, grande parteda agricultura continuava subdesenvolvida. A abertura da rota do marNegro e a crescente urbanização da Europa Ocidental, particularmente daInglaterra, só agora começava a estimular as exportações de cereais da cin-
25
tura russa de terra negra que, até à industrialização da URSS, constituiriaa base do comércio externo russo. Pode, por conseguinte, considerar-setambém a área servil oriental como uma «economia dependente» da EuropaOcidental, produtora de alimentos e matérias-primas e análoga às colóniasultramarinas.
As áreas servis da Itália e da Espanha tinham características económicassemelhantes, embora houvesse diferenças nos aspectos legais do estatuto doscamponeses. De uma maneira geral, eram áreas de vastas propriedades per-tencentes aos nobres. Não é de todo impossível que na Sicília e na Andaluziaestas descendessem em linha directa dos latifúndios romanos, cujos escra-vos e coloni se tinham tornado os característicos assalariados à jorna, e semterras, destas regiões. A criação de gado, a produção de trigo (a Sicília é umtradicional exportador de cereais) e a extorsão de tudo quanto havia a extor-quir de um campesinato miserável proporcionavam o rendimento aos duquese aos barões que possuíam as propriedades.
O característico senhor da terra da área servil era, portanto, um pro-prietário nobre e bem assim o cultivador ou explorador de extensasterras. A imensidão destas desafia a imaginação: Catarina, a Grande, ofe-receu entre quarenta e cinquenta mil servos aos seus favoritos; osRadziwill da Polónia tinham propriedades do tamanho de metade daIrlanda; Potocki possuía mais de um milhão de hectares na Ucrânia; ohúngaro Esterhazy (patrono de Haydn) chegou a possuir três milhões dehectares. Era corrente haver latifúndios com várias dezenas de milharesde hectares.* Por muito primitivas, abandonadas e ineficientes que fos-sem, e eram-no frequentemente, estas propriedades proporcionavam recei-tas fabulosas. O nobre espanhol, tal como um observador francês notounas propriedades desoladas de Medina Sidónia, podia «reinar como umleão das florestas, cujo rugido atemoriza quantos se aproximam dele».7
Todavia, não lhe faltava metal sonante em boa quantidade, mesmo pelospadrões do milorde inglês.
Abaixo dos magnates, uma classe de senhores do campo de recursoseconómicos variáveis explorava os camponeses. Nalguns países, era umaclasse excessivamente vasta e, por consequência, pobre e descontente.Distinguia-se das classes que não eram nobres sobretudo pelos seus pri-vilégios sociais e políticos e pela inapetência para se empenhar em acti-vidades indignas de senhores, como, por exemplo, o trabalho. Na Hungriae na Polónia, um em cada dez habitantes da população total pertencia a essaclasse, na Espanha havia cerca de meio milhão no final do século XVIII e,em 1827, montava a dez por cento do total da nobreza europeia;8 noutrospontos do globo era muito mais reduzida.
* Depois de 1918, mais de oitenta grandes propriedades de cerca de 25 000 acres(10 000 hectares) foram confiscadas na Checoslováquia aos Schoenborn e aosSchwarzenberg, aos Liechtenstein e aos Kinsky.6
26
IV
No resto da Europa, a estrutura agrária não era diferente, do ponto devista social. Quer isto dizer que, para o camponês ou para o assalariado,quem quer que possuísse uma propriedade era um gentleman e um membroda classe dominante. O estatuto nobre ou de pequena nobreza (que confe-ria privilégios sociais e políticos e era ainda nominalmente o único cami-nho para atingir os altos postos do Estado) era inconcebível sem a posse deuma propriedade. Na maioria dos países da Europa Ocidental, a ordem feu-dal implícita em tal modo de pensar encontrava-se ainda politicamente viva,embora economicamente se tornasse cada vez mais obsoleta. Na verdade, asua própria obsolescência económica, que tornava os rendimentos dosnobres praticamente imunes ao aumento de preços e despesas, permitia quea aristocracia explorasse com intensidade flagrante a sua inalienável situa-ção económica, os privilégios de nascimento e o seu estatuto.
Por toda a Europa continental, os nobres expulsavam os seus rivais debaixa estirpe dos lugares privilegiados junto da coroa: desde a Suécia,onde a proporção de funcionários comuns baixou de 66 por cento em 1719(42 por cento em 1700) para 23 por cento em 1780,9 até à França, ondeesta «reacção feudal» precipitou a Revolução Francesa (ver Capítulo III).Mas mesmo em França, onde era relativamente fácil ingressar na nobrezaterra-tenente ou ainda mais na Grã-Bretanha, onde o estatuto de nobre eproprietário de terras era a recompensa de qualquer tipo de riqueza, desdeque fosse suficientemente grande, o elo entre o estatuto de classe do-minante e a posse de propriedades manteve-se, estreitando-se mesmoposteriormente.
Todavia, economicamente, a sociedade rural ocidental era muito dife-rente. O camponês característico tinha perdido grande parte do estatutoservil de finais da Idade Média, embora retivesse ainda as marcas humi-lhantes da dependência legal. A propriedade típica há muito deixara de seruma unidade de iniciativa económica e transformara-se num sistema decobrança de rendas e doutras receitas pecuniárias. O camponês mais oumenos livre, grande, médio ou pequeno, era o cultivador característico dosolo. Se era rendeiro, pagava renda (ou nalgumas áreas, parte do produtoda colheita) a um senhor da terra. Se tecnicamente fosse possuidor de umapropriedade livre e alodial, provavelmente devia ainda uma série de obri-gações ao senhor local, que podiam ou não ser convertidas em dinheiro(como, por exemplo, a obrigação de enviar o seu trigo ao moinho dosenhor), como ainda impostos ao príncipe, sisa à Igreja, e alguns deveresde trabalho forçado, tudo em profundo contraste com a isenção relativa deque usufruíam as camadas sociais superiores. Mas, se todos estes elos polí-ticos fossem removidos, uma grande parte da Europa transformar-se-ianuma zona de agricultura campesina, onde uma minoria de camponesesabastados tenderia a transformar-se em agricultores comerciantes que ven-deriam o excedente permanente da colheita ao mercado urbano e uma
27
maioria de pequenos e médios camponeses viveria de um modo auto-sufi-ciente, das suas terras, a não ser que estas fossem tão pequenas que eles sevissem obrigados a suprir a falta de dinheiro com trabalho parcial na agri-cultura ou na manufactura.
Apenas algumas áreas tinham feito avançar o desenvolvimento agráriono sentido de uma agricultura puramente capitalista. A Inglaterra era aprincipal. Aí, a propriedade de terras era extremamente concentrada, maso cultivador característico era um rendeiro-comerciante médio que alugavamão-de-obra. A existência de uma grande camada de pequenos proprietá-rios ocultava este quadro. Mas quando a situação se modificou (entre 1760e 1830), o que surgiu não foi uma agricultura de camponeses, mas sim umaclasse de empresários agrícolas, os agricultores, e um vasto proletariadoagrícola. Algumas zonas europeias, onde o investimento comercial era tra-dicionalmente dirigido para o cultivo de terras, como em certas partesdo Norte de Itália e na Holanda, ou onde as culturas se tinham especia-lizado em função do mercado, revelavam igualmente fortes tendênciascapitalistas, embora o fenómeno constituísse uma excepção. Outra excep-ção era a Irlanda, essa malograda ilha que aliava as desvantagens das áreasatrasadas da Europa às da proximidade da economia mais avançada do con-tinente. Aí, um punhado de latifundiários absentistas, semelhantes aos daAndaluzia ou da Sicília, explorava uma enorme massa de rendeiros pelaextorsão de rendas pecuniárias.
Com excepção de algumas regiões avançadas, tecnicamente a agricul-tura europeia era uma gricultura tradicional e espantosamente ineficiente.Os seus produtos eram principalmente os tradicionais: centeio, trigo, cevada,aveia e, na Europa Oriental, trigo-mouro, o alimento básico da população,gado bovino, ovino e lacticínios, porcos e criação, alguma fruta e legumes,vinho e certas matérias-primas industriais como lã, linho, cânhamo para cor-doaria, cevada para cerveja, etc.
A alimentação da Europa era ainda regional. Produtos doutros climaseram raridades, considerados produtos de luxo, com a possível excepção doaçúcar, o produto mais importante exportado dos trópicos e aquele cujadoçura causou mais amargor humano do que qualquer outro. Na Inglaterra(o país mais avançado), o consumo médio anual por cabeça em 1790 era deseis quilos. Mas mesmo na Inglaterra, o consumo médio de chá per capita,no ano da Revolução Francesa, não chegava a 60 gramas por mês.
Os novos produtos importados das Américas tinham feito algum pro-gresso. Na Europa Meridional e nos Balcãs, o milho (trigo indiano) já segeneralizara — contribuíra para fixar os camponeses móveis aos lotes deterra nos Balcãs — e no Norte de Itália a cultura do arroz começava a dis-seminar-se. O tabaco era cultivado em vários principados, quase semprecomo monopólio do governo para fins fiscais, embora a sua utilização fosseinsignificante pelos padrões modernos: em 1790, o inglês médio fumava,mascava ou cheirava cerca de 36 gramas por mês. A cultura da seda eracomum em certas partes da Europa Meridional. A principal das novas
28
culturas, a batata, processava-se ainda de forma incipiente, com excepção daIrlanda, onde a sua capacidade de alimentar mais bocas ao nível de subsis-tência, do que qualquer outro alimento, fizera dela um produto básico. Forade Inglaterra e dos Países Baixos, o cultivo sistemático de raízes e forragens(além do feno) era ainda uma excepção. Foram as Guerras Napoleónicas queprovocaram a produção em massa de beterraba para açúcar.
O século XVIII não foi um século de estagnação agrícola. Ao invés, umlongo período de expansão demográfica, de crescente urbanização, decomércio e manufactura estimulara, e exigira até, o desenvolvimento agrí-cola. A segunda metade do século assistiu ao início do espectacular e, a par-tir de então, ininterrupto crescimento populacional característico do mundomoderno: entre 1755 e 1784, para citar um exemplo, a população rural deBrabante (Bélgica) aumentou em 44 por cento.10 No entanto, aquilo queimpressionava os que lutavam pelo fomento agrícola, que multiplicavam assuas sociedades, relatórios governamentais e publicações de propaganda,desde a Espanha à Rússia, era os obstáculos que se levantavam ao desen-volvimento agrário, e não o seu progresso.
V
O mundo da agricultura era lento, salvo, porventura, o sector capitalista.O mundo do comércio, das manufacturas e das actividades tecnológicas eintelectuais era um mundo activo, confiante e em expansão, e as classes quedele beneficiavam mostravam-se optimistas. O observador contemporâneoseria imediatamente surpreendido pelo grande desenvolvimento do comér-cio, um fenómeno intimamente ligado à exploração colonial. Um sistemade rotas comerciais marítimas, que se desenvolvia vertiginosamente emvolume e em capacidade, circundava a Terra, trazendo os seus lucros paraas comunidades mercantis da Europa do Atlântico Norte. Essas classes ser-viam-se do poder colonial para extorquir aos habitantes das ÍndiasOrientais* os produtos exportados dali para a Europa e para a África, ondeestes e outros produtos europeus serviam para comprar escravos para asplantações das Américas, em rápido crescimento. As plantações america-nas, por seu turno, exportavam o açúcar, o algodão, etc., em quantidadescada vez mais volumosas e baratas para os portos do Atlântico e do mar doNorte, donde eram redistribuídos para Oriente, juntamente com as manu-facturas e as mercadorias tradicionais do comércio entre o Oriente e oOcidente europeus: têxteis, sal, vinho, etc. Do Báltico, por seu turno, vinhamos cereais, a madeira, o cânhamo. Da Europa Oriental vinham os cereais,a madeira e o linho (uma proveitosa exportação para os trópicos), cânhamo
* E também até certo ponto do Extremo Oriente, onde compravam o chá, as sedas,a porcelana, etc., para os quais havia uma procura crescente na Europa. Porém, aindependência da China e do Japão fez deste comércio um comércio menos pirata.
29
e ferro desta segunda zona colonial. Entre as economias relativamentedesenvolvidas da Europa — que incluíam, economicamente falando, ascomunidades cada vez mais activas de colonos brancos nas colónias bri-tânicas da América (depois de 1783, os EUA do Norte) — a teia do comér-cio foi adensando-se cada vez mais.
O nabob, ou seja, o plantador regressado das colónias com uma riquezaque suplantava os sonhos da avareza provinciana, o mercador e o arma-dor, cujos portos — Bordéus, Bristol, Liverpool — tinham sido construí-dos ou reconstruídos no decurso do século, foram os verdadeirosvencedores económicos da época, que só se podem comparar aos grandesfuncionários e financeiros que extraíam a sua riqueza do lucrativo serviçodo Estado, porquanto essa era uma época em que a expressão «posto ofi-cial de lucro sob a protecção da coroa» tinha ainda um significado literal.Ao lado deles, a classe média de advogados, de administradores de pro-priedades, de cervejeiros, de comerciantes, etc., que podiam acumular umamodesta riqueza a partir do mundo da agricultura, vivia uma vida tran-quila e moderada, e mesmo o fabricante era, em comparação, um poucomais do que um parente muito pobre. Isto, porquanto se era um facto queas minas e manufacturas se expandiam rapidamente por toda a Europa, omercador (e, na Europa Oriental, o senhor feudal) continuava a ser o seuprincipal controlador.
Isto porque a forma principal de expandir a produção industrial era pelochamado sistema doméstico (ou de putting-out), em que o mercador com-prava os produtos ao artesão ou à mão-de-obra não-agrícola e em regime par-cial do campesinato, para depois os vender num mercado geral. O simplescrescimento de um comércio de tal tipo criou as condições rudimentares paraum capitalismo industrial incipiente. O artesão que vendia as suas mercado-rias podia transformar-se em pouco mais do que um trabalhador pago à peça(particularmente quando o mercador lhe fornecia a matéria-prima, e pos-sivelmente lhe alugava o equipamento de produção). O camponês que teciapodia tornar-se o tecelão que também tinha uma pequena porção de terra.A especialização de processos e funções poderia dividir os antigos ofíciosou criar um complexo de trabalhadores semiespecializados entre os campo-neses. O antigo mestre-artesão ou qualquer grupo especial de ofícios, ou deintermediários locais, poderiam transformar-se num tipo de subempreiteirosou patrões. Porém, o controlador principal destas formas descentralizadas deprodução, aquele que era elemento de ligação entre as aldeias distantes ouas ruas obscuras e o mercado mundial era, invariavelmente, um mercador.Os «industriais» que iam surgindo das fileiras dos próprios produtores erampequenos empresários comparados com ele, mesmo quando dele não depen-diam directamente. Havia algumas excepções, nomeadamente na Inglaterraindustrial. Homens como o ceramista Josiah Wedgwood eram indivíduosorgulhosos e respeitados, sendo as suas lojas visitadas por curiosos de todaa Europa. Mas o industrial típico (a palavra não fora ainda inventada) estavalonge de ser um capitão da indústria.
30
Não obstante, fosse qual fosse o seu estatuto, as actividades do comércioe da manufactura floresciam. O mais próspero Estado europeu do sé-culo XVIII, a Grã-Bretanha, devia pura e simplesmente o seu poder aoprogresso económico e, por alturas de 1780, todos os governos continentaiscom quaisquer pretensões a uma política racional promoviam o crescimentoeconómico e, especialmente, o desenvolvimento industrial, embora nem sem-pre com o mesmo êxito. As ciências, que ainda não se encontravam dividi-das pelo academismo do século XIX num ramo «puro» superior e num ramo«aplicado» inferior, dedicavam-se à solução dos problemas da produção: osavanços mais impressionantes da década de 80 verificaram-se no campo daquímica, que era por tradição a ciência mais estreitamente ligada à práticade oficina e às necessidades da indústria. A Grande Enciclopédia de Diderote d’Alembert não era um mero compêndio do pensamento social e políticoprogressivo, mas também do progresso tecnológico e científico. Na verdade,a crença no progresso do conhecimento humano, da racionalidade, dariqueza, da civilização e do controlo sobre a Natureza, de que o século XVIII
estava profundamente imbuído — o Iluminismo —, ia buscar a sua forçaessencialmente ao progresso da produção, do comércio e da racionalidadeeconómica e científica que se cria estar inevitavelmente associada a ambos.Os seus grandes defensores eram as classes economicamente mais progres-sivas, as que se encontravam mais directamente envolvidas nos avançostangíveis da época: os círculos mercantis e os senhores da terra economica-mente esclarecidos, os financeiros, os administradores económicos e sociaisde espírito científico, a classe média educada, os fabricantes e os empresá-rios. Esses homens elegeram um Benjamin Franklin, tipógrafo e jornalista,inventor, empresário, astuto homem de negócios, como o símbolo do cida-dão do futuro — activo e racional. Tais homens, em Inglaterra, onde os novoshomens não tinham necessidade de encarnações revolucionárias transatlân-ticas, formavam as sociedades de província das quais brotou o progressocientífico, industrial e político. A Lunar Society de Birmingham incluía oceramista Josiah Wedgwood, James Watt, inventor da moderna máquina avapor, e o seu parceiro comercial Matthew Boulton, o químico Priestley, obiólogo e pioneiro das teorias evolucionistas Erasmo Darwin (avô de umDarwin maior), o grande impressor Baskerville. Por toda a parte, esses indi-víduos frequentavam as lojas da maçonaria, onde as distinções de classe nãocontavam e onde a ideologia do Iluminismo era propagada com um entusi-asmo desinteressado.
É significativo que os dois principais centros de ideologia fossem tam-bém os centros da dupla revolução, a França e a Inglaterra, embora as suasideias adquirissem um cunho mais internacional através das formulaçõesfrancesas (mesmo quando estas mais não eram do que versões galicistas dasbritânicas). O pensamento «iluminado» era dominado por um individualismosecular, racionalista e progressivo. O seu principal objectivo era libertaro indivíduo das grilhetas que o acorrentavam: o tradicionalismo ignorante daIdade Média, que ainda lançava a sua sombra sobre o mundo, a superstição
31
das igrejas (distintas da religião «natural» ou «racional»), o irracionalismoque dividia os homens numa hierarquia de escalões superiores e inferiores,segundo o nascimento ou qualquer outro critério irrelevante. Os slogans eramliberdade, igualdade e fraternidade entre todos os homens. A seu tempo, tor-naram-se os ideais da Revolução Francesa. O reinado da liberdade individualnão poderia deixar de ter consequências benéficas. Os mais extraordináriosresultados poderiam alcançar-se através do livre exercício do talento indi-vidual num mundo dominado pela razão. A crença apaixonada no progresso,característica do pensador «iluminado» típico, reflectia o visível progressodo conhecimento e da técnica, da riqueza, do bem-estar e da civilização queele discernia à sua volta e que, com alguma justiça, atribuía ao avanço cres-cente das suas ideias. No princípio do século, ainda se queimavam bruxaspor toda a parte; no final, governos esclarecidos como o austríaco tinham jáabolido não só a tortura judicial como a escravidão. O que não seria de espe-rar, se os obstáculos que restavam ao progresso, como os interesses consti-tuídos do feudalismo e da Igreja, fossem abolidos?
Não é totalmente exacto chamar ao Iluminismo uma ideologia da classemédia, embora houvesse muitos iluministas que consideravam natural quea sociedade livre fosse a sociedade capitalista.11 Politicamente, o seu papelfoi decisivo. Em teoria, o seu objectivo era libertar todos os seres humanos.Todas as ideologias progressivas, racionalistas e humanistas estão implíci-tas nesse objectivo e, na verdade, brotaram dele. Todavia, na prática, osmentores da emancipação preconizada pelo Iluminismo provinham da classemédia da sociedade, eram os novos homens racionais de mérito e capaci-dade e não de nascimento nobre, e a ordem social que iria surgir das suasactividades seria uma ordem «burguesa» e capitalista.
Será mais exacto chamar ao «lluminismo» uma ideologia revolucionária,não obstante a prudência e a moderação política de muitos dos seus men-tores do continente, a maioria dos quais — até à década de 80 — deposi-tava a sua fé na monarquia absoluta iluminada. O Iluminismo implicava aabolição da ordem social e política existente na maior parte da Europa. Erade mais esperar que os anciens régimes se abolissem a si próprios volunta-riamente. Pelo contrário, tal como vimos, nalguns aspectos, eles reforça-vam-se contra o avanço das novas forças sociais e económicas. E os seusbaluartes (fora da Grã-Bretanha, das Províncias Unidas e de alguns outrospontos onde já haviam sido derrotados) eram as próprias monarquias, nasquais os iluministas moderados depositavam a sua fé.
VI
Com excepção da Grã-Bretanha, que fizera a sua revolução no sé-culo XVII, e outros estados menos importantes, a monarquia absoluta gover-nava todos os Estados do continente europeu. Aqueles onde tal não aconteciacaíram na anarquia e foram absorvidos pelos seus vizinhos, como sucedeu à
32
Polónia. Monarcas hereditários por graça de Deus chefiavam hierarquias denobres terra-tenentes, apoiados pela organização tradicional e pela ortodoxiadas igrejas e rodeados por um complexo de instituições que, a recomendá-las,nada tinham senão um longo passado. É verdade que a necessidade de coe-são e eficiência do Estado, numa época de agudas rivalidades nacionais, hámuito obrigava os monarcas a refrear as tendências anárquicas dos nobres edoutros interesses constituídos e a preencher os quadros do aparelho deEstado, na medida do possível, com funcionários públicos não aristocráticos.Além disso, na última parte do século XVIII, essa necessidade, acrescida dosucesso internacional do poder do capitalismo britânico, fez com que a maio-ria desses monarcas (ou melhor, os seus conselheiros) experimentasse pro-gramas de modernização económica, social, administrativa e intelectual.Nesse tempo, os príncipes adoptavam o slogan do Iluminismo tal como osgovernos de hoje, por razões análogas, adoptam os do «planeamento»; e, talcomo hoje, alguns dos que os adoptavam em teoria pouco faziam na prática,e mesmo os que o faziam estavam menos interessados nos ideais que inspi-ravam a sociedade «iluminada» (ou «planeada») do que nas vantagens prá-ticas de adoptarem os métodos mais modernos de multiplicarem os seusrendimentos, a sua riqueza e o seu poder.
As classes médias e instruídas, por seu turno, bem como aqueles vin-culados ao progresso, tentavam muitas vezes concretizar as suas esperan-ças através do poderoso aparelho central de uma monarquia «iluminada».Um príncipe necessitava de uma classe média e das suas ideias para moder-nizar o seu Estado; uma classe média fraca precisava de um príncipe paraabater a resistência ao progresso dos interesses aristocráticos e clericais.
Contudo, a monarquia absoluta, por mais modernista e inovadora quefosse, manifestava poucos indícios de querer romper com a hierarquia dosnobres terra-tenentes cujos valores, afinal, ela simbolizava e personificava edo apoio dos quais dependia. Por mais livre que em teoria fosse para fazero que quisesse, na prática a monarquia absoluta pertencia ao mundo que oIluminismo baptizara de féodalité, ou feudalismo, um termo mais tarde popu-larizado pela Revolução Francesa. Tal monarquia estava disposta a utilizartodos os recursos para fortalecer a sua autoridade e aumentar os seus rendi-mentos fiscais e o seu poder além-fronteiras, o que, por seu turno, podia per-feitamente activar as forças da sociedade que nascia. Estava preparada pararobustecer o seu poder político e estimular a rivalidade entre propriedades,classes ou províncias. No entanto, os seus horizontes eram os da sua história,da sua função e da sua classe. Na verdade, não desejava, nem jamais conse-guiu alcançar, a transformação social e económica total que o progresso daeconomia exigia e pela qual os novos grupos sociais lutavam.
Citando um exemplo, poucos pensadores racionais, mesmo entre os con-selheiros dos príncipes, duvidavam seriamente da necessidade de abolir a ser-vidão e os laços existentes de dependência feudal dos camponeses.Reconhecia-se que tal reforma era um dos pontos primordiais de qualquerprograma «iluminado» e não havia praticamente nenhum príncipe, de Madrid
33
a São Petersburgo, de Nápoles a Estocolmo, que não subscrevesse esse pro-grama no quarto de século que precedeu a Revolução Francesa. Apesar disso,as únicas libertações de camponeses que ocorreram, a partir das hierarquiassuperiores, antes de 1789, tiveram lugar em pequenos Estados como aDinamarca e Sabóia e nas propriedades pessoais de alguns príncipes. Em1781, o imperador José II da Áustria tentou uma libertação de maior alcance;esta fracassou, no entanto, face à resistência política dos interesses constituí-dos e da revolta dos camponeses, que visava ir mais longe do que estavaprevisto, e ficou por completar. Aquilo que efectivamente aboliu as relaçõesagrárias feudais em toda a Europa Central e Ocidental foi a RevoluçãoFrancesa, por acção directa, reacção ou imitação, e a revolução de 1848.
Vê-se, assim, que havia um conflito latente, a breve trecho aberto, entreas forças da antiga e da nova sociedade «burguesa», o qual não podia serresolvido dentro da estrutura dos regimes políticos existentes, excepto ondenestes já se verificara o triunfo da burguesia, como fora o caso da Grã--Bretanha. O que tornava estes regimes ainda mais vulneráveis era o factode eles estarem sujeitos a pressões de três direcções: das novas forças, daresistência cimentada e cada vez mais firme dos interesses constituídos maistradicionais e dos rivais estrangeiros.
O seu ponto mais vulnerável era aquele onde a oposição do velho e donovo coincidiam: nos movimentos autonomistas das províncias ou colóniasmais distantes ou menos firmemente controladas. Assim, na monarquia dosHabsburgos, as reformas de José II, nos anos 80, provocaram agitação nosPaíses Baixos austríacos (a Bélgica de hoje) e um movimento revolucio-nário que, em 1789, aderiu naturalmente ao francês. Mais corrente era ascomunidades dos colonos brancos nas colónias ultramarinas dos Estadoseuropeus ressentirem-se da política do governo central, que subordinava osinteresses coloniais estritamente aos interesses metropolitanos. Em todasas partes das Américas, espanhola, francesa e britânica, bem como naIrlanda, esses movimentos de colonos exigiam autonomia — nem semprepara regimes que representassem forças economicamente mais progressi-vas do que as da metrópole — e algumas colónias britânicas alcançaram-napacificamente por algum tempo, como a Irlanda, ou pela revolução, comoos Estados Unidos. Nas décadas de 70 e de 80, a expansão económica,o desenvolvimento colonial e as tensões das reformas tentadas pelo «abso-lutismo iluminado» fizeram proliferar os ensejos para a ocorrência de taisconflitos.
A dissidência provincial ou colonial não era por si só fatal. As monar-quias há muito estabelecidas podiam sobreviver à perda de uma ou duas pro-víncias, e a principal vítima do autonomismo colonial, a Grã-Bretanha, nãosofreu das fraquezas dos velhos regimes e, por conseguinte, permaneceuestável e dinâmica, não obstante a revolução americana. Poucas regiõeshavia onde existissem condições puramente domésticas para uma trans-ferência de poderes de vulto. Era a rivalidade internacional que tornava asituação explosiva.
34
A rivalidade internacional, isto é, a guerra, punha à prova comonenhum outro factor os recursos de um Estado. Quando não passavam oteste, tremiam, abriam brechas ou ruíam. Uma grande rivalidade dominoua cena internacional europeia durante a maior parte do século XVIII,estando na raiz dos repetidos períodos de guerra geral: 1689-1713,1740-1748, 1756-1763, 1776-1783 e, sobrepondo-se ao período de que nosocupamos, 1792-1815. Referimo-nos ao conflito entre a Grã-Bretanha e aFrança, que também era, de certa maneira, o conflito entre o antigo e onovo regime. A França, embora suscitando a hostilidade britânica com arápida expansão do seu comércio e do seu império colonial, era tambéma mais poderosa, a mais eminente e influente monarquia, a clássica monar-quia absoluta aristocrática. Em nenhuma outra parte se encontra um exem-plo mais vivo da superioridade da nova ordem social sobre a antiga doque no conflito entre estas duas potências. A Grã-Bretanha não só ganhoutodas estas guerras, à excepção de uma, como apoiou com relativa facili-dade o esforço de as organizar e fazer. A monarquia francesa, por outrolado, embora muito maior, mais populosa e, em termos dos seus recursospotenciais, mais rica do que a Grã-Bretanha, viu-se a braços com umesforço excessivo para ela. Após a derrota na Guerra dos Sete Anos(1756-1763), a revolta das colónias americanas deu-lhe o ensejo de fazero seu adversário pagar na mesma moeda. A França aproveitou-o. E a ver-dade é que, no conflito internacional que se seguiu, a Grã-Bretanha foiseveramente derrotada, perdendo grande parte do seu império americano,e a França, aliada dos novos Estados Unidos da América, ficou vitoriosa.Mas o preço foi excessivo e as dificuldades do governo francês conduzi-ram-no inevitavelmente a sucessivos períodos de crise política interna, daqual, seis anos mais tarde, irromperia a Revolução.
VII
Para terminar este levantamento preliminar do mundo na véspera dadupla revolução, falta darmos uma vista de olhos pelas relações entre aEuropa (ou, mais precisamente, entre o Noroeste Europeu) e o resto domundo. A dominação política e militar total do mundo pela Europa (e pelassuas extensões ultramarinas, ou seja, as comunidades de colonos brancos)viria a ser o produto da era da dupla revolução. Nos finais do século XVIII,várias das grandes potências e civilizações não-europeias ainda enfrentavamem termos aparentemente iguais o comerciante, o marinheiro e o soldadobranco. O grande Império Chinês, então no auge do seu ascendente sob adinastia Manchu (Ching), não era vítima de ninguém. Pelo contrário, a cor-rente da influência cultural deslizava de oriente para ocidente e os filósofoseuropeus ponderavam nas lições de uma civilização diferente mas elevada,enquanto os artistas e artesãos utilizavam os motivos frequentemente malcompreendidos do Extremo Oriente e adaptavam a usos europeus os seus
35
novos materiais, como a porcelana.* As potências islâmicas, apesar de perio-dicamente abaladas (caso da Turquia) pelas forças militares dos Estadoseuropeus vizinhos (Áustria e, sobretudo, Rússia), estavam longe de ser aspresas indefesas em que se transformariam no século XIX. A África conti-nuava praticamente imune à penetração militar europeia. Os brancosconfinavam-se a postos comerciais do litoral, salvo em pequenas zonas àvolta do cabo da Boa Esperança.
Todavia, a expansão rápida e cada vez mais maciça do comércio euro-peu e da iniciativa capitalista já minava a sua ordem social: em África, atra-vés da intensidade sem precedentes do terrível tráfego de escravos; emtorno do oceano Índico, através da penetração das potências coloniaisrivais; no Próximo e Médio Oriente, através do comércio e do conflito mili-tar. Já a conquista europeia começava a estender-se para além da zona hámuito ocupada pela colonização de que os Espanhóis e os Portuguesesforam pioneiros, no século XVI, e os colonos brancos norte-americanos noséculo XVII. O avanço crucial era o dos Ingleses, que haviam já estabe-lecido o controlo territorial directo de parte da Índia (nomeadamenteBengala), derrubando virtualmente o Império Mughal, acontecimento his-tórico que os levaria, no período de que nos ocupamos, a tornarem-se osdirigentes e administradores de toda a Índia. Já se antevia a relativafraqueza das civilizações não-europeias quando confrontadas com a supe-rioridade tecnológica e militar do Ocidente. Aproximava-se do auge a eraa que se tem chamado «a era de Vasco da Gama», os quatro séculos da his-tória universal em que um punhado de Estados europeus e a força europeiado capitalismo estabeleceram uma dominação absoluta, embora temporá-ria, como hoje é evidente, de todo o mundo. A dupla revolução iria tornarirresistível a expansão europeia, embora ao mesmo tempo viesse a pro-porcionar ao mundo não-europeu as condições e o apetrechamento para oseu eventual contra-ataque.
* Em inglês, china. (NT )