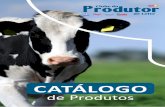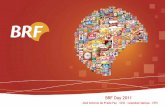INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE Pró-reitora de...
Transcript of INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE Pró-reitora de...
-
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
Pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Programa de Pós-Graduação em Produção e Sanidade Animal
Dissertação
Uso de vacinação para redução da prevalência de Salmonella sp. em suínos de abate
Caroline Reichen
Concórdia, 2018
-
Caroline Reichen
Uso de vacinação para redução da prevalência de Salmonella sp. em suínos de abate
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Produção e Sanidade Animal do
Instituto Federal Catarinense, como requisito parcial
à obtenção do título de Mestre em Ciências (área de
concentração: Produção e Sanidade Animal).
Orientador: Jalusa Deon Kich
Coorientador (es): Diogenes Dezen
Arlei Coldebella
Augusto Heck
Concórdia, 2018
-
Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor,
através do Programa de Geração Automática do ICMC/USP, cedido ao IFC e adaptado pela CTI - Araquari e pelas bibliotecas do Campus de Araquari e Concórdia.
Reichen, Caroline
R351u Uso de vacinação para redução da prevalência de
Salmonella sp. em suínos de abate / Caroline Reichen;
orientadora Jalusa Deon Kich; coorientador Diogenes
Dezen; coorientador Arlei Coldebella; coorientador
Augusto Heck. -- Concórdia, 2018.
57 f.
Dissertação (mestrado) - Instituto Federal Catarinense,
campus Concórdia, Programa de Pós-graduação em Produção e
Sanidade Animal, Concórdia, 2018.
1. Estudo de campo. 2. Vacina de Subunidade. 3.
Soroprevalência. 4. Excretores. 5. Portadores. I. Kich, Jalusa
Deon, II. Dezen, Diogenes. III. Coldebella, Arlei. IV. Heck,
Augusto. V. Instituto Federal Catarinense. Programa de Pós-graduação em Produção e Sanidade Animal. VI. Título.
-
Dedico este trabalho aos meus pais Eucrides Antônio Reichen e Geni Moresco
Reichen, pela educação, suporte e oportunidades a mim dedicadas!
-
Agradecimentos
À minha família, pelo apoio e incentivo.
Ao meu marido Cicero Teófilo Berton, pela sapiência, apoio e compreensão em toda
essa jornada.
Ao IFC, pelo ensino público, gratuito e de qualidade, e todo o seu corpo de professores
e colaboradores. Em especial ao professor Dr. Ivan Bianchi.
À Embrapa, pela importante instituição que é, e pelo apoio na realização do
experimento, nas pessoas de Dra. Jalusa Deon Kich, Remidio Vizzotto, Luiza Letícia Biezus,
Mariana Meneguzzi e Luiz Carlos Ajala.
À minha orientadora, amiga e conselheira Dra. Jalusa Deon Kich. Uma profissional com
muito conhecimento e nobreza que engrandecem a pesquisa veterinária brasileira e mundial.
Aos co-orientadores, Dr. Diogenes Dezen, Augusto Heck e, em especial ao Dr. Arlei
Coldebella, pelo auxílio na parte estatítisca.
Aos colegas de mestrado, pelas amizades e discussões produtivas. Em especial a minha
querida Franciana Bellaver, pelas noites mal dormidas, risadas compartilhadas e regras de
ABNT.
À Vetanco pela parceria para realização do experimento. Em especial aos meus
queridos amigos Lucas Piroca e Gilmara Adada, sem vocês a caminhada não seria completa.
À BRF pelo espaço cedido para a coleta e processamento de dados da pesquisa.
Ao Cedisa pelo processamento das amostras, em especial as colegas Lauren Ventura e
Suzana Satomi Kuchiishi.
Aos profissionais médicos veterinários, engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas,
amigos e companheiros desta labuta que é servir a suinocultura, em prol de uma melhoria
constante e incansável. Vocês fizeram parte deste sonho: Leonel Araújo Brehem, Francisco
Elias Vendruscolo, Juliano Parizoto, Sidmar Kaiber, Diego Treméa, Felipe Neis e Claudecir
Breitenbach.
-
Resumo
REICHEN, Caroline. Uso de vacinação para redução da prevalência de Salmonella sp. em suínos de abate .2018. 57f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Curso de Pós-Graduação em Produção e Sanidade Animal, Pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Instituto Federal Catarinense, Concórdia, 2018.
Dentre as doenças zoonóticas transmitidas por alimentos, a salmonelose é a mais frequente, sendo alvo de controle nos produtos de origem animal. Embora programas de garantia da qualidade devam estar implantados no ambiente de abate e processamento da carne, medidas de controle na fase de criação colaboram com a redução da contaminação das carcaças. Neste sentido, a proposta deste estudo foi avaliar o uso de uma vacina de subunidade baseada em antígenos secundários, que ampliam o espectro em relação aos sorovares, na redução da soroprevalência e prevalência de suínos portadores de Salmonella sp. nos linfonodos mesentéricos e excretores nas fezes. A unidade experimental foi o lote de suínos terminados, sendo escolhidas aleatoriamente 10 granjas terminadoras para alojar os animais do grupo controle (GC) e 10 para o grupo vacinado (GV). Inicialmente, foram escolhidos 16 crechários para realizar a primeira vacinação e suprir as granjas de terminação, sendo oito para o GC e oito para o GV. A vacina foi fornecida via oral, 2 mL por animal, em quatro idades diferentes. A primeira dose foi administrada no segundo dia de alojamento na creche, a segunda dose 14 dias após a primeira, a terceira dose após 30 dias de alojamento na terminação e a quarta dose 21 dias antes do abate. Os animais permaneceram nas granjas terminadoras em média por 110 dias e foram abatidos com idade média de 175 dias de vida. Amostras de sangue foram coletadas nos crechários, após a segunda dose da vacina (n=32/grupo) e na primeira semana da terminação e ao abate (n= 30/lotes). Linfonodos mesentéricos (n=30/lote) e fezes (n= 20/lote) foram coletadas ao abate. O sangue foi processado por citometria de fluxo, o soro submetido a teste de ELISA e as amostras de linfonodos e fezes ao protocolo de isolamento de Salmonella (ISO 6579). Adicionalmente, foi realizada a quantificação de Salmonella nas fezes pela técnica de número mais provável. Não foi observada diferença estatística entre os grupos (p>0,05), tanto para soroprevalência (% de suínos positivos), quanto para intensidade da reação sorológica medida pela variabilidade da densidade ótica. A vacinação não reduziu a prevalência de portadores de Salmonella sp. nos linfonodos mesentéricos e excretores nas fezes, bem como a quantidade excretada.
Palavras-chave: estudo de campo; vacina de subunidade; soroprevalência; excretores; portadores.
-
Abstract
REICHEN, Caroline. Evaluation of the efficiency of vaccination use to reduce the prevalence of Salmonella sp. In pig slaughter. 2018. 57f. Dissertation (Master degree in Science) - Curso de Pós-Graduação em Produção e Sanidade Animal, Pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Instituto Federal Catarinense, Araquari, 2017.
Among the foodborne diseases, Salmonellosis is the most frequent, being controlled in the products of animal origin. Even though quality control programs should be implemented in the slaughter and meat processing, measures driven to the herds could contribute to decrease carcasses contamination. The purpose of this field trial was to evaluate the use of a subunit vaccine, based on secondary antigens, broad-spectrum among Salmonella serovars, in reduction of seroprevalence and prevalence of Salmonella carriers in mesenteric lymph nodes and shedders at slaughter. The experimental unit was a batch of fattening pigs, being chosen randomly 10 finishing farms to place the control group (GC) and 10 for the vaccinated group (GV). Initially, 16 nurseries were chosen to carry out the first vaccination and supply the finishing farms, being 8 for the GC and 8 for the GV. The vaccine was orally supplied, 02 mL by animal at four different ages. The first dose was on the second day of nursery, the second dose 14 days after the first, the third dose after 30 days of fattening and the fourth dose 21 days prior slaughter. The animals remained on the fattening for 110 days on average and slaughtered at 175 days old. Blood samples were collected after the second vaccine dose (n=32/group), and in the first week of fattening and at slaughter (n=30/batches). Mesenteric lymph nodes (n=30/batches) and feces (n=20/batches) were collected at slaughter. The blood was processed by flow cytometry, the serum submitted to ELISA test and lymph node and feces samples submitted to the isolation of Salmonella (ISO 6579). In addition, the quantification of Salmonella in feces was performed by the most probable number technique. There was no statistical difference between the groups (p> 0.05), both for seroprevalence (% of positive pigs) and for the intensity of the serological reaction measured by the variability in the value of optical density. Also, the vaccination did not reduce the prevalence of carriers in mesenteric lymph nodes and Salmonella shedders in feces, as well as their quantity shedding. Keywords: field trial; subunit vaccine; seroprevalence, shedders; carriers.
-
Lista de Figuras
Figura 1. Fluxograma do delineamento experimental. ............................................................ 28
Figura 2. Perfil da soroprevalência em função do grupo e do período de coleta, em diferentes
% de DO. ................................................................................................................................... 32
Figura 3. Perfil da densidade ótica em função do grupo e do período de coleta. ................... 33
Figura 4. Percentual de isolamento de Salmonella sp. nas fezes em função da soroprevalência.
.................................................................................................................................................. 35
Figura 5. Percentual de isolamento de Salmonella sp. nas fezes em função da densidade ótica
média. ....................................................................................................................................... 35
Figura 6: Atividade fagocítica dos monócitos e neutrófilos no grupo controle e vacinado. ... 36
file:///C:/Users/Usuário/Desktop/Caroline%20Documentos/Mestrado/Dissertação/Dissertação%20Vs/Dissertação%20VF-%20correções.docx%23_Toc522196805
-
Lista de Tabelas
Tabela 1. Comparação entre variáveis de desempenho zootécnico entre os grupos vacinados
para Salmonella sp. e controle. ................................................................................................ 31
Tabela 2. Percentagem de amostras de abate positivas para Salmonella sp. nas fezes e nos
LNM e respectivo teste de 2 , para o grupo controle e vacinado. ......................................... 33
Tabela 3. Número mais provável de unidades formadoras de colônias de Salmonella sp. em
amostras de fezes de suínos vacinados e controles. ................................................................ 34
-
SUMÁRIO
1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA E ESTADO DA ARTE ................................................. 15
2 OBJETIVOS .......................................................................................................................... 22
2.1 Geral ..................................................................................................................... 22
2.2 Específicos ............................................................................................................ 22
3 TÍTULO DO ARTIGO, PROCESSO OU NOTA TÉCNICA .......................................................... 23
3.1 Resumo ou Abstract ............................................................................................. 23
3.2 Introdução ........................................................................................................... 23
3.3 Material e Métodos ............................................................................................. 26
3.3.1 Desenho Experimental ...................................................................... 26
3.3.2 Vacinação .......................................................................................... 27
3.3.3 Coleta das amostras .......................................................................... 27
3.3.4 Sorologia ............................................................................................ 28
3.3.5 Bacteriologia ...................................................................................... 28
3.3.5.1 Quantificação de Salmonella sp. nas fezes ........................................... 29
3.3.6 Citometria de Fluxo ........................................................................... 29
3.3.7 Análise Estatística .............................................................................. 30
3.4 Resultados ............................................................................................................ 31
3.5 Discussão ............................................................................................................. 37
3.6 Conclusão ............................................................................................................. 42
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................................... 43
5 REFERÊNCIAS ...................................................................................................................... 45
6 ANEXOS ............................................................................................................................... 54
-
15
1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA E ESTADO DA ARTE
Agentes patogênicos bacterianos, causas de doenças transmitidas por alimentos
(DTA) no ser humano, constituem um problema global. Frequentemente causam surtos
epidêmicos de doenças intestinais e são responsáveis por perdas econômicas elevadas
(Selke et al., 2007). Dentre as DTA, a salmonelose é uma das mais importantes (Mead et
al., 1999). Na produção animal, a infecção por salmonelas representa uma ameaça
multifacetada como doença clínica e segurança dos alimentos, o que gera preocupações
e risco para a saúde pública (Narrod et al., 2011).
Segundo a Organização Mundial da Saúde (2010), aproximadamente 80 milhões
de pessoas no mundo foram vítimas de DTA causada por Salmonella sp. e, destas, 60 mil
vieram a óbito. Nos EUA, 6-9% delas estão associadas a produtos suinícolas (Frenzen et
al., 1999). Na Europa, 10% dos casos de salmonelose humana que ocorreram entre 2005
e 2006, estavam associadas ao consumo de carne suína (Pires et al., 2010). No Brasil,
segundo o Ministério da Saúde (2018), foram notificados 13 mil casos de DTA, onde 92,2
% envolveram bactérias e, deste total, 30% dos casos foram causados pela Salmonella
sp.
As infecções por salmonela em rebanhos de suínos são muitas vezes endêmicas
e predominantemente subclínicas (Kranker et al., 2003). Esta situação evidencia a
necessidade de ação para monitorar e reduzir o número de animais infectados
(Rostagno, 2011). A relação entre as condições sanitárias pré-abate e a segurança
alimentar justificam programas de controle do campo à mesa e que integrem as medidas
na cadeia de produção para melhorar a qualidade dos produtos (EFSA, 2010).
Embora a infecção por Salmonella sp. possa ocorrer em todas as fases da
produção de suínos (Arguello et al., 2013), a probabilidade que os suínos sejam
infectados em algum momento durante o período de terminação é cerca de 85%
(Berends et al., 1996; Kranker et al., 2003). No Brasil, a soroconversão na fase de
crescimento e terminação está bem documentada e a soroprevalência dos suínos no
-
16
alojamento na terminação é baixa, em torno de 5,5 % (Schwarz et al., 2009; Costa et al.,
2014), enquanto na idade de abate aumenta para índices que variam de 75 a 98% (Kich
et al., 2005; Silva et al., 2006; Schwarz et al. 2009; Kich et al., 2011; Costa et al., 2014).
Estudos brasileiros demonstraram que 50 a 70% dos suínos são portadores de
Salmonella sp. em linfonodos mesentéricos-LNM (Kich & Cardoso, 2012). Entre 5-30%
dos animais podem excretar o agente nas fezes no final do período de terminação, e
essa porcentagem pode dobrar durante o transporte e alojamento (Berends et al.,
1996). A transmissão e infecção ocorre de forma rápida durante o transporte (Hurd et
al., 2001; Letellier et al., 2009), nas pocilgas de espera pré-abate pode ocorrer em duas
horas após a exposição ao agente (Hurd et al., 2001; Rostagno et al., 2003). Esse
aumento na prevalência é atribuído aos efeitos do estresse no momento do
carregamento, transporte e jejum alimentar (Hurd et al., 2001).
Os suínos são um risco em potencial, por que muito tempo depois de terem sido
infectados eles seguem excretando intermitentemente a bactéria nas fezes. Sabe-se que
podem excretar entre 104 e 106 Unidade Formadora de Colônia (UFC) por grama de fezes
(Gopinath et al., 2012), e/ou abriga-lá no trato intestinal e gânglios linfáticos associados
(Bonardi et al., 2003; Griffith et al., 2006; Boyen et al., 2008). De acordo com Berends et
al. (1996), uma diminuição no número de animais portadores ao abate é considerada o
primeiro passo para alcançar produtos de carne suína livre de Salmonella sp.
Neste contexto, o Codex Alimentarus (CAC-GL-87/6.1-2016), orienta o uso de
múltiplas intervenções ao longo de diferentes etapas de produção e processamento
como parte de uma estratégia de “múltiplos obstáculos”, que proporcionará uma
redução mais consistente de Salmonella sp. Medidas para controlar o agente na
suinocultura devem ser adotadas no campo, com o intuito de diminuir o número de
carreadores e excretores no abatedouro, para minimizar a contaminação e
contaminação cruzada de carcaças e produtos cárneos (OIE, 2016).
Programas nacionais de controle de Salmonella sp., voluntários ou mandatórios,
estão em curso em vários países. Em muitos casos, a sorologia com determinação da
-
17
prevalência do lote em idade de abate tem sido usada como indicador de risco de
contaminação da carcaça (Sørensen et al., 2004; Alban et al., 2012; Mainar-Jaime et al.,
2017).
Com o objetivo de reduzir a prevalência de Salmonella sp. em rebanhos suínos e
carcaças, em 1995, foi iniciado na Dinamarca a primeira versão do programa de controle
com base na sorologia (Mousing et al., 1997). Os rebanhos foram classificados em três
níveis de acordo com a soroprevalência (Alban et al., 2002). No início foi usado um ponto
de corte de 40 % de densidade ótica - DO (Mousing et al., 1997), o qual foi reduzido para
20 % de DO, amostrando lotes com mais de 200 animais terminados por ano (Nielsen et
al., 2001; Alban et al., 2002). Os lotes foram divididos em três níveis relacionados ao
risco de introdução de Salmonella sp. no ambiente de abate: Nível 1, definido como um
rebanho com um índice sorológico de Salmonella sp. variando de 1 < 40%; nível 2,
40
-
18
de conhecimento científico, em especial sobre novas tecnologias, incluindo vacinas e
outras alternativas para o controle de patógenos na produção animal.
Neste sentido, a estimulação do sistema imune por vacinas contra Salmonella sp.
visa prevenir a colonização intestinal e a excreção do agente nas fezes (Denagamage et
al., 2007; Arguello et al., 2012b), bem como o desenvolvimento do estado portador, o
qual é o grande reservatório do agente e representa uma ameaça importante para a
saúde humana (Haesebrouck et al., 2004; Boyen et al., 2008).
A imunidade inata, mediada por neutrófilos, os macrófagos (células que são a
ponte entre a imunidade inata e adaptativa) e a imunidade celular desempenham um
papel importante na proteção contra Salmonella sp. (Haesebrouck et al., 2004; Arguello
et al., 2012b). Neutrófilos e macrófagos são responsáveis pela fagocitose, a qual
permite a eliminação dos agentes invasores e a apresentação de antígenos estranhos ao
sistema imune (Janeway et al., 2001). No caso da Salmonella sp. a resposta imune
humoral é parcialmente evadida pelo fato da bactéria estar protegida pelas células que
infecta, como os macrófagos (Arguello et al., 2012b). Sendo assim, o estabelecimento
da imunidade de longa duração à infecção depende do desenvolvimento de células
especificas T e B (Mastroeni et al., 2001), da indução de produção de IgA na mucosa
(Haesebrouck et al., 2004; Roesler et al., 2006) e de respostas mediadas por CD4 e CD8
(Mastroeni et al., 2009).
Vacinas vivas atenuadas têm conferido uma melhor proteção contra a
Salmonella sp. devido à capacidade de induzir resposta imune celular (Haesebrouck et
al., 2004)., enquanto as vacinas mortas e de subunidades tem obtido resultados
variáveis (Xu et al., 1993; Davies & Breslin, 2003), provavelmente pela baixa capacidade
de gerar imunidade mediada por células.
Vacinas administradas via oral estimulam a produção de IgA e não há
necessidade de manuseio e injeção de animais individualmente, o que demanda mão-
de-obra e tende a ser questionado por produtores e/ou agroindústria que terceirizam
esse manejo. Evidências crescentes indicaram que a vacinação de mucosa pode induzir
-
19
imunidade sistêmica e local (Valosky et al., 2005), e uma forte resposta da IgA pode ser
um elemento significativo da proteção contra a colonização e a doença (Roesler et al.,
2006).
A literatura internacional tem registrado resultados variáveis do efeito da
vacinação contra Salmonella sp. na redução de suínos portadores e excretores da
bactéria.
Estudando a prevalência de suínos portadores de Salmonella sp. Arguello et al.
(2013) realizaram três avaliações. Não se comprovou efeito da vacinação (cepa de S.
Typhimurium DT104) em duas, das três avaliações realizadas na porcentagem de suínos
portadores do agente nos LNM (Grupo Vacinado-GV: 80 e GC:67,5%; GV: 97,5 e Grupo
Controle-GC: 95%). Já na terceira avaliação, a vacina demostrou efeito significativo com
prevalência de 30% de portadores em LNM contra 75% do grupo controle. Com relação
a porcentagem de excretores no conteúdo cecal, a vacina gerou uma redução de 13 para
3% e de 85% para 12,5% nos grupos de suínos vacinados.
Segundo Farzan & Friendship (2010) a vacina composta com S. Choleraesuis e S.
Typhimurium não reduziu a prevalência de suínos excretores de Salmonella sp. no
conteúdo fecal. Outros autores (De Ridder et al., 2013; De Ridder et al.,2014; Smith et
al., 2017; Steichen et al., 2017, relataram efeito positivo da vacinação com redução da
prevalência de suínos excretores de Salmonella sp. nas fezes, de até 69,6%.
A vacinação contra Salmonella sp. é sabidamente efetiva para a proteção da
doença clínica em suínos e pode auxiliar na melhoria da segurança dos alimentos.
Entretanto, com mais de 2.500 sorovares, as vacinas oferecem limitada proteção
cruzada contra sorovares heterólogos (Bearson et al., 2016). Neste sentido, Arguello et
al. (2013) concluíram que a vacina foi protetiva contra infecções do mesmo sorovar,
entretanto falhou ao conferir uma proteção entre sorovares distintos. No Brasil,
Schwarz et al. (2011) e Costa (2014) testaram a mesma vacina em diferentes sistemas
de produção. Schwarz et al. (2011) obtiveram uma redução de 79,7% para 44,6% na
soroprevalência e 59,5% para 31,1% na prevalência de portadores em linfonodos, porém
-
20
Costa (2014) não observou efeito positivo no uso da vacina na redução da
soroprevalência de suínos em idade de abate. Esta diferença nos resultados entre
sistemas de produção evidencia a dificuldade das vacinas em superar as especificidades
das granjas, as quais podem estar relacionadas com os sorovares de Salmonella sp.
presentes. Conforme (Roesler et al., 2006), a maioria das vacinas diminuem os sintomas,
mas não eliminam o estado de portador e excretor da Salmonella sp., especialmente
evidenciado no pré-abate (Leyman et al., 2012).
A maioria das vacinas usam antígenos baseados nos lipopolissacarídeos (LPS) de
membrana de Salmonella sp. A definição do sorovar é baseada em uma fórmula
antigênica de diferentes antígenos (Grimont & Weill, 2007). O LPS é parte dessa fórmula
e, embora possa ser compartilhado entre diferentes sorovares, a indução da proteção
parece não ser suficiente (Arguello et al., 2013). Para contornar essa barreira da
especificidade dos antígenos LPS, os produtos estão sendo continuamente melhorados.
Neste sentido, Bearson et al. (2016); Layton & Jabif (2017) utilizaram vacinas
geneticamentes modificada com o objetivo de resolver as limitações das vacinas atuais
com relação a proteção entre os sorovares. A experiência de Bearson et al. (2016)
mostraram que a vacina foi efetiva contra dois sorovares Choleraesuis e Typhimurium.
A vacina de subunidade, desenvolvida por Layton & Jabif (2017), obteve uma
redução de 40% na excreção de Salmonella com 14 dias pós infecção, em um modelo de
inoculação experimental da cepa Salmonella Enteritidis INTA 86 (10 7 UFC /ml) em
frangos de corte. Resultado semelhante foi obtido na inoculação experimental do
sorovar Typhimurium (108 UFC /ml), onde a administração da vacina reduziu
significativamente a colonização de Salmonella sp. nos órgãos (fígado, baço, ceco e
tonsilas). Em teste de campo, avaliou-se a mesma vacina, agora em aves poedeiras,
obtendo um aumento significativo da imunidade local específica (aumento prolongado
de IgA). Porém, essa tecnologia ainda não foi validada em suínos.
Neste cenário, o desafio de reduzir a prevalência de suínos portadores e
excretores de Salmonella sp. continua atual. Como contribuição para a solução deste
-
21
problema, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito desta vacina de subunidade,
baseada em antígenos secundários, administrada via oral, contra infecção natural por
Salmonella sp. em granjas de terminação de suínos.
-
22
2 OBJETIVOS
2.1 Geral
Testar a eficiência do uso de vacina, via oral, na redução da Salmonella sp. em
suínos de abate.
2.2 Específicos
2.2.1 Comparar a soroprevalência para Salmonella sp. por meio de ELISA, em
suínos vacinados e controle.
2.2.2 Comparar a quantidade de IgG por meio da do obtida no ELISA em suínos
vacinados e controle.
2.2.3 Comparar a prevalência de suínos portadores de LNM positivos para
Salmonella sp. em suínos vacinados e controle.
2.2.4 Comparar a prevalência de suínos excretores de Salmonella sp. em suínos
vacinados e controle
2.2.5 Comparar a quantidade de Salmonella sp. excretada em suínos vacinados
e controle através do mNMP.
2.2.6 Avaliar a atividade fagocítica da vacina de subunidade Bio Tech Vaccine
-
23
3 TÍTULO DO ARTIGO, PROCESSO OU NOTA TÉCNICA
Uso de vacinação para redução da prevalência de Salmonella sp. em suínos de abate
Comparative immunology, microbiology & infectious diseases. (https://www.journals.elsevier.com/comparative-immunology-microbiology-and-
infectious-diseases)
Autores
Reichen, Caroline; Coldebella, Arlei; Dezen, Diogenes; Heck, Augusto; Kich, Jalusa Deon
3.1 Resumo ou Abstract
The purpose of this field trial was to evaluate the use of a subunit vaccine, based on secondary antigens, broad-spectrum among Salmonella serovars, in reduction of seroprevalence and prevalence of Salmonella carriers in mesenteric lymph nodes and shedders at slaughter The experimental unit was a batch of fattening pigs, being chosen randomly 10 finishing farms to place the control group (GC) and 10 for the vaccinated group (GV). Blood samples were collected after second vaccine dose (n=32/group), in the first week of fattening and at slaughter (n=30/batches). Mesenteric lymph nodes (n=30/batches) and feces (n=20/batches) were collected at slaughter. The serum was submitted to ELISA test and lymph node and feces samples submitted to the isolation of Salmonella (ISO 6579). In addition, the quantification of Salmonella in feces was performed by the most probable number technique. There was no statistical difference between the groups (p> 0.05), both for seroprevalence (% of positive pigs). Keywords: field trial; subunit vaccine; fattening; seroprevalence, excretors; carriers
3.2 Introdução
A Salmonella sp. é um dos principais agentes causadores de doenças
transmitidas por alimentos (DTA) em humanos. Em 2016, 94.530 casos de salmonelose
foram confirmados na União Europeia (EU), ovos e carne de frango continuam sendo a
fonte mais comum, seguidos pela carne suína (EFSA 2017). Em 2011, aproximadamente
56,8% dos casos de salmonelose relatados em humanos foram associados a carne suína
e seus derivados (EFSA, 2013). Estima-se que, anualmente, cerca de 80 milhões de
-
24
pessoas no mundo tiveram uma doença transmitida por alimento contaminado com
Salmonella sp. e destas, 60 mil vieram a óbito (Majowicz et al., 2010; Organização
Mundial da Saúde, 2010).
Suínos portadores são reservatório de Salmonella sp. e responsáveis pela
manutenção da bactéria em toda a cadeia de produção suinícola (Griffith et al., 2006;
Boyen et al., 2008). Estudos brasileiros demonstraram que 50 a 70% dos suínos são
portadores de Salmonella sp. em linfonodos mesentéricos-LNM (Kich & Cardoso, 2012).
Na EU, os números oscilam de zero, no caso da Finlândia, a 30% na Espanha, de suínos
com a presença de Salmonella sp. nos linfonodos (EFSA, 2008). Uma diminuição no
número de animais portadores e excretores de Salmonella sp. ao abate é considerado o
primeiro passo para alcançar produtos de carne suína livre de Salmonella sp. (Berends
et al., 1996).
Programas nacionais de controle de Salmonella sp., voluntários ou mandatórios,
estão em curso em vários países como Dinamarca, Alemanha e Irlanda (Mousing et al.,
1997; Alban et al., 2002; Rowe et al., 2003). Esses programas utilizam a sorologia para
determinar a prevalência do lote, em idade de abate, como indicador de risco de
contaminação da carcaça (Sørensen et al., 2004; Alban et al., 2012; Mainar-Jaime et al.,
2017).
A disseminação da infecção por Salmonella sp. se intensifica na fase de
crescimento/terminação. Vários estudos epidemiológicos demostraram que a
soroprevalência do momento do alojamento nas granjas de crescimento e terminação
é baixa, aproximadamente 5%, em comparação com o abate, onde alcança 70 a 100%
(Kich et al., 2005; Silva et al., 2006; Schwarz et al., 2009; Kich et al., 2011; Costa et al.,
2014).
O controle de Salmonella sp. na suinocultura passa por uma visão sistêmica do
problema e um programa integrado voltado para as principais etapas da produção,
desde a fábrica de ração, granjas, abate e processamento (Kich et al., 2015). As ações
dentro do frigorífico são imprescindíveis para a proteção do consumidor. Contudo,
-
25
medidas de controle na fase de produção animal primária também são necessárias para
que ocorra uma redução no número de animais portadores e excretores que chegam ao
abate. Entre as várias ferramentas disponíveis, a vacinação é um conceito tradicional e
consolidado na medicina veterinária preventiva.
A vacinação contra a infecção por Salmonella sp. em suínos previne a doença
clínica, diminui a colonização e translocação do patógeno para órgãos internos (Bearson
et al., 2016). Porém, para contribuir com a mitigação do risco de contaminação do
ambiente de abate é necessário a redução da proporção de suínos portadores e
excretores da bactéria, bem como da quantidade eliminada pelas fezes por ocasião do
pré-abate e abate. Nestes aspectos a vacinação contra Salmonella sp. tem produzido
resultados variáveis com falta de repetibilidade inclusive para o mesmo produto
(Schwarz et al.,2011; Costa, 2014). Entre os motivos levantados pelos autores,
destacam-se a variabilidade de sorovares presente nas granjas e a forma de
administração da vacina.
A maioria das vacinas usam antígenos baseados em lipopolissacarídeos (LPS) de
membrana, essas moléculas, tendem a ser específico a um determinado sorovar e/ou
sorogrupo. Entretanto, com a variabilidade de sorovares presentes nas granjas (Kich et
al. 2011) e as vacinas oferecendo limitada proteção contra sorovares heterólogos
(Bearson et al., 2016), investimentos em produtos inovadores têm sido propostos. Para
contornar a barreira da especificidade, Bearson et al. (2016) produziram vacina viva
atenuada contendo mutação genética para reduzir a produção de LPS e Layton & Jabif
(2017) propuseram vacina de subunidade com antígenos secundários.
Formulações com administração via mucosa, oral ou instilação nasal, estimulam
a produção de IgA e imunidade celular, importantes no controle do referido patógeno.
Especificamente, a administração oral torna o produto mais competitivo porque reduz
consideravelmente a mão-de-obra se comparado a necessidade de injetar nos animais
individualmente.
-
26
Neste contexto, o desafio atual é reduzir os sorovares de Salmonella sp. que
causam DTA. Desta forma, as vacinas devem ser aplicadas em animais não infectados
atuando como profilaxia para reduzir a disseminação e amplificação da infecção, bem
como a prevalência de animais portadores e excretores.
Para contribuir com a solução deste problema, o objetivo desta pesquisa foi
avaliar uma vacina de subunidade baseada em antígenos secundários, administrada via
oral contra infecção natural em granjas de terminação de suínos.
3.3 Material e Métodos
Este estudo foi realizado em uma unidade de produção de uma agroindústria
brasileira, localizada no meio-oeste de Santa Catarina que adota sistema de integração
em sítios.
O experimento foi conduzido seguindo os Princípios Éticos na Experimentação
Animal adotados pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e
aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal (CEUA / IFC) (Protocolo nº
02/2017), conforme Anexo I. Todos os procedimentos experimentais foram realizados
em estrita conformidade com as diretrizes e regulamentos aprovados pelo Comitê
Institucional de Ética em Animais.
3.3.1 Desenho Experimental
O experimento foi realizado em 20 granjas de crescimento e terminação de suínos
pertencentes ao mesmo sistema de integração agroindustrial. A unidade experimental
foi o lote de suínos, sendo 10 vacinados (grupo vacinado - GV) e 10 controles (grupo
controle - GC).
Os leitões oriundos do sistema produtor de desmamados foram alojados
aleatoriamente em 16 crechários, 8 deles para o GV e 8 para o GC, 15.655 animais
receberam a vacina via água de bebida. Com idade média de 65 dias e peso médio de
25,07 Kg, os suínos foram transportados para as granjas terminadoras, onde 6.000
animais receberam a vacina via água de bebida. Os animais permaneceram nas granjas
-
27
terminadoras em média por 110 dias e foram carregados para o abate com idade média
de 175 dias de vida, e peso médio de 125,3 Kg.
3.3.2 Vacinação
Administrou-se via água de bebida 2 mL da vacina Bio Tech Vaccine por animal,
em quatro idades. A primeira dose foi no segundo dia de alojamento do animal na
creche (em média 28 dias de idade), a segunda dose 15 dias após a primeira, a terceira
dose após 30 dias de alojamento na terminação e a quarta dose 21 dias pré-abate.
As vacinas foram conservadas em geladeira com temperatura entre 2 a 8 °C.
Realizou-se restrição hídrica de duas horas para os animais ficarem com sede. A vacina
foi diluída nas caixas d´águas juntamente com um corante azul, sequestrante de cloro,
de nome comercial Proteclor C®. A diluição da vacina seguiu a orientação do fornecedor,
variando conforme o peso dos animais, conforme Anexo II. O fornecimento da vacina
iniciou às 10 h da manhã com consumo médio de 9 horas.
3.3.3 Coleta das amostras
Os animais foram escolhidos de acordo com o programa de alojamento da
agroindústria, não havendo interferência na rotina da logística empresarial em
decorrência do experimento. No terceiro dia após a segunda dose da vacina coletou-se
sangue com anticoagulante (heparina) de 4 animais por crechário e no dia do
alojamento nas terminações realizou-se a coleta de sangue de 30 animais por granja. No
dia do abate os animais foram transportados até o abatedouro por caminhões que
prestavam serviço para a empresa. O lote saiu da propriedade acompanhado de uma
ficha de identificação do experimento. O fluxograma de abate seguiu a seguinte
orientação, nas segundas-feiras foram abatidos dois ou três lotes do GV e nas terças-
feiras foram abatidos dois ou três lotes do GC, sempre no início do abate diário.
No momento da sangria foram coletados sangue de 30 animais por lote. Na linha
de inspeção, as vísceras brancas correspondentes aos animais coletados na sangria,
-
28
foram identificadas e separadas em um carrinho. Sequencialmente, foram coletados
LNM e porções do colón ascendente de 30 e 20 suínos, respectivamente. A Figura 1
ilustra o fluxograma do delineamento experimental.
3.3.4 Sorologia
Para as análises sorológicas foi usado o kit Herd Check Swine Salmonella Ensaio
de Imunoabsorção Enzimática - ELISA, (IDEXX Laboratories, ME, USA), para a detecção
de IgG anti-Salmonella suina, de acordo com as instruções do fabricante. Os antígenos
de revestimento neste ELISA incluíram o LPS dos sorogrupos B, C1 e D (antígenos O 1, 4,
5, 6, 7 e 12). Os pontos de cortes foram fixados em DO de 10%, 20% e 40%, de acordo
com as recomendações do fabricante e programas de vigilância sorológica (Mousing et
al., 1997; Alban et al., 2002, Kich et al., 2016).
3.3.5 Bacteriologia
Os LNM e fezes foram submetidos ao protocolo de isolamento de Salmonella sp.
seguindo a método qualitativo descrito na ISO 6579: 2002. Os LNM foram previamente
debridados e fragmentados, 25 g da amostra (LNM ou fezes) foi pesado e acrescentado
Figura 1. Fluxograma do delineamento experimental.
-
29
225 mL APT a 1% e incubados a 37°C por 18 a 24 h. A partir da água peptonada, 0,1 mL
foi transferido para 10 mL do Caldo Rappaport Vassiliadis (RV) e incubado a 42°C e 1 mL
para 9 mL de caldo Tetrationato e incubado a 37 °C, ambos por 24h. Após a incubação,
foi transferida uma alçada de todos os tubos para os meios sólidos ágar Verde Brilhante
e ágar Xilose Lisina Tergitol 4 (XLT4) e incubados por 24 a 48 h a 37°C. As colônias com
características de Salmonella sp., foram submetidas a uma triagem bioquímica com os
testes: Ágar Ferro Lisina, Ágar Ferro Tríplice Açúcar e Uréia e aglutinação rápida em
lâmina utilizando soros polivalentes.
3.3.5.1 Quantificação de Salmonella sp. nas fezes
Das amostras positivas no método qualitativo, foi realizada a quantificação de
Salmonella sp. pelo método do número mais provável miniaturizado (mNMP) seguindo
a ISO/TS 6579-2:2012. Foi retirado 1 g de fezes e diluído em 9 mL de APT. Transferiu-se
2,5 mL da solução para o primeiro poço da primeira coluna da microplaca de 12 poços
em triplicata. Em seguida realizaram-se três séries de diluições, passando 500 µL de APT
até o último poço. Incubou-se a 37°C por 24 h. Desta cultura pré-enriquecida transferiu-
se 20 µL para outra placa contendo 2 mL de RV. Após a incubação em estufa a 42°C por
24 h, foram semeados 10 µL do enriquecimento seletivo em placas de ágar XLT4, cada
orifício da placa correspondeu a uma diluição. Após a incubação de 24- 48 h, a 37°C,
colônias compatíveis com Salmonella sp. foram submetidas a triagem bioquímica e
sorológica descrita anteriormente. As interpretações dos resultados foram feitas com
auxílio de tabelas encontradas na literatura (Jarvis et al., 2010).
3.3.6 Citometria de Fluxo
A capacidade fagocítica foi avaliada após a extração das células mononucleares do
sangue periférico (PBMC), procedimento realizado através da separação das células do
sangue em Histopaque (sigma). O sangue total foi diluído 1:1 de água peptonada
tamponada (APT) e adicionado sobre o mesmo volume de Histopaque. Centrifugado a
400 × g por 30 min. A camada de PBMC foi coletada e as células foram contadas. Para
-
30
106 leucócitos, 1 µl de pHrodo (Invitrogen) foi adicionado. Este conjunto foi incubado a
37o C por 30 min. A quantidade de células que fagocitaram, o reagente e a intensidade
de fagocitose foram medidos em comprimento de onda de 488 nm em citômetro FACS
Calibur (BD) com excitação da fluorescência por laser de argônio.
3.3.7 Análise Estatística
Todas as análises estatísticas foram realizadas usando o software comercial
Statistical Analysis Sytem© (SAS 9.3: 2012).
Dados de desempenho zootécnico, como idade e peso de abate e alojamento,
foram analisados utilizando o teste F (análise da variância), com comparação de médias
em função dos grupos (vacinado e controle). Esses dados serviram como um controle de
qualidade do experimento.
Os dados médios da densidade ótica (DO) por lote foram analisados por meio da
análise de medidas repetidas. Considerou-se os efeitos dos grupos, período de coleta, a
interação entre os grupos e os três tipos de estruturas de matriz de variâncias e
covariâncias (PROC MIXED). A estrutura usada na análise foi escolhida com base no
menor valor do Critério de Informação de Akaike (AIC). O método de estimação usado
foi o de máxima verossimilhança restrita.
Para a soroprevalência, a distribuição de probabilidades foi considerada binomial
e a análise dos mesmos foi realizada por meio das Equações de Estimação Generalizadas
(GEE). Foram testados os efeitos fixos de grupo, período de coleta e a interação através
dos dois fatores (GENMOD).
O efeito do tratamento sobre o isolamento de Salmonella sp. nas fezes e nos
linfonodos, bem como sua categorização em positivo e negativo, entre os animais
vacinados e controles, foram analisados por teste Qui-quadrado (χ2). Os dados do
mNMP foram transformados em log (y+1). Após o cálculo das médias por lote, os dados
foram analisados por meio da análise da variância.
-
31
Avaliou-se a associação entre o isolamento de Salmonella sp. nas fezes com a
soroprevalência e com a intensidade da reação sorológica medida pela variabilidade da
densidade ótica (%DO), através de regressão logística.
Para citometria de fluxo foram feitos testes t ou de Mann-Whitney entre os
grupos, e para análise dos gráficos, em todas as amostras apresentadas em conjunto,
usou-se o teste de ANOVA de duas vias
3.4 Resultados
Para harmonizar os grupos de animais utilizados no experimento, comparou-se
peso e idade de alojamento e abate. Não foram observadas diferenças estatísticas para
as variáveis analisadas (p>0,05), conforme Tabela 1, e partindo deste princípio os lotes
do GC foram comparados ao do GV para as demais variáveis.
Tabela 1. Comparação entre das de desempenho zootécnico entre os grupos vacinados
para Salmonella sp. e controle.
Variáveis Grupo Pr>F
Grupo Controle Grupo Vacinado
Idade abate 175,10 ± 0,89 174,90 ± 0,98 0,8816
Idade alojamento 64,70 ± 0,30 65,00 ± 0,00 0,3306
Peso abate 124,02 ± 2,33 126,55 ± 1,76 0,3984
Peso alojamento 24,08 ± 0,89 26,07 ± 1,01 0,1551
Considerando o ponto de corte de 20% de DO (Figura 2), a soroprevalência no
momento do alojamento variou de 15 para 22%, e subiu para 75 até 80% em todos os
lotes. A Figura 2 ilustra a soroconversão em diferentes pontos de corte e para a
densidade ótica média. Entretanto, o efeito de grupo não se mostrou significativo
(p>0,05) em qualquer período de coleta para as duas variáveis.
-
32
(a) 10% de DO
(b) 20% de DO
(c) 40% de DO
Figura 2. Perfil da soroprevalência em função do grupo e do período de coleta, em diferentes % de DO.
-
33
Figura 3. Perfil da densidade ótica em função do grupo e do período de coleta.
Os animais pertencentes ao GV apresentaram maior percentual de isolamento nas
duas variáveis avaliadas, excreção do agente nas fezes, e o isolamento do agente nos
LNM no momento do abate.
Na Tabela 2 observa-se que houve efeito significativo de grupo sobre o
isolamento de Salmonella sp.
Tabela 2. Percentagem de amostras de abate positivas para Salmonella sp. nas fezes e
nos LNM e respectivo teste de 2 , para o grupo controle e vacinado.
Variáveis Grupo Pr>2
Grupo Controle Grupo Vacinado
Isolamento nas fezes 23,62 (47/199) 33,00 (66/200) 0,0367
Isolamento nos LNM 30,00 (90/300) 38,33 (115/300) 0,0314
O método quantitativo, mNMP foi usado para estimar a quantidade de
Salmonella sp. nas amostras positivas no isolamento das fezes. Na Tabela 3 é possível
visualizar os resultados, sendo que houve diferença estatística entre os grupos, e o GV
apresentou um maior percentual de isolamento. O mNMP para Salmonella sp. no GV
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Alojamento Abate
Den
sid
ad
e Ó
tica (
%)
Período de Coleta
GC
GV
-
34
variou de >0,07 a 0,04 log mNMP/gr, enquanto o GC variou de >0,16 a 0,06 log
mNMP/gr. O teste F da análise da variância detectou efeito significativo (pF
Grupo Controle Grupo Vacinado
mNMP fezes (Log) 0,07 ± 0,04 0,16 ± 0,06 0,1720
O isolamento de Salmonella sp. nas fezes dos suínos em função da soroprevalência
e da densidade ótica em % mostrou-se positiva e significativa (p≤0,05). Nas Figuras 4 e
5 são apresentados os valores observados do percentual de isolamento de Salmonella
sp. nas fezes dos suínos em função da soroprevalência (% de suínos positivos), e da
intensidade da reação sorológica medida pela variabilidade da densidade ótica (%DO),
respectivamente. Para cada 10 unidades de aumento na soroprevalência (utilizando um
ponto de corte de 40% de DO), espera-se incremento de 30,3% no percentual de
isolamento de Salmonella sp. nas fezes. No caso da densidade ótica média, para cada 10
unidades de aumento estimam-se 15,6% de incremento no percentual de isolamento de
Salmonella sp. nas fezes.
-
35
Figura 4. Percentual de isolamento de Salmonella sp. nas fezes em função da soroprevalência.
Figura 5. Percentual de isolamento de Salmonella sp. nas fezes em função da densidade ótica média.
-
36
Através dos resultados da citometria de fluxo foi possível evidenciar que a
atividade dos monócitos fagocíticos foi aumentada pela vacinação nas granjas 1 – 4 (p =
0,012). Embora as granjas 5 – 8 e 9 – 12 tenham apresentado a mesma tendência, isto
não foi estatisticamente relevante. (Figura 6).
Figura 6: Atividade fagocítica dos monócitos e neutrófilos no grupo controle e vacinado.
A intensidade da fagocitose dos monócitos fagocíticos foi alterada pela vacinação. As figuras superiores indicam a quantidade relativa de monócitos e a sua atividade. As figuras inferiores indicam a quantidade relativa de neutrófilos e a sua atividade. Análise conjunta de todas as granjas feita por ANOVA de duas vias. Diferença relevante está indicada por descrição ao lado do gráfico.
-
37
3.5 Discussão
No presente estudo a vacinação foi realizada no período de creche e
terminação, com uma das doses ministrada aos 21 dias pré-abate. A pesquisa teve como
objetivo o uso de uma vacina que oferecesse uma ação sanitária contra a infecção
natural, reduzindo o número de suínos portadores e excretores de Salmonella sp. que
chegam ao frigorífico e que podem alcançar o consumidor final.
A proposta foi testar uma vacina que se mostrasse efetiva no controle contra
qualquer sorovar de Salmonella enterica (amplo espectro) presente em granjas de
terminação de suínos. O resultado esperado era transpor a dificuldade posta pela
variabilidade de sorovares em decorrência da especificidade antigênica do agente
(Schwarz et al., 2011; Costa., 2014).
A Salmonella sp possui na sua superfície grandes moléculas antigênicas
(moléculas imunedominantes), os LPS de membrana, que são facilmente reconhecidos
pelo sistema imune, e são alvo da maioria das vacinas de linhas. Essas moléculas tendem
a ser específicas de um determinado sorovar e/ou sorogrupo (Arguello et al., 2012b).
Porém todos os patógenos possuem moléculas de superfície secundárias, que podem
ser apresentadas ao sistema imune de tal forma que ele consiga responder, tornando-
as imunoprotetoras (Layton & Jabif, 2017). Sendo assim, uma sequência genética
comum para todas as salmonelas foi clonada em um plasmídeo de expressão, e este
inserido em Bacillus subtilis, o qual produziu subunidades (peptídeos) que foram
incorporadas por micropartículas, compondo a vacina de mucosa.
No presente estudo, a vacina de subunidade foi administrada via oral, com o
intuito de gerar uma resposta imune de mucosa com produção de IgA (Haesebrouck et
al., 2004; Roesler et al., 2006) e estímulo de tecido linfóide associado ao intestino–GALT
(Ogra et al., 2001). Após a administração do produto, foi determinado a porcentagem
de soropositivos, portadores e excretores de salmonelas nos LNM e fezes como
respostas à vacinação. O suíno portador da Salmonella sp. no linfonodo tem uma grande
importância epidemiológica, porque a partir deste status a excreção da bactéria pode
-
38
recrudescer após situações de estresse na granja e pré-abate. Ele é a fonte primária do
agente no abatedouro, contaminando o ambiente, equipamentos e carcaças (EFSA,
2008). Desta forma, em lotes de suínos positivos, os animais são quatro vezes mais
susceptíveis a (re) infecção com Salmonella sp. a partir de outros indivíduos do rebanho
do que a partir de outros rebanhos (Berends et al., 1997).
Na mesma linha, Kich et al. (2011) demonstraram que linfonodos mais profundos
estavam albergando os mesmos subtipos de Salmonella sp. presentes nas granjas,
denotando a importância do status suíno portador. Já as carcaças apresentaram
subtipos relacionados com aqueles encontrados na baia de espera, afirmando a
importância do suíno excretor de Salmonella sp. imediatamente antes do abate.
Inúmeros trabalhos já mostraram que existe uma forte correlação entre os
animais excretores de Salmonella sp. nas fezes e carcaças positivas, reflexo de uma
combinação de fatores. A Salmonella sp. que entra no abatedouro é transferida para
carcaça do animal de origem (extravasamento do conteúdo intestinal/evisceração) e
promove a contaminação cruzada entre as carcaças por contato direto e indireto
(Berends et al., 1997). Corroborando com isso, Coldebella et al. (2017), em pesquisa
adstrita ao Ministério da Agricultura, baseados em um banco de dados de três anos de
suínos inspecionados pelo SIF (Serviço de Inspeção Federal), em 114 plantas frigoríficas
(94,262,328 suínos abatidos), mostraram que a segunda maior causa de condenações
de carcaças no Brasil é por contaminação no momento da evisceração. (1,797%). Diante
disto, além de mitigar o risco de contaminação durante o abate, intervenções nas
granjas são fortemente estimuladas para diminuir o número de animais portadores e
excretores de Salmonella sp. que chegam ao frigorifico (Letellier et al., 2009).
Nesta pesquisa, o GV apresentou mais frequência de detecção de Salmonella sp.
do que o GC, com diferença de 8,33% de portadores de Salmonella sp. nos LNM, 9,38%
de suínos excretores e 0,09 log no mNMP de unidade formadoras de colônia nas fezes,
no momento do abate.
-
39
Além do efeito da vacinação sobre portadores e excretores de Salmonella sp. o
presente estudo realizou a avaliação imunológica dos suínos frente a vacina Bio Tech
Vaccine. É sabido que a destruição dos microrganismos fagocitados por macrófagos se
deve à produção de óxido nítrico (NO) e outros intermediários, os quais são produzidos
devido à ativação via clássica (Th1) dos macrófagos através de IFN-γ ou LPS (Classen,
Lloberas, & Celada, 2009). Entretanto, para bactérias intracelulares, como a Salmonella
sp., a ingestão destas por macrófagos pode fornecer um refúgio seguro, protegendo as
bactérias da morte extracelular mediada pelo complemento. Eze et al. (2000)
demonstraram que a cepa virulenta 16M de Brucella Melitensis foi eficientemente
fagocitada por macrófagos peritoniais de camundongos na presença de soro hiperimune
anti-LPS de B. Melintenis. Contudo, uma vez internalizada, a bactéria se multiplicou
eficientemente em macrófagos não-ativados, sendo que sua eliminação só ocorreu
quando foi induzida a ativação dos macrófagos por IFN-γ.
Neste estudo, ao se avaliar todas as granjas conjuntamente, foi encontrado
aumento na atividade fagocítica de monócitos periféricos em animais vacinados. Porém,
os dados não permitem inferir se este aumento da atividade fagocítica resultou na
eliminação efetiva das cepas de campo pelos macrófagos, ou se estas células
potencializaram a multiplicação do patógeno servindo como sítio de replicação. Os
resultados de isolamento nas fezes, isolamento nos LNM e nNMP apontam para a
segunda hipótese, uma vez que o percentual de detecção de Salmonella sp. foi maior no
grupo vacinado que no controle.
A pesquisa de anticorpos, realizadas por meio do teste de ELISA, foi usado como
indicador de uma exposição prévia a Salmonella sp. Considerando 20% de DO como
ponto de corte, no alojamento a soroprevalência foi baixa, variando de 15 a 22%, e no
momento do abate subiu para 75 e 80%, o que confirma que nesta fase da produção
ocorre a disseminação da bactéria entre os animais e, consequentemente, a
amplificação da infecção. Estudos anteriores constataram a mesma situação, de que os
suínos são infectados em algum momento durante o período de terminação (Berends
-
40
et al., 1996; Beloeil et al., 2003; Kranker et al., 2003). Segundo Nielsen et al. (1995) a
soroconversão para Salmonella sp. pode ocorrer de 7 a 14 dias após a infecção e o pico
em aproximadamente 30 dias, quando em condições experimentais. No caso de
infecção natural um período maior pode ser esperado (Kranker et al., 2003). Como o
período de crescimento e terminação dura em média 110 dias, os animais têm
oportunidade de se infectarem e soroconverterem elevando a soroprevelência na fase
final de produção.
Por ser um indicador da disseminação da bactéria no rebanho, a sorologia tem
sido utilizada como indicador de risco em o lote de animais introduzir a bactéria no
ambiente de abate. Ela possibilita a discriminação entre os rebanhos de forma concisa,
rápida e barata. Desta forma, muitos países adotaram-na como uma ferramenta útil
para discriminar lotes suínos infectados por Salmonella sp. Porém o uso da sorologia
para classificação de risco de um rebanho tem sido discutido (Rostagno & Callaway.,
2012) no intuito de se estabelecer ferramentas exequíveis de predição de risco de
contaminação ao abate. Devido possibilidade de alguns animais eliminarem a infecção
e permanecerem soropositivos, ou mesmo, serem infectarem no pré-abate e negativos
na sorologia, ela é limitada para determinar o estado de infecção do indivíduo, mas é
útil para determinar o nível de infecção no rebanho (Vico et al., 2011).
Países como, Alemanha e Dinamarca iniciaram seu programa nacional de
controle da Salmonella sp. utilizando 40% de DO (Mousing et al., 1997; Blaha., 2004), a
qual é adotado pelos kits comerciais de ELISA para a interpretação qualitativa dos
resultados. A associação entre a condição do suíno, quanto ao status sorológico,
portador e excretor de Salmonella sp. já demonstrou uma forte associação com risco de
isolamento do agente no momento do abate (Nielsen et al., 1995., Alban et al., 2002),
no passado, alguns estudos demonstraram que a melhor associação seria em um ponto
de corte em torno de 11% de DO (Nielsen et al., 1995). Contudo, Alban et al. (2002) e
Kich et al. (2016) demostraram que 20% é o melhor modelo para predizer a frequência
de isolamento de Salmonella sp. em lotes de suínos. Soresen et al. (2004)
-
41
demonstraram forte associação entre sorologia do rebanho e a prevalência de
Salmonella encontrada no conteúdo cecal. A chance para isolamento positivo aumentou
1,3 vezes para cada 10% de aumento da soroprevalência.
Mainar-Jaime et al. (2017), associaram valores de intensidade da reação
sorológica medida pela variabilidade da densidade ótica, a %DO com a % de excretores
de Salmonella sp., em diferentes idades na terminação. Suínos com 90 dias possuem
66% de chance de excretaram Salmonella sp. quando chegam ao abate, com uma %
DO=40. Quando se analisa os dados deste experimento, para cada 10% de aumento na
% de DO estimam-se 15,6% de incremento no percentual de isolamento de Salmonella
sp. nas fezes em animais no momento do abate (110 dias de terminação).
Na Dinamarca, granjas de terminação com ≤ 200 suínos de abate por ano,
utilizando 20% de DO, foram classificadas em três categorias: nível 1, definido como um
rebanho com um índice sorológico de Salmonella sp. variando de 1 < 40%; nível 2,
40
-
42
Este fato foi demostrado neste trabalho, onde um incremento de 10% na
soroprevalência aumentou em 30% a possibilidade de excreção de Salmonella sp. nas
fezes.
3.6 Conclusão
Concluiu-se que o programa de vacinação na creche e terminação com a vacina
de subunidade oral não conferiu redução na disseminação e amplificação da infecção
nas granjas que impactasse na prevalência de suínos portadores e excretores de
Salmonella sp. no abate. Esses resultados nos permitem afirmar que a forma de
apresentação do antígeno na vacina, ainda não foi suficiente para estimular imunidade
que pudesse segurar o desafio de campo.
-
43
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Brasil está discutindo e finalizando um programa de autocontrole com
verificação oficial de salmonela em carcaças suínas a ser estabelecido nos abates que
possuem inspeção federal. Esta proposta foi recentemente apresentada ao setor e vai
estimular as agroindústrias a desenvolverem estratégias sistêmicas de controle de
salmonela, que em algum momento também devem ser orientadas para a fase de
criação dos animais nas granjas. Atualmente, se houvesse uma classificação de rebanho
usando a soroprevalência (Alban et al., 2002), os lotes de suínos terminados no Brasil
estariam em média no Nível 3, ≥ 65% de prevalência com OD de 20% (EFSA 2009), o que
representa risco alto de introduzir a contaminação no ambiente de abate. Neste
experimento, houve um incremento de aproximadamente 60% nos resultados de
soroprevalência do alojamento ao abate, considerando 20% de DO como ponto de
corte, ficaram entre 75 e 80%, o que confirma na fase de terminação ocorre a
disseminação da bactéria entre os animais e, consequentemente, a amplificação da
infecção, a exemplo de outras pesquisas já realizadas no Brasil (Kich et al., 2005; Silva et
al., 2006; Schwarz et al., 2009; Kich et al., 2011; Costa et al., 2014).
Apesar do GV apresentar um aumento de 8,33% de suínos portadores de
Salmonella sp. nos LNM, 9,38% de suínos excretores e 0,09 log no mNMP de unidade
formadoras de colônia nas fezes, no momento do abate, é preciso investir em potenciais
práticas de biotecnologias que superem os limites dos produtos oferecidos pelo
mercado e surjam como alternativa para controle de patógenos transmitidos por
alimentos.
A vacinação, do ponto de vista de segurança dos alimentos, pode e deve ser
usada na fase primária de produção. Entretanto, para isso, é preciso garantir robustez
nos resultados, a qual está intimamente atrelada a especificidade antigênica e via de
administração do produto. Quando houver esse progresso nas tecnologias ofertadas,
-
44
será de grande valia a implementação da vacinação como uma ferramenta de redução
do patógeno e proteção ao consumidor.
Para dar sequência ao trabalho, sugere-se medir o título vacinal (IgA) através da
secreção lacrimal dos suínos pertencentes aos grupos vacinado e controle e a
sorotipificação das cepas isoladas. É comum a presença de vários sorovares em uma
mesma planta frigorifica e, também, há uma grande variação entre eles em diferentes
plantas (Botteldoorn et al., 2003; EFSA, 2008).
Além disso, pode-se realizar coleta de amostras nas granjas, ração, caminhões,
baias de esperas, bem como nas carcaças no abatedouro, para que se determinem os
sorovares mais prevalentes e se realize estudos de epidemiologia molecular
correlacionando os isolados. Estes resultados ajudam a agroindústria definir estratégias
de controle direcionadas as diferentes etapas da produção e, se possível, corrigir falhas
de processo reveladas com estes estudos.
-
45
5 REFERÊNCIAS
ALBAN, L.; BAPTISTA F.M.; MØGELMOSE, L.L.; CHRISTENSEN, H.; AABO, S.; DAHL, J. Salmonella surveillance and control for finisher pigs and pork in Denmark- A case study. Food Research International. 45, 656-665, 2012. ALBAN, L.; BARFOD, K.; PETERSEN, J.V.; DAHL, J.; AJUFO, J.C.; SANDO, G.; KROG, H.H.; AABO, S. Description of Extended Pre-Harvest Pig Salmonella Surveillance-and-Control Programme and its Estimated Effect on Food Safety Related to Pork. Zoonoses and Public Health. 57, 6-15, 2010. ALBAN, L.; STARK, K.D.C.; Where should the effort be put to reduce the Salmonella prevalence in the slaughtered swine carcass effectively. Preventive Veterinary Medicine. 68, 63-79, 2005.
ALBAN, L.; STEGE, H.; DAHL, J. The New Classification system for slaughter- pig herds in the Danish Salmonella surveillance –and- control program. Preventive Veterinary Medicine. 53, 133-146, 2002. ARGUELLO, H.; CARVAJAL, A.; COLLAZOS, J.A.; GARCIA-FELIZ, C.; RUBIO, P. Prevalence and Serovars of Salmonella enterica on pig carcasses, slaughtered pigs the environment of four Spanish Slaughterhouses. Food Research International. 45, 905-912, 2012a. ARGUELLO, H.; CARVAJAL, A.; NAHARRO, G.; RUBIO, P. Evaluation of Protection conferred by a Salmonella Typhimurium inactivated vaccine in Salmonella – infected finishing farm. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases. 36, 489-498, 2013. ARGUELLO, H; RUBIO, P. & CARVAJAL, A. Salmonella Control Measures at Farm in Swine Production. In: BASSAM, A.A., GUTLER, J.B. (Eds). Salmonella- Distribution, Adaptation, Control Measures and Molecular Technologies. In tech. p.99-122, 2012b. BATISTA, F.M.; ALBAN, L.; NIELSEN, L.R.; DOMINGOS, I.; POMBA, C.; ALMEIDA, V. Use of Herd Information for Predicting Salmonella Status in Pig Herds. Zoonoses and Public Health. 57, 49-59, 2010. BEARSON, B.L.; BEARSON, S.M.D.; KICH, J.D. A DIVA vaccine for cross-protection against Salmonella. Vaccine. 34, 1241-1246, 2016. BELOEIL, P.A.; CHAUVIN, C.; PROUX, K.; ROSE, N.; QUEGUINER, S.; EVENO, E.; HOUDAYER, C.; ROSE, V.; FRAVALO, P.; MADEC, F. Longitudinal serological responses to
-
46
Salmonella enterica of growing pigs in a subclinically infected herd. Preventive Veterinary Medicine. 60, 207-226, 2003. BERENDS, B.R.; URLINGS, H.A.P.; SNIJDERS, J.M.A.; KNAPEN, F.V. Identification and quantification of risk factors animal management and transport regarding in Salmonella spp. in pigs. International Journal of Food Microbiology.30, 37-53, 1996. BERENDS, B.R.; KNAPEN, F.V.; SNIJDERS, J.M.A.; MOSSEL, D.A.A. Identification and quantification of risk factors regarding Salmonella spp. on pork carcasses. International Journal of Food Microbiology.36, 199-206, 1997. BLAHA, T. Up to date information from the German QS Salmonella monitoring and reduction programme. Dtsch Tierarztl Wochenschr. 8, 324-326, 2004. BONARDI, S.; PIZZIN, G.; LUCIDI, L.; BRINDANI, F.; PATERLINI, F.; TAGLIABUE, S. Isolation of Salmonella enterica from Slaughtered Pigs. Veterinary Research Communications. 27, 281-283, 2003. BOTTELDOORN, N.; HEYNDRICKX, N.; RIJPENS, N.; GRIJSPEERDT, K.; HERMAN, L. Salmonella on pig carcasses: positive pigs and cross contamination in the slaughterhouse. Journal of Applied Microbiology. 95, 891-903, 2003. BOYEN, F.; HAESEBROUCK, F.; MAES, D.; IMMERSEEL, F.V.; DUCATELLE, R.; PASMANS, F. Non-typhoidal Salmonella infections in pigs: A closer look at epidemiology, pathogenesis and control. Veterinary Microbiology. 130, 1-19, 2008. CLASSE, A.; LLOBERAS, J.; CELADA, A. Macrophage Activation: Classical Vs. Alternative. In: REINER, N.E. (Ed). Macrophages and Dendritic Cells. p. 29-43, 2009. COLDEBELLA, A.; KICH, J.D.; ALBUQUERQUE, E.R.; BUOSI, R.J. Reports of Brazilian Federal Meat Inspection System in Swine Slaughterhouses. In: SAFEPORK,12, 2017, Foz de do Iguaçu. Int. Conf. Epidemiol. Control Biol. Chem. Phys. Hazards Pigs Pork. Foz do Iguaçu: 2017.p. 251-254. COSTA, E.F. Effect of mannoprotein in the pre harvest phase on Salmonella sp. seroprevalence and carcass contamination in pigs. In: IPVS CONGRESS, 23, 2014, Cancun: 2014.p. 8-11. COSTA, Eduardo de Freitas. Validação de estratégias a campo para o controle de Salmonella sp. na cadeia de produção de suínos. 2014. 62 f. Dissertação (Mestre em Ciências Veterinárias, Especialidade Epidemiologia, Saneamento e Profilaxia) - Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2014.
-
47
DAVIES, R.; BRESLIN, M. Effects of vaccination and other preventive methods for Salmonella Enteritidis on commercial laying chicken farms. Veterinary Record. 153, 673-677, 2003. DAVIES, R.; GOSLING, R.J.; WALES, A.D.; SMITH.R.P. Use of an attenuated live Salmonella Typhimurium vaccine on three breeding pig units: A longitudinal observational field study. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases. 46, 7-15, 2016. DENAGAMAGE, T.N.; O´CONNOR, A.M.; SARGEANT, J.M.; RAJIC, A.; McKEAN, J.D. Efficacy of Vaccination to Reduce Salmonella Prevalence in Live and Slaughtered Swine: A Systematic Review of Literature from 1979 to 2007. Foodborne Pathogens and Disease. 4, 539-549, 2007. De RIDDER, L.; MAES, D.; DEWULF, J.; PASMANS, F.; BOYEN, F.; HAESEBROUCK, F.; MÉROC, E.; BUTAYE, P.; Van Der STEDE, Y. Evaluation of three intervention strategies to reduce the transmission of Salmonella Typhimurium in pigs. The Veterinary Journal. 197, 613-618, 2013. De RIDDER, L.; MAES, D.; DEWULF, J.; PASMANS, F.; BOYEN, F.; HAESEBROUCK.; MÉROC, E.; BUTAYE, P.; Van Der STEDE, Y. Use of a live attenuated Salmonella enterica serovar Typhimurium vaccine on farrow-to-finish pig farms. The Veterinary Journal. 202, 303-308, 2014. EFSA (European Food Safety Authority). Report of the Task Force on Zoonoses Data Collection on the analysis of the baseline survey on the prevalence of Salmonella in slaughter pigs, in the EU, 2006-2007. Part A: Salmonella prevalence estimates. EFSA Journal. 135, 1-111. 2008. EFSA (European Food Safety Authority). Analysis of the baseline survey on the prevalence of Salmonella in holdings with breeding pigs in the EU, 2008. Part A: Salmonella prevalence estimates. EFSA Journal. 7, 1- 93, 2009. EFSA (European Food Safety Authority). Painel on Biological Hazards; Scientific Opinion on a Quantitative Microbiological Risk Assessment of Salmonella in slaughter and breeder pigs. EFSA Journal. 8, 1- 90, 2010. EFSA (European Food Safety Authority). The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2011. EFSA Journal. 11, 1- 250, 2013.
-
48
EFSA (European Food Safety Authority). The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2016. EFSA Journal. 15, 1-228, 2017. EZE, M.O.; YUAN, L.; CRAWFORD, R.M.; PARANAVITANA, C.M.; HADFIELD, T.L.; BHATTACHARJEE, A.K.; WARREN, R.L.; HOOVER, D.L. Effects of Opsonization and Gamma Interferon on Growth of Brucella melitensis 16M in Mouse Peritoneal Macrophages In Vitro. Infection and Immunity. 68, 257-263, 2000. FARZAN. A.; FRIENDSHIP, R.M.; A clinical field trial to evaluate the efficacy of vaccination in controlling Salmonella infection and the association of Salmonella- shedding and weight gain in pigs. The Canadian Journal of Veterinary Research. 74, 258-263, 2010. FRENZEN, P.D.; BUZBY, J.C.; ROBERTS, T. An Update Estimate of the Economic Cost of Human Illness Due to Foodborne Salmonella in the United States. Economics and Policy. 215-218, 1999. GOPINATH, S.; CARDEN, S.; MONACK, D. Shedding light on Salmonella carriers. Trends in Microbiology. 20, 320-327, 2012. GRIFFITH, R.W.; SCHWARTZ, K.J.; MEYERHOL, Z. Salmonella. In: 9 ed. Ed. STRAW, B.E.; ZIMMERMAN, J.J.; ALLAIRE, S.D.; TAYLOR, D.; J. (Eds). Diseases of Swine. Blackwell Science Ltda. p.739-754, 2006. GRIMONT, P.A.D.; WEILL, F.X. Antigenic Formulae of the Salmonella serovars. 9 ed. WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Salmonella. p. 166. 2007. HAESEBROUCK, F.; PASMANS, F.; CHIERS, K.; MAES, D.; DUCATELLE, R.; DECOSTERE, A. Efficacy of vaccines against bacterial diseases in swine: what can we expect? Veterinary Microbiology. 100, 255-268, 2004. HURD, H.S.; GAILEY, J.K.; McKEAN, J.D.; ROSTAGNO, M.H. Rapid infection in market-weight swine following exposure to a Salmonella Typhimurium-contaminated environment. AJVR. 62, 1194-1197, 2001. ISO 6975:2002, 2002. Microbiology of Food and Animal Feeding Stuffs. Horizontal Method for the Detection of Salmonella spp. Geneva. ISO/TS 6579-2:2012. Microbiology of Food and Animal Feed. - Horizontal Method for the Detection, Enumeration and Serotyping of Salmonella. - Part 2: Enumeration by miniaturized most probable number technique. Geneva.
-
49
JANEWAY, A.C.; TRAVERS, P.; WALPORT, M.; SHLOMCHIK, M. Immunobiology. New York: Rory MacDonald Garland Publishing. 2001. JARVIS, B.; WILRICH, C.; WILRICH, P.T. Reconsideration of the derivation of Most Probable Numbers, their standard deviations, confidence bounds and rarity values. Journal of Applied Microbiology. 109, 1660-1667, 2010. JARVIS, B.; WILRICH, C.; WILRICH, P.T. MPN calculation program, version 5, 2010. Disponível em: www.wiwiss.fu-berlin.de/fachbereich/vwl/iso/.../MPN_ver5.xls. Acessado em: 10/12/2017. KICH, J.D; COLDEBELLA, A.; MORÉS, N.; NOGUEIRA, M.G.; CARDOSO, M.; FRATAMICO, P.M.; CALL, J.F.; CRAY-FEDORKA, P.; LUCHANSKY, J.B. Prevalence, distribution, ans molecular characterization of Salmonella recovered from swine finishing herds and a slaughter facility in Santa Catarina, Brazil. International Journal Food Microbiology. 151, 3017-313, 2011. KICH, J.D.; CARDOSO, M. Salmonelose. In: SOBESTIANSKY, J; BARCELLOS, D. (Eds). Doenças dos Suínos. Goiânia: Cânone Editorial. p. 257-264, 2012. KICH, J.D; COSTA, E.F.; TRIQUES, N, J.; NOGUEIRA, M.; DALLA COSTA, O.; COLDEBELLA, A.; KUMMER, A.; CARDOSO, M. Assessment of different cut-off values of the ELISA-Typhimurium for the discrimination of swine herds with Salmonella isolation. Semina: Ciências Agrárias. 37, 3107-3113, 2016.
KICH, J.D.; MORES, N.; PIFFER, I.A.; COLDEBELLA, A.; AMARAL, A.; RAINGER, L.; CARDOSO, M. Fatores associados à soroprevalência de Salmonella em rebanhos comerciais de suínos. Ciência Rural. 35, 398-405, 2005. KICH, J.D.; SOUZA, J.C.P.V.B. Salmonela na suinocultura brasileira: do problema ao controle. 1 Ed. Brasília: Embrapa Editorial. p. 186, 2015. KRANKER, S.; ALBAN, L.; BOES, J.; DALH, J. Longitudinal Study of Salmonella enterica Serotype Typhimurium Infection in Three Danish Farrow-to-Finish Swine Herds. Journal of Clinical Microbiology. 41, 2282-2288, 2003.
LAYTON, S.L.; JABIF, M.F. Development and Evaluation of a Novel Orally Administered Subunit Vaccine to Control Foodborne Pathogens. In: SAFEPORK,12, 2017, Foz de do Iguaçu. Int. Conf. Epidemiol. Control Biol. Chem. Phys. Hazards Pigs Pork. Foz do Iguaçu: 2017.p. 112-115.
http://www.wiwiss.fu-berlin.de/fachbereich/vwl/iso/.../MPN_ver5.xls
-
50
LEYMAN, B.; BOYEN, F.; VERBRUGGHE, E.; PARYS, A.V.; HAESEBROUCK, F.; PASMANS, F. Vaccination pf pigs reduce Salmonella Typhimurium numbers in a model mimicking pre-slaughter stress. The Veterinary Journal. 194, 250-252, 2012.
LETTELIER, A.; BEAUCHAMP, G.; GUÉVREMONT, E.; D´ALLAIRE, S.; HURNIK, D.; QUESSY, S. Risk Factors at Slaughter Associated with Presence of Salmonella on Hog Carcasses in Canada. Journal of Food Protection. 72, 2326-2331, 2009. LIANG, K.Y.; ZEGER, S.L. Longitudinal data analysis using generalized linear models. Biometrics. 73, 13-22, 1986. MAINAR-JAIME, R.; CASANOVA-HIGES, A.; ANDRÉS-BARRANCO, S.; VICO, J. Revisiting the role of pig serology in the context of Salmonella control programs in countries with high prevalence of infection—a preliminary study. In: SAFEPORK,12, 2017, Foz de do Iguaçu. Int. Conf. Epidemiol. Control Biol. Chem. Phys. Hazards Pigs Pork. Foz do Iguaçu: 2017.p. 84. MAJOWICZ, S.E.; MUSTO, J.; SCALLAN, E.; ÂNGULO, F.J.; KIRK, M.; O´BRIEN, S.J.; JONES, T.F.; FAZIL, A.; HOEKSTRA, R.M. The Global Burden of Nontyphoidal Salmonella Gastroenteritis. Food Safety. 50, 882-889, 2010. MAES, D.; GIBSON, K.J.; TRIGO, E.; SZASZÁK, A.; GRASS, J.J.; CARLSON, A.C.; BLAHA, T.G. Evaluation of cross-protection afforded by a Salmonella Choleraesuis vaccine against Salmonella infections in pigs under field conditions. In: SAFEPORK, 4, 2001, Leipzig. Int. Conf. Epidemiol. Control Biol. Chem. Phys. Hazards Pigs Pork. Leipzig, Germany: 2001.p. 78-84. MASTROENI, P.; CHABALGOITY, J.A.; DUNSTAN, S.J.; MASKELL, D.J.; DOUGAN, G. Salmonella: Immune Responses and Vaccines. The Veterinary Journal. 161, 132-164, 2001. MASTROENI, P.; GRANT, A.; RESTIF, O.; MASKELL, D. A dynamic view of the spread and intracellular distribution of Salmonella enterica. Nature Reviews /Microbiology. 7, 73-80, 2009.
MEAD, P.S.; SLUTSKER, L.; DIETZ, V.; Mc CAIG, L.F.; BRESEE, J.S.; SHAPIRO, C.; GRIFFIN, P.M.; TAUXE, R.V. Food-Related Illness and Death in the United States. Emerging Infectious Diseases. 5, 607-625, 1999. MOUSING, J.; JENSEN, P.T.; HALGAARD, C.; BAGER, F.; FELD.; NIELSEN, B.; NIELSEN, J.P.; BECH-NIELSEN, S. Nation-wide Salmonella enterica surveillance and control in Danish slaughter swine herds. Preventive Veterinary Medicine. 29, 247-261, 1997.
-
51
NARROD, C.; TIONGCO, M.; SCOTT, R. Current and predicted trends in the production, consumption and trade of live animals and their products. Revue scientifique et technique (International Office of Epizootics).30, 31–49, 2011.
NIELSEN, B.; ALBAN, L.; STEGE, H.; SØRENSEN, L.L.; MOGELMOSE, V.; BAGGER, J.; DAHL, J.; BAGGESEN, D.L. A new Salmonella surveillance and control programme in Danish pigs’ herds and Slaughterhouses. Beliner Und Munchener Tierarztliche Wochenschrift. 114, 323-326, 2001. NIELSEN, B.; BAGGESEN, D.; BAGER, F.; HAUGEGAARD, J.; LIND, P. The serological response to Salmonella serovars typhimurium and infantis in experimentally infected pigs. The time course followed with an indirect anti-LPS ELISA and bacteriological examinations. Veterinary Microbiology. 47, 205-218, 1995. OGRA, P.R.; FADEN, H.; WELLIVER, R.C. Vaccination Strategies for Mucosal Immune Responses. Clinical Microbiology Reviews. 14, 430-445, 2001. PARIS. Regulation (EC) nº. 36 de 27 May 2016. Combating Antimicrobial Resistance through a One Health Approach: Actions and OIE Strategy. Adopted by the World Assembly of Delegates of the OIE during its 84th General Session. Paris, 1-60, 2016. PIRES, S.M.; VIGRE, H.; MAKELA, P.; HALD, T. Using outbreak data for source attribution of human salmonellosis and campylobacteriosis in Europe. Foodborne Pathog. 7, 1351–1361, 2010. ROESLER, U.; HELLER, P.; WALDMANN, K.H.; TRUYEN, U.; HENSEL, A. Immunization of Sows in an Integrated Pig-breeding Herd using a Homologous Inactivated Salmonella Vaccine Decreases the Prevalence of Salmonella typhimurium Infection in the Offspring. J. Vet. Med. 53, 224-228, 2006. ROMA. CAC/GL 87-2016 Guidelines for the Control of Nontyphoidal Salmonella spp. in Beef and Pork Meat. Codex Alimentarius - International Food Standards. Roma, 1-36, 2016. ROSTAGNO, M. H. Vaccination to reduce Salmonella prevalence in pigs. Veterinary Record. 551–553, 2011. ROSTAGNO, M.H.; CALAWAY, T.R. Pre- harvest risk factors for Salmonella entérica in pork production. Food Research International. 45, 634-640, 2012.
-
52
ROSTAGNO, M.H.; HURD, H.S.; McKEAN, J.D.; ZIEMER, C.J.; GAILEY, J.K.; LEITE, R.C. Preslaughter Holding Environment in Pork Plants Is Highly Contaminated with Salmonella entérica. Applied and Environmental Microbiology 69, 4489-4494, 2003. ROWE, T.A.; LEONARD, F.C.; KELLY, G.; LYNCH P.B.; EGAN, J.; QUIRKE, A.M.; QUINN, P.J. Salmonella serotypes present on a sample of Irish pig farms. Veterinary Records. 11, 453-456, 2003. SAS INSTITUTE INC. System for Microsoft Windows, Release 9.4, Cary, NC, USA, 2002-2012. (cd-rom). SCHWARZ, P. et al. Use of an avirulent live Salmonella Choleraesuis vaccine to reduce the prevalence of Salmonella carrier pigs at slaughter. Veterinary Record. 169, 553–556, 2011.
SCHWARZ, P.; CALVEIRA, J.; SELLA, A.; BESSA, M.; BARCELLOS, D.E.S.N., Cardoso, M. Salmonella enterica: isolamento e soroprevalência em suínos abatidos no Rio Grande do Sul. Arq. Bras. Med. Veterinária e Zootec. 61, 1028–1034, 2009. SELKE, M.; MEENS, J.; SPRINGER, S.; FRANK, R.; GERLACH, G. Immunization of Pigs To Prevent Disease in Humans: Construction and Protective Efficacy of a Salmonella enterica Serovar Typhimurium Live Negative-Marker Vaccine. Infection and Immunity. 75, 2476-2483, 2007.
SILVA, L.E.; GOTARDI, C.P.; VIZZOTTO, R.; KICH, J.D.; CARSODO, M.R.I. Infecção por Salmonella enterica em suínos criados em um sistema integrado de produção do sul do Brasil. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. 58, 455-461, 2006. SMITH, R.P.; ANDRES, V.; MARTELLI, F.; GOSLING, B.; DAVIES, R. Maternal vaccination as na effective Salmonella reduction strategy. In: SAFEPORK,12, 2017, Foz de do Iguaçu. Int. Conf. Epidemiol. Control Biol. Chem. Phys. Hazards Pigs Pork. Foz do Iguaçu: 2017.p. 99-103. SØRENSEN, L.L.; ALBAN, L.; NIELSEN, B.; DAHL, J.; The correlation between Salmonella serology and isolation of Salmonella in Danish pigs at slaughter. Vet. Microbiol. 101, 131–141, 2004. STEICHEN, Q.; SMILEY, R.; FERGEN, B.; JORDAN, D.; LECHTENBERG, K.; KRAISER, T.; SEATE, J.; MAASS, P. Salmonella Typhimurium fecal shedding following Salmonella Choelraesuis- Typhimurium vaccination via drinking water and subsequent challenge. In: SAFEPORK,12, 2017, Foz de do Iguaçu. Int. Conf. Epidemiol. Control Biol. Chem. Phys. Hazards Pigs Pork. Foz do Iguaçu: 2017.p. 104.
-
53
SURTOS DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS NO BRASIL. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/janeiro/17/Apresentacao-Surtos-DTA-2018.pdf. VALOSKY, J.; HISHIKI, H.; ZAOUTIS, T.E.; COFFIN, S.E. Induction of Mucosal B-Cell Memory by Intranasal Immunization of Mice with Respiratory Syncytial Virus. Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology. 12, 171-179, 2005. VICO, J.P.; MAINAR-JAIME, R.C. The use of meat juice or blood sérum for the diagnosis of Salmonella infection in pigs and its possible impications on Salmonella control programs. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation. 23, 528-531, 2011. XAVIER, L.H. Modelos uni variados e multivariados para análise de medidas repetidas e verificação da acurácia do modelo uni variado por meio de simulação. 2000. 91f. Dissertação (mestrado) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, 2000.
XU, H.R.; HSU, H.S.; MONCURE, C.W.; KING, R.A. Correlation of antibody titres induced by vaccination with protection in mouse typhoid. Vaccine. 11, 725-729, 1993. WHO ESTIMATES OF THE GLOBAL BURDEN OF FOODBORNE DISEASES: Foodborne Disease Burden Epidemiology Reference Group 2007-2015. ZEGER, S.L.; LIANG, K.Y. Longitudinal data analysis for discrete and continuous outcomes. Biometrics. 42, 121-130, 1986.
-
54
6 ANEXOS
6.1 Anexo I
-
55
6.2 Anexo II
-
56
-
57