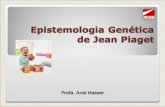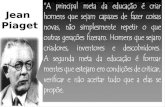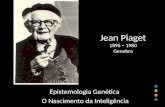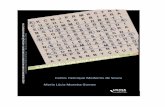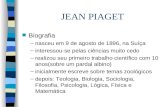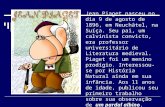Jean piaget epistemologia genética
-
Upload
fluminense-federal-university -
Category
Education
-
view
3.631 -
download
4
Transcript of Jean piaget epistemologia genética
1. JEAN PIAGETA EPISTEMOLOGIA GENTICATraduo de Nathanael C. CaixeiraParis. Presses Universitaires de France..IntroduoAproveitei, com prazer, a oportunidade de escrever este pequenolivro sobre Epistemologia Gentica, de modo a poder insistir nanoo bem pouco admitida correntemente, mas que parececonfirmada por nossos trabalhos coletivos neste domnio: oconhecimento no poderia ser concebido como algopredeterminado nas estruturas internas do indivduo, pois queestas resultam de uma construo efetiva e contnua, nem noscaracteres preexistentes do objeto, pois que estes s soconhecidos graas mediao necessria dessas estruturas; eestas estruturas os enriquecem e enquadram (pelo menossituando-os no conjunto dos possveis). Em outras palavras, todoconhecimento comporta um aspecto de elaborao nova, e ogrande problema da epistemologia o de conciliar esta criaode novidades com o duplo fato de que, no terreno formal, elas seacompanham de necessidade to logo elaboradas e de que, noplano do real, elas permitem (e so mesmo as nicas a permitir)a conquista da objetividade.Este problema da construo de estruturas no pr-formadas ,de fato, j antigo, embora a maioria dos epistemologistaspermaneam amarrados a hipteses, sejam aprioristas (atmesmo com certos recuos ao inatismo), sejam empiristas, que subordinam o conhecimento a formas situadas deantemo no indivduo ou no objeto. Todas as correntes dialticasinsistem na idia de novidades e procuram o segredo delas em"ultrapassagens" que transcenderiam incessantemente o jogodas teses e das antteses. No domnio da histria do pensamentocientfico, o problema das mudanas de perspectiva e mesmodas "revolues" nos "paradigmas" (Kuhn) se impenecessariamente, e L. Brunschvicg extraiu dele umaepistemologia do vir-a-ser radical da razo. Adstrito s fronteiras 2. mais especificamente psicolgicas, J. M. Baldwim forneceu, sobo nome de "lgica gentica", pareceres penetrantes sobre aelaborao das estruturas cognitivas. Poderiam ser citadas aindadiversas outras tentativas.Mas, se a epistemologia gentica voltou de novo questo, com o duplo intuito de constituir um mtodo capaz de oferecer oscontroles e, sobretudo, de retornar s fontes, portanto gnesemesma dos conhecimentos de que a episte mologia tradicionalapenas conhece os estados superiores, isto , certas resultantes.O que se prope a epistemologia gentica pois pr adescoberto as razes das diversas variedades de conhecimento,desde as suas formas mais elementares, e seuir sua evoluoat os nveis seguintes, at, inclusive, o pensamento cientfico.130131Mas, se esse gnero de anlise comporta uma parte essencial deexperimentao psicolgica, de modo algum significa, por essarazo, um esforo de pura psicologia. Os prprios psiclogos nose enganaram a esse respeito, e numa citao que a .a nrericanPsychological Association teve a gentileza de enviar ao autordestas linhas depara-se com esta passagem significativa: "Eleenfocou questes at ento exclusivamente filosficas de ummodo decididamente emprico, e constituiu a epistemologia comouma cincia separada da filosofa mas ligada a todas as cinciashumanas", sem esquecer. naturalmente, a biologia. Em outrostermos, a grande sociedade americana admitiu de bom grado quenossas trabalhos revestiam-se de uma dimenso psicolgica,mas a ttulo de byproduct, como o esclarece ainda a citao, ereconhecendo que a inteno, no caso, era essencialmenteepistemolgica.Quanto necessidade de recuar gnese, como o indica oprprio termo "epistemologia gentica", convm dissipar desdelogo um possvel equvoco, que seria de certa gravidade seimportasse em opor a gnese s outras fases da elabo raocontnua dos conhecimentos. A grande lio contida no estudo da 3. gnese ou das gneses , pelo contrrio, mostrar que noexistem jamais conhecimentos absolutos. Isto significa dizer, emoutras palavras, seja que tudo gnese, inclusive a elaboraode uma teoria nova no estado atual das cincias, seja que agnese recua indefinidamente, porque as fases psicogenticosmais elementares so, elas mesmas, precedidas de fases dealgum modo organogenticas, etc. Afirmar a necessidade derecuar gnese no significa de modo algum conceder umprivilgio a tal ou qual fase considerada primeira, absolutamentefalando: , pelo contrrio, lembrar a existncia de umaconstruo indefinida e, sobretudo, insistir no fato de que, paracompreender suas razes e seu mecanismo, preciso conhecertodas as suas fases, ou, pelo menos, o mximo possvel. Sefomos levados a insistir muito na questo dos comeos doconhecimento, nos domnios da psicologia da criana e dabiologia, tal no se deve a que atribuamos a eles umasignificao quase exclusiva: deve-se simplesmente a que setrata de perspectivas em geral quase totalmente negligenciadaspelos epistemologistas.Todas as demais fontes cientficas de informao permanecempois necessrias, e o segundo aspecto da epistemologia genticasobre o qual gostaramos de insistir sua naturezadecididamente interdisciplinar. O problema especfico daepistemologia, expresso sob sua forma geral, , com efeito, o doaumento dos conhecimentos, isto , da passagem de umconhecimento inferior ou mais pobre a um saber mais rico (emcompreenso e em extenso). Ora, como toda cincia est empermanente transformao e no considera jamais seu estadocomo definitivo (com exceo de certas iluses histricas, comoas do aristotelismo dos adversrios de Galileu ou da fsicanewtoniana para seus continuadores), este problema gentico,no sentido amplo, engloba tambm o do progresso de todoconhecimento cientfico e apresenta duas dimenses: uma,respeitante s questes de fato (estado dos conhecimentos emum nvel determinado e passagem de um nvel ao seguinte), e 4. outra, acerca das questes de validade (avaliao dosconhecimentos em termos de aprimoramento ou de regresso,estrutura formal dos conhecimentos). , portanto, evidente que, seja qual for a pesquisa emepistemologia gentica, seja que se trate da evoluo de tal setordo conhecimento na criana ( nmero, velocidade, causalidadefsica, etc.) ou de tal transformao num dos ramoscorrespondentes do pensamento cientfico, tal pesquisapressupe a colaborao de especialistas em epistemologia dacincia considerada, psiclogos, historiadores das cincias,lgicos, matemticos, cultores da ciberntica, lingstica, etc.Este tem sido sempre o mtodo de nosso Centro Internacional deEpistemologia Gentica em Genebra, cuja atividade integral temconsistido sempre de um trabalho de equipe. A obra que sesegue , portanto, sob muitos aspectos, coletiva!O objetivo deste opsculo no , todavia, contar a histria desseCentro, nem mesmo resumir os Estudos de EpistemologiaGentica que surgiram graas a ele. Nesses Estudos seencontram os trabalhos realizados, bem como o sumrio dasdiscusses que tiveram lugar por ocasio de cada Simpsioanual e que trataram das pesquisas em curso. O que nospropomos aqui simplesmente pr em destaque as tendnciasgerais da epistemologia gentica e expor os principais fatos queas justificam. O plano de trabalho portanto muito simples:anlise dos dados psicogenticos, em seguida de seusantecedentes biolgicos e, finalmente, retorno aos problemasepistemolgicos clssicos. Convm no entanto comentar esteplano, pois os dois primeiros captulos poderiam parecer inteis.No que diz respeito em particular psicognese dosconhecimentos (cap. I), muitas vezes a descrevemos maneirados psiclogos. Mas os epistemologistas lem apenas unspoucos trabalhos psicolgicos, o que concebvel, desde queno se destinam explicitamente a corresponder s suaspreocupaes. Procuramos pois centrar nossa exposiounicamente nos fatos que se revestem de uma significao 5. epistemolgica, e insistindo nesta ltima: trata-se, emconseqncia, de uma tentativa nova, em parte, tanto mais queela toma em onsiderao um grande nmero de pesquisasainda no publicadas sobre a causa e. Quanto s razesbiolgicas do conhecimento (cap. II), no modificamos muitonosso ponto de vista desde a publicao de Biologia eConhecimento (Gallimard, 1967), mas, como pudemos substituiressas 430 pginas por menos de uma vintena, estamos certos deser perdoados por este novo apelo s fontes orgnicas, que eraindispensvel para justificar a interpretao proposta pelaepistemologia gentica das relaes entre o sujeito e os objetos.Em poucas palavras se encontrar nestas pginas a exposiode uma epistemologia que naturalista sem ser positivista, quepe em evidncia a atividade do sujeito sem ser idealista, que seapia tambm no objeto sem deixar de consider lo como umlimite (existente, portanto, independentemente de ns, masjamais completamente atingido) e que, sobretudo, v noconhecimento uma elaborao contnua: este ltimo aspecto daepistemologia gentica que suscita mais problemas e so estesque se pretende equacionar bem assim como discutirexaustivamente. Esta obra ser citada sob o ttulo geral tudes com o nmero dovolume em questo. (N. do A.)133CAPTULO IA Formao dos Conhecimentos(Psicognese)A vantagem que um estudo da evoluo dos conhecimentosdesde suas razes apresenta (embora, no momento, semreferncias aos antecedentes biolgicos) oferecer umaresposta questo mal solucionada do sentido das tentativascogni tivas iniciais. A se restringir s posies clssicas doproblema, no se pode, com efeito, seno indagar se todainformao cognitiva emana dos objetos e vem de fora informar osujeito, como o supunha o empirismo tradicional, ou, se, pelo 6. contrrio, o sujeito est desde o incio munido de estruturasendgenas que ele imporia aos objetos, conforme as diversasvariedades de apriorismo ou de inatismo. No obstante, mesmo amultiplicar os matizes entre as posies extremas (e a histriadas idias mostrou o nmero dessas combinaes possveis), opostulado comum das epistemologias conhecidas supor queexistem em todos os nveis um sujeito conhecedor de seuspoderes em graus diversos (mesmo que eles se reduzam merapercepo dos objetos), objetos existentes como tais aos olhosdo sujeito (mesmo que eles se reduzam a "fenmenos"}, e,sobretudo, instrumentos de modificao ou de conquista(percepes ou conceitos), determinantes do trajeto que conduzdo sujeito aos objetos ou o inverso.Ora, as primeiras lies da anlise psicogentica parecemcontradizer essas pressuposies. De uma parte, oconhecimento no procede, em suas origens, nem de um sujeitoconsciente de si mesmo nem de objetos j constitudos (do pontode vista do sujeito) que a ele se imporiam. O conhecimentoresultaria de interaes que se produzem a meio caminho entreos dois, dependendo, portanto, dos dois ao mesmo tempo, masem decorrncia de uma indiferenciao completa e no deintercmbio entre formas distintas. De outro lado, e, porconseguinte, se no h, no incio, nem sujeito, no sentidoepistemolgico do termo, nem objetos concebidos como tais,nem, sobretudo, instrumentos invariantes de troca, o problemainicial do conhecimento ser pois o de elaborar tais mediadores.A partir da zona de contato entre o corpo prprio e as coisas elesse empenharo ento sempre mais adiante nas duas direescomplementares do exterior e do interior, e desta duplaconstruo progressiva que depende a elaborao solidria dosujeito e dos objetos.Com efeito, o instrumento de troca inicial no a percepo,como os racionalistas demasiado facilmente admitiram doempirismo, mas, antes, a prpria ao em sua plasticidade muitomaior. Sem dvida, as percepes desempenham 7. um papel essencial, mas elas dependem em parte da ao emseu conjunto, e certos mecanismos perceptivos que se poderiamacreditar inatos ou muito primitivos (como o "efeito tnel" deMichotte) s se constituem a certo nvel da construo dosobjetos. De modo geral, toda percepo chega a conferirsignificaes relativas ao aos elementos percebidos (J.Bruner fala, nesse sentido, de "identificaes", cf. Estudos, vol.VI, cap. I) e pois da ao que convm partir. Distinguiremos aeste respeito dois perodos sucessivos: o das aes sensrio-motoras anteriores a qualquer linguagem ou a todaconceptualizao representativa, e o das aes completadas porestas novas propriedades, a propsito dos quais se coloca entoo problema da tomada de conscincia dos resultados, intenese mecanismos dos atos, isto , de sua traduo em termos depensamento conceptualizado.I. Os nveis sensrio-motoresNo que diz respeito s aes sensrio-motrizes, J. M. Baldwinmostrou, h muito, que o lactente no manifesta qualquer ndicede uma conscincia de seu eu, nem de uma fronteira estvelentre dados do mundo interior e do universo externo, "adualismo"este que dura at o momento em que a construo desse eu setorna possvel em correspondncia e em oposio com o dosoutros. De nossa parte, fizemos notar que o universo primitivono comportaria objetos permanentes at uma poca coincidentecom o interesse pela pessoa dos outros, sendo os primeirosobjetos dotados de permanncia constitudos precisamentedessas personagens (resultados verificados com mincia por Th.Gouin-Dcarie, em um estudo sobre a permanncia dos objetosmateriais e sobre seu sincronismo com as "relaes objetais",neste sentido freudiano do interesse por outrem). Em umaestrutura de realidade que no comporte nem sujeitos nemobjetos, evidentemente o nico liame possvel entre o que setornar mais tarde um sujeito e objetos constitudo por aes,mas aes de um tipo peculiar, cuja significao epistemolgicaparece esclarecedora. Com efeito, tanto no terreno do espao 8. como no dos diversos feixes perceptivos em construo, olactente tudo relaciona a seu corpo como se ele fosse o centro domundo, mas um centro que a si mesmo ignora. Em outraspalavras, a ao primitiva exibe simultaneamente umaindiferenciao completa entre o subjetivo e o objetivo e umacentrao fundamental, embora radicalmente inconsciente, emrazo de achar-se ligada a esta indiferenciao.Qual poderia ser, no entanto, o lao entre esses dois aspectos?Se existe uma indiferenciao entre o sujeito e o objeto ao pontoque o primeiro no se conhece nem mesmo como fonte de suasaes, por que seriam elas centradas no corpo prprio ao passoque a ateno estaria fixada no exterior? O termo "egocentrismoradical" de que nos valemos para designar esta centrao pode,ao invs (malgrado nossas precaues), parecer evocar um euconsciente (e ainda mais o caso do "narcisismo" freudiano aopasso que se trata de um narcisismo sem Narciso). De fato, aindiferenciao e a centrao das aes primitivas importamambas em um terceiro aspecto que lhes geral: elas ainda noesto coordenadas entre si, e134135constituem, cada uma, um pequeno todo isolvel que ligadiretamente o corpo objeto (sugar, olhar, segurar, etc.). Dadecorre uma falta de diferenciao, pois o sujeito no se afirmarem seguida a no ser coordenando livremente suas aes, e oobjeto no se constituir a no ser se sujeitando ou resistindo scoordenaes dos movimentos ou posies em um sistemacoerente. Por outro lado, como cada ao forma ainda um todoisolvel, sua nica referncia comum e constante s pode ser ocorpo prprio, donde uma centrao automtica sobre ele,embora no desejada nem consciente.Para verificar esta conexo entre a falta de coordenao dasaes, a indiferenciao do sujeito e dos objetos e a centraosobre o corpq prprio, basta lembrar o que se passa entre esseestado inicial e o nvel dos 18 aos 24 meses, incio da funo 9. semitica e da inteligncia representativa. Neste intervalo de uma dois anos realiza-se, de fato, mas ainda apenas no plano dosatos materiais, uma espcie de revoluo coprniciana queconsiste em descentralizar as aes em relao ao corpo prprio,em considerar este como objeto entre os demais num espaoque a todos contm e em associar as aes dos objetos sob oefeito das coordenaes de um sujeito que comea a seconhecer como fonte ou mesmo senhor de seus movimentos.Com efeito (e esta terceira novidade que acarreta as duasoutras), presencia-se, em primeiro lugar, nos nveis sucessivosdo perodo sensrio-motor, uma coordenao gradual das aes.Em lugar de continuar cada uma a formar um pequeno todoencerrado em si mesmo, elas chegam, mais ou menosrapidamente, pelo jogo fundamentl das assimilaes recprocas,a se coordenar entre si at constituir esta conexo entre meios efins que caracteriza os atos da inteligncia propriamente dita. nesta ocasio que se constitui o sujeito na medida em que fontede aes e pois de conhecimentos, por isso que a coordenaode duas dessas aes supe uma iniciativa que ultrapassa ainterdependncia imediata a que se restringiam as condutasprimitivas entre uma coisa exterior e o corpo prprio. Mascoordenar aes quer dizer deslocar objetos, e, na medida emque esses deslocamentos so submetidos a coordenaes, o"grupo de deslocamentos" que se elabora progressivamente apartir desse fato permite, em segundo lugar, atribuir aos objetosposies sucessivas, tambm estas determinadas. O objetoadquire, por conseguinte, certa permanncia espao-temporaldonde a espacializao e objetivao das prprias relaescausais. Tal diferenciao do sujeito e dos objetos que acarreta asubstanciao progressiva destes explica em definitivo estainverso total das perspectivas, inverso esta que leva o sujeito aconsiderar seu prprio corpo como um objeto no seio dosdemais, em um universo espao-temporal e causal do qual elevem a tornar-se parte integrante na medida em que aprende aatuar eficazmente sobre ele. 10. Em resumo, a coordenao das aes do sujeito, inseparvel dascoordenaes espao-temporais e causais que ele atribui ao real, ao mesmo tempo fonte das diferenciaes entre este sujeito eos objetos, e desta descentralizao no plano dos atos materiaisque vai tornar possvel com o concurso da funo semitica aocorrncia da representao ou do pensamento. Mas essacoordenaomesmaacarretaum problemaepistemolgico,emboro ainda limitada a esse planode ao, e a assimilao recproca invocada para esse fim umprimeiro exemplo dessas novidades, a um tempo nopredeterminadas e vindo a ser, entretanto, "necessrias", e quecaracterizam o desenvolvimento dos conhecimentos. Importapois insistir nisto um pouco mais a partir do incio.A noo fundamental peculiar psicologia de inspiraoempirista a da associao que, assinalada j por Hume,permanece muito em voga nos meios consideradoscomportamentistas ou reflexolgicos, Contudo, esse conceito deassociao refere-se to-somente a um liame exterior entre oselementos associados, ao passo que a noo de assimilam(Eludes, vol. v, cap. III) implica a de integrao dos dados a umaestrutura anterior ou mesmo a constituio de nova estrutura soba forma elementar de um esquema. No que se refere a aesprimitivas, no coordenadas entre si, dois casos so possveis;no primeiro a estrutura preexiste por ser hereditria (por exemplo,os reflexos de suco) e a assimilao consiste apenas emincorporar-lhe novos objetos no previstos na programaoorgnica. No segundo caso, a situao imprevista: porexemplo, o lactente procura apreender um objeto pendurado,mas, no decorrer de uma tentativa frustrada, limita-se a toc-lo ese segue ento um balanar que lhe interessa como espetculoindito. Ento ele tentar consegui-lo novamente, donde o que sepoderia chamar uma assimilao reprodutora (fazer novamente omesmo gesto), e a formao de um incio de esquema. Empresena de outro objeto pendurado ele o assimilar a essemesmoesquema,donde uma assimilao recognitiva, e medida 11. que repita a ao nesta nova situao, uma assimilaogeneralizadora, e esses trs aspectos: repetio, reconhecimentoe generalizao poderem repetir-se de imediato. Uma vezadmitido isto, a coordenao das aes por assimilaorecproca que se tratava de apreender representa ao mesmotempo uma novidade em relao ao que precede e umdesenvolvimento do mesmo mecanismo. Pode-se reconhecer aduas fases, a primeira das quais , sobretudo, umdesenvolvimento: ela consiste em assimilar um mesmo objeto adois esquemas ao mesmo tempo, o que representa um comeode assimilao recproca. Por exemplo, se o objeto balanado ousacudido produz um som, pode tornar-se alternada ousimultaneamente uma coisa a contemplar ou algo a escutar,donde uma assimilao recproca que conduz entre outras coisasa agitar seja que brinquedo for para se dar conta de rudos quepossa emitir. Num caso como este o propsito e os meiospermanecem relativamente indiferenciados, mas numa segundafase em que ressalta a novidade, a criana atribuir um objetivoao seu gesto antes de poder atingi-lo e utilizar diferentesesquemas de assimilao a ttulo de meios para o conseguir;abalar por meio de sacudidelas, etc., etc.; o teto do bero parafazer balanar os brinquedos sonoros que ali se penduram e quecontinuam inacessveis mo, etc.Por modestos que sejam esses comeos, pode-se ver neles umprocesso em curso que se desenvolver cada vez mais depois: aelaborao de combinaes novas por meio de uma conjunode abstraes obtidas a partir dos prprios objetos ou, e isto fundamental, dos esquemas de ao que se exercem sobre eles. desse modo que o fato de reconhecer em um objeto penduradouma coisa a balanar comporta antes de mais nada umaabstrao a partir dos objetos. Por136137outro lado, coordenar meios e fins respeitando a ordem desucesso dos movimentos a realizar constitui uma novidade em 12. relao aos atos globais no seio dos quais meios e finspermanecem indiferenciados, mas esta novidade adquirida demodo natural a partir de tais atos por um processo que consisteem extrair deles as relaes de ordem, ajustamento, etc.,necessrias a esta coordenao. Nesse caso a abstrao j no mais do mesmo tipo e se orienta na direo daquilo quechamaremos abstrao refletidora.V-se desse modo que a partir do nvel sensrio-motor adiferenciao nascente do sujeito e do objeto se assinala aomesmo tempo pela formao de coordenaes e pela distinoentre duas espcies entre elas: de uma parte, as que reli gamentre si as aes do sujeito e, de outra as que dizem respeito saes dos objetos uns sobre os outros. As primeiras consistemem reunir ou dissociar certas aes do sujeito ou seusesquemas, as ajustar ou ordenar, p-las em correspondnciaumas com as outras, etc., em outras palavras: elas constituem asprimeiras formas dessas coordenaes gerais que esto na basedas estruturas lgico-matemticas cujo desenvolvimento ulteriorser to considervel. As segundas vm a conferir aos objetosuma organizao espao-temporal, cinemtica ou dinmicaanloga das aes, e seu conjunto fica no ponto de partidadessas estruturas causais cujas manifestaes sensrio-motorasso j evidentes e cuja evoluo subseqente to importantecomo a dos primeiros tipos. Quanto s aes particulares dosujeito sobre os objetos, em oposio s coordenaes gerais deque acabamos de tratar, elas participam da causalidade namedida em que nodificam materialmente esses objetos ou adisposio deles (as condutas instrumentais, por exemplo) e doesquematismo pr-lgico na medida em que elas dependem dascoordenaes gerais de carter formal (ordem, etc.). Desde antesda formao da linguagem, da qual certas escolas, como opositivismo lgico, exageraram a importncia quanto estruturao dos conhecimentos, v-se pois que estes seconstituem no plano da prpria ao com suas bipolaridadeslgico-matemtica e fsica, logo que, graas s coordenaes 13. nascentes entre as aes, o sujeito e os objetos comeam a sediferenciar ao afinar seus instrumentos de intercmbio. Mas estespermanecem ainda de natureza material, porque constitudos deaes, e uma longa evoluo ser necessria at suasubjetivao em operaes.II. O primeiro nvel do pensamento pr-operatrioDesde as aes elementares iniciais, no coordenadas entre si eno suficientes para assegurar uma diferenciao estvel entresujeito e objetos, s coordenaes com diferenciaes, realizou-se um grande progresso que basta para garantir a existncia dosprimeiros instrumentos de interao cognitiva. Mas estes estosituados ainda num nico e mesmo plano: o da ao efetiva eatual, isto , no refletida num sistema conceptualizado. Osesquemas de inteligncia sensrio-motora no so, com efeito,ainda concitos, pelo fato de que no podem ser manipuladospor um pensamento e que s entram em jogo no momento desua utilizao prtica e material, sem qualquer conhecimento desua existnciaenquanto esquemas, falta de aparelhos semiticos para osdesignar e permitir sua tomada de conscincia. Com alinguagem, o jogo simblico, a imagem mental, etc., a situaomuda, por outro lado, de modo notvel: s aes simples quegarantem as interdependncias diretas entre o sujeito e osobjetos se superpe em certos casos um novo tipo de aes, que interiorizado e mais precisamente conceptualizado: porexemplo, com mais capacidade de se deslocar de A para B, osujeito adquire o poder de representar a si mesmo essemovimento AB e de evocar pelo pensamento outrosdeslocamentos.Todavia, percebem-se primeira vista as dificuldades de talinteriorizao das aes. Em primeiro lugar, a tomada deconscincia da ao sempre parcial: o sujeito representar a simesma mais ou menos facilmente o trajeto AB assim como,muito por alto, os movimentos executados, mas o pormenor lheescapa e mesmo na idade adulta ter muita dificuldade de 14. traduzir em noes e de compreender com alguma preciso asflexes e extenses dos membros no decorrer desta marcha. Atomada de conscincia procede pois por escolha eesquematizao representativa, o que implica j umaconceptualizao. Em segundo lugar, a coordenao dosmovimentos AB, BC, CD, etc., pode atingir, no nvel sensrio-motor, a estrutura de um grupo de deslocamentos na medida emque a passagem de cada trajeto parcial ao seguinte orientadopelo reconhecimento de ndices perceptivos cuja sucessoassegura as ligaes; ao passo que, a querer se representarconceptualmente um tal sistema, tratar-se- de traduzir osucessivo numa representao de conjunto de elementos quasesimultneos. Tanto as esquematizaes da tomada deconscincia como esta condensao de aes sucessivas emuma totalidade representativa abrangem num nico ato assucesses temporais que conduzem ento a suscitar o problemadas coordenaes em termos novos, tais que os esquemasimanentes s aes sejam transformados em conceitos mveissuscetveis de ultrapassar a estes em os representando.De fato, seria muito mais simples admitir que a interiorizao dasaes em representaes ou pensamento consiste apenas emrefazer o seu curso ou imagin-las por meio de smbolos ou designos (imagens mentais ou linguagem} sem as modificar ou asenriquecer com isso. Em realidade esta interiorizao umaconceptualizao com tudo o que esta comporta detransformao dos esquemas em noes propriamente ditas, pormais rudimentares que elas sejam (no falaremos a este respeitoseno em "pr-conceitos"). Ora, uma vez que o esquema no seconstitui objeto de pensamento, mas reduz-se estrutura internadas aes, ao passo que o conceito manipulado pelarepresentao e pela linguagem, segue-se que a interiorizaodas aes pressupe sua reconstruo num plano superior e, emconseqncia, a elaborao de uma srie de novidadesirredutveis aos instrumentos do plano inferior. Basta para que seconvena disso constatar que aquilo que adquirido no nvel da 15. inteligncia ou da ao sensrio-motora no proporciona demodo algum primeira vista uma representao adequada noplano do pensamento: por exemplo, crianas de 4 a 5 anosexaminadas por A. Szeminska sabiam perfeitamente seguirsozinhas o caminho que as conduzia de suas casas escola e oinverso, mas sem ser capazes de representar esse cami-138nho por meio de um material que figurasse os principais pontosde referncia citados (edificios, etc.). De modo geral nossostrabalhos sobre as imagens mentais com B. Inhelder (A ImagemMental na Criana) mostraram o quanto elas permaneciamsujeitas ao nvel dos conceitos correspondentes em lugar defigurar livremente o que pode ser percebido de maneira imediataem matria de transformaes ou mesmo de simplesmovimentos.A razo essencial dessa defasagem entre as aes sensrio-motoras e a ao interiorizada ou conceptualizada que asprimeiras constituem mesmo no nvel em que h coordenaoentre vrios esquemas, uma seqncia de mediadoressucessivos entre o sujeito e os objetos mas de que cada umpermanece puramente atual; ela se acompanha j, verdade, deuma diferenciao entre esse sujeito e esses objetos, mas nemaquele nem estes so pensados na medida em que revestidos deoutros caracteres que os do momento presente. No nvel da aoconceptualizada, pelo contrrio, o sujeito da ao (trate-se do euou de um objeto qualquer) pensado com seus caracteresdurveis (predicados ou relaes), os objetos da aoigualmente, e a prpria ao conceptualizada na medida emque transformao particular entre muitos outros representveisentre os termos dados ou entre termos anlogos. Ela est,portanto, graas ao pensamento, situada num contexto espao-temporal bem mais amplo, o que lhe confere uma situao novacomo instrumento de troca entre o sujeito e os objetos: de fato, medida que progridem as representaes, as distnciasaumentam entre elas e seu objeto, no tempo como no espao, 16. isto , a srie das aes materiais sucessivas, mas cada qualmomentnea, completada por conjuntos representativossuscetveis de evocar num todo quase simultneo aes ouacontecimentos passados ou futuros assim como presentes eespecialmente distanciados assim como prximos.Disso resulta, de uma parte, que desde os comeos desteperodo do conhecimento representativo pr-operatrioassinalam-se progressos considerveis no duplo sentido dascoordenaes internas do sujeito, logo, das futuras estruturasoperatrias ou lgico-matemticas, e coordenaes externasentre objetos, Logo, causalidade no sentido amplo com suasestruturaes espaciais e cinemticas. Em primeiro lugar, comefeito, o sujeito torna-se rapidamente capaz de infernciaselementares, de classificaes em configuraes espaciais, decorrespondncias, etc. Em segundo lugar, a partir doaparecimento precoce dos "por qu?" assiste-se a um incio deexplicaes causais. H pois a um conjunto de novidadesessenciais em relao ao perodo sensrio-motor e no sepoderiam tornar responsveis por elas apenas as transmissesverbais, porque os surdos-mudos, embora em retarde em relaoaos normais falta de incitaes coletivas suficientes, delas noapresentam menos estruturaes cognitivas anlogas s dosnormais: trata-se pois de funo semitica em geral, provenientedo progresso da imitao (conduta sensrio-motora mais prximada representao, mas em atos), e no linguagem apenas sedeve atribuir este giro fundamental na elaborao dosinstrumentos de conhecimento. Em outros termos, a passagemdas condutas sensrio-motoras s aes conceptualizadas nose deve apenas vida social, mas tambm ao progrsso dainteligncia pr-verbal em seu conjunto e interiorizao daimitao139em representaes. Sem esses fatores prvios em parteendgenos, nem a aquisio da linguagem nem as transmisses 17. e interaes sociais seriam possveis, pois que constituem delasuma das condies necessrias.Mas, por outra parte, importa insistir tambm na questo doslimites dessas inovaes nascentes porque seus aspectosnegativos so de algum modo to instrutivos do ponto de vista daepistemologia quanto os positivos, ao nos mostra rem asdificuldades bem mais durveis do que parece em dissociar osobjetos do sujeito ou em elaborar operaes lgico-matemticasindependentes da causalidade e suscetveis de fecundar asexplicaes causais em conseqncia desta diferenciaomesma. Por que, com efeito, o perodo de 2-3 a 7-8 anospermanece pr-operatrio e por que, antes de um subperodo de5-6 anos em que o sujeito chega a uma semlgica (no sentidoprprio que analisaremos em breve), preciso at falar de umprimeiro subperodo em que as primeiras "funes constituintes"no esto ainda elaboradas? que a passagem da ao aopensamento ou do esquema sensrio-motor ao conceito no serealiza sob a forma de uma revoluo brusca, mas, pelocontrrio, de uma diferenciao lenta e laboriosa, que serelaciona s transformaes da assimilao.A assimilao, prpria dos conceitos em seu estado deacabamentorecaiessencialmentesobre os objetoscompreendidos por eles e sobre seus caracteres. Sem falar aindada reversibilidade nem da transitividade operatrias, ela vir porexemplo a reunir todos os A numa mesma classe porque elesso assimilveis por seu carter a a; ou a afirmar que todos os Aso tambm B porque alm do carter a possuem todos o carterb; pelo contrrio, nem todos os B so A, mas apenas alguns,porque nem todos apresentam o carter a, etc. Assim, estaassimilao dos objetos entre si que constitui o fundamento deuma classificao acarreta uma primeira propriedadefundamental do conceito: a norma do "todos" e do "alguns". Poroutro lado, na medida em que um carter x suscetvel de maise de menos (ou mesmo se ele exprime apenas uma co-propriedade e determina a copertena a uma mesma classe), a 18. assimilao inerente comparao dos objetos lhe atribuir umanatureza relativa e o peculiar desta assimilao conceptual igualmente constituir tais relaes ao ultrapassar os falsosabsolutos inerentes s atribuies puramente predicativas. Emcontrapartida, a assimilao peculiar dos esquemas sensrio-motores comporta duas diferenas essenciais com o queprecede. A primeira que, falta de pensamento ourepresentao, o sujeito nada conhece da "extenso" de taisesquemas, no podendo evocar as situaes no percebidasatualmente nem julgar situaes presentes a no ser em"compreenso", isto , por analogia direta com as propriedadesdas situaes anteriores. Em segundo lugar, esta analogiatambm no vem evocar estas, mas apenas reconhecerperceptivamente certos caracteres que desencadeiam ento asmesmas aes que essas situaes anteriores. Em outrostermos, a assimilao por esquemas envolve certas propriedadesdos objetos, mas exclusivamente no momento em que eles sopercebidos e de modo indissociado em relao s aes dosujeito aos quais correspondem (salvo em certas situaescausais em que as aes previstas so as dos prprios objetospor uma espcie de atribuio de aes anlogas s do140141sujeito). A grande distino epistemolgica entre as duas formasde assimilao por esquemas sensrio-motores e por conceitos pois que a primeira diferencia ainda mal os caracteres do objetodos caracteres das aes do sujeito relativas a esses objetos, aopasso que a segunda recai sobre os objetos s, porm ausentesdo mesmo modo que presentes, e de uma s vez liberta o sujeitode suas ligaes com a situao atual dando-lhe ento o poderde classificar, seriar, pr em correspondncia, etc., com muitomais mobilidade e liberdade.Ora, o ensino que o primeiro subestgio do pensamento pr-operatrio (de 2 a 4 anos) nos oferece que, de uma parte, osnicos mediadores entre o sujeito e os objetos so apenas pr- 19. conceitos e pr-relaes (sem norma para o "todos" e o "alguns"para os primeiros nem a relatividade das noes para ossegundos) e que, de outra parte e reciprocamente, a nicacausalidade atribuda aos objetos se conserva psicomrfica, pelaindiferenciao completa com as aes do sujeito.No que diz respeito ao primeiro ponto pode-se, por exemplo,apresentar aos sujeitos algumas fichas vermelhas e redondas ealgumas fichas azuis, das quais umas so redondas e outrasquadradas: nesse caso a criana responder facil mente quetodas as redondas so vermelhas, mas recusar admitir quetodas as quadradas so azuis "pois h tambm as azuis que soredondas". De maneira geral ela identifica facilmente duasclasses de mesma extenso, mas no compreende ainda arelao de subclasse da classe, por falta de uma norma para o"todos" e "alguns". Ainda mais, em numerosas situaes da vidacorrente ela ter dificuldade em distinguir diante de um objeto oupessoa x se se trata de um mesmo termo individual x quepermanece idntico a si mesmo ou dum representante qualquerde x ou xda mesma classe X: o objeto permanece assim a meiocaminho do indivduo e da classe por uma espcie departicipao ou de exemplaridade. Por exemplo, umameninazinha, Jaquelina, ao ver uma fotografia sua quando eramenor, dir que " Jaquelina quando ela era Luciana (= sua irmcaula)", ou ento uma sombra ou uma corrente de ar produzidassobre a mesa de experincia podem ser tambm "a sombra dedebaixo das rvores" ou "o vento" de fora como efeito individualdecorrente da mesma classe. Assim tambm, em nossos estudossobre a identidade (vol. XXIV dos Etudes), isto procede, nopresente nvel, por assimilaes semigenricas s aespossveis mais que em se fundando sobre os caracteres dosobjetos: as prolas dispersas dum colar desfeito so "o mesmocolar" porque se pode refaz-lo, etc.Quanto s pr-relaes, podem ser observadas em profusonesse nvel. Por exemplo, o sujeito A tem um irmo B, mascontesta que este irmo B tenha um irmo, pois so apenas "dois 20. na famlia". Um objeto A est esquerd de B, mas no podeestar direita de outra coisa, porque, se est esquerda, trata-se de um atributo absoluto incompatvel com qualquer posio direita. Se numa seriao tem-se A