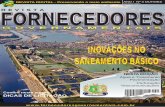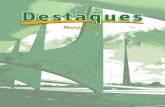kraychete O lugar das organizações não governamentais no entrecruzamento entre as noções de...
-
Upload
iraneidson-costa -
Category
Documents
-
view
13 -
download
1
Transcript of kraychete O lugar das organizações não governamentais no entrecruzamento entre as noções de...
CA
DER
NO C
RH
, Sal
vado
r, v.
25,
n. 6
5, p
. 251
-268
, Mai
o/A
go. 2
012
251
Elsa Sousa Kraychete
O LUGAR DAS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS NOENTRECRUZAMENTO ENTRE AS NOÇÕES DE
DESENVOLVIMENTO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL1
Elsa Sousa Kraychete*
DO
SS
IÊ
INTRODUÇÃO
Repensar os rumos do desenvolvimento, talcomo idealizado e implementado a partir do pós-Segunda Guerra, compõe as preocupações de or-ganizações internacionais e governos nacionais des-de o final dos anos 1960. A inflexão na trajetóriade crescimento continuado de muitas economiasdesenvolvidas desde o pós-guerra, verificável nocomportamento dos principais indicadoresmacroeconômicos nos países centrais e que já davasinais de que também se espraiaria para países nãocentrais, já era visível. A internacionalizaçãoalcançada pela economia com a expansão das em-
presas multinacionais, por um lado, como tam-bém a consciência na sociedade de países subde-senvolvidos que os frutos do desenvolvimentonão alcançaram a todos, por outro lado, põe emevidência que as medidas até então tomadas parao enfrentamento da crise não surtiam efeito,numa demonstração que os mecanismos deregulação já não atendiam à nova situação, pas-sando demandaria novas estratégias. SegundoOliveira (1999, p.136) “[...] o período crítico de-manda esforços que extrapolam os limites do anti-go modo de regulação, vicejando no seu decorrersucessivos intentos de inovação institucional.”
Em seus traços estruturais mais relevan-tes, a conjuntura à época, estava marcada por: 1)crise econômica que já atingia os países centraisdo capitalismo, depois de duas décadas de cres-cimento continuado, que ameaçava o sistema deregulação internacional montado a partir de BrettonWoods; 2) expansão dos investimentos via em-presas multinacionais em direção a alguns paísesem desenvolvimento, apontando para interdepen-dência econômica entre países, já se falando emuma economia global; 3) surgimento, em vinte
* Doutora em Administração. Professora do Instituto deHumanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos eo do Núcleo de Pós-Graduação em Administração da Uni-versidade Federal da Bahia.Rua Barão de Geremoabo, s/n. Ondina. Cep: 40170-240 -Salvador – Bahia – Brasil. [email protected]
1 Este artigo é parte da pesquisa O lugar do não governa-mental na proposição de um pacto social para o desen-volvimento: mudanças nas relações entre agências decooperação internacional e empresas europeias com or-ganizações não governamentais brasileiras, desenvolvi-da com o apoio da Fundação de Amparo a Pesquisa doEstado da Bahia – FAPESB.
A emergência de uma nova agenda internacional para o desenvolvimento, à qual correspondea proposição de um novo arranjo institucional de sustentação, contempla a participação domercado, do Estado e da sociedade civil. Nesse arranjo, a dicotômica concepção de Estadointerventor ou regulação social pelo mercado já não alcança a complexidade que a regulaçãosocial passa a demandar para atender às exigências da conjuntura da crise socioeconômica. Asproposições das organizações internacionais orientam na direção da construção de consensosque possam ser pactuados institucionalmente. As organizações não governamentais e as em-presas passam a ser consideradas como importantes nas concertações que visam a formulaçãoe implementação de políticas públicas. A partir de leitura de documentos oficiais, assim comode literatura acadêmica, numa perspectiva crítica, este artigo argumenta sobre os paradoxosque a proposição encerra.PALAVRAS-CHAVE: desenvolvimento, cooperação internacional para o desenvolvimento, organiza-ções não governamentais, responsabilidade social da empresa.
CA
DER
NO C
RH
, Sal
vado
r, v.
25,
65,
p. 2
51-2
68, M
aio/
Ago
. 201
2
252
O LUGAR DAS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS ...
anos, a contar do final da Segunda Guerra, desessenta novos países como resultado da desarti-culação do sistema colonial, demandando aten-ção especial num contexto internacional marca-do pela Guerra Fria.
Este artigo está organizado em três sessões,além desta introdução e das considerações finais.Na primeira se examina, a partir de documentosoriundos de organizações intergovernamentais in-ternacionais, as mudanças na agenda voltada àpromoção do desenvolvimento, do final dos anos1960 até o momento atual. Aponta-se para as re-percussões desse movimento no Sistema de Coo-peração Internacional entre países desenvolvidose países em desenvolvimento. A segunda parte tratados arranjos institucionais experimentados ao lon-go do período, buscando as relações entre a noçãode desenvolvimento que vai sendo explicitada e ochamamento para que organizações da sociedadecivil passem a integrar o pacto de sustentação dacooperação internacional para o desenvolvimen-to. Apresenta o discurso que contempla a partici-pação das ONGs e das empresas sob a rubrica daresponsabilidade social empresarial. A terceira partetrata da noção de sociedade civil e de visões neoins-titucionalistas e neocorporativistas que, em boamedida, estão nas raízes dos argumentos que tra-tam dos arranjos institucionais que contemplam aparticipação das Organizações Não Governamentais.
MUDANÇAS NO IDEÁRIO DO DESENVOLVI-MENTO E REDEFINIÇÕES NA COOPERAÇÃOINTERNACIONAL
Dois documentos, o Partners Development
e o Study of the capacity of the United Nation
Development System, produzidos, respectivamen-te, por demanda do Banco Mundial e do Programadas Nações Unidas para o Desenvolvimento-PNUD, vão apresentar questões que visam àredefinição de estratégias, propondo uma novasintonia entre as políticas voltadas para a retoma-da do desenvolvimento e cooperação internacio-nal. Em 1968, o recém-empossado presidente do
Banco Mundial, Robert McNamara, encomenda aLester B. Pearson2 a elaboração de um estudo so-bre o desenvolvimento mundial, o que resultouno Partners Development, mais conhecido comoInforme Pearson. Mais do que um estudo sobre odesenvolvimento econômico o Informe tambémdedica atenção à cooperação internacional. Orien-tado a compreender e propor medidas para ummundo que, ao mesmo tempo que se tornava maisinterdependente nas relações econômicas, apresen-tava incertezas quanto à sua coesão política, sejapelo aumento da pobreza nos países subdesenvol-vidos, seja pelo fim do regime colonial que viamuitos países recém-independentes abraçar as pro-postas terceiro mundistas e ou articularem-se como bloco soviético. Nas palavras do próprio Pearson(1970, p. 6), em discurso pronunciado perante osdirigentes do Banco Mundial e do Fundo MonetárioInternacional, quando da entrega oficial do Informe
“La división, la disparidad, la brecha entre ambosmundos está profundizándose y adquiriendocaracteres críticos. Todo esto ha llevado a muchos asacar negras conclusiones y prever consecuenciasterribles” . E acrescenta: “La tónica de nuestros tiemposes de duda y discordia” (idem. p. 8).
O documento recomenda medidas voltadaspara a modernização da agricultura, continuidadeda industrialização nos países em desenvolvimen-to e a abertura de tais países aos investimentosexternos, assim como aumento das suas exporta-ções. A modernização voltada para o aumento daprodutividade e a abertura dos mercados internosà concorrência externa não só são recomendadas,como também compõem a crítica ao modelo ante-rior de desenvolvimento pautado pelas políticasde substituição de importações com defesa domercado interno. A orientação é a consolidação deuma economia global de livre mercado, via expan-são das corporações multinacionais, e definição depolíticas que eliminassem os obstáculos à presença2 Lester B. Pearsons (ex- primeiro ministro do Canadá -
1963 a 1968 - e Prêmio Nobel - 1957) presidiu a comis-são responsável pela elaboração do estudo, compostapor mais sete membros: Edward Boyle (Reino Unido),Roberto de Oliveira Campos (Brasil), C. Douglas Dillon(Estados Unidos de América), Wilfried Guth (RepúblicaFederal de Alemanha), Arthur Lewis (Jamaica), RobertE. Marjolin (França) y Saburo Okita (Japão).
CA
DER
NO C
RH
, Sal
vado
r, v.
25,
n. 6
5, p
. 251
-268
, Mai
o/A
go. 2
012
253
Elsa Sousa Kraychete
de capitais externos nos mercados periféricos.Em sintonia com essa concepção de desenvol-
vimento, as diretrizes para a cooperação internacio-nal, segundo a leitura de Cox (1973, p.323) ficam as-sim orientadas:
La asistencia al desarrollo debe dirigirse a lacreación de las condiciones propicias para laexpansión de la economía global. La ayuda oficialcomplementaría a inversión privada (...). La ayudaoperaria también como un incentivo para que losgobiernos de los países pobres adoptasen políticascompatibles con una estrategia de crecimiento através de la inversión extranjera, un incentivo quese haría efectivo mediante una vigilancia multila-teral administrada y controlada por el Banco mun-dial y el FMI.
Ainda no que toca à cooperação internacio-nal para o desenvolvimento a menção ao aumentoda pobreza em países da América Latina, Ásia eÁfrica, vem acompanhada da prioridade ao aten-dimento às necessidades básicas, recomendaçãochave das organizações internacionais para as po-líticas de diminuição da pobreza nas décadas se-guintes, quando passa a propor intervenções deminoração da pobreza orientada por políticas foca-lizadas. Para isso recomenda o atendimento da metade 1% do PNB dos países ricos aos programas decooperação com os países pobres, embora consi-derasse irrealista que todos os países atendessema essa diretriz (Pearson, 1970, p. 12). Propõe queaté 1975, os países ricos deveriam, pelo menos,elevar o percentual de ajuda até atingir 0,7% doPNB e que uma proporção significativa dessa aju-da viesse de fontes públicas (avançasse dos 11%registrados à época para ao menos 20%,).3 Esteaumento representaria, segundo seus cálculos,US$ 1.500 milhões, enquanto o PNB dos paísesricos atingia US$ 120.000 bilhões. Mesmo sendocético quanto ao interesse dos países em atingir talmeta, conclui: “[...]estamos convencidos de quecon un nivel inferior de transferencias será
imposible llegar a los objetivos de desarrollo inter-nacional que nos hemos fijado” (Cox, 1973, p. 13).
Outra recomendação é que o Banco Mundi-al, juntamente com a Organização Mundial da Saú-de-OMS, iniciasse programa de mobilização inter-nacional de “controle da natalidade”. Da mesmaforma, “Las Naciones Unidas deberían designarun Comisionado de Población para ayudar a diri-gir los programas de control a la natalidad en lasdiversas organizaciones de Naciones Unidas.”(UNESCO, 1970, p. 17).
Para Cox (1973, p.312) o Informe Pearson,
no propósito de redefinir as políticas de coopera-ção internacional, está estruturada sob a ideia deque a ajuda ao desenvolvimento
[...] és una obligación moral de los países ricos ycomo una consecuencia necesaria delreconocimiento de la interdependencia de lospueblos en una ‘comunidad mundial’, y ofreceuna visión optimista de los resultados pasados elas perspectivas futuras de la ayuda como unmedio de promoción del desarrollo.
O Informe Jackson, por sua vez, tem comoprincipal propósito averiguar a efetividade da as-sistência internacional ao desenvolvimento con-cedida pela Organização das Nações Unidas – ONU– por meio das suas agências especializadas. Apre-senta diagnóstico pouco animador quando apontaa concorrência entre os projetos e a má gerênciados mesmos como responsáveis por perdas demontante em torno de 20% do total de recursosdestinados à cooperação internacional. Depois dedefender que a cooperação internacional estivessesubordinada aos “imperativos nacionais”, como“agregadas das metas nacionais”, o que poderiasugerir uma orientação diferente da apontada porPearson, passa, em seguida, a destacar a eficiência
do Banco Mundial em comparação com a verificadano Programa das Nações Unidas para o Desenvol-vimento - PNUD. Dado que o principal objetivodo Informe Jackson é a melhoria da eficiência daadministração da ajuda internacional, indica a re-organização do PNUD e a aproximação deste como Banco Mundial. Recomenda o fortalecimento daburocracia encarregada da administração da ajuda
3 A ajuda oficial dos países ricos ao desenvolvimento,segundo Cox (1973, p.311), aumentou rapidamente en-tre 1956 e 1961, com crescimento lento até 1967, pas-sando a declinar a partir do ano seguinte. No caso dosEstados Unidos, a ajuda oficial atingiu o máximo noinício da década de 1960, passando a diminuir a partir de1964-1965, em decorrência de críticas do Congresso.
CA
DER
NO C
RH
, Sal
vado
r, v.
25,
65,
p. 2
51-2
68, M
aio/
Ago
. 201
2
254
O LUGAR DAS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS ...
internacional, com base na implantação de uma“tecnoestrutura” para colher e sistematizar infor-mações detalhadas para subsidiar a elaboração emonitoramento das políticas de desenvolvimento(Cox, 1973).
Ambos os Informes pautam pontos centraisdas redefinições políticas sobre os rumos do de-senvolvimento a partir do início da década de 1990.A agenda social centrada na minoração da pobreza– o atendimento das necessidades básicas – e asorientações sobre a eficiência e a eficácia da coo-peração internacional que passam a dirigir a coo-peração na última década do século XX, naquelaépoca já estavam mencionadas.
Será na primeira metade da década de 1990,depois das políticas de ajustes e de reconfiguraçãodo Estado implementadas no decorrer dos anos80, sob a égide das condicionalidades colocadaspor agências internacionais aos países devedores,que Organizações Internacionais, o Banco Mundi-al à frente, passam a defender reorientações noideário que conduz as políticas de desenvolvimentocom uma nova abordagem da questão social. Nes-sa direção, os relatórios anuais do Banco Mundi-al, Desenvolvimento e Pobreza, relativos aos anos1990 e 1991, respectivamente, assim como o Rela-tório do Programa das Nações Unidas–PNUD, de1991, anunciam as novas diretrizes no que toca àstemáticas que dão título aos documentos. Em gran-des traços,4 depois de anunciar o desenvolvimen-to como “[...] o mais importante desafio enfrenta-do pela raça humana.” (BM, 1991, p.1), enumeraquatro ações norteadoras de um novo caminho parao desenvolvimento: investir no ser humano, pa-
trocinar ambiente favorável ao empreendedorismo,
integrar as economias com a dinâmica internacio-
nal e garantir a estabilidade macroeconômica.A pobreza, tomada como obstáculo ao de-
senvolvimento, será abordada a partir da noção dedesenvolvimento humano sustentável (PNUD,1991). Esta noção não tem por base a explicitaçãodas desigualdades (de renda e propriedade), mas
de igualdade de oportunidades, que proporciona-ria o acesso dos indivíduos aos bens e serviçosbásicos compensatórios das deficiências indivi-duais. A capacidade dos indivíduos completa anoção de desenvolvimento sustentável, já que asoportunidades equânimes ao capacitar os indi-víduos permitem que estes adquiram melhorescondições de alocação no mercado competitivo.A alteração positiva da renda permitirá que es-ses indivíduos satisfaçam suas necessidades bá-
sicas e, assim, superem o estado de pobreza.A partir dessas noções, explicita-se uma
agenda social na qual a questão do trabalho vaisendo, progressivamente, excluída. A articulaçãoda agenda social, a partir de então, passa a serorientada pela noção de pobreza, expressa comouma “nova pobreza”, a ser enfrentada por meio daeleição de grupos alvo com políticas focalizadasque visem, em primeiro lugar, o atendimento dasnecessidades básicas.5
Compõe, ainda, essa noção de desenvolvi-mento a reconfiguração territorial voltada para de-finir e implantar políticas para enfrentamento daquestão social: forte intervenção das organizaçõesinternacionais na arena social, antes tida como deresponsabilidade de entes nacionais, seja a partir dadefinição das questões prioritárias, seja por meio daconcessão de recursos financeiros específicos paraaplicação em projetos sociais e a ascensão do localcomo espaço privilegiado para a execução da políti-ca social (Clemente, 2010 e Merklen, 2010).
A abordagem da pobreza articulada como recorte territorial vai orientar a intervenção nosocial a partir da noção de proximidade e a in-tervenção baseada em microprojetos. Nessa di-reção, os anos 1990 ficaram marcados por açõesfocalizadas sobre populações e territórios deli-mitados. São exemplos, as políticas de transfe-rência de renda, dirigidas aos mais pobres e demicrofinanças, para a parcela dos pobres, já inse-
4 Apresentei análise mais detalhada das proposições doBanco Mundial sobre o desenvolvimento e as políticasde minoração da pobreza em Kraychete (2006).
5 Entre os anos 1980 e 1990, o debate sobre a pobrezaorientado pelo Banco Mundial e organismos da ONU,ficou também marcado pela disputa sobre a melhormetodologia para identificar os pobres e a emergência deaparato estatístico capaz de melhor quantificar a pobre-za, deixando, no entanto, de contemplar análises sobreas causas da pobreza.
CA
DER
NO C
RH
, Sal
vado
r, v.
25,
n. 6
5, p
. 251
-268
, Mai
o/A
go. 2
012
255
Elsa Sousa Kraychete
ridos no mercado. No fim dessa década, início dosanos 2000, a essas noções são acrescidas as ideiasde capital social e empowerment, entendidas comoforma de elevar a participação dos pobres naimplementação das políticas sociais. A Declaraçãodo Milênio, proclamada em 2000, pelos estadosmembros da ONU, orienta a definição dos Objeti-vos de Desenvolvimento do Milênio, que procuratornar mais precisas as orientações que, de manei-ra dispersa, vinham sendo colocadas ao longo dadécada passada. O documento apresenta oito ob-jetivos a serem alcançados até 2015, num esforço aser levado a cabo por órgãos governamentais,corporações empresariais e a sociedade civil.
À medida que a agenda do desenvolvimen-to foi sendo redefinida, também a forma de coope-rar passa a ser reavaliada. Já em 1996, o Comitê deAjuda ao Desenvolvimento/OCDE publica o rela-tório Shaping the 21st Century; the role of
development cooperation, no qual as proposiçõesde busca da eficiência e da eficácia são apontadascomo o caminho para a recuperar o prestígio dacooperação internacional para o desenvolvimen-to. Mas será nos anos 2000 que organizações dacooperação internacional imprimirão a marca daeficiência e da eficácia em suas ações. A Conferên-
cia Internacional sobre o Financiamento do De-
senvolvimento, organizada pelas Nações Unidas erealizada em Monterrey/México, em 2002, inaugu-ra a temporada de uma série de eventos voltadospara o debate sobre a Ajuda Oficial ao Desenvolvi-mento – AOD. O Consenso de Monterrey, tidocomo marco na reforma do sistema de cooperaçãointernacional, orienta a AOD para atender as me-tas de Desenvolvimento do Milênio explicitadasna busca de: novas estratégias de minoração dapobreza; renovação das fontes de financiamento;novas parcerias; e, harmonização de procedimen-tos, entre as mais importantes proposições (Na-ções Unidas, 2002).
Os Fóruns de Alto Nível,6 realizados nosanos seguintes, dos quais resultaram a Declaração
de Roma sobre a Harmonização (2003), Declara-
ção de Paris sobre a Eficácia da Ajuda (2005), Agen-
da de Ação de Acra (2008) e Declaração de Busan
(2011), definem os compromissos a serem pactua-dos que, em linhas gerais, podem ser sintetizadoscomo: harmonização das políticas tanto em âmbi-to internacional como nacional e busca da eficiên-
cia e eficácia na gestão dos projetos e apuraçãodos resultados. Tais diretrizes implicaram em mai-or poder das organizações internacionais sobre osparceiros nacionais, assim como, a aplicação demetodologias de gestão de projetos tomadas deempréstimo das corporações privadas.
Essas mudanças trouxeram implicações naforma de conceber e realizar a cooperação interna-cional para o desenvolvimento explicitadas a par-tir das redefinições do papel a ser desempenhadopelo Estado, pelo mercado e pela sociedade civil.
A CONSTITUIÇÃO DE ARRANJOSINSTITUCIONAIS NA BUSCA DE SINTONIAENTRE O IDEÁRIO DO DESENVOLVIMENTO EA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA ODESENVOLVIMENTO COM A PARTICIPAÇÃODA SOCIEDADE CIVIL
A condução política a partir de tais diretri-zes implica repensar o pacto político constituídono imediato pós-Segunda Guerra, que articulavaempresas e sindicatos de trabalhadores, sob a co-ordenação do Estado. Na retórica atual, caberia àsorganizações internacionais propor interações so-ciais com vista ao estabelecimento de consensoscapazes de sustentar a emergência de um novomodelo de desenvolvimento (Banco Mundial,1997). Sob essa perspectiva, o desempenho domercado e do Estado são reavaliados. Na segundametade da década dos 90, o Banco Mundial passaa divulgar o discurso em que se afasta de umavisão minimalista de Estado, como constava dedocumentos publicados anteriormente, para pas-sar a redefinir o seu papel. O discurso da organi-zação afirma que é preciso reajustar a função doEstado a sua capacidade. O Estado passa à condi-ção de “[...]essencial para a implementação dos fun-
6 Uma detalhada análise sobre os Fóruns de Alto Nível sobrea Eficácia da Ajuda pode ser encontrado em Pessina (2012).
CA
DER
NO C
RH
, Sal
vado
r, v.
25,
65,
p. 2
51-2
68, M
aio/
Ago
. 201
2
256
O LUGAR DAS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS ...
damentos institucionais apropriados aos mercados”(Ibidem, p. 4).
As mudanças verificadas no discurso doBanco Mundial procuram responder, por um lado,à constatação de que o modelo de regulação, baseinstitucional do desenvolvimentismo que vigorouentre o imediato pós-guerra até o final dos anos1970, já não atendia às demandas atuais e, por ou-tro lado, as evidências de que a regulamentação pelavia exclusiva do mercado, preconizada a partir dosanos 1980, foi incapaz de encaminhar saídas efeti-vas para a crise. As inflexões até aqui apontadassignificam mudanças no eixo que define o lugar doEstado e o do mercado na coordenação da atividadeeconômica, como colocado no pacto que coorde-nou o período desenvolvimentista. Mas, vai maislonge, ao explicitar a importância de evitar os con-flitos em momentos de crise e indicar o caminho daparticipação da sociedade civil, na conformação deum pacto institucional capaz de gerar consensoquanto à nova proposição de políticas voltadas parao desenvolvimento, segundo o então economistachefe do Banco Mundial, Joseph Stiglitz (2003).Sustentado por uma macroeconomia de fundamen-tos microeconômicos e pela mobilização de noçõescomo capital social e boa governança, vai-se con-formando discurso no qual é cada vez mais pre-sente o chamamento à participação de organiza-ções da sociedade civil. Nesse contexto, é que pas-sa a ser valorizada a presença de empresas, sob arubrica da responsabilidade social, e de Organiza-ções Não Governamentais – ONGs - em novas for-mas de interação, no âmbito das políticas sociais.
O discurso das organizações internacionaiscom vista à participação de ONGs em arran-jos institucionais
A relação de ONGs com organizaçõesintergovernamentais internacionais não é fato novo,compõe, mesmo que de forma pouco expressiva,se comparado com a visibilidade atual, os arranjosinstitucionais do pós-guerra. Num mundo em dis-puta pelos movimentos da Guerra Fria e desmonte
do sistema colonial, foram criadas muitas organi-zações não governamentais com atuação internacio-nal.7 Na Carta Constitutiva da ONU, artigo 71, estáprevisto que o Conselho Econômico e Social –ECOSOSC – poderia, por meio de um ComitêConsultivo, estabelecer relação com ONGs, a par-tir de temas da suas competências. Mas será a par-tir dos anos 1970, já no contexto de crise do siste-ma regulatório, que as ONGs passam a ser incor-poradas pelas organizações internacionaisintergovernamentais em fóruns internacionais apartir das proposições da boa governança.
A Conferência de Estocolmo sobre MeioAmbiente, em 1972, na qual participaram 250ONGs é tomada como um marco de novas formasde interação entre organizações governamentais enão governamentais. A consolidação da conduçãoda agenda social por meio de políticas focalizadasimpulsiona a cooperação entre ONGs e agênciasespecializadas, a exemplo do UNICEF, UNESCO,FAO, entre outras (Rabotnikof, Riggiozzi e Tussie,2000). Mas será a partir dos anos 1990, com confe-rências organizadas pela ONU com temas que com-põem a nova agenda do desenvolvimento, que aparticipação das ONGs ganha maior visibilidade.Durante a década foram realizadas as seguintesconferências: Meio Ambiente e Desenvolvimento
(Rio, 1992), Direitos Humanos (Viena, 1992), Po-
pulação e Desenvolvimento (Cairo, 1994), Desen-
volvimento Social (Copenhague, 1995), Mulher e
Gênero (Pequim, 1995), Estabelecimentos Huma-
nos (Istambul, 1996). Este ciclo é completado coma conferência realizada em Durban, em 2001,organizada sob o tema Contra o Racismo, discrimi-
nação racial, xenofobia e intolerância.
7 O debate sobre os rumos do desenvolvimento e os seusefeitos sobre as regiões periféricas, a partir dos anos 1950,motivou grupos políticos, na Europa especialmente, aconstituir organizações dessa natureza para o trabalhode solidariedade com o então chamado Terceiro Mundo.A solidariedade, nesse âmbito, verificava-se por meio doapoio financeiro a projetos implementados por movi-mentos ou Organizações Não Governamentais em paí-ses periféricos, como também a partir de campanhas dedenúncias, em nível internacional, os efeitos das políti-cas de desenvolvimento sobre suas populações nos pa-íses pobres. Na América Latina, entre os anos 1970 e1980, foi significativa a participação dessas organizaçõesinternacionais nas denuncias sobre a violação de direi-tos no período das ditaduras.
CA
DER
NO C
RH
, Sal
vado
r, v.
25,
n. 6
5, p
. 251
-268
, Mai
o/A
go. 2
012
257
Elsa Sousa Kraychete
Os Foros Paralelos, realizados no decorrerdas conferências oficiais, são também momen-tos especiais no estabelecimento de consensos,envolvendo a sociedade civil. Esses são espaçosprivilegiados para a inserção das ONGs no cená-rio internacional globalizado e, em certa medida,inaugurando a “diplomacia não governamental”,que também envolve empresas a partir da rubri-ca da Responsabilidade Social Empresarial. Astemáticas por meio das quais são articuladas as re-feridas Conferências estão estreitamente relaciona-das com os direitos sociais, numa conjunturamarcada pela reforma no Welfare State e de buscade uma agenda de governabilidade global de longoprazo. Em tais Conferências vão sendo delineadosos temas transversais a um novo ideário de desen-volvimento: o desenvolvimento sustentável, aminoração da pobreza, o desenvolvimento com aperspectiva de gênero e a luta contra o racismo e axenofobia, entre os temas mais destacados.
A responsabilidade social das empresas comoparte de arranjos institucionais
A participação da empresa, sob a rubrica daresponsabilidade social, também compõe a noção degovernança das organizações intergovernamentaisinternacionais. A ONU, em 1999, no Fórum Econô-mico Mundial, em Davos, constitui o Pacto Global.8
Trata-se de um mecanismo global que busca o com-promisso das empresas de forma a contribuir para oatendimento da agenda do desenvolvimento. Asempresas signatárias do Pacto comprometem-se, vo-luntariamente, a adotar e a implementar um conjun-to de dez princípios em suas práticas corporativasindividuais e a apoiar iniciativas de políticas públi-cas complementares: respeitar os direitos humanos;respeitar os direitos do trabalho; abolir o trabalhoforçado ou compulsório; erradicar o trabalho infan-til; eliminar a discriminação no ambiente de traba-lho; respeitar os princípios de proteção ambiental;combater à corrupção (Pacto Global, 2010).
Em revisão histórica, os primeiros estudossobre a responsabilidade social da empresa apare-cem a partir da década de 1970, como parte de umconjunto de preocupações com os limites do cres-cimento, com as mudanças sociais decorrentes deforte reestruturação produtiva e de introdução eincorporação da tecnologia da informação nos pro-cessos produtivos, como pode ser observado emHirshman (1970), Touraine (1992) e Castel (1995).Segundo Borzeix (1986, apud Cappelli e Gifini,2010), a reabilitação da empresa no sistema socialparece associar-se ao conjunto de alterações daprópria sociedade no momento em que emergemnovas estruturas produtivas e redefinições no pa-pel do Estado na sociedade. No primeiro movi-mento, aparece restrita ao setor produtivo e buscadiálogo entre empregadores e empregados, com oobjetivo de alcançar maior eficácia e criatividadeno trabalho. A partir dos anos 1980, na conjuntu-ra marcada pela ascensão dos governos de orienta-ção liberal na condução da política social, o dis-curso sobre a responsabilidade corporativa é acres-cido de uma versão de entendimento de negóciosassociados à responsabilidade social da empresa.Sob uma retórica moral baseada na ética pretendiadeixar para trás o discurso da filantropia, a partirde um engajamento individual do empresário, quemarcou o debate em torno do tema até as décadaspassadas, para assumir a estratégia de participaçãodas corporações na política, como uma missãoinstitucional (Carrol e Buchholtz, 2000; Baron, 2001).
Na busca de parâmetros internacionalmen-te reconhecidos, as próprias corporações em asso-ciação com organizações de consultoria, vão pro-mover iniciativas que vêm orientando a regulaçãoda responsabilidade social da empresa:§ Social Accountabilit 8000 – lançado em 1997
pela ONG norte-america Social Accountability
International (SAI). Trata-se de um padrão vo-luntário de monitoramento e certificação paraavaliar a gestão das condições de trabalho na ca-deia produtiva das empresas, com o objetivo deatestar a não-existência de ocorrências anti-soci-ais. Desenvolvida com base nos preceitos da OIT,é uma das normas internacionais mais utiliza-
8 Uma análise detalhada do Pacto Global pode ser encon-trada em Aragão (2010).
CA
DER
NO C
RH
, Sal
vado
r, v.
25,
65,
p. 2
51-2
68, M
aio/
Ago
. 201
2
258
O LUGAR DAS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS ...
das para certificações de sistemas de gestãosocioambientais. É considerada o primeiro padrãoglobal de certificação de responsabilidade socialdas empresas. Enfatiza, primordialmente, relaçõestrabalhistas a exemplo do trabalho infantil força-do, trabalho escravo ou discriminação com rela-ção a trabalhadores portadores de necessidadesespeciais, opções sexuais e religiosas dos funcio-nários, fornecedores, clientes etc (DIAS, 2006). Oobjetivo da SA 8000 é garantir a completa adoçãopela empresa das exigências legais, a valorizaçãodo trabalhador e o melhoramento contínuo dascondições de trabalho em toda a cadeia de valorda empresa, além da correta gestão da imagemcorporativa. A certificação pela SA 8000 já vemocorrendo em mais de 40 países e para mais de22 diferentes ramos industriais. No Brasil, aindanão alcança uma centena o número de empresascertificadas pela SA8000.
§ Global Reporting Initiative (GRI) – iniciativa coor-denada pela Coalition for Environmentally
Responsible Economies (Ceres), apresentou, em1999, uma proposta de padrão internacional paraelaboração de relatórios focados na sustentabilidade,abordando as dimensões econômica, social eambiental de suas atividades. Trata-se de um es-forço internacional, envolvendo empresas e orga-nizações da sociedade civil, dirigido ao estabeleci-mento de normas e padrões para orientar a elabo-ração de relatórios empresariais de sustentabilidadesocial e ambiental (Tachizawa, Andrade, 2008).
§ Accountability 1000 (AA 100) – proposta, em 1996,pelo Accountability Institute of Social and Ethical
Accountability de Londres. Visa a orientar na di-reção de um padrão de gestão das relações dasempresas com suas partes interessadas, incluin-do as relações trabalhistas, com o objetivo de com-plementar as diretrizes do relatório do Global
Reporting Initiative (GRI) e aperfeiçoar a produ-ção de relatórios de responsabilidadesocioambiental. Esta certificação de cunho socialenfoca principalmente a relação da empresa comseus diversos stakeholders (Oliveira, 2008).
§ Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) –lançado nos Estados Unidos em 1999, como o
primeiro índice mundial a acompanhar aperformance financeira de ações de empresas lí-deres em responsabilidade socioambiental, ne-gociadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque.Tal índice apresenta, na média, valorização su-perior aos outros criados pela mesma bolsa(Tenório, 2004).
§ FTSE 4 Good – Lançado em Londres, constituioutra iniciativa de índice de empresas socialmenteresponsáveis, semelhante ao DJSI World, foi acriação do FTSE 4 Good – pela Bolsa de Lon-dres. Em 2003, após a inclusão de novos critéri-os, o FTSE 4 Good acolheu 75 novas empresas eexcluiu 29 companhias da lista. Os novos crité-rios adotados pelo índice em 2003 exigem a cla-ra divulgação, pelas empresas, de suas políticasambientais e de direitos humanos e trabalhistas(Soares, 2008).
§ Princípios do Equador para o Investimento Res-
ponsável de Instituições Financeiras - iniciativalançada em Washington, em 2003, peloInternational Finance Corporation (IFC), o bra-ço do Banco Mundial voltado para financiamen-to privado, prevê adesão voluntária, em que ossignatários se comprometem a analisar e gerir osriscos socioambientais das suas carteiras de pro-jetos financiáveis. Adotados atualmente por maisde uma centena de bancos em todo o mundo,esses princípios colocam regras para análise, clas-sificação e gestão de riscos socioambientais as-sociados a operações de project finance. Nessesistema, as operações de crédito recebem notasque variam de A a C, sendo que os empréstimosclassificados com notas A e B são consideradosde alto e médio riscos, respectivamente. Assim,para receber o empréstimo, esses projetos de-vem ter um plano de gestão social e ambiental,com medidas para mitigação, monitoramento egerenciamento de riscos (Oliveira, 2008).
§ A ISO 26000 - iniciada em 2004, sob a responsabi-lidade de um comitê técnico liderado por repre-sentantes brasileiros e suecos, esta norma de RSEestabelece um padrão internacional de sistema degestão e certificação de empresas em torno da res-ponsabilidade social. Isto é, um conjunto integra-
CA
DER
NO C
RH
, Sal
vado
r, v.
25,
n. 6
5, p
. 251
-268
, Mai
o/A
go. 2
012
259
Elsa Sousa Kraychete
do de ações que uma organização deve assumirpara mitigar os seus impactos na sociedade e nomeio ambiente. Esse conjunto integrado de açõesdeve ser consistente com os interesses da socie-dade e do desenvolvimento sustentável e basea-do nos comportamentos ético, moral e legal. Estanorma mundial enfatiza os resultados do desem-penho das empresas quanto à responsabilidadesocial, aproveitando-se de todos os padrões enormas já estabelecidas como a SA8000, AA1000,Pacto Global e o GRI (Inmetro, 2010).
A Organização para a Cooperação e Desen-volvimento Econômico (OCDE) e a OrganizaçãoInternacional do Trabalho (OIT), em articulação fazrepercutir essas ideias internacionalmente. Noâmbito da União Europeia constam da Carta dos
Direitos Fundamentais da União Europeia (2000)os seguintes objetivos quando aborda a temáticada responsabilidade social da empresa: estimularcomportamento socialmente responsável, indo alémdas prescrições legais, com envolvimento em prá-ticas voluntárias como parte de seus interesses demais longo prazo; considerar que a responsabili-dade social é intrinsecamente conectada ao con-ceito de desenvolvimento sustentável: as empre-sas deveriam integrar os efeitos econômicos, soci-ais e ambientais nas suas práticas de gestão; e,perceber que a responsabilidade social não é umaopção a ser acrescida às atividades centrais daempresa, mas está vinculada a escolhas e desafiosde sua gestão interna (Cappelli; Giffoni, 2010).
A emergência do discurso e das práticas decondução da questão social conduzidos pelas ideiasneoliberais repolitiza a empresa que, inserida noambiente da “nova cidadania”, deixa de aparecercom uma entidade que tem entre os seus princi-pais objetivos a obtenção do lucro.
União Europeia: um exemplo de concertaçãocom vista à interação Estado e sociedade civil
O novo ideário de desenvolvimento, tra-çado internacionalmente, vai, ao longo do tem-po, assumindo as suas feições regionais, seja nasredefinições institucionais internas a cada espaço
nacional e ou regional, seja na definição da políti-ca exterior, envolvendo a política de cooperaçãopara o desenvolvimento. Nesse aspecto, a UniãoEuropeia articula seu discurso buscando diferen-ciar-se quando se pergunta sobre o seu papel emum mundo em transformação. Na tentativa demarcar uma identidade própria no cenário inter-nacional, em seus documentos constitutivos, aEuropa unida como entidade política procura de-finir-se como uma “potência civil e ética”, numatentativa de diferenciação com a força militar etecnológica dos Estados Unidos, conforme assina-lam Sotillo (2004) e Barbé (2005). Não é sem trope-ços que a Europa unida busca atingir a este objeti-vo, dado que os passos mais largos na direção daunião interna e das suas relações externas são,predominantemente, guiados por diretrizes econô-micas, pouco sintonizados com uma agenda polí-tica dirigida pela ética e respeito aos direitos hu-manos (Laidi, 2005).
No que toca especificamente à política decooperação para o desenvolvimento, muitos paí-ses europeus, desde o final da Segunda Guerra,mantêm presença marcante no cenário mundial noque diz respeito a essa modalidade de cooperação,em especial, com países que integraram o seu anti-go sistema colonial. A constituição da UniãoEuropeia põe a cooperação para o desenvolvimen-to como um dos pilares da ação exterior da União.A política exterior europeia fica definida, segundoEchart (2008, p.139), a partir dos seguintes pon-tos:
vínculo entre comércio e desenvolvimento,integração e cooperação regional; apoio às políti-cas macroeconômicas e fomento de acessoequitativo aos serviços sociais; transportes; segu-rança alimentar e desenvolvimento rural susten-tável; e fortalecimento das capacidadesinstitucionais.
Constituem temas transversais a essa polí-tica os direitos humanos, a igualdade entre ho-mens e mulheres, os direitos das crianças e a pro-teção ao meio ambiente. A aplicação da políticaexterna, além do mais, passa a ser orientada pelosinteresses econômicos que se expressam de ma-
CA
DER
NO C
RH
, Sal
vado
r, v.
25,
65,
p. 2
51-2
68, M
aio/
Ago
. 201
2
260
O LUGAR DAS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS ...
neira regionalizada em distintos agrupamentos depaíses: África, Caribe e Pacífico – ACP; Países daEuropa Central e Oriental – PECOS; Novos Esta-dos Independentes – NEI; América Latina e Ásia– ALA; e Mediterrâneo.
Nas diretrizes que orientam as ações exter-nas da política de cooperação para o desenvolvi-mento, em sintonia com as diretrizes das organi-zações da cooperação internacional, atenção es-pecial é dada para a relação entre coerência e efi-
cácia. A orientação é: partir de programas estratégi-cos, melhorar a eficácia da cooperação, evitando osolapamento dos resultados almejados. Para isso,tornam-se necessários clareza de objetivos e desdo-bramentos da política proposta, com a simplifica-ção e melhoria dos instrumentos voltados para apolítica de cooperação para o desenvolvimento(Comissão Europeia, 2005).
Na constituição da União Europeia e nos acor-dos entre países membros a sociedade civil é toma-da como importante na definição e implementaçãodas políticas de cooperação. A ideia da participaçãoda sociedade civil no contexto europeu não é umanovidade, acompanha a história da União desde oTratado de Roma (1957), quando da criação do Con-selho Econômico e Social – CESE, como o lugar deexpressão da sociedade civil organizada em nível eu-ropeu. No correr do tempo, e já no contexto de umanova concepção de desenvolvimento, o discurso so-bre a importância da participação da sociedade civil éaprimorado como elo de comunicação entre esta e or-ganizações governamentais. O CESE, assim, vai se cons-tituindo em foro de diálogo e lugar de concertação.Em 2008, a organização estava constituída por 222representantes de organizações de empresários, traba-lhadores, cooperativas, consumidores, ambientalistas,associações e ONGs, entre outros (Echart, 2008).
O CESE, no momento, assessora o Conselho,a Comissão e o Parlamento europeus. Com esse fim,a organização conta com seções especializadas, caben-do destacar aqui a de Relações Exteriores – REX. Énesse âmbito que se verifica a extensão do conceito derelações internacionais de relações entre Estados naci-onais para as de sociedade a sociedade, como subli-nha Echart (2008). O CESE cumpre papel de organi-
zar o diálogo estruturado entre os países membros daUE como também com os países e ou regiões nãoeuropeias. Esse desenho institucional repercute naorganização da sociedade civil de forma a redefini-la, apartir da criação de redes constituídas por organiza-ções sociais.
É com tal base institucional que a coopera-ção para o desenvolvimento, no decorrer da dé-cada de 2000, vai sendo redesenhada de forma areafirmar a busca de maior coerência entre os ob-jetivos da cooperação para o desenvolvimento e amelhoria da eficiência e da eficácia, conformeresultam das concertações entre as organizaçõesinternacionais para o desenvolvimento. Três even-tos são destacados dentre os mais significativos paraas definições estratégicas da UE: 1) a comunicaçãoda Comissão sobre a Participação dos atores não
estatais na política comunitária de desenvolvimen-
to, de 2002, que ressalta a importância da participa-ção, em especial, das Organizações da SociedadeCivil – ONGs – como interlocutoras na constituiçãode um novo arranjo institucional; 2) a consulta so-bre a participação dos agentes não estatais, realiza-da em 2005, consubstanciada no documento Apoio
aos agentes não estatais no setor do desenvolvimen-
to - programa temático no contexto das perspectivas
financeiras de 2007-2013, quando a UE volta a res-saltar a contribuição dos agentes não estatais na cons-tituição da confiança e da solidariedade como ele-mento essencial a uma política de cooperação parao desenvolvimento. Esse entendimento é recomen-dado não apenas em nível regional como tambémda relação com os países em desenvolvimento. Emsíntese, entre os cidadãos da UE, dos países que jáintegram a União, os países candidatos e nas suasrelações externas. É ressaltada ainda que a UE in-tensifique seu apoio à criação de capacidades dosagentes não estatais com o fim de fortalecer sua voza partir do diálogo político, social e econômico; 3) aDeclaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda ao
Desenvolvimento. Apropriação, harmonização, ali-
nhamento, resultados, responsabilidade mútua, aquijá referida.
CA
DER
NO C
RH
, Sal
vado
r, v.
25,
n. 6
5, p
. 251
-268
, Mai
o/A
go. 2
012
261
Elsa Sousa Kraychete
A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NOARRANJO INSTITUCIONAL PARA CONSOLI-DAR UMA NOVA REGULAÇÃO SOCIAL PARAO DESENVOLVIMENTO
A leitura sobre a emergência do não gover-
namental nas proposições de enfrentamento dacrise e na concepção de uma nova estratégia dedesenvolvimento é realizada a partir de perspecti-vas teóricas diversas.
Observa-se que não é a primeira vez que ocapitalismo busca novos modos de regulação. Aocontrário, cada modelo de desenvolvimento forjaa sua própria regulação, devendo dar conta dosseus desdobramentos durante a sua vigência. Acrise dos anos 1970 e as consequentes mudançasnas diretrizes de condução da economia passarama demandar novas formas de regulação. As críti-cas ao modelo anterior e as terapias anunciadascomo caminho para a retomada do crescimento eco-nômico promoveram as privatizações das empresasestatais, as desregulamentações financeiras e domercado de trabalho, além da abertura comercialexterna em favor da livre circulação das mercadori-as. Desfez o padrão de financiamento público queprometia o bem-estar social via universalização dosserviços de saúde e educação, mas que podia tam-bém se estender aos subsídios ao transporte e aolazer, entre outros. Tais medidas manifestam a fal-ta de sintonia, na nova conjuntura, entre o capitale a regulação desenvolvimentista, característica doperíodo anterior. Para Oliveira (1999, p. 137) emmomentos como esse, “[...] os instrumentos deregulação disponíveis perdem eficácia, na mesmamedida em que não mais conseguem funcionarcomo contraponto dos efeitos cíclicos desfavorá-veis”. A questão, então, passa a ser: quais os me-canismos de coordenação a partir dos quais os agen-tes tomam e ou ajustam as suas decisões?
Passado o momento caracterizado pelas crí-ticas dirigidas para a desconstrução do antigo modode regulação, no âmbito das Organizações Interna-cionais são ensaiados os primeiros passos visan-do à montagem de parâmetros para uma novaregulação. Não raro, dar execução a políticas
desenvolvimentistas, ao afetar crenças e valoresculturais, traz conflitos. Os momentos de transiçãonem sempre são socialmente pacíficos, pois signifi-cam mudanças de hegemonias, podendo envolverchoques entre forças sociais importantes. É hora,então, de firmar novos ideários que venham desfa-zer, refazer e constituir institucionalidades. Amobilização da sociedade civil com vista à partici-pação é preconizada de forma a estabelecer sintoniacom a habilidade das organizações sociais paraarbitrar conflitos.
No nível teórico, a perplexidade, depois dedécadas de experiências desenvolvimentistas como Estado articulando e comandando as ações es-tratégicas, não era menor que as expressas diantede uma realidade de explícita incapacidade dasagências estatais, a partir da implementação depolíticas para domar a crise. O impasse, dessa for-ma, também se verifica no plano da teoria. ParaOliveira (2004), a saída, em busca de um caminhoteórico capaz de alicerçar mudanças estratégicas,passa por redefinições de posições quanto ao pa-pel do Estado no processo sociopolítico. Os im-pulsos nessa direção fogem da dicotomia Estadointerventor ou regulação social pelos mercados. Abusca de institucionalidades que articulem o Esta-do, o mercado e a sociedade civil, é estimuladacomo uma alternativa.
No decorrer dos anos 1980, a análise econô-mica que serviu de base à interpretação e busca desaídas da crise foi predominantemente conduzidapela corrente neoclássica, que tem no mercado, pormeio do sistema de preços, o mecanismo queviabiliza o equilíbrio. As organizações, nessa ma-triz teórica, são tomadas como exógenas e deracionalidade limitada. A complexidade que alcan-çou a economia globalizada, num ambiente marca-do por incertezas, foi apontando a insuficiênciade tal teoria para indicar caminhos que debelas-sem a crise ou que minorassem os seus efeitos sobrepaíses e grupos sociais.
A reação à inércia da teoria neoclássica já épatente no início dos anos 1990, quando correntesinstitucionalistas propõem uma matriz teórica queleve em conta as instituições, mesmo que se obser-
CA
DER
NO C
RH
, Sal
vado
r, v.
25,
65,
p. 2
51-2
68, M
aio/
Ago
. 201
2
262
O LUGAR DAS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS ...
ve que nem sempre o objetivo de afastar-se dos prin-cípios do neoclassicismo seja alcançado. A intro-dução das instituições nas análises pode, simples-mente, ser um caminho para atribuir-lhes papel dealicerçar com mais precisão os mercados, em oposi-ção ao Estado, que continuam sendo os melhorescondutores da busca de saídas para as crises. Mes-mo considerando a insuficiência dos mercados,considera-se como preponderante a racionalidadedo indivíduo consumidor. Para North (1981, 1993),por exemplo, a chave para atingir a explicação dosdiferentes estágios de desenvolvimento entre asnações está na evolução das instituições. São asinstituições que dão impulso ao desenvolvimentoeconômico. São as organizações eficientes, capa-zes de estabelecer arranjos institucionais, que cri-am incentivos para canalizar o esforço econômi-co dos indivíduos para atividades que aproximamas taxas privada e social de retorno.
O papel que as instituições desempenhamna concepção de desenvolvimento, de acordo comNorth, não se restringe a aumentar a eficiênciaalocativa e reduzir os custos de transação, segun-do uma lógica de mercado. Vai além, é tambémpoliticamente orientado. À medida que a forma-ção e evolução das instituições obedecem a umalógica do poder, isso é facilmente observado. Asinstituições, acrescenta North, tanto podem crista-lizar-se a partir de direitos já estabelecidos, comopodem transformar-se, a depender do ambiente.A incorporação da política na teoria das institui-ções significa que o importante não é apenas tomara organização em si, mas também o ambienteinstitucional no qual ela está envolvida, já que, porum lado, as organizações são moldadas pelo ambi-ente institucional, mas, por outro lado, elas defi-nem as transformações do ambiente (North, 1990).
Sob a ótica da economia das convenções paraFavereau (1989) e Salais (1998) não se trata de sim-plesmente acrescentar as organizações na análise eco-nômica, mas produzir uma matriz teórica geral dosmecanismos de coordenação, incluindo o mercantile o não mercantil, os preços e a regra, num continuum
que configure redes, cooperações e alianças.O Estado, em nenhuma dessas vertentes,
assume a coordenação da concertação com vista aum pacto social, como verificado no períododesenvolvimentista. Na visão neocorporativa sus-tentada por Schmitter e Groter (1997) a sua supos-ta capacidade de unidade de ação, parece duvido-sa diante de abundantes evidências decompetitividade e incoerência entre seus múltiplosorganismos ou níveis; tampouco a soberania, con-siderada o maior traço do conceito de Estado, con-tinua presente da mesma forma. Trata-se, então,de propor estruturas institucionais novas. Sob aperspectiva de Schmitter (1985), os arranjoscorporatistas – pacto entre o Estado, instâncias domercado e organizações da sociedade civil – apare-cem como uma possibilidade, desde que não fi-quem restritos às micro motivações dos interessesde agentes privados, nem pretendam realizar-se ex-clusivamente em termos dos imperativosmacrofuncionais da economia capitalista e dos sis-temas burocráticos. O princípio fundamental é aconcertação entre organizações, a negociação entregrupo de organizações, as quais se reconhecemmutuamente. Um pacto associativo-corporativo estábaseado, em primeiro lugar, na interação entre or-ganizações complexas e, em segundo lugar, nasinterrelações entre estas e o Estado (Idem. p. 67).
Ao longo dos anos 1990 a ideia de arranjosneocorporativos foi alargada, deixando de contem-plar apenas os processos associativos para tam-bém incorporar o processo de tomada de decisão,segundo Schmitter e Grote (1997). A cooperaçãopassa a ser entendida como importante na formu-lação de políticas públicas. O alargamento da ideiade arranjos corporativos também se verificou pelavariedade de atores que incorporou – além dossindicatos e organizações empresariais – e, emconsequência, da variada gama de novos temas –gênero, etnias, gerações, entre outros – a pactuar.
É sob ideias como as defendidas porSchmitter e Grote que vai se formando um con-senso que tem como pressuposto a harmonizaçãodas relações de classe, como também os conflitosentre agrupamentos sociais, que vai se conforman-do o paradigma da participação.
CA
DER
NO C
RH
, Sal
vado
r, v.
25,
n. 6
5, p
. 251
-268
, Mai
o/A
go. 2
012
263
Elsa Sousa Kraychete
A participação da sociedade civil (ONGs e ouTerceiro Setor) como eixo para um novo ar-ranjo institucional
A participação da sociedade civil, no objeti-vo perseguido por este texto, é evocada no contextodo entendimento da questão social a partir de umamacroeconomia do desenvolvimento fundamenta-da em princípios microeconômicos. Fato que numprimeiro momento pareceu surpreendente foi sen-do, paulatinamente, justificado como uma mudan-ça na economia política, que passava a dirigir o seufoco para o social. A sociedade civil, nessa orienta-ção, é descrita de forma a dizer que:
A sua característica fundamental é a flexibilida-de, disponível e aberta às pessoas comuns, à vidacotidiana. Falar da sociedade civil é reverter asprioridades de economia política. É afirmar queos seres humanos e seus desejos são capazes de alte-rar estruturas, de outra forma determinante. É abrirpossibilidades inesperadas, ao invés de direcionar ofoco para as condições que tornam a derrota inevitá-vel. É acreditar que a mudança se dará, mas tam-bém que ela já pode ter-se dado – mesmo sem onosso conhecimento (Wolf, 1992, p. 17).
A sociedade civil, nessa perspectiva, deri-va da vida associativa e coloca-se ora como umcontraponto ao poder do Estado, ora como substi-tuto na execução de algumas das funções antes deresponsabilidade estatal. Segundo Kaldor (2003,p. 22), a visão neoliberal advoga que “[...] as asso-ciações de voluntários e de beneficência desenvol-vem funções no campo do bem estar, que o Estadonão pode permitir-se realizar.” (tradução própria)E completa:
Esta concepción quizá sea más fácil de transponer alámbito global; se considera una contrapartida polí-tica o social del proceso de globalización, entendidocomo globalización económica, liberalización,privatización, desregulación y progresiva circulaciónde bienes y de capitales (p.22).
O conceito moderno de sociedade civil, noentanto, tem suas origens em obras de filósofosdos séculos XVIII e XIX, mas vem, ao longo dotempo, passando por modificações a depender decontextos históricos e sociais.
O leque de interpretações sobre o significa-do da sociedade civil é amplo, mas aparece sem-pre relacionado ao Estado, seja para tomar distân-cia, seja para desvendar as inter-relações. Hegel(2003) distingue claramente o Estado e a socieda-de civil e vai além, afirmando que o Estado se so-brepõe à sociedade civil, como promotor de har-monia entre elementos da sociedade. A sociedadecivil, em Hegel, não é o reino da harmonia, ao con-trário, é o lugar da explicitação do conflito, daí anecessidade da regulação pelo Estado. Marx (2007)também faz distinção entre a sociedade civil – com-preendida como o conjunto das relações econômi-cas – e a sociedade política, o Estado, mas, dife-rentemente de Hegel, vê o Estado como uma ex-pressão da sociedade civil. É no âmbito desta quesão definidos a organização e os objetivos do Esta-do. Por incluir as relações de produção, as classessociais, a sociedade civil, em tal concepção, nãopode ser entendida como espaço de harmonia, nemo Estado, expressão desta, pode ser tomado comoárbitro que legisla a partir de um poder acima dascontradições sociais. No século XX, Gramsci (2004)valoriza o espaço da sociedade civil, já não maiscomo estrutura, mas como superestrutura, quan-do a ideologia, a cultura e vida intelectual ganhamsupremacia na análise. Daí a ênfase em atuaçõesno campo da educação e nos meios de comunica-ções, por exemplo.
Na perspectiva da teoria democrática críti-ca, a sociedade civil é definida como um espaçode interação entre a economia e o Estado e estácomposta de uma esfera íntima – a família – a esfe-ra das associações, os movimentos sociais e as for-mas de comunicação pública. Numa definiçãooperativa, buscando distinguir a sociedade civilde uma sociedade de partidos, de organizaçõespolíticas e da sociedade econômica Cohen e Arato(2000, p. 8-9) a considera “[...] como uma esferade interação social entre a economia e o Estado,composta antes de tudo pela esfera íntima (em es-pecial a família), a esfera das associações (em espe-cial as associações voluntárias), os movimentossociais e as formas de comunicação pública”.
Seria errôneo, nessa perspectiva, tomar, por
CA
DER
NO C
RH
, Sal
vado
r, v.
25,
65,
p. 2
51-2
68, M
aio/
Ago
. 201
2
264
O LUGAR DAS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS ...
definição, a sociedade civil como oposição à eco-nomia e ao Estado, acrescentam os autores. Umasituação de oposição só surge quando as media-ções fracassam ou quando as instituições das soci-edades econômicas e políticas isolam o processode tomada de decisão e as formas de decisão pú-blica (p.10).
Entre uma trajetória teórica e histórica aemergência da ideia de sociedade civil tem seu res-surgimento, por um lado, associado aos movi-mentos sociais, particularmente na América Lati-na e em países do Leste europeu, motivados porrazões políticas e ligados às conjunturas de cadaregião. Nesses casos, eram destacadas as críticas àpresença política do Estado e acentuados os valo-res ligados à auto-organização e a autonomia cívi-ca. As orientações de movimentos organizadosem torno de direitos civis, a exemplo do feminis-mo e movimentos étnicos, estão ligadas, em gran-de medida, a esses valores. Questões mais perti-nentes ao trabalho – as pautas da classe trabalha-dora – bem como as reivindicações por direitoscomo previstos pelo welfare-state, que mobiliza-ram movimentos ao longo de boa parte do séculoXX, passam a ser secundarizadas.
A noção de Terceiro Setor, com raízesfincadas no mundo acadêmico anglo-saxão, cons-titui outra vertente associada à noção de socieda-de civil. A sociedade, nessa perspectiva, é toma-da por esferas que, além das compostas pelo Es-tado e pelo mercado, comporta ainda um Terceiro
Setor, que se distingue por ser não governamentale não objetivar a obtenção de lucro. Como esferaorganizada, o Terceiro Setor mobiliza particularmentea dimensão voluntária dos indivíduos. Os resulta-dos do Projeto Comparativo do Setor sem Fins Lu-
crativos, pesquisa coordenada por Lester Salomon,da John Hopkins University, traz uma noção deTerceiro Setor como um conjunto de organizações,que: não integram o aparelho governamental; nãoobtêm nem distribuem lucros; se autogerenciam egozam de forte grau de autonomia interna; e, envol-vem, entre seus participantes, significativa partici-pação voluntária, (Salomon e Aneheier, 1992;Salomon, 1997).
Na conjuntura marcada pela redução daimportância das regras pactuadas sob o estatutode estado do bem-estar social, verifica-se movimen-to que conduz a bandeira da responsabilidade so-cial empresarial, sempre fora dos muros da fábri-ca, com incentivo a maior aproximação da empre-sa, agora cidadã, com organizações sociais priva-das de interesse público. A análise teórica dessemovimento não deixa de gerar controvérsias.
Na perspectiva desse discurso, paraMartinelli (1997, p.83) “[...] a empresa-cidadã atuaguiada por uma concepção estratégica e compro-misso ético, resultando na satisfação das expecta-tivas e respeito aos direitos dos parceiros”. E acres-centa: “[...] com esse procedimento, acaba por cri-ar uma cadeia de eficácia, e o lucro nada mais é doque o prêmio da eficácia.”
Já para Arantes (2004, p. 166-167) não deixade causar estranhamento fazer a empresa tomar partede um setor que se diz não governamental sem finslucrativos, afirma:
E que também as empresas, por uma espécie deesquizofrenia programada, principiaram a secomportar em público com se fossem de verdadeorganizações não lucrativas! No fundo, se aindadistribuem dividendos para os seus acionistas épor mera e incontrolável decorrência técnica desua maior eficácia no uso dos bens escassos.
Para Dupas (2003), com as práticas da em-presa-cidadã, verifica-se privatização do espaçopúblico, na medida em que essas organizações as-sumem atividades e serviços que eram um direitodo cidadão e uma publicização do privado, umavez que essas organizações assumem o lugar doEstado. O grande problema, segundo o autor, é asubstituição dos direitos, por ações temporárias evoluntárias. As empresas passaram, portanto, adesempenhar papel mais evidente no campo polí-tico e social de forma a supostamente preencher aslacunas deixadas pelo Estado em crise, o que temrebatimentos nas relações de trabalho, nos fluxosde investimento estrangeiro direto, no meio ambi-ente e na configuração política global. Percebe-seum movimento de substituição de normas públi-cas por normas privadas.
CA
DER
NO C
RH
, Sal
vado
r, v.
25,
n. 6
5, p
. 251
-268
, Mai
o/A
go. 2
012
265
Elsa Sousa Kraychete
CONCLUSÃO
O novo ideário de desenvolvimento que sefirma a partir dos anos 1990 anuncia novas possi-bilidades organizativas, que contemplam a partici-pação da sociedade civil – ora entendida comoONGs, ora como terceiro setor que engloba a em-presa – em arranjos institucionais nos quais apare-ce como paradigmática. A posição atribuída àsONGs e às empresas, nos discursos das organiza-ções internacionais, compõe quadro analítico quetem como pressuposto a centralidade do mercadona articulação dos interesses socioeconômicos, oque contrabalancearia o poder do Estado.
A proposição é constituir espaço sociorgani-zativo, envolvendo o mercado, o Estado e a socieda-de civil. Tal configuração não deixa de ser problemá-tica. No plano discursivo, dilui o poder do Estado,como também das corporações, num conjunto, noqual as organizações aparecem como detentoras deigual poder, num todo indiferenciado, regido por re-lações de parcerias. Na relação entre o Estado e omercado, o lugar que ocupam, passa por modifica-ções a depender das conjunturas. Ora o Estado assu-me a coordenação do pacto regulatório, ora o merca-do é anunciado, a partir de uma autorregulação, comoo condutor do ordenamento social.
No que toca à participação da sociedade civil,como parte do pacto, dois aspectos precisam ser res-saltados: o primeiro, diz respeito à participação da em-presa sob a rubrica do “sem fins de lucro”, agora comoinstituição, não mais como ato isolado do empresáriofilantropo, não deixa de ser um paradoxo. Tomar aempresa como destituída da racionalidade que planejao cálculo do investimento com a previsão de retorno, olucro, só se sustenta com base em discurso ideológicoque pretende diluir as contradições sociais; o segundo,diz respeito diretamente às ONGs constituídas sob oestatuto da solidariedade internacional e ou da contes-tação, a conquista de espaço no interior do arranjoinstitucional proposto só pode acontecer sob a comple-ta redefinição dos seus objetivos e do lugar que preten-de ocupar na relação entre o Estado e a sociedade.
(Recebido para publicação em 07 de abril de 2012)(Aceito em 07 de julho de 2012)
REFERÊNCIAS
ARAGÃO, Daniel M. Cavalcanti de. Responsabilidade comoLegitimação: capital transnacional e governança global naorganização das Nações Unidas. 2010. Tese (Relações In-ternacionais). Programa de Relações Internacionais da PUCRio de Janeiro.
ARANTES, Paulo. Esquerda e direita no espelho das ONGs.In. ARANTES, Paulo. Zero a Esquerda. São Paulo: ConradEditora do Brasil, 2004.
ARNOLD, D. Libertarian theories of the corporation andglobal capitalism. Journal of Marketing, n. 43, p. 69-75, 1979.
BALLEIX, Corrine. L’aide européenne au development.Paris: La Documentación Française, 2010.
BANCO MUNDIAL. Colaboración entre el Banco Mundial ylas organizaciones no gubernamentales. Washington, 1996.
BARBÉ, E. La Unión Europea en el mundo: entre el poderde transformación y los limites de la constitución. Madrid:Real Instituto Elcano, 2005.
BARON, D. Private politics, corporate social responsibility,and integrated strategy. Journal of Economics &Management Strategy, v. 10, n. 1, p 7-45, 2001.
BOLTANSKI, Luc e CHIAPELLO, Ève. O novo espírito docapitalismo. São Paulo: Martins Fontes. São Paulo: MartinsFontes, 2009.
BOLTANSKI, Luc. La soufrance à distance: moralehumanitaire médias et politique. Paris: Gallimard, 2007.
CARROLL, A. BUCHHOLTZ, A. Business and society:ethics and stakeholder management. Cincinnati: South-Western College, 2000.
CLEMENTE, Adriana. Cooperación para el desarrollo yreforma del Estado. El rol de la cooperación externa en laterritorialización de las políticas sociales de atención a lapobreza. In. ARIAS, Ana Josefina, VALLONE e GABRIEL,Miguel. (org.). La dimensión social de la cooperacióninternacional: aportes para la construcción de una agen-da post-neoliberal. p. 67 – 95, Buenos Aires: FundaciónCentro de Integración, Cultura y Sociedad – CICCUS,2010.
COHEN, Jean L. e ARATO, Andrew. Sociedad civil y teoríapolítica. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2000.
COMISSÃO EUROPEIA. Apoyo a los agentes no estatalesen el sector del desarrollo – Programa temático en elcontexto de las perspectivas financieras de 2007-2012.Disponível em http://ec.europa.eu/development/body/theme/consultation/non_state_ectors/indez_es.Acesso: 10.01.2010.
COX, Robert W. Los informes Pearson y Jackson: unanálisis ideológico de las doctrinas de asistencia aldesarrollo. Revista Foro Internacional, v. 13, no. 3 (51)(jan.-mar. 1973), p. 311-326, México, D.F, 1973.
DEVIN, G. (Org.). Les Solidarités Transnationales. Paris:L´Harmattan, 2004.
DIAS, R. Gestão Ambiental: responsabilidade social esustentabilidade. São Paulo: Atlas, 2006.
DUPAS, G. Tensões Contemporâneas entre o público e oprivado. São Paulo: Paz e Terra, 2003.
GRAMSCI, Antonio. Escritos políticos. Rio de Janeiro:Civilização Brasileira, 2004.
HEGEL, G. W. F. Princípios da Filosofia do Direito. SãoPaulo: Martins Fontes, 2003.
IVO, Anete B. L. Viver por um fio: pobreza e políticassociais. São Paulo: Annablume, 2008.
CA
DER
NO C
RH
, Sal
vado
r, v.
25,
65,
p. 2
51-2
68, M
aio/
Ago
. 201
2
266
O LUGAR DAS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS ...
KRAYCHETE, Elsa Sousa. Desenvolvimento: razões e li-mites do discurso do Banco Mundial. Caderno CRH, Sal-vador, v. 19, n. 48, p. 415-430, 2006.
LAIDI, Zaki. La norme sans la force: l’énigme de lapuissance européenne. Paris: Press de Sciences Po, 2005.
MARX, K. A Ideologia Alemã. São Paulo: Expressão Popular,2009.
MARTINELLI, Antônio Carlos. Empresa - cidadã: umavisão inovadora para uma ação transformadora. In.IOSCHPE, E. Terceiro Setor: desenvolvimento social sus-tentado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.
MUÑOZ, Enara Echart. Movimientos sociales y relacionesinternacionales: la irrupción de un nuevo actor. Madrid:Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación/LosLibros de la Catarata, 2008.
MURPHY, C. Global Institutions,Marginalization endDevelopment. New York: Routledge, 2005.
MOUËL, Jacques Le. Critica de la eficácia. Buenos Aires:Paidós, 1992.
LE NAËLOU, Anne. La politique communautaire dedéveloppement en Asie et en Amérique latine: un mandatélargi pour l’U.E. In. BERAUD, Philippe, PERRAULT Jean-Louis e SY, Omar (Orgs.) Géo-économie de la cooperationeuropéenne: de Yaoundé à Barcelone. Paris: Maison-neuve& Larose, p 59-76, 1999.
MERKLEN, Denis. El impacto de la cooperación. Quetipo de relaciones sociales genera la solidariedad interna-cional? In. ARIAS, Ana Josefina, VALLONE, MiguelGabriel (org.). La dimensión social de la cooperacióninternacional: aportes para la construcción de una agen-da post-neoliberal. p. 97-111, Buenos Aires: FundaciónCentro de Integración, Cultura y Sociedad – CICCUS,2010.
MILANI, Carlos R. S. O princípio da participação social nagestão de políticas públicas locais: uma análise de experi-ências latino-americanas e europeias. Revista de Adminis-tração Pública, v. 42, p. 551-579, 2008.
NAÇÕES UNIDAS. Informe de la Conferencia Internacio-nal sobre Financiación del Desarrollo. Monterrey/México,2002.
OCDE. Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda aoDesenvolvimento. Apropriação, hormonização, alinha-mento, resultados responsabilidade mútua. www.ocde.org.Acesso: 20.03.2010.
OLIVEIRA, J.A.P . Empresas na Sociedade :sustentabilidade e responsabilidade social. Rio de Janeiro:Elsevier, 2008.
OLIVEIRA, Nelson. Neocorporativismo e política pública:um estudo das novas configurações assumidas pelo Es-tado. São Paulo: Edições Loyola, 2004.
_____. Neocorporatismo e Estado: a construção do espaçoda dominação setorial. Organização & Sociedade. Salva-dor, v. 6, n. 15, p. 135-148. mai-ago,1999.
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Nor-mas Internacionais do Trabalho. Disponível emwww.oit.brasil.org.br
www.oit.brasil.org.br. Acesso em 23 ago 2010.
PACTO GLOBAL. Rede Brasileira. Disponível emwww.pactoglobal.org.br. Acesso em 01.09.2010.
PEARSON, Leste B. El desarrollo empresa común: una nuevaestrategia global. El Correo. Paris: UNESCO, p. 4-9, fev. 1970.
PESSINA, Maria Elisa Huber. O ideário de desenvolvi-mento pós 1990 e as mudanças na cooperação internaci-
onal não governamental alemã: entre as circunstâncias eas peculiaridades. 2012. 255p. Dissertação (Administra-ção) – Programa de Pós-Graduação em Administração,UFBa. Salvador.
RABOTNIKOF. Nora, RIGGIOZZI. María Pía e TUSSIE,Diana. Los organismos internacionales frente a la sociedadcivil; las agendas en juego. In. Luces y sombras de unanueva relación; El Banco Interamericano de Desarrollo,El Banco Mundial y la Sociedad Civil. Buenos Aires:CLACSO e Temas Grupo Editorial, 2000.
SALAIS, R. L’analyse économique des conventions detravail. Revue Economique. V. 40. n. 2. p. 1999- 240, 1989.
SANTOS, André, KRAYCHETE Elsa Sousa e OLIVEI-RA, Dimitri. O Banco Mundial e a Reforma dos Judiciá-rios da América Latina: as trajetórias do Brasil e do Méxi-co. In: MILANI, Carlos R. Sanchez; DE LA CRUZ, MariaGabriela Gildo. (Org.). A política mundial contemporâ-nea: atores e agendas na perspectiva do Brasil e do Mé-xico. Salvador: Editora da Universidade Federal da Bahia- EDUFBa, 2010.
SIMÕES, Paulo Everton Mota. Entre a alma missionáriae o espírito mercador: estudo das mudanças na coopera-ção internacional para o desenvolvimento e suas reper-cussões na atuação da NOVIB no Brasil. 2012. 123p. Dis-sertação (Administração) – Programa de Pós-Graduaçãoem Administração, UFBa. Salvador.
STIGLITZ. Joseph. Em busca de um novo paradigma parao desenvolvimento: estratégias, políticas e processos. Dis-ponível em: www.nead.org.br. Acesso em: 15.10.2003.
ROBINSON, W. I. A Theory os Global Capitalism:production, class, and state in a transnational world.Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004.
SCHMITER, P. E GROTE, J. The corporatism Sisyphus –Past, present and future, Working paper on the EuropeanUniversity Institute – SPS, v. 97, n. 4, 1997.
SCHMITTER, P. Neocorporatismo y Estado. REIS, Madrid,v. 31, p. 47-78, 1985.
SMOUTS, Marie-Claude. Du bon usage de la gouvernanceen relations internationales. International Social ScienceJournal n.155 p. 85-94, 1998.
SOTILLO, J. A. La Unión Europea y la redefinición de supolítica de cooperación para el desarrollo. Revista Españolade Desarrollo y Cooperación, n. 14, p. 189-203, verano,Madrid: IUDC-UCDM, 2004.
______ .La cooperación para el desarrollo de la UniónEuropea: un examen critico. Revista Española deDesarrollo y Cooperación, n. 6, p. 145-157, verano, Madrid:IUDC-UCDM, 2000.
STIGLITZ. Joseph. Em busca de um novo paradigma parao desenvolvimento: estratégias, políticas e processos. Dis-ponível em: (www.nead.org.br). Acesso em: 15.10.2003.
TACHIZAWA, T.; ANDRADE, R.O.B. GestãoSocioambiental: estratégias na nova era dasustentabilidade. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
TAPIA, Jorge R. B.; GOMES, Eduardo R.; CONDÉ, Eduar-do S. Pactos Sociais, Globalização e Integração Regional.Campinas: Editora da UNICAMP, 2008.
TELEDANO, J. Manuel; GUIMARÃES, João; ILLÁN, Carlose FARBER, Vanina. Buenas prácticas en la cooperaciónpara el desarrollo: rendición de cuentas y transparencia.Madrid: Ediciones Cataratas, 2008.
TENÓRIO, F.G. Responsabilidade Social Empresarial: te-oria e prática. Rio de Janeiro: FGV, 2004.
TOURAINE, A. Critique de la modernité. Paris: Fayard, 1992.
CA
DER
NO C
RH
, Sal
vado
r, v.
25,
n. 6
5, p
. 251
-268
, Mai
o/A
go. 2
012
267
Elsa Sousa Kraychete
TEIXEIRA, Ana Claudia Chaves. Identidades em constru-ção: as organizações não governamentais no processo bra-sileiro de democratização. São Paulo: Anablume/ FAPESP/Instituo Pólis, 2003.
VELASCO E CRUZ, Sebastião C. Sobre a análise gramscianadas organizações internacionais. In. Globalização, Demo-cracia e Ordem Internacional: ensaios de teoria e históriaSão Paulo: Editora da Unicamp e UNESP, 2004.
______. Notas críticas sobre o tema da mudançainstitucional em Douglas North. In. Globalização, De-mocracia e Ordem Internacional: ensaios de teoria e his-tória. São Paulo: Editora da Unicamp e UNESP, 2004.
WOLF, Alan. Três caminhos para o desenvolvimento: Mer-cado, estado e sociedade civil. In. Desenvolvimento, coo-peração internacional e as ONGs. 1º Encontro internaci-onal de ONGs e o Sistema de Agências nas Nações Uni-das. Rio de Janeiro: IBASE/PNUD, p. 17- 34, 1992.
YAGHMAIAN, Behzad. “Globalization and the State: ThePolitical Economy of Global Accumulation and itsEmerging Mode of Regulation”, Science & Society, v.62, n.2, p. 241-265, verão de 1998.
CA
DER
NO C
RH
, Sal
vado
r, v.
25,
65,
p. 2
51-2
68, M
aio/
Ago
. 201
2
268
O LUGAR DAS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS ...
THE POSITION OF NON GOVERNMENTALORGANIZATIONS IN THE INTERSECTION
BETWEEN THE CONCEPTS OFDEVELOPMENT AND INTERNATIONAL
COOPERATION
Elsa Sousa Kraychete
The emergence of a new internationalagenda for development, which corresponds tothe proposition of a new institutionalarrangement of support, takes into considerationthe participation of the market, State and civilsociety. Within this context, the dichotomybetween State intervention and social regulationby the market no longer reaches the complexitythat the social regulation demands to complywith the requirements of the situation ofsocioeconomic crisis. The propositions of theinternational organizations point to theinterpretation of an institutionally agreedconsensus. Non-governmental organizations andcompanies then become important in a kind ofcooperation that aims at a unified proposal forthe formulation and implementation of publicpolicies. Based on the reading of officialdocuments and academic literature, this paperdiscusses the paradoxes presented by thisproposition from a critical perspective.
KEY WORDS: development, international cooperationfor the development, non-governmentalorganizations, corporate social responsibility.
LA PLACE DES ORGANISATIONS NONGOUVERNEMENTALES AU CROISEMENT
DES NOTIONS DE DÉVELOPPEMENT ET DECOOPÉRATION INTERNATIONALE
Elsa Sousa Kraychete
Le surgissement d’un nouveau programmeinternational pour le développement, correspondantà la proposition d’un nouveau dispositifinstitutionnel de soutien, suppose la participationde la société de marché, de l’État et de la sociétécivile. Dans ce contexte, la conceptiondichotomique d’un État interventionniste ou d’unerégulation sociale par le marché n’est plus à lahauteur de la complexité demandée par larégulation sociale pour répondre aux exigencesd’une situation de crise socio-économique. Lespropositions des organisations internationales vontdans le sens de l’élaboration de consensuscapables d’être acceptés institutionnellement. Lesorganisations non gouvernementales et lesentreprises sont alors considérées comme deséléments importants au niveau des concertationsvisant à élaborer et à mettre en oeuvre des politiquespubliques. La lecture de documents officiels toutcomme de littérature universitaire, faite dans uneperspective critique, a permis de faire valoir danscet article les paradoxes de cette proposition.
MOTS-CLÉS: développement, coopérationinternationale pour le développement, organisationsnon gouvernementales, responsabilité sociale desentreprises.
Elsa Sousa Kraychete - Economista. Doutora em Administração. Professora do Instituto de Humanidades,Artes e Ciências Professor Milton Santos e do Núcleo de Pós-Graduação em Administração – NPGa, daUniversidade Federal da Bahia - UFBA. Coordena o Laboratório de Análise Política Mundial – LABMUNDO/Antena Salvador. Membro da Câmara de Assessoramento de Ciências Humanas da FAPESB. Editora cientí-fica do Caderno CRH. Trabalha centralmente com as seguintes temáticas: desenvolvimento, organizaçõesinternacionais e cooperação internacional para o desenvolvimento, organizações não governamentais.