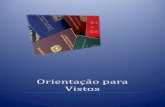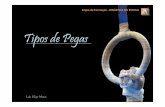Lucas Nascimento - A Importância da Estratégia Nacional de ... · e o consenso entre os diversos...
Transcript of Lucas Nascimento - A Importância da Estratégia Nacional de ... · e o consenso entre os diversos...
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE
LUCAS URSINI NASCIMENTO
A IMPORTÂNCIA DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA
BRASILEIRA NA FORMAÇÃO DA AGENDA DE SEGURANÇA
DA AMÉRICA DO SUL
Belo Horizonte
2010
LUCAS URSINI NASCIMENTO
A IMPORTÂNCIA DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA
BRASILEIRA NA FORMAÇÃO DA AGENDA DE SEGURANÇA
DA AMÉRICA DO SUL
Monografia apresentada ao Centro Universitário de
Belo Horizonte como requisito parcial para a obtenção
do título de bacharel em Relações Internacionais.
Orientador: Professor Rafael Oliveira de Ávila
Belo Horizonte
2010
1
A Importância da Estratégia Nacional de Defesa brasileira na formação da Agenda de
Segurança da América do Sul
Lucas Ursini Nascimento1
Rafael Oliveira de Ávila2
RESUMO
Este artigo apresenta a Estratégia Nacional de Defesa brasileira e seus pontos de maior
importância na formação da agenda de segurança sul-americana. A consolidação da UNASUL
e o consenso entre os diversos interesses dos países da região são vistos como pressupostos
necessário para a sua atuação como ator global que possa garantir estes interesses na região.
Neste ponto é considerado de suma importância o papel de liderança do Brasil como
garantidor dos interesses e da ordem no sub-continente, baseado em suas características
materiais e potenciais muito superiores às de seus vizinhos. A hegemonia cooperativa
brasileira poderá trazer benefícios para o próprio país em seu papel como ator global.
Palavras-chave: Estratégia Nacional de Defesa, agenda de segurança, UNASUL, hegemonia
cooperativa.
ABSTRACT
This article presents brazilian's National Defense Strategy and its major importance points in
the formation of a security agenda in south america. The consolidation of UNASUL and the
various countries interests consensus are seen as necessary assumptions to its performance as
a global actor, guaranteeing its own interests. In this point, Brazil's role as representant of the
continent's interests, is considered very important, based in its superior material and potential
capabilities in relation to its neighbors. Brazilian's cooperative hegemony could bring benefits
to its own country and its place as a global actor.
Key-words: National Defence Strategy, security agenda, UNASUL, cooperative hegemony.
1 Aluno do 8º período do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário de Belo Horizonte. E-mail: [email protected]. 2 Professor orientador do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário de Belo Horizonte. E-mail: [email protected].
2
INTRODUÇÃO
O Ministério da Defesa do Brasil foi criado em 1999 com o objetivo de otimizar e integrar os
recursos e as ações das três forças – Exército, Marinha e Aeronáutica – de forma a modernizar
os sistemas de defesa do país. A preocupação com a melhoria da capacidade de defesa e do
planejamento estratégico3 do país passa pela necessidade do desenvolvimento de diversos
setores, como o industrial, o acadêmico e o técnico-científico4. As ações dos governos
brasileiros para expandirem as discussões e os objetivos de defesa começaram – mais
ativamente – com a Política de Defesa Nacional de 1996 que orientou a criação do Ministério
da Defesa. Em Junho de 2005, a Política de Defesa Nacional foi reformulada, de forma a
abarcar novas demandas do Ministério. A Estratégia Nacional de Defesa, documento mais
recente, viria a substituir os anteriores, demonstrando um maior planejamento das medidas a
serem tomadas e maior preocupação com as prioridades nas relações externas do país em
matéria de segurança.
Este artigo é uma discussão das diretrizes estratégicas da END que podem favorecer a um
consenso sobre a agenda de segurança da América do Sul, e que podem trazer novos desafios
às relações internacionais do Brasil na região. São apresentadas cinco diretrizes estratégicas
da END que, de certa forma, são compatíveis com os interesses dos demais Estados da região,
envolvendo a defesa de espaços estratégicos, a manutenção da democracia na região, um
maior controle sobre os ilícitos que ocorrem entre as fronteiras e o desenvolvimento industrial
bélico para suprir as demandas de armamentos dos Estados do sub-continente.
Entende-se que a participação do Brasil como articulador destes objetivos, ditos regionais, é
indispensável, já que o Estado detêm grande parte das capacidades materiais de projeção e
incremento de poder em relação aos demais Estados.
1 Apresentando a Estratégia Nacional de Defesa
3 Planejamento estratégico refere-se à organização de recursos materiais para emprego tático, de forma a se
atingir objetivos políticos determinados. 4 Para maior aprofundamento nesta discussão, ver OLIVEIRA, José Edimar Barbosa Oliveira. Ciência,
Tecnologia e Inovação em Áreas de Interesse da Defesa. Disponível em <https://www.defesa.gov.br/ciencia_tecnologia/palestras/ctidefesa.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2010.
3
A Estratégia Nacional de Defesa5 (END) é um documento que visa demonstrar uma nova
postura do país e de suas instituições em assuntos de defesa, e de estender este debate para a
sociedade, de forma a contribuir para o seu aperfeiçoamento e sua transparência. O plano,
assim considerado, é formado de ações estratégicas de médio e longo prazos que objetivam
modernizar a estrutura nacional de defesa6. Para tanto, o planejamento é feito sobre três
grandes objetivos ou pilares: 1) reorganização das Forças Armadas; 2) reestruturação da
indústria de defesa; e, 3) reformulação da política de composição dos efetivos das Forças
Armadas7.
O planejamento das ações para o alcance destes três macro-objetivos deve ser entendido como
um processo, em que cada um destes será precedido de reformulação de prioridades, de
processos e de políticas, todos inter-relacionados. A reorganização das Forças Armadas define
diretrizes estratégicas de cada uma das forças – Exército, Marinha e Aeronáutica – e dos
setores cibernético, espacial e nuclear como essenciais para a defesa nacional. A
reestruturação da indústria de defesa objetiva manter o suprimento das Forças Armadas com a
utilização de tecnologias sob domínio nacional e de incentivar a exportação destes produtos,
sobretudo para países da América do Sul que, como o Brasil, buscam o reaparelhamento de
suas forças armadas. O Serviço Militar Obrigatório visa aumentar o número dos efetivos de
reserva e estender o treinamento básico militar a maiores parcelas da população e de todas as
classes sociais8.
A END se relaciona diretamente com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, sendo
indispensável uma para o aprimoramento da outra9. Esta premissa busca um modelo de
desenvolvimento que visa a independência nacional através da mobilização de recursos
físicos, econômicos e humanos, do investimento no potencial produtivo do país e do
atingimento da autonomia tecnológica em setores estratégicos (espacial, cibernético e
nuclear)10. Nos campos estratégico e tático, a END ainda apresenta subsídio para a
5 A Estratégia Nacional de Defesa foi publicada por meio do decreto presidencial nº 6.703, de 18 de Dezembro
de 2008. O documento está disponível em https://www.defesa.gov.br/eventos_temporarios/2009/estrategia/arquivos/estrategia_defesa_nacional_portugues.pdf. Acesso em: 14 jun. 2010.
6 MINISTÉRIO DA DEFESA. Estratégia Nacional de Defesa. Brasil: 2ª ed., 2009 [p. 05]. 7 Idem 6 8 Idem 6 9 MINISTÉRIO DA DEFESA. Estratégia Nacional de Defesa. Brasil: 2ª ed., 2009 [p. 08]. 10 MINISTÉRIO DA DEFESA. Estratégia Nacional de Defesa. Brasil: 2ª ed., 2009 [p. 09].
4
formulação de planos de guerra e de paz, através do diálogo entre as três forças militares11.
Os três pilares da END: 1) reorganização das Forças Armadas para a atuação conjunta das três
forças; 2) desenvolvimento da indústria de defesa nacional, desenvolvimento de armamentos
e suprimento das três forças; e, 3) e a política de composição dos efetivos e do Serviço Militar
Obrigatório, determinam as ações ou planos de ações que serão empreendidos para alcançar
os objetivos de cada uma destas diretrizes.
Estes pilares são compostos de 23 diretrizes estratégicas, planos de ação construídos para
aprimorar diversos aspectos políticos, estratégicos, tático-operacionais, e organizacionais que
visam melhorias na operacionalização das forças armadas brasileiras e na defesa dos espaços
terrestre, aéreo e marítimo (além do espacial e do cibernético). As diretrizes estratégicas
podem apresentar implicações políticas, econômicas ou militares, e algumas vezes apresentam
implicações em duas dessas esferas, ou mesmo nas três. Mais adiante estas diretrizes serão
analisadas com foco nos pontos que podem trazer desafios e novos cenários para as relações
internacionais do país em âmbito regional. A análise destas implicações será feita sob uma
perspectiva material, de acordo com a teoria do Realismo Ofensivo de Mearsheimer12.
2 Realismo ofensivo e a balança de poder regional
De acordo com Mearsheimer (2001), as grandes potências buscam maximizar sua parcela de
poder13 no sistema internacional. Esta premissa é derivada das diversas matrizes teóricas do
11 MINISTÉRIO DA DEFESA. Estratégia Nacional de Defesa. Brasil: 2ª ed., 2009 [p. 10]. 12 A análise material dos dados é feita de acordo com as capacidades materiais e potenciais que os Estados
detêm, como Produto Interno Bruto, tamanho da população e efetivos militares atuais. O tamanho da população pode determinar a capacidade de expansão de efetivos militares no caso de necessidade de mobilização nacional para esforços de guerra. Em The Tragedy of Great Power Politics (Columbia, 2001), Mearsheimer apresenta as premissas tradicionais do pensamento realista com os incrementos de sua autoria. Possui foco nas grandes potências do sistema internacional e na relação entre estas, já que o autor as considera os principais atores das relações internacionais. Utilizarei esta abordagem no micro ambiente regional da América do Sul, considerando a posição de destaque que o Brasil possui em relação a seus vizinhos, materialmente falando. A balança de poder de determinado ambiente de interação de atores estatais será definida, neste trabalho, de acordo com as capacidades materiais destes.
13 Segundo Mearsheimer (2001) o poder dos Estados compõe-se de poder latente e poder militar. O primeiro refere-se a indicadores populacionais, econômicos e de recursos que podem ser mensurados para a composição de efetivos militares, baseando-se na riqueza dos países e no tamanho da população. O poder militar é mais facilmente mensurado, referindo-se à capacidade total das forças armadas de um Estado e sua capacidade de projeção de poder, e é o elemento definidor da balança de poder de determinada região em determinado período. O poder militar é baseado mais na capacidade do Exército - com um auxílio das forças aéreas e navais -, já que a capacidade de conquistar e manter o controle de territórios depende mais do tamanho e da capacidade das forças terrestres. O poder militar pode ser considerado mais estático, pois depende da capacidade de resposta imediata do Estado.
5
realismo sobre a primazia na preocupação pela segurança e, num limite, pela sobrevivência do
Estado14. Redirecionando essa premissa para o ambiente em análise, significa afirmar que os
principais Estados dessa região buscam esse mesmo objetivo, pautando suas ações para tal.
Assim, numa análise detalhada de instâncias política, econômica e militar, um grupo seleto de
Estados - em condições mais apropriadas materialmente, buscariam mais propositalmente este
objetivo, estabelecendo competição nas três instâncias referidas, já que teoricamente
possuiriam condições materiais para tal.
Estes Estados, procurando maximizar seu poder buscam, no limite, exercer a hegemonia
regional. De acordo com Mearsheimer, um Estado para exercer a Hegemonia Regional deve
possuir uma quantidade de poder suficiente para controlar todos os Estados do sistema. Neste
trabalho, utiliza-se o conceito como a capacidade de exercer poder e influência nas decisões
dos outros Estados, de forma que estes hajam de acordo com a vontade do Estado hegemon.
Considerando esta possibilidade, pelo fato de em nosso sub-continente não haver o poder
parador das águas15, os Estados tenderiam a adotar estratégias que se baseiam em poder
relativo, determinadas pelas capabilities16 de um em relação ao outro. Este tipo de
comportamento tende a diminuir a possibilidade de cooperação entre estes atores. Por
exemplo, se numa cooperação ou parceria – de interesses convergentes ou divergentes -, o
Estado A pode adquirir mais ganhos que o Estado B, ao final desta relação, A terminaria mais
fortalecido que B, ou B terminaria relativamente mais enfraquecido17. Se os Estados se
encontram num ambiente de competição, no qual os ganhos de um dos lados enfraquecem a
posição final ou relativa dos outros atores, estes não visariam apenas os ganhos que a relação
14 Para maiores discussões acerca do conceito ver Hans Morgenthau, “A Política Entre as Nações: a luta pelo
poder e pela paz” (São Paulo, 2003) e Kenneth Waltz, “Theory of International Politics” (Boston: McGraw-Hill, 1979).
15 Mearsheimer afirma que seria impossível um único Estado controlar todo o mundo, ou conceitualmente, exercer uma Hegemonia Global. O autor justifica afirmando que um Estado seria incapaz de se organizar eficazmente para controlar tantos territórios em razão da dificuldade de transpor oceanos, ou que o poder parador das águas dificulta a projeção de poder das grandes potências. Esta consideração refere-se à grande importância dada às forças terrestres no comando de territórios, sendo impossível uma capacidade de mando utilizando-se apenas forças aéreas e navais. Considera, por fim, que uma hegemonia regional, no âmbito territorial, é possível, e que esta tem sido exercida por muito tempo pelos EUA nas Américas.
16 As capabilities se relacionam aos indicadores apresentados na definição de poder (nota de rodapé nº 13). Neste trabalho utiliza-se três indicadores: Produto Interno Bruto (a soma de toda a produção interna de um país num determinado período), a População e os Efetivos Militares (das três forças).
17 Para uma discussão mais detalhada ver John Mearsheimer, “The False Promise of International Institutions”, in BROWN, Michael; LYNN-JONES, Sean; MILLER, Steven. The Perils of Anarchy: Contemporary Realism and International Security (London: Cambridge, 1995).
6
pode produzir18, mas sim os ganhos relativos, ou o fato de não obterem ganhos enquanto seus
concorrentes os obtêm. Esta dinâmica, que pode enfraquecer um dos competidores, irá
determinar os limites para a cooperação nas mais variadas esferas, sendo ainda mais limitada
em questões militares do que nas esferas política, econômica, social ou cultural.
2.1 Balança de poder regional
Considerando todos os países que se situam na América do Sul, podemos selecionar alguns
que poderiam ou teriam condições materiais de adotar lógicas de competição por capabilities
e por maior influência política na região. As mudanças na distribuição material de poder são
os dados de maior relevância para analisar as capacidades e as ações dos Estados. Estes não
pautam suas ações de acordo com as intenções de outros Estados, mas sim de acordo com a
capacidade material que os outros Estados possuem. Como ressalta Mearsheimer (2001), as
intenções dos Estados são geralmente desconhecidas, assim os Estados devem mensurar as
intenções dos outros como o extremo oposto aos seus interesses. As capabilities, portanto,
podem ser mensuradas e determinam se o outro Estado representa ou pode vir a representar
uma ameaça concreta.
A perda de capacidade relativa de um Estado, ou seja, em relação a outro, pode reverter a
balança de poder regional e aumentar as ameaças concretas que podem surgir para este.
Assim, para não incorrer em situações de ameaças à própria segurança, os Estados devem
buscar ser o Estado mais poderoso do sistema, conceitualmente a hegemonia regional. Mais
importante que isto é sustentar esta posição por longos períodos de tempo, investindo novas
tecnologias para incremento dos armamentos, crescimento econômico para ser revertido em
capacidade de defesa e profissionalização de suas forças armadas.
A balança de poder regional da América do Sul pode ser analisada de acordo com as
capabilities possuídas pelos Estados da região e pelo cálculo de poder latente19. A tabela 1,
Capabilities da América do Sul, demonstra simplificadamente alguns dados relevantes para o
conhecimento destas capacidades materiais, que estão baseadas nas capabilities de
Mearsheimer.
18 Este ponto refere-se aos ganhos absolutos, pelos quais os atores tenderiam a cooperar quando podem obter
ganhos, mesmo que os ganhos dos demais atores sejam maiores. 19 Para o cálculo do poder latente deve-se entender que se referem aos dois indicadores mostrados na nota de
rodapé nº 16 (PIB e população).
7
A tabela 1 apresenta os dados de PIB (Produto Interno Bruto), população total e os efetivos
militares atuais. Estes dados servirão para demonstrar a incontestável superioridade do Brasil
em todos os quesitos analisados.
Tabela 1
Capabilities dos países da América do Sul
Fonte: IBGE, Países, 2010 CIA, World Factbook 2010, 2010
2.2 Análise das capabilities dos Estados
Começando pela análise da capacidade econômica, industrial e produtiva dos países da região,
pode-se visualizar os dados a partir do gráfico 1, PIB na América do Sul. Neste gráfico
podemos destacar que o Brasil possui mais da metade da capacidade produtiva de todos os
países em conjunto. Após o Brasil, temos Argentina e Venezuela, que possuem 11 e 10% da
capacidade produtiva, respectivamente (ou aproximadamente 1/5 da capacidade brasileira),
seguidos de Colômbia e Chile, que possuem 7% da capacidade produzida na região. O PIB
dos demais atores é, assim, irrelevante nessa análise.
Além da superioridade de seu PIB, o Brasil se encontra atualmente com reservas em ouro e
moedas estrangeiras muito superior que as dos demais países. De acordo com o relatório da
CIA de 201020, o Brasil possui 238 bilhões de dólares em reservas. Após o Brasil temos a
Argentina (US$ 48,2 bilhões), seguida de Peru, Venezuela, Chile e Colômbia, que possuem
reservas que variam de US$ 29,75 a US$ 24,84 bilhões.
20 CIA, Central Intelligence Agency. World Factbook 2010, Brazil.
País PIB (US$) População Efetivos militaresValor % do total Valor % do total Valor % do total
Argentina 262.327.000.000 11,18% 40.276.376 10,39% 70.100 7,62%Bolívia 13.120.000.000 0,56% 9.862.860 2,54% 31.500 3,42%Brasil 1.314.199.000.000 56,01% 193.733.795 49,98% 287.000 31,19%Chile 163.915.000.000 6,99% 16.970.265 4,38% 87.500 9,51%
Colômbia 168.394.000.000 7,18% 45.659.709 11,78% 158.000 17,17%Equador 44.400.000.000 1,89% 13.625.069 3,52% 59.500 6,47%Paraguai 12.004.000.000 0,51% 6.348.917 1,64% 18.600 2,02%
Peru 108.259.000.000 4,61% 29.164.883 7,52% 100.000 10,87%Uruguai 23.087.000.000 0,98% 3.360.854 0,87% 25.600 2,78%
Venezuela 236.720.000.000 10,09% 28.583.366 7,37% 82.300 8,94%2.346.425.000.000 100,00% 387.586.094 100,00% 920.100 100,00%
8
Gráfico 1 – PIB na América do Sul Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
Gráfico 2 – População na América do Sul Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
Outro dado importante na análise das capabilities é a população dos Estados. A população
total de um país demonstra sua potencialidade de crescimento econômico e o emprego destas
duas capacidades (economia e demografia) para fins militares. O gráfico 2, População na
América do Sul, mostra as disparidades demográficas entre os Estados da região. No ponto
extremo, com 50% da população, temos o Brasil. Seguidamente, temos a Colômbia, com
aproximadamente 12% da população regional, a Argentina com 10,39% da população, e Peru
e Venezuela com aproximadamente 7,5%. O Chile, que possui relevante PIB, possui apenas
4,38% da população.
Pelo gráfico 3, Efetivos militares na América do Sul, podemos visualizar espacialmente a
Argentina Bolívia Brasil Chile Colômbia Equador Paraguai Peru Uruguai Venezue-la
0
100.000.000.000200.000.000.000
300.000.000.000
400.000.000.000
500.000.000.000600.000.000.000
700.000.000.000
800.000.000.000900.000.000.000
1.000.000.000.0001.100.000.000.0001.200.000.000.000
1.300.000.000.000
1.400.000.000.000
PIB na América do Sul
Países
PIB
Argentina Bolívia Brasil Chile Colômbia Equador Paraguai Peru Uruguai Venezuela
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
180.000.000
200.000.000
População na América do Sul
Países
Pop
ulaç
ão
9
distribuição das forças no sub-continente. Neste dado em específico, a superioridade brasileira
é menor, possuindo o país cerca de 30% das forças militares regulares. Podemos destacar a
Colômbia, que mantém forças regulares de 158.000 militares, representando 17% do total.
Outro destaque é o Peru, que com um PIB de 4,5% da região, mantém quase 11% das forças.
Chile, Venezuela e Argentina possuem forças militares contrastantes com suas realidades
econômicas e populacionais, variando de 7,5 a 9,5% do total. Mas o maior contraste para estar
no Equador, que possui um PIB de 44 bilhões (1,89% do total da região) e mantém 6,47 %
dos efetivos (59.500 militares). Na análise desses dados podemos perceber a presença de um
ambiente militarizado na região, que pode ser causado pela desconfiança no ambiente regional
ou mesmo por problemas de estabilidade institucional internos.
Por fim, cabe inferir que a população dos países em análise pode ser utilizada como
incremento nas forças militares atualmente disponíveis para estes países. Ou seja, a
capacidade de recrutamento militar para estes países está diretamente relacionada com a sua
população total. Na possibilidade de uma guerra total21, os países com maior população terão
mais forças militares disponíveis para emprego tático nos esforços de guerra. Sendo assim, e
retomando a análise do gráfico 2, População na América do Sul, pode-se inferir que a
capacidade de recrutamento militar estará hierarquicamente organizada de acordo com a
população de cada país. Tem-se, portanto, em seqüência o Brasil, a Colômbia, a Argentina, o
Peru e a Venezuela.
Gráfico 3 – Efetivos Militares na América do Sul Fonte: Central Intelligence Agency (CIA)
21 Guerra total pode ser considerado um conflito de alcance ilimitado no qual as partes beligerantes se engajam
numa mobilização total de seus recursos. Assim, utiliza-se todos os recursos à disposição: militares, humanos, industriais, agrícolas e naturais, como parte do esforço de guerra para minar a capacidade do oponente de continuar lutando.
Argentina Bolívia Brasil Chile Colômbia Equador Paraguai Peru Uruguai Venezuela
0
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
225.000
250.000
275.000
300.000
Efetivos militares na América do Sul
Países
Tot
al d
e fo
rças
10
2.3 Hegemonia regional
Utilizando as informações dos gráficos acima analisados, pode-se hierarquizar em termos de
capabilities as capacidades dos países. Em termo econômicos têm-se o Brasil, seguido da
Argentina, Venezuela, Colômbia e Chile. Nos dados demográficos, têm-se Brasil, seguido de
Colômbia, Argentina, Peru, Venezuela e Chile. Em efetivos militares, por fim, têm-se Brasil,
Colômbia, Peru, Chile, Venezuela e Argentina.
Em todos os dados analisados nos gráficos acima, o Brasil apresenta uma capacidade material
muito superior à dos seus vizinhos da América do Sul. Portanto, no estudo das capabilities do
sistema regional da América do Sul podemos considerar que o Brasil é de fato uma
hegemonia em potencial. Como foi demonstrado pelos números apresentados acima, o Brasil
possui capacidades econômica, militar e demográfica muito superiores a todos os demais
países, detendo na maioria das vezes 50% do total. Portanto, na análise do ambiente regional
da América do Sul, mesmo que não atue diretamente como hegemon nas áreas política,
econômica e militar, o Brasil possui a capacidade de hegemonia neste ambiente.
3 A END e a agenda de segurança regional brasileira
Nas vinte e três diretrizes estratégicas da END pode-se encontrar objetivos inerentes à
reorganização das forças – que necessitarão de mudanças internas de remanejamento de
forças e sua distribuição espacial – e pontos que apresentam as posturas do país em seu
ambiente externo, que demonstram posicionamento, prioridades e desafios nas relações
internacionais do país. São estes últimos e suas implicações que serão analisados em seguida.
De forma a resumir as preocupações da agenda de segurança do Brasil que estão expressas na
END, e que podem representar desafios e novas interações nas relações regionais, cabe
selecionar algumas das diretrizes estratégicas que possuem implicações para as relações
externas do país. São elas:
1) domínio das tecnologias necessárias à defesa;
2) capacitação da indústria nacional de armamentos de forma a fornecer esta tecnologia;
3) domínio de tecnologias estratégicas: cibernética, espacial e nuclear;
4) preocupação com o desenvolvimento e a defesa da região amazônica; e
11
5) integração da América do Sul, condição necessária para as demais diretrizes.
3.1 Multilateralismo e cooperação técnica para o desenvolvimento das indústrias bélicas
regionais
A diretriz número dois da END é expressa no ponto número vinte e dois do documento e
ressalta a importância de “... capacitar a indústria nacional de material de defesa para que
conquiste autonomia em tecnologias indispensáveis à defesa...”. Assegurando um regime
especial para estas indústrias – jurídico, regulatório e tributário, inclusive, com dispensa de
licitação -, o Estado buscará manter a demanda pelos materiais de defesa em forma de
compras públicas. Ainda deverá, por meio destes subsídios, atuar no teto tecnológico que
empresas privadas potencialmente concorrentes não conseguiriam atuar rentavelmente em
curto e médio prazos. A contrapartida é o poder estratégico que o Estado irá exercer sobre
estas empresas. (END, 2009, p. 18).
Não se restringindo à ampliação das compras públicas, o Estado buscará fomentar maior
participação no mercado internacional de material bélico. Segundo o documento, buscará a
ampliação da demanda pelos materiais na UNASUL22. (END, 2009, p. 18). Este espaço
institucional, que tem sido um dos pontos de grande interesse da diplomacia brasileira nos
últimos anos, pode se transformar num mercado promissor caso as expectativas e os interesses
dos atores passem a ser mais homogeneizadas. Apesar de ser a região do mundo que possui os
menores gastos com armamentos no mundo23, os países da região são ainda muito
dependentes de mercados externos em material bélico24.
Ademais, a cooperação tecnológica para fortalecimento dos parques militares da região é,
notavelmente, um interesse de todos os países da região. Diminuir a dependência de
armamentos externos a partir do desenvolvimento das indústrias da região, poderá gerar
22 Criada em 2004, a União de Nações Sul-Americanas possui como objetivo expandir a atuação dos países da
América do Sul no cenário político internacional. O exemplo mais articulado de implementação deste objetivo é a MINUSTAH, Missão das Nações Unidas no Haiti, pela qual as tropas do Brasil, Argentina e Chile trabalharam como elementos centrais na estabilização do país. A Organização conta ainda com um Conselho de Segurança, representado pelos ministros de defesa, ou afins, dos respectivos Estados-membros.
23 AVARENA, Francisco Rojas. Panorama da Segurança na América do Sul. Revista: Diplomacia, Estratégia, Política (Janeiro / Março, 2005). Disponível em <http://observatorio.iuperj.br/bibliotecadigital.html>. Acesso em: 14 jun. 2010.
24 PAGLIARI, Graciela de Conti. Segurança regional e política externa brasileira: as relações entre Brasil e América do Sul, 1990-2006. 2009. 281 f. Tese (Doutorado em Relações Internacionais)-Universidade de Brasília, Brasília, 2009. Disponível em <http://repositorio.bce.unb.br/handle/10482/4361>. Acesso em: 14 jun. 2010.
12
emprego e renda para os países da região, e não apenas de customizar o desenvolvimento dos
grandes exportadores internacionais de armamento, como EUA, Rússia, Alemanha, França e
Grã-Bretanha25. Apesar de alguns restringirem a venda de equipamentos militares para a
América Latina, estes países necessitam de mercados externos para manter seu
desenvolvimento econômico em taxas razoáveis e diminuir o desemprego de suas populações.
Estes objetivos são ainda mais necessários na América Latina, região composta por países
com maiores taxas de pobreza e desemprego, e com desenvolvimento industrial e tecnológico
em níveis inferiores aos das potências centrais.
Com a estratégia de representatividade da América do Sul pela UNASUL e com a
“...integração das bases industriais de defesa...”, o Brasil poderá estimular a cooperação
militar e a integração na América do Sul, tanto para fins de produção conjunta de material
bélico, quanto para a defesa do continente nas áreas de interesse destes Estados.
3.2 Domínio da tecnologia para a defesa e aprimoramento dos setores estratégicos
A primeira diretriz apontada anteriormente é expressa no ponto número três da END,
referindo-se ao desenvolvimento da capacidade de controle dos espaços aéreo, marítimo e
terrestre com a utilização de tecnologias “...que estejam sob inteiro e incondicional domínio
nacional...”26. (END, 2009, p. 11). O controle do território de um país é objetivo elementar de
afirmação e respeito à própria soberania. O desenvolvimento da capacidade de domínio
tecnológico para exercer tal soberania é o ponto de destaque, já que necessitará de
reformulações na indústria nacional de produção de armamentos e ao intercâmbio tecnológico
que será demandado.
Este ponto remete à diretriz número três, que visa o desenvolver alguns setores considerados
estratégicos pelo país, tanto em termos de defesa (controle dos espaços terrestre, aéreo e
marítimo) como em necessidade de diversificação da matriz energética. Para tanto, procura-se
fortalecer três setores estratégicos para a defesa do país: o espacial, o cibernético e o
nuclear27.
25 Dados obtidos no relatório da Stockholm International Peace Research Institute do SIPRI YEARBOOK
2009, referente aos cinco maiores fornecedores de armamentos do mundo de 2004 a 2008. Disponível em <http://www.sipri.org/yearbook/2009/07/07A>. Acesso em: 14 jun. 2010.
26 MINISTÉRIO DA DEFESA. Estratégia Nacional de Defesa. Brasil: 2ª ed., 2009 [p. 11]. 27 MINISTÉRIO DA DEFESA. Estratégia Nacional de Defesa. Brasil: 2ª ed., 2009 [p. 12].
13
O projeto de desenvolvimento e de controle destas tecnologias tem sido substituído por uma
opção menos custosa em curto prazo, da importação de materiais bélicos pelas três forças28.
Como demonstra Cândido (2004), três problemas decorrem deste tipo de comportamento: 1)
demonstra a vulnerabilidade militar do país; 2) prejudica sua economia e impede o
desenvolvimento deste setor como alternativa econômica; e, 3) desestimula a pesquisa e o
desenvolvimento (P&D) de materiais e equipamentos estratégicos.
A soberania brasileira – auto-determinação, capacidade de agir em nome de seus próprios
interesses e sem pressões externas -, o controle de suas fronteiras – contra incursões
estrangeiras, contra ameaças de outros Estados ou no combate ao narcotráfico internacional –
e a manutenção de suas riquezas – reservas de petróleo, riquezas minerais e biológicas da
Amazônia e de diversas outras parcelas do território – devem ser protegidos com recursos à
altura destas riquezas. Faz-se necessária a criação e o aprimoramento tecnológico das
indústrias de material bélico para fins de defesa nacional. Assim, o desenvolvimento
tecnológico para fins de defesa – um dos objetivos da END mencionados anteriormente –
seria cumprido paralelamente com o desenvolvimento das indústrias de defesa do país e com
o desenvolvimento dos setores espacial, cibernético e nuclear.
A posse de tecnologias nos três setores estratégicos – espacial, cibernético e militar –
certamente causará alterações na balança de poder regional, podendo causar uma disparidade
de poder militar maior do país com relação aos vizinhos. O Brasil, sendo o único país da
região a possuir o domínio destas tecnologia, possuirá maior quantidade de capabilities, ou de
capacidade de projeção de poder e, consequentemente, liderança política. Além disso, a posse
da tecnologia nas mãos de empresas brasileiras monitoradas pelo Ministério da Defesa poderá
elevar sua superioridade industrial em material bélico em relação a seus vizinhos podendo
mesmo gerar competitividade no mercado internacional de armamentos na região. O processo
de rearmamento dos países do continente pode favorecer o Brasil como fornecedor de
armamentos para os demais países, ou pode ainda favorecer a criação de cooperações técnicas
em matéria de armamentos com países interessados no desenvolvimento deste setor industrial.
28 CÂNDIDO, Jairo. Indústria Brasileira de Defesa: Uma questão de soberania e de autodeterminação. In
MINISTÉRIO DA DEFESA: Forças Armadas e o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do País. Pensamento Brasileiro Sobre Defesa e Segurança, Vol. 03, 2004. Disponível em <https://www.defesa.gov.br/colecao/index.php>. Acesso em: 14 jun. 2010.
14
Sobre o domínio da tecnologia nuclear, o documento justifica-se por meio de dois projetos,
desenvolvimento de submarinos de propulsão nuclear e da necessidade de diversificação de
sua matriz energética. O submarino de propulsão nuclear é certamente um tipo de armamento
essencial à defesa da costa brasileira de mais de oito mil quilômetros e com intensa
exploração de petróleo29. A diversificação da matriz energética pelos países têm sido um
movimento que orienta praticamente todas os povos que desejam diminuir a dependência do
petróleo e outras formas de energias perecíveis tradicionalmente utilizadas, como o carvão. A
diversificação da matriz energética busca diminuir a dependência a formas de energia sujas,
substituindo-as por energias limpas, como de usinas hidrelétricas, energia solar, energia
eólica, energia nuclear e o etanol30.
O comprometimento brasileiro com os acordos internacionais é muito claro no que diz
respeito à manipulação da tecnologia nuclear, sendo o país signatário de três tratados de não-
proliferação nuclear, o Tratado de Não-Proliferação Nuclear31, o Tratado de Tlatelolco32 e um
acordo bilateral de fiscalização conjunta com a Argentina, que criou a Agência Brasileiro-
Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares33. Portanto, o aprimoramento
deste empreendimento com a devida inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica
(AIEA), como é previsto no Tratado de Não-Proliferação Nuclear, aderido pelo país em 1998,
poderá não ser visto com incertezas e dúvidas quanto à disposição do país em continuar 29 O submarino nuclear possui grande capacidade de se ocultar, de desenvolver altas velocidades e
profundidades em pouco tempo. Pode ficar submerso por até cinco anos – um submarino convencional precisa voltar à superfície a cada 36 horas -, tempo que é limitado apenas pelas necessidades humanas de reabastecimento alimentar. Fonte: RODRIGUES, Alessandro. Disputa na Marinha: Nuclear X Convencional. Disponível em <http://www.defesanet.com.br/zz/mb_sub_nxc_3.htm>. Acesso em: 14 jun. 2010.
30 Um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente divulgado em 2009 relata que o mundo investiu cerca de US$ 155 bilhões em 2008, mais que a metade dos US$ 250 bilhões ainda investidos nas fontes tradicionais de energia. O relatório ainda demonstra uma tendência de aumento exponencial nestes investimentos, que quadruplicaram em relação a 2004 e superaram os investimentos em energias fósseis. O Brasil lidera o mercado mundial de energias renováveis: 46% de sua energia consumida vêm de fontes de energias limpas – como hidrelétricas – e 90% dos carros produzidos no país são bicombustíveis (gasolina ou álcool). Fonte: Núcleo de Inovação e Propriedade Intelectual. Brasil é líder global em energias limpas, diz ONU. Disponível em <http://www2.unifal-mg.edu.br/nipi/?q=limpas>. Acesso em: 14 jun. 2010.
31 O Tratado de Não-Proliferação Nuclear foi assinado em 1968 e passou em vigorar já em 1970. Hoje conta com a adesão de 189 Estados, que se comprometem em não procurar ou desenvolver armamentos nucleares. No caso dos países que se declaram possuidores de armamentos, o compromisso é no sentido de não disseminar ou colaborar para a disseminação da tecnologia para desenvolvimento dos armamentos. Os Estados-parte são monitorados pela Agência Internacional de Energia Atômica. Disponível em <http://www.onu-brasil.org.br/doc_armas_nucleares.php>. Acesso em 20 jun. 2010.
32 O Tratado de Tlatelolco passou a vigorar em 1969, sendo ratificado por todas os Estados da América Latina e Caribe. Este Tratado declara a região livre de armas nucleares, proibindo testes, manufatura, ou quaisquer tipos de aquisições. Disponível em <http://www2.mre.gov.br/dai/tlatelolco.htm>. Acesso em: 20 jun. 2010.
33 A Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares foi criada em 1991. Possui acordos de salvaguardas entre os dois países e representa uma aliança estratégica para o conhecimento mútuo de atividades nucleares. Sítio institucional <http://www.abacc.org/port/abacc/abacc_historia.htm>. Acesso em 20 jun. 2010.
15
cumprindo seus tratados.
3.3 Criação de mecanismos de defesa continental: integração continental e controle do
espaço amazônico
Expresso no ponto dezoito, e o quinto ponto destacado de preocupação da END, a integração
regional em assuntos de defesa visa a prevenção de conflitos regionais e uma integração
industrial restrita aos países da região. Empenha-se, portanto, na criação de uma comunidade
de segurança34, com mecanismos multilaterais de resolução no âmbito do Conselho de
Segurança da UNASUL, com diminuição de conflitos que ultrapassem as fronteiras dos
países e que gerem maior previsibilidade das relações, e com acordos de cooperação técnico-
científico nas indústrias de defesa da região – aprimoramento tecnológico para fins de defesa -
, destacado como o segundo ponto de grande importância nas relações regionais.
3.3.1 A transnacionalidade do conflito colombiano
Como mencionado na própria END, o Brasil não possui inimigos declarados atualmente. A
justificação das medidas a serem implementadas visando o fortalecimento de suas posições
táticas e estratégicas, neste sentido, estariam no sentido de se preparar para a guerra de forma
a evitá-la, preservando a paz35. (END, 2009, p. 16).
As FARC36, considerado como um grupo terrorista pelos EUA e pela Colômbia, atuam como
34 Comunidade de Segurança deve ser entendida como um grupo de países que possuem um senso de
comunidade em razão de sua integração. O ponto principal para a criação de uma comunidade é o compartilhamento de valores, que geram maior previsibilidade nas ações dos atores e, por fim, uma paz estável. Nessa discussão, utilizamos o conceito de Comunidade de Segurança Pluralística de Adler e Barnett (1998). Nessa comunidade de segurança, dois ou mais países estão integrados em seus princípios e objetivos, ancorados em valores centrais e instituições comuns. A comunicação tem um papel central nesta comunidade – pensamento e atuação coordenados -, já que seus membros não abrem mão de sua independência política para fazerem valer os interesses da comunidade. Assim, para ser considerada uma comunidade de segurança pluralística nos termos de Adler e Barnett, o arranjo institucional deve possuir as seguintes características: 1) os membros da comunidade compartilham identidades, valores e entendimentos; 2) as interações ocorrem de forma direta (face to face) e em vários setores; e, 3) os membros da comunidade possuem reciprocidade em suas ações, já que consideram relações de longo prazo.
35 MINISTÉRIO DA DEFESA. Estratégia Nacional de Defesa. Brasil: 2ª ed., 2009 [p. 16]. 36 As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia surgiram em 1964 na Colômbia e passaram desde então a
atuar como um poder paralelo na Colômbia. Obtêm grande parte de seus recursos com o tráfico de drogas internacional.
16
um grupo insurgente na Colômbia desde a década de 1960. A partir da década de 1980, com a
transferência de grandes porções de plantação de coca do Peru e da Bolívia para a Colômbia,
as FARC passaram a financiar suas atividades extremistas com os recursos provindos do
tráfico de drogas. (PAGLIARI, 2009, p. 164). Além de atuação no narcotráfico regional e
internacional (suprimento de grande quantidade da demanda de cocaína para os EUA), as
FARC ainda praticam atividades ilícitas de seqüestros (para a obtenção de recursos) e
atentados com bombas (como demonstração de presença e poder).
A Organização, que controla entre 15 e 20% do território colombiano (já chegou a controlar
40%)37 tem a capacidade de definir, em certa medida, os investimentos em defesa e segurança
do conjunto dos Estados do sub-continente. Atuando nos limites das fronteiras colombianas
na Amazônia, o grupo acaba atuando também na região amazônica brasileira na produção,
armazenagem e no comércio de drogas, agindo diretamente ou por meio de terceiros no
tráfico internacional de drogas e de armas na região.
Assim, o conflito colombiano é de extremo interesse para os países da região, pois tende a
gerar repercussões em outras áreas de criminalidade de forma transnacional – tráfico de
drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Ademais, a importância dada pelos EUA ao
tema, como uma ameaça à sua segurança, chama a atenção dos atores regionais para o tema,
devido à grande capacidade da potência de alocar recursos e apoio internacional, ou mesmo
da região – como tem sido permitido pela Colômbia -, para a definição de temas da agenda
regional e da presença de suas forças. (PAGLIARI, 2009).
3.3.2 Redes transnacionais de narcotráfico
O narcotráfico é um problema que se caracteriza pela conectividade com outros crimes e pela
capacidade de ação muito além das fronteiras, ligando grupos de diversos Estados pelo
interesse comum que envolve a produção, a armazenagem e o escoamento das drogas para os
grandes mercados consumidores. Em razão da grande repressão que é investida contra os
grupos narcotraficantes, além de ser uma atividade extremamente lucrativa, estes grupos
acabam por conectar-se a atividades de comercialização ilegal de armamentos, apoiando-se
37 PAGLIARI, Graciela de Conti. Segurança regional e política externa brasileira: as relações entre Brasil e
América do Sul, 1990-2006. 2009. 281 f. Tese (Doutorado em Relações Internacionais)-Universidade de Brasília, Brasília, 2009 [pg. 164]. Disponível em <http://repositorio.bce.unb.br/handle/10482/4361>. Acesso em: 14 jun. 2010.
17
em suas capacidades financeiras para se manterem na atividade contra a repressão estatal38.
(PAGLIARI, 2009, p. 142).
Na END, precisamente no ponto número nove, propõe-se aumentar a presença das três forças
nas fronteiras brasileiras, onde pode-se fazer uma alusão ao combate a tais crimes. Mas um
assunto de tamanha repercussão interna em violência e saúde, e constantemente causado por
falta de vigilância e atuação de outros Estados, e pelo próprio Estado brasileiro nas rotas de
tráfico, não recebeu a devida atenção de uma atuação militar planejada. Como pode-se notar
na análise da END, não há discussões acerca de uma estratégia planejada de combate ao
narcotráfico que ocorre na região da Amazônia e que envolve os diversos Estados que
compõem a fronteira da floresta. A presença nas fronteiras, mencionada acima, pode ser
entendida apenas como a proteção regular contra os exércitos estrangeiros, não referindo-se
diretamente ao problema dos narcóticos.
O problema do narcotráfico na América do Sul tem sido mais sentido pela Colômbia, onde
encontra um cenário favorável de prosperidade pelo conflito armado interno, pela falta de
presença do Estado em determinadas áreas e em razão de problemas de governabilidade39.
(PAGLIARI, 2009, p. 148). De acordo com Pagliari (2009), no combate ao narcotráfico a
Colômbia tem se caracterizado pela intensa cooperação com os EUA – inclusive no discurso
norte-americano de combate às drogas -, atuando de forma não integrada aos demais Estados
do sub-continente.
3.3.3 Desafios à região da Amazônia
Como apontado pela END, recursos humanos e financeiros deverão ser investidos na
Amazônia, demonstrando a preocupação com o desenvolvimento e defesa desta região. A
importância desta região, de extremo interesse para o país, vai desde o potencial hidroviário e
hidrelétrico, passando pela expressiva quantidade de água doce, à diversidade de biomas e
espécies animais, e como fonte de produção de medicamentos40. (NETO, 2003).
38 PAGLIARI, Graciela de Conti. Segurança regional e política externa brasileira: as relações entre Brasil e
América do Sul, 1990-2006 [pg. 142]. 39 PAGLIARI, Graciela de Conti. Segurança regional e política externa brasileira: as relações entre Brasil e
América do Sul, 1990-2006. 2009 [pg. 148]. 40 A região identificada como Amazônia compreende os ecossistemas localizados na bacia hidrográfica do Rio
Amazonas – que possui um quinto de toda a água doce do mundo -, com uma superfície total de 7 milhões de km², o equivalente a 40% do território da América do Sul. A floresta está presente em maior e menor
18
Da mesma forma, também é tratada na END como prioridade pelo país, como se pode atestar:
A Amazônia representa um dos focos de maior interesse para a defesa [...]. O Brasil
será vigilante na reafirmação incondicional de sua soberania sobre a Amazônia
brasileira. Repudiará, pela prática de atos de desenvolvimento e de defesa, qualquer
tentativa de tutela sobre as suas decisões a respeito de preservação, de
desenvolvimento e de defesa da Amazônia. Não permitirá que organizações ou
indivíduos sirvam de instrumentos para interesses estrangeiros – políticos ou
econômicos – que queiram enfraquecer a soberania brasileira. Quem cuida da
Amazônia brasileira, a serviço da humanidade e de si mesmo, é o Brasil41. (END,
2009, p. 14).
3.3.3.1 Povoamento e desenvolvimento
A floresta não é de preocupação exclusiva do Brasil, já que os países que possuem parcelas da
Amazônia em seus territórios – Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana
e Suriname -, iniciaram suas conversações para o controle e a preservação da região já na
década de 1970, que culminaram com o Tratado de Cooperação Amazônica42 (TCA). O TCA
seria regido por cinco princípios: 1) competência exclusiva dos países da região no
desenvolvimento e proteção da Amazônia – não sendo aberto a adesões -; 2) a soberania
nacional na utilização e preservação dos recursos naturais; 3) cooperação regional como
forma de realizar os dois primeiros objetivos; 4) equilíbrio e harmonia entre proteção
ecológica e desenvolvimento econômico; e, 5) a igualdade entre os Estados-parte43.
Segundo Machado (2008), o Brasil tem buscado oferecer respostas no sentido de aumentar a
quantidade em oito países: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. A região é responsável por uma biodiversidade imensa, com três mil espécies de peixes e cinco mil espécies de árvores – apenas na Amazônia colombiana estão 10% de todas as espécies de fauna e flora de todo o planeta. Estima-se que um quarto de todos os medicamentos produzidos no planeta tem sua origem na Floresta.
No Brasil encontra-se 70% de toda a floresta amazônica, 5 milhões de km², compreendendo 60% do território nacional. O Brasil controla a saída da bacia para o Oceano Atlântico e sua região como um todo sofre com as queimadas e o desmatamento decorrentes do povoamento irregular e da falta de fiscalização. Fonte: NETO, Petronio de Tilio. Soberania e Ingerência na Amazônia Brasileira (São Paulo, 2003). Disponível em <http://www.santiagodantassp.locaweb.com.br/br/arquivos/nucleos/artigos/tilio.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2010.
41 MINISTÉRIO DA DEFESA. Estratégia Nacional de Defesa. Brasil: 2ª ed., 2009, ponto 10 [p. 14]. 42 O Tratado de Cooperação Amazônica foi celebrado em 1978 pelos oito países que possuem fronteiras na
floresta amazônica: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Possui como objetivo promover o desenvolvimento integrado da bacia amazônica, de forma a elevar o nível de vida da população local, crescimento econômico regional e preservação do meio ambiente. Sítio institucional <http://www.abacc.org/port/abacc/abacc_historia.htm>. Acesso em 20 jun. 2010.
43 RICUPERO, Embaixador Rubens. In NETO, Petronio de Tilio (2003).
19
presença militar na região, de forma a manter a estabilidade nas fronteiras. Os militares atuam
de duas formas, a partir do Programa Calha Norte44 (PCN) – que incentiva a migração de
nacionais e o estabelecimento de atividades econômicas nas proximidades das fronteiras - e
do Sistema de Vigilância da Amazônia45 (SIVAM) – que pretende ampliar o controle de
atividades ilícitas e de desmatamento na região.
3.3.3.2 Falta de presença do Estado: rotas do tráfico internacional de drogas
Apesar mencionar um aumento dos efetivos e da capacidade de combate na região amazônica,
a END não faz nenhuma menção sobre o combate ao narcotráfico. Como ressalta Oliveira
(2007), desde a década de 1970 o Brasil serve como escoador da produção de cocaína. A
partir da década de 1990 grupos narcotraficantes fazem o refino da droga proveniente dos
países Andinos em território brasileiro, em laboratórios camuflados na mata. A cidade de
Manaus, em razão de seu dinamismo econômico e de sua infra-estrutura diferenciada, “...
tornou-se centro de exportação de cocaína, com conexões às Guianas, ao Suriname, à
Venezuela, e às regiões sudeste e nordeste do Brasil...” (OLIVEIRA, 2007, p. 76).
De acordo com Oliveira (2007), a região possui um imenso corredor de produção, receptação
e exportação de drogas, com diversos corredores de passagem. No primeiro corredor, a droga
é exportada diretamente dos grandes produtores – Colômbia, Peru e Bolívia – para a América
do Norte e Europa. Em alguns casos, essa rota utiliza como intermediário o norte da América
do Sul – Venezuela, Panamá, Suriname e Guiana. No território brasileiro pode-se identificar
dois corredores: 1) no primeiro a cocaína proveniente dos grandes produtores atravessa os
estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul em direção à região sudeste, de onde é
redirecionada para a Europa e Estados Unidos; 2) no segundo segue para as capitais dos
estados da região norte, passando por rotas paralelas na Guiana, Venezuela, Suriname e
regiões nordeste e sudeste do Brasil. Por rotas internacionais, passa por países do leste
africano até chegar à Europa, onde entra preferencialmente pela Espanha e pela Holanda, para
depois ser distribuída internamente. A região Amazônica ainda é grande receptora de drogas
44 O Projeto Calha Norte foi criado em 1985 e hoje é subordinado ao Ministério da Defesa. Possui como
objetivo principal contribuir para a manutenção da soberania na Amazônia e para o seu desenvolvimento ordenado. Disponível em <https://www.defesa.gov.br/programa_calha_norte/index.php>. Acesso em 20 jun. 2010.
45 O SIVAM foi elaborado pelas forças armadas brasileiras com a finalidade de monitorar mais eficazmente o espaço aéreo amazônico. Este projeto é responsável ainda pelo monitoramento dos níveis de desmatamento na região. Disponível em <http://www.militarypower.com.br/frame4-opin8.htm>. Acesso em 20 jun. 2010.
20
sintéticas, como Ecstasy e LSD, pelo Suriname, provenientes da Bélgica e da Holanda
(OLIVEIRA, 2007, p. 78-79).
Como se observa, além de contribuir na distribuição de drogas ilícitas, a região Amazônica
ainda é produtora e receptora de drogas. Os oito países que possuem território nesta região
devem, pois, buscar iniciativas de desenvolvimento e intercâmbio tecnológico, e de
cooperação policial e de inteligência para diminuir os efeitos do narcotráfico em seus
territórios e nos grandes destinos das drogas.
4 Estabelecendo a END em nível regional
Tendo em vista o que se tratou até o momento pode-se relacionar os pontos de interesse do
Brasil previstos na END com alguns dos interesses dos países da América do Sul sobre estas
questões. Esta inter-relação das agendas de segurança dos países da região deveria, sob esta
perspectiva, ser tratada exclusivamente pelos países da região, mantendo de fora quaisquer
interesses externos de potências e reintegrando ao sistema sub-regional os atores que
transporem os limites de ação definidos por tal regime46 regional.
As cinco diretrizes estratégicas apresentadas na parte 3 são planos de aplicação em médio e
longo prazos para que se alcancem alguns dos objetivos brasileiros em matéria de defesa.
Estas diretrizes, que também são de interesse de alguns ou todos os países da região,
poderiam ter aplicação multilateral. Tendo em vista estas diretrizes, aliada às capacidades
material e potencial muito superiores do Brasil em relação aos demais Estados, pode-se inferir
que a articulação destas diretrizes e a sua aplicação efetiva seguirão, por meio de um processo
natural, os objetivos de defesa nacional e regionais defendidos pelo Brasil.
Para a aplicação destes planos de defesa, que cumprirão os objetivos dos demais países da
região, o Brasil deverá adotar instrumentos de soft power47, por meio de uma hegemonia
46 De acordo com KRASNER (1983), regimes devem ser entendidos como um conjunto de princípios, normas,
regras e procedimentos decisórios, que representam uma convergência de interesses de diversos atores em uma determinada área ou assunto.
47 De acordo com NYE (2004), instrumentos de soft power são utilizados pelos Estados para influenciar indiretamente o comportamento de outros Estados do sistema. Estes meios podem ser políticos e culturais, sendo adotados através de uma lógica cooperativa de compartilhamento de interesses, liderada pelo Estado que adota o soft power.
21
cooperativa48, assumindo externamente a articulação dos objetivos regionais. A aplicação
destes objetivos não poderia ser feita por meio de mecanismos de hard power pelo Brasil, já
que a sua capacidade de projeção imediata de poder pode ser considerada aquém da situação
de hegemonia regional na região, pois ainda não é capaz de controlar eficazmente a região
com a utilização de armas e ameaças.
4.1 Cooperação regional: o papel da UNASUL
Para que os planos de defesa regionais possam obter aplicabilidade entre os países da região,
necessita-se que a maioria dos Estados imbuídos neste sub-sistema compartilhem destes
objetivos. Os demais Estados que não compartilham destes objetivos acabam sendo atraídos
pelo regime regional, já que seria muito custoso (em termos de capabilities) para estes não
participarem do arranjo, ou de estes Estados contrários ao statos quo49 proporem e arcarem
com os custos de articulação de arranjo contrário ao defendido pela hegemonia em potencial.
A formação da Comunidade Sul-Americana de Nações (CASA) conseguiu agregar os 12
países da região (incluindo Guiana e o Suriname), como alternativa de discussão político-
diplomática em âmbito comercial. Já na primeira Cúpula da CASA, observa-se um esforço de
consenso dos governos na desmobilização e no desarmamento de grupos ilegais que atuam na
região, e para o estabelecimento da paz na Colômbia. (PAGLIARI, 2009).
A Comunidade, formalizada posteriormente por meio da UNASUL, propõe um processo
inovador de integração nas áreas de energia, infra-estrutura, cooperação judiciária e uma
coordenação para fortalecer a luta contra o terrorismo, a corrupção, o combate às drogas, o
tráfico de pessoas, o tráfico de armas, o crime organizado transnacional e a promoção de
intercâmbios de informação para a defesa. (PAGLIARI, 2009). A instituição possui
personalidade jurídica de organização internacional50, permitindo a projeção da América do
Sul como um bloco internacional.
48 De acordo com GRATIUS (2007), as potências médias adotam estratégias de projeção internacional através
de coalizões de Estados ou organizações internacionais. Estados com mais capabilities e poder potencial, mas que se encontram com capacidades militares debilitadas, podem adotar as estratégias de maximização de poder ou de estabilização de sua influência através de meios não coercitivos, adotando a estratégia da hegemonia cooperativa.
49 Países contrários ao statos quo seriam aqueles Estados que procuram alterar a correlação de forças em determinado sistema de Estados. Estes Estados são os revisionistas, que propõem uma alternativa diferenciada para as relações políticas, econômicas, militares ou outras, no sistema.
50 Como Organização Internacional, a UNASUL pode obter direitos e contrair obrigações internacionais, celebrando acordos com outras OIs e Estados.
22
O Conselho de Defesa da UNASUL foi criado no início de 2009 para promover a cooperação
na área de defesa, por meio de proposta brasileira – visando modernização de seu aparato
bélico e estímulo a esta indústria (PAGLIARI, 2009). O Conselho, órgão de consulta por
unanimidade, mas ainda sem poder de intervenção militar, rege-se pelos “princípios:
� respeito irrestrito à soberania, integridade e inviolabilidade territorial dos Estados, não
intervenção em seus assuntos internos e autodeterminação dos povos;
� fortalecimento do diálogo e do consenso em matéria de defesa por meio do fomento às
medidas de confiança e transparência;
� pleno reconhecimento das instituições de defesa nacional de cada um dos Estados
membros;
� subordinação constitucional das instituições de defesa à autoridade civil;
� promoção da redução das assimetrias entre os sistemas de defesa dos membros de
maneira a fortalecer a capacidade da região no campo de defesa;
� o fomento à defesa soberana dos recursos naturais das nações sul-americanas;
� reafirmação da convivência pacífica dos povos, da vigência dos sistemas democráticos
de governo e sua proteção em matéria de defesa, frente a ameaças ou ações externas
ou internas, no marco das normativas nacionais. Da mesma forma, rechaça a presença
ou ação de grupos armados à margem da lei, que exerçam ou propiciem a violência
qualquer que seja sua origem.” (PAGLIARI, 2009).
O Plano de Ação para 2009, da UNASUL, visava uma construção comum e gradual de uma
identidade sul-americana em matéria de defesa. Dentre a agenda podem-se destacar a
identificação de fatores de risco e ameaças para a região; a cooperação militar em ações
humanitárias e operações de paz, e assistência em desastres naturais; um diagnóstico da
indústria de defesa dos países da região e a promoção de iniciativas de cooperação para as
indústrias de defesa; e intercâmbio para capacitação e formação de militares. (PAGLIARI
2009).
Por meio da apreciação destes pontos do plano, e das diretrizes da END, pode-se perceber que
a diretriz número 22, que prevê a conquista de autonomia da indústria de defesa, inclusive por
meio de cooperação com os países da América do Sul, poderia ser bem conduzida
multilateralmente entre os países da região, suprindo carências de caráter bélico destes
Estados. Na diretriz da END, a autonomia de produção de equipamentos necessários aos
23
países da região – sendo produzidos no Brasil ou em seus vizinhos -, visa manter o
suprimento das forças regionais, aliados à harmonia entre oferta e demanda das suas forças
armadas, com o propósito final de eliminar progressivamente a importação extra-regional
destes equipamentos. (END, 2009, p. 18). Estas compras, que têm tido aumentos
significativos nos últimos anos51, mantém os países da América do Sul dependentes de
tecnologia externa para se reaparelharem, impedindo o fortalecimento de uma indústria bélica
regional mais forte que possa aumentar o desenvolvimento e a geração de riqueza.
Ademais, a capacidade de produção bélica pelos países da região poderá afastar possíveis
influências externas à região por grandes fornecedores de armamentos. A enorme quantidade
de armamentos fornecidos pela Rússia à Venezuela nos últimos anos, além dos exercícios
militares conjuntos na região do Caribe, têm despertado críticas acerca da influência externa
da Rússia sobre a região, que possuiria capacidade de atuar militarmente com o apoio de
países da região em um espaço geopolítico dominado pelos EUA. (PAGLIARI, 2009).
4.2 Controle e desenvolvimento do espaço amazônico
O controle da região amazônica, tratada como prioridade pelo país (de acordo com a diretriz
número 10 da END), poderá ser beneficiado diretamente pelo desenvolvimento das indústrias
de defesa e pelo domínio das tecnologias estratégicas (espacial, cibernética e nuclear). A posse
destas tecnologias, juntamente com os programas de controle e desenvolvimento do espaço
amazônico (TCA, Calha Norte e SIVAM), aliados à capacidade de auto-suprimento (sem
necessidade de compras externas), poderão garantir uma maior fiscalização nas regiões de
fronteiras e em áreas mais deficitárias em presença militar dentro do território brasileiro. Um
maior controle desta região poderá auxiliar na prevenção de ilícitos internacionais que
interliguem ações das FARC com criminosos brasileiros, ações das FARC em território
brasileiro, combate às rotas de tráfico internacional de entorpecentes que se utilizam do
território para escoamento ou armazenamento de drogas, e no combate a demais crimes que
ocorrem por falta de presença do Estado na região.
51 As aquisições de compras de armas pelos países da América do Sul aumentaram cerca de 150% (aumento
mundial no período: 22%) nos últimos cinco anos. Os principais Estados responsáveis são Chile (13º no ranking global), Venezuela (17º no ranking global) e Brasil (30º no ranking global), mas a região em sua totalidade é a que menos gasta no mundo. Fonte: SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), in Plano Brasil: Defesa, Tecnologia, Inovação e Soberania. Disponível em <http://pbrasil.wordpress.com/2010/03/15/america-do-sul-da-salto-em-compra-de-armas/>. Acesso em 14 jun. 2010.
24
Ainda mais, este desenvolvimento das indústrias de armamento do sub-continente, facilitará o
acesso dos demais países da região a tais tecnologias, podendo ser empregadas por estes
países para estabelecer maior controle sobre seus territórios na região amazônica.
Estabelecendo maior controle, reforça-se a soberania destes Estados na região e diminui-se
uma retórica de internacionalização da região, defendida por alguns atores internacionais em
nome da preservação da floresta52.
Pela importância da dimensão de suas fronteiras na Amazônia, e conseqüente dificuldade de
fiscalização da totalidade destas, o Brasil deve buscar mais tratados de cooperação com
centrais de inteligência e polícias dos países transfronteiriços. Neste caso, propõe-se uma
maior cooperação dos órgãos de inteligência dos países interessados para obter maior controle
sobre a região como um todo. Para manter um diálogo de soberania e controle exclusivo de
suas possessões na Amazônia, a região deve promover ações que demonstrem controle e
soberania, prevenindo o tráfico internacional ilícito que gera atividades criminosas em outros
países. Esta perspectiva também vale para o ambiente interno para a prevenção da influência
negativa que as organizações criminosas possuem no território brasileiro, que geram
insegurança social nas regiões amazônicas e nos grandes centros urbanos distribuidores das
drogas de varejo.
De acordo com Machado (2008), o Brasil deve desempenhar a legitimidade de sua soberania
sobre a região amazônica de três formas: 1) garantia por meio de tratados internacionais – já
firmados com os países de entorno -; 2) presença coercitiva militar – variante reforçada pela
END –; e, 3) pela geração de retornos positivos desta dinâmica, tanto para o desenvolvimento
da região (e do país) bem como para o fortalecimento da imagem internacionalmente
transmitida.
Uma capacidade tecnológica bem desenvolvida e suprida pelos países da região poderia
auxiliar no conflito armado interno da Colômbia. O país, que recebe ajuda direta de
armamentos, técnicos militares e treinamentos conjuntos dos EUA em seu território (com
bases militares instaladas) têm sido tratado com receio por países da região que se opõem a
qualquer presença dos EUA na região, e mesmo nas cúpulas da UNASUL, em razão da
52 Para maiores discussões ver BENATTI. Disponível em
<http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/manaus/estado_dir_povos_jose_heder_benatti.pdf>. Acesso em 20 jun. 2010.
25
dificuldade de consenso em temas de defesa regional. (PAGLIARI, 2009).
5 Conclusão e Considerações finais
Pode-se considerar, portanto, que os objetivos presentes na END, juntamente com os pontos
presentes na agenda de segurança sul-americana (UNASUL) e dos países que possuem
território na Amazônia, podem fortalecer o estabelecimento de uma agenda de segurança
comum na América do Sul, capaz de atender grande parte destes Estados, representando o
sub-continente em seus interesses globais.
Os desafios inerentes a este projeto brasileiro de representação ainda são muitos e devem ser
solucionados em médio e longo prazo. Estes incluem:
� o desenvolvimento das indústrias de defesa e o auto-suprimento regional;
� capacidade de monitoramento e controle da região amazônica nas ações de guerrilhas
e grupos narcotraficantes;
� integração regional e consenso sobre os objetivos de desenvolvimento industrial bélico
e de autonomia política pela UNASUL;
� eliminar a influência de grandes potências na região por meio de autonomia bélica e
consenso político regional.
A proposta de aumentar os efetivos militares e a utilização de tecnologias mais avançadas no
controle da região amazônica e nas fronteiras com os demais países da região é um ponto
acertado, na medida em que visa uma presença mais ativa na Amazônia. Não apenas para se
proteger de ingerências externas por parte de países, mas para demonstrar maior controle
sobre grupos guerrilheiros e contra o narcotráfico que ocorre nas fronteiras. A aplicação do
trinômio “monitoramento/controle, mobilidade e presença”53 é de extrema importância para
combates efetivos contra estes crimes. Priorizando o controle do espaço aéreo e das fronteiras
amazônicas produzir-se-á mais efeitos neste tipo de combate. Uma possível liderança regional
no combate ao narcotráfico, adquirida pela cooperação com as demais nações envolvidas e
com planos de ações muito bem arquitetados, podem projetar uma imagem de liderança
brasileira na região em defesa de um objetivo comum regional, trazendo benefícios também
53 A organização das forças armadas com base no trinômio monitoramento/controle, mobilidade e presença é
indicado no ponto número 02 da END e consta nos planos estratégicos das três forças no decorrer do documento.
26
aos países destinatários das drogas.
O aprimoramento das indústrias de defesa nos países da região serviria para cumprir grande
parte da demanda por armamentos dos grandes exportadores e gerar um fortalecimento da
economia regional, dando maior peso aos blocos econômicos da região, como a CAN54, a
ALADI 55 e principalmente o MERCOSUL56. Como quase a maioria dos países que fazem
parte destes blocos comerciais são membros da UNASUL57, a articulação das indústrias de
defesa e a regularização das trocas oferece menos impedimentos.
Como foi demonstrado pela sua superioridade relativa em capabilities, o Brasil seria o único
país da região, em médio e longo prazos, para atuar como hegemonia cooperativa no bloco
sul-americano. A formulação de “planos de guerra e de paz” é de muita importância neste
sentido, já que ações de intervenções em nome da segurança regional podem ser necessárias
no futuro. Nos exemplos já citados, pode-se supor a necessidade de combate conjunto contra
grupos narcotraficantes que se deslocam por diversos Estados da região com grande facilidade
através da Amazônia. O combate conjunto com o governo colombiano contra as FARC pode
se apresentar como uma das demandas futuras, de forma a auxiliar na defesa da segurança e
das instituições democráticas entre os países da região, e mesmo contra os efeitos gerados
pelos guerrilheiros aos diversos Estados de entorno.
A capacidade de exercer a articulação política e de representação dos interesses da América
do Sul neste ambiente, é pressuposto inicial para a participação ativa do Brasil e da região nos
centros de decisões globais que beneficiem a região e o país. Como possuidor de maior
capacidade potencial e material, o país estaria mais capacitado para exercer tal papel. A
vontade política brasileira de se fazer representar nos órgãos multilaterais e pressionar por
mudanças que beneficiem as economias emergentes e a América do Sul está, pois, enraizada
na sua capacidade de resolução de crises internacionais na região, de contribuir para o
desenvolvimento sócio-econômico da região, de fortalecer os blocos comerciais da região e
54 A Comunidade Andina (CAN) é um mercado comum que foi criado em 1969 e possui como membros a
Bolívia, a Colômbia, o Equador e o Peru. 55 A Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) é um mercado comum criado em 1980 e possui
doze membros: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.
56 O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) foi criado em 1991 por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A adesão da Venezuela está sendo analisada pelos países membros do bloco.
57 Membros da Unasul: Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Chile, Guiana, Suriname e Venezuela.
27
em promover a segurança sub-continental sem a interferência de atores externos. Para tanto,
deve-se estar disposto a arcar com os custos de representação e de construção de arranjos
institucionais no curto e médio prazos para colher os objetivos do projeto no longo prazo.
A busca de parcerias bilaterais ou multilaterais utilizando-se como pano de fundo a UNASUL
pode ser uma das alternativas de se atingir os objetivos da END, no âmbito nacional, e do
desenvolvimento e capacidade de representatividade regional, no plano sul-americano. A
partir da integração da América do Sul – diretriz estratégica número 18 da END, o Brasil
poderá, a partir de parcerias com os países da região, capacitar sua indústria nacional de
material bélico para manter sua autonomia e necessidades de planejamento, contribuindo
ainda para o desenvolvimento regional e o suprimento das forças armadas dos demais países –
diretriz estratégica número 22 da END.
Os planos previstos nas diretrizes número 3 (monitoramento e controle dos espaços aéreo,
terrestre e marítimo, com tecnologia de domínio nacional) e 6 (desenvolvimento dos setores
espacial, cibernético e nuclear), serão alimentados pelo projeto de desenvolvimento da
indústria nacional no escopo regional, fortalecendo o papel de liderança do país na região e
permitindo a disseminação destas tecnologias para promover a segurança nos assuntos de
interesse dos países do sub-continente. Estes temas de defesa – efeitos das ações das FARC,
redes transnacionais de narcotráfico e a necessidade de se obter maior controle sobre a região
amazônica – poderão ser tratados com maior cooperação entre os países da região quando
estes possuírem maior compartilhamento de tecnologia e consenso político para combatê-los.
A projeção da END brasileira na América do Sul não poderia ser preconizada de acordo com a
teoria de Mearsheimer, já que o país não possui uma capacidade de projeção de poder
imediata tão superior à dos demais países da região, militarmente falando. Apesar de possuir
capabilities muito superiores às dos demais Estados, o país carece de parques industriais
bélicos para a produção das tecnologias necessárias à sua própria defesa, o que demonstra a
sua fragilidade em adotar posturas de obtenção de poder às custas dos demais Estados por
meio de mecanismos de uso de ameaças e emprego militar. Esta situação explica a
incapacidade tecnológica e militar pode explicar o fato de o país não exercer uma hegemonia
regional nos termos de Mearsheimer.
Desta forma, entende-se que o Brasil deveria utilizar mais ativamente os mecanismos
28
intitucionais de que dispõe na região de acordo com as suas capacidades reais de influência,
por meio de sua capacidade econômica muito superior à dos demais países. Esta capacidade
econômica favorece a liderança do país em assuntos econômicos, gerando maior capacidade
de articulação política em diversas áreas. Sobre o poder militar, poderá ser exercido mais
ativamente pelo país quando este obtiver o domínio na capacidade de produção de
armamentos necessários à sua defesa e mais ainda quando possuir a capacidade de produção
de armamentos e de sistemas de monitoramento a partir do domínio dos três setores
estratégicos (espacial, cibernético e nuclear). Nesta ocasião, a capacidade de projeção de
poder militar do Estado poderá ser muito superior à dos demais países em conjunto, já que
nenhum destes dispõe do domínio de tais tecnologias. Neste caso, a perspectiva
mearsheimiana de hegemonia regional estaria cada vez mais próxima da realidade do país
pois, como foi demonstrado ao longo deste trabalho, a capacidade de projeção de poder é a
única capabilitie que o país não possui com elevada superioridade em relação aos demais
países do sub-continente.
Atuando através da hegemonia cooperativa, com mecanismos de soft power, o Brasil poderá
obter mais reconhecimento e escopo de ação internacionais. A atuação brasileira de liderança
em operações de manutenção de paz como a do Haiti, com a presença de mais países sul-
americanos, é um exemplo de articulação política na região e de demonstração de relativo
preparo de suas forças armadas. Fortalecendo os aspectos da END, gerando maior
desenvolvimento e segurança regionais, e atuando como gestor das crises políticas e militares
no sub-continente, a projeção de poder do país no cenário internacional se torna um processo
natural.
29
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Artigos / publicações: AVARENA, Francisco Rojas. Panorama da Segurança na América do Sul. Revista Diplomacia, Estratégia, Política (Janeiro / Março, 2005). Disponível em <http://observatorio.iuperj.br/bibliotecadigital.html>. Acesso em: 13 jun. 2010. BEIRÃO, André Panno. Aspectos Político-legais e legal-militares da Participação Brasileira em Operações de Manutenção de Paz da ONU, pós-1988. Rio de Janeiro, 2008. Disponível em <https://www.defesa.gov.br/espaco_academico/biblioteca_virtual/ dissertacoes/ciencias_humanas/andre_panno-aspectos_politicos_manutencao_paz.pdf>. Acesso em: 13 jun. 2010. BRASIL. Estratégia Nacional de Defesa, Dec. Lei nº 6.703, de 18 de Dezembro de 2008. 2ª ed., 2009. Disponível em <https://www.defesa.gov.br/eventos_temporarios/2009/ estrategia/arquivos/estrategia_defesa_nacional_portugues.pdf>. Acesso em: 13 jun. 2010. BRASIL. Política de Defesa Nacional, Dec. Lei nº 5.484, de 30 de Junho de 2005. Disponível em <http://www.defesanet.com.br.>. Acesso em: 13 jun. 2010. CÂNDIDO, Jairo. Indústria Brasileira de Defesa: Uma questão de soberania e de autodeterminação. In MINISTÉRIO DA DEFESA: Forças Armadas e o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do País. Pensamento Brasileiro Sobre Defesa e Segurança, vol. 03, 2004. Disponível em <https://www.defesa.gov.br/colecao/index.php>. Acesso em: 13 jun. 2010. GRATIUS, Susanne. O Brasil nas Américas: Potência regional pacificadora? FRIDE : Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, abr. 2007. Disponível em <www.fride.org/download/WP35_BraAmer_POR_abr07.pdf>. Acesso em 17 jun. 2010. MACHADO, Artur Andrade da Silva. A Estratégia Brasileira para Nacionalizar a Amazônia. Agosto, 2008. Disponível em <http://meridiano47.info/2008/08/06/a-estrategia-brasileira-para-nacionalizar-a-amazonia-por-artur-andrade-da-silva-machado/>. Acesso em: 13 jun. 2010.
30
NETO, Petronio de Tilio. Soberania e Ingerência na Amazônia Brasileira. São Paulo, 2003. Disponível em <http://www.santiagodantassp.locaweb.com.br/br/arquivos/nucleos/artigos/ tilio.pdf>. Acesso em: 13 jun. 2010. OLIVEIRA, José Edimar Barbosa Oliveira. Ciência, Tecnologia e Inovação em Áreas de Interesse da Defesa. Disponível em <https://www.defesa.gov.br/ciencia_tecnologia/ palestras/ctidefesa.pdf>. Acesso em: 13 jun. 2010. PAGLIARI, Graciela de Conti. Segurança regional e política externa brasileira: as relações entre Brasil e América do Sul, 1990-2006. 2009. 281 f. Tese (Doutorado em Relações Internacionais)-Universidade de Brasília, Brasília, 2009. Livros KRASNER, Stephen D. (Org). International Regimes. Edited by Stephen D. Krasner. Ithaca, NY: Cornell University, 1983. MEARSHEIMER, John J. The False Promise of International Institutions. In BROWN, Michael; LYNN-JONES, Sean; MILLER, Steven. The Perils of Anarchy: Contemporary Realism and International Security. London: Cambridge, 1995. ________. The Tragedy of Great Power Politics. New York: W. W. Norton & Company, 2001. NYE, Joseph S. Soft Power: The Means to Sucess in World Politics. New York: Public Affairs, 2004. Sites da Web ABACC, Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares. História. Sítio institucional <http://www.abacc.org/port/abacc/abacc_historia.htm>. Acesso em 20 jun. 2010. ARSENAL: Military Encyclopedia. Disponível em <http://topgun.rin.ru/index_e.html>. Acesso em: 13 jun. 2010. CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook, 2009. Disponível em <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook>. Acesso em: 13 jun. 2010. DEFESANET: Defesa, Estratégia, Inteligência & Segurança. Revista Virtual. Disponível em <http://www.defesanet.com.br/10_revista/index.htm>. Acesso em: 13 jun. 2010. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Dados países. Disponível em <http://www.ibge.gov.br/paisesat/>. Acesso em: 13 jun. 2010. MILITARY POWER REVIEW. Disponível em <http://www.militarypower.com.br/>. Acesso em 14 jun. 2010.
31
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Divisão de Atos Internacionais. Disponível em <http://www2.mre.gov.br/dai/tlatelolco.htm>. Acesso em: 20 jun. 2010. OTCA. Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Sítio institucional <http://www.otca.org.br/>. Acesso em 20 jun. 2010. UNIDAS, Nações. Nações Unidas no Brasil. Tratado Sobre a Não-Proliferação de Armas Nucleares. Disponível em <http://www.onu-brasil.org.br/doc_armas_nucleares.php>. Acesso em 20 jun. 2010.