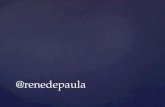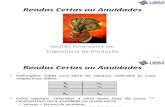MAS OS FILHOS NÃO SÃO MEUS? ENTÃO FAÇO DELES O … · durante a minha caminhada, auxiliando-me...
Transcript of MAS OS FILHOS NÃO SÃO MEUS? ENTÃO FAÇO DELES O … · durante a minha caminhada, auxiliando-me...

1
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL
LIVIA DAIANE GOMES
"MAS OS FILHOS NÃO SÃO MEUS? ENTÃO FAÇO DELES O
QUE EU QUISER": CONTROLE MATERNO E CHEFIA
FEMININA EM FAMÍLIAS MONOPARENTAIS
NATAL/RN
2012

2
LIVIA DAIANE GOMES
"MAS OS FILHOS NÃO SÃO MEUS? ENTÃO FAÇO DELES O
QUE EU QUISER": CONTROLE MATERNO E CHEFIA
FEMININA EM FAMÍLIAS MONOPARENTAIS
Monografia apresentada ao Curso de Serviço Social
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
como requisito para obtenção do título de bacharel
em Serviço Social.
Orientadora: Antoinette de Brito Madureira
NATAL/RN
2012

3

4
LIVIA DAIANE GOMES
"MAS OS FILHOS NÃO SÃO MEUS? ENTÃO FAÇO DELES O QUE EU QUISER":
CONTROLE MATERNO E CHEFIA FEMININA EM FAMÍLIAS MONOPARENTAIS.
Monografia apresentada ao Curso de Serviço Social da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte como
requisito para obtenção do título de bacharel em Serviço
Social.
Orientadora: Antoinette de Brito Madureira
Aprovado em ___/___/2012
BANCA EXAMINADORA
__________________________________________________________________
Prof.ª.Drª. Antoinette de Brito Madureira (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
__________________________________________________________________
Prof.ª Drª. Ilka de Lima Souza
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
__________________________________________________________________
Profª. Drª. Rita de Lourdes de Lima
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

5
AGRADECIMENTOS
Agradeço primeiramente a Deus, pelo dom da vida e por iluminar e guiar os meus passos
durante a minha caminhada, auxiliando-me a fazer as escolhas certas e necessárias.
Aos meus pais, pelo apoio e assistência que me prestaram, estando ao meu lado sempre que
precisei e cuidando da minha vida com total zelo e amor. Sem a presença e a força de vocês
nada disso teria sentido. Obrigada por acreditarem na sua filha e se orgulharem dela sempre.
Agradeço cada gesto e cada palavra de incentivo, de apoio, de carinho e de consolo.
Aos meus irmãos e aos demais familiares por acreditarem em mim e me proporcionarem
grandes alegrias e uma motivação enorme para vencer todos os obstáculos.
Aos amigos, que estiveram comigo e me incentivaram, lembrando-me da minha capacidade e
me dando forças para seguir adiante. Vocês representaram uma verdadeira base na qual eu me
mantive firme nos momentos de desespero. Para aquelas meninas que viveram comigo esses
quatro anos de curso agradeço a companhia, o apoio, a amizade e a compreensão sempre, os
momentos maravilhosos que passamos na academia jamais serão esquecidos.
A todos os professores que contribuíram para a minha formação acadêmica, crítica e pessoal.
A todos os supervisores e colegas de estágio pela atenção e compreensão, colaborando para o
meu crescimento enquanto profissional.
As minhas informantes, pelo carinho com o qual me receberam, pela disponibilidade e pela
confiança em compartilharem comigo suas histórias, que formaram a base do meu estudo.
A minha querida orientadora Drª Antoinette Madureira, uma das pessoas que mais
contribuíram na minha trajetória acadêmica, estando sempre ao meu lado. Suas orientações
me engrandeceram enormemente. Todas as pesquisas, experiências e debates realizados me
tornaram uma pessoa melhor e uma profissional mais competente. Sou grata por toda a
atenção e dedicação e por acreditar na minha capacidade.

6
Eu sou pau pra toda obra, Deus dá
asas a minha cobra. Minha força
não é bruta, não sou freira, nem
sou puta. Porque nem toda
feiticeira é corcunda, nem toda
brasileira é bunda. Meu peito
não é de silicone, sou mais macho
que muito homem.
Rita Lee

7
RESUMO
Monografia de conclusão de curso de graduação em Serviço Social. Tem origem em pesquisa
empírica de cunho etnográfico realizada entre mães solteiras chefes de família durante o
período de junho a agosto de 2012. O trabalho examina a noção e a constituição de família e
casamento no ocidente, descrevendo historicamente estas noções e algumas de suas
mudanças. Também analisa o lugar do amor materno nas sociedades ocidentais, relacionando-
o a algumas noções recorrentes nos dados de campo. A partir dos relatos das mulheres
ouvidas, o trabalho procura ressaltar as noções que estas expressam sobre família, amor
materno, papéis sociais de pai e mãe e casamento. Destaca a importância atribuída pelas
entrevistadas à parentela ampla, ao trabalho, à presença da figura do pai na família e ao seu
projeto de vida particular versus o projetado para seus filhos, assim como a um conjunto de
emoções morais, tomando lugar central o orgulho. Os dados empíricos confirmam o que
autores atuais sobre família apontam: certa mudança na noção de família nos segmentos
médios prioritariamente e nos segmentos populares de maneira menos enfática, com a
definição de novos papéis e maior independência das mulheres, assim como certa inversão
destes papéis, na medida em que as mulheres passam a se ver mais recorrentemente enquanto
sujeitos ativos e não submissos, permanecendo, contudo, idealizada nas falas das informantes
as noções clássicas sobre casamento e família.
Palavras-chave: Família. Maternidade. Chefia Feminina. Emoção. Projeto de Vida.

8
ABSTRACT
Monograph completion of undergraduate degree in Social Work. Originates in empirical and
ethnographic research among single mothers that are head of household during the period
between June and August of 2012. This text examines the notion and formation of family and
marriage in Occident. Historically describes these notions and some of its changes. It also
analyzes the maternal love in Western societies, comparing it to some notions in field data. In
accordance with the narration of single mothers the text emphasizes the concepts that are
expressed about family, maternal love, social roles of father and mother and marriage. It
emphasizes the importance that the interviewees attribute to relatives, job, father’s presence
inside the family and to their particular life’s project versus life’s project to their children. It
also emphasizes moral emotions, especially the pride. The empirical data confirms what
pointed out the current authors about family: some change in the notion of family in the
medium (principally) and popular (least emphasized) segments. There is the definition of new
roles in the family and bigger independence for women. In the same way there is the inversion
of these roles: the Women see each other as active subjects and not submissive. However stay
the traditional idea about marriage and family between the interviewees
Key words: family, maternity, female managership, emotion, life’s project

9
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 10
2 ENTRE AS MÃES SOLTEIRAS OU SOBRE A TRAJETÓRIA DA PESQUISA ............. 14
3 "TODA MÃE QUER QUE O FILHO TENHA UMA FAMÍLIA, PAI E MÃE": A NOÇÃO
DE FAMÍLIA PARA AS MÃES SOLTEIRAS ....................................................................... 19
3.1 “Quando eu me separei, Mãe deu graças a Deus”: o lugar da parentela mais ampla nas
vidas das mães solteiras ........................................................................................................ 26
4 "COMO NÃO CUIDAR? COMO NÃO AMAR?: O AMOR MATERNO ENQUANTO
CONSTRUÇÃO ....................................................................................................................... 33
5 SER "MÃE E PAI": DE MÃE SOLTEIRA A CHEFE DE FAMÍLIA................................. 39
5.1 Os papéis de pai e de mãe ............................................................................................... 39
5.2 O lugar do trabalho para a mãe solteira .......................................................................... 45
5.3 Chefia familiar feminina em famílias monoparentais .................................................... 51
6 "É MEU, EU QUE FIZ": O FILHO COMO PROPRIEDADE DA MÃE ............................ 57
6.1 Sonhando as vidas dos filhos: projeto e metamorfose .................................................... 58
7 "EU NÃO O PROCUREI PORQUE ELE NUNCA NOS PROCUROU": DO
AFASTAMENTO DOS PAIS .................................................................................................. 64
7.1 Conjugalidade, fim dos casamentos e “recasamentos” .................................................. 71
7.2 “Não quero ele perto de mim nem da minha filha”: da alienação parental .................... 81
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................ 86
9 REFERÊNCIAS .................................................................................................................... 89
10 APÊNDICES ....................................................................................................................... 95

10
1 INTRODUÇÃO
Esta monografia de graduação em Serviço Social é fruto de pesquisa empírica de cunho
etnográfico desenvolvida entre mães solteiras moradoras da cidade de Natal oriundas de
segmentos populares e médios que criam seus filhos sem a presença do pai das crianças. A
pesquisa busca oferecer uma análise em torno das representações dessas mulheres,
considerando as noções relatadas sobre família monoparental e o lugar ocupado pelas
mulheres enquanto chefes destas famílias. A coleta de dados foi desenvolvida entre junho e
agosto de 2012 e envolveu a realização de entrevistas abertas a partir das noções de família,
relações parentais, relações afetivas e conjugais, amor materno e projeto de vida.
A preocupação central que permeia todo o trabalho gira em torno do lugar ocupado
pelas mulheres a partir da experiência de ser mãe solteira. O argumento que aqui defendo é o
de que esta experiência inaugura certo ethos de independência envolvendo uma situação – a
de ser mãe solteira – condicionada por circunstâncias sociais. No entanto, este é um ethos que
carrega uma ambivalência, pois a aparente inversão na hierarquia de poder familiar expressa
por estas mães esconde um desejo jamais negado por elas: o de idealizar e buscar construir
uma família nos moldes tradicionais. Todos os momentos desta monografia devem ser lidos
como desdobramentos deste argumento central.
No primeiro capítulo, apresento as mães entrevistadas, mulheres de diferentes idades e
histórias de vida. Procurando preservar a identidade das informantes, seus nomes foram
alterados para nomes fictícios, assim como os de todos os envolvidos em seus relatos.
Busco no segundo capítulo, intitulado “Toda mãe quer que o filho tenha uma família,
pai e mãe: a noção de família para as mães solteiras” entender como estas mães percebem as
noções de família e de casamento, que acabam ganhando novas definições. Ainda neste
capítulo, busquei entender especialmente como essas mães enxergam as famílias
monoparentais das quais fazem parte, e como elas idealizam o casamento, uma vez que se
encontram numa situação de distanciamento em relação a um companheiro, tendo de assumir
muitas vezes sozinhas a chefia da família e da casa. Para essas mães solteiras, uma das
perguntas primordiais era: como funciona a relação com o pai do filho? E como ela percebeu
a idéia de que, a partir de um dado momento, teve que criar um filho sozinha. Os dados

11
apontam para diferentes representações sobre a instituição familiar. Frequentemente estas
mães contam com a ajuda dos parentes mais próximos para cuidar e dar assistência na criação
de seus filhos; dessa forma procuro destacar o lugar ocupado por esta parentela no ponto
“Quando eu me separei, Mãe deu graças a Deus: o lugar da parentela mais ampla nas vidas
das mães solteiras”.
No terceiro capítulo, intitulado “Como não cuidar? Como não amar?: O amor materno
como construção” procuro analisar, baseada nos relatos das informantes, a noção de amor
materno, que, segundo elas, é natural, único, verdadeiro e infinito. Utilizando-me de dados
históricos, busco entender como a noção de amor materno ganhou essa conotação nas
sociedades ocidentais e o que ele representa para elas e para as mulheres-mães.
O estudo das temáticas relacionadas à família, relações conjugais e chefia feminina
frequentemente me atraiu durante toda a graduação, sendo de meu interesse fazer algumas
considerações de como historicamente esses conceitos vêm se atualizando nas representações
coletivas no Ocidente. Com relação às mães solteiras, interessou-me essas mães em especial
porque pareciam desempenhar vários papéis, em geral sozinhas. Estes papéis envolvem o ser
mulher, mãe/pai, chefe de família, trabalhadora. Além disso, no momento em que a mãe
decide assumir sozinha uma família, uma criança, ela, muitas vezes, vai de encontro a uma
sociedade fortemente machista, que entende a família e o casamento como a união entre um
homem e uma mulher, sendo o homem o chefe a ser seguido. Trago esta discussão no quarto
capítulo, intitulado “Ser mãe e pai: de mãe solteira a chefe de família”, que se divide em três
pontos:
No primeiro deles, procuro trabalhar a noção que essas mulheres demonstram ter sobre
o “ser mãe” e o “ser pai” e como esses papéis estão definidos em nossa sociedade. Foi
interessante observar durante as entrevistas os lugares que se definem para o homem e para a
mulher dentro das famílias e, mais curioso ainda, como se trata de famílias monoparentais, o
lugar que a mulher passa a ocupar dentro da instituição familiar quando não há presença do
homem-pai. Os dados empíricos me atentaram para o fato de que frequentemente essas
mulheres chefes de família supervalorizam o trabalho como uma condição essencial para a
sua independência, liberdade e para que possam criar, em seus próprios termos,
“adequadamente” seus filhos, “dando tudo que eles precisam”. Assim, o lugar que o trabalho

12
e a busca pela independência financeira ocupam nas vidas dessas mulheres é salientado por
elas e será objeto da minha análise no segundo ponto deste capítulo: “O lugar do trabalho para
a mãe solteira”. Sem a presença do homem trabalhador para chefiar a família, a mulher
precisar sair de casa e ir trabalhar e ao realizar tais funções, as mulheres relatam que “ocupam
o lugar do homem, do pai”, tornando-se “o chefe” da família, algo que discutirei no terceiro
ponto deste capítulo.
No quinto capítulo, intitulado “É meu: eu que fiz! O filho como propriedade da mãe”
trago algumas observações relacionadas à recorrência de falas enfatizando a noção de “posse”
das mães com relação a seus filhos. Muitas dessas mães dizem ter "abandonado" suas vidas,
desejos e sonhos para dedicarem-se à maternidade e à família, "interrompendo planos
pessoais" por causa da chegada do filho que tiveram que criar sozinhas. Dessa forma, observo
nas entrevistas a presença recorrente do desejo de que seus filhos tenham uma “vida melhor”
que a delas, que “tenham um futuro”, algo que segundo contam, elas não tiveram. Percebe-se
em algumas falas a vontade de que o filho possa viver aquilo que a mãe não viveu, já que foi
“impedida” pela gravidez. Parece-me que as mulheres planejam a vida de seus filhos,
colocando nelas as frustrações e desejos não realizados em suas vidas. Assim, considerei
relevante trabalhar essa questão no ponto “Sonhando a Vida dos Filhos: Projeto e
Metamorfose”.
Outro dado recorrente é a de que, com frequência, essas mulheres tiveram ou têm
problemas de relacionamento com os pais dos seus filhos, o que leva ao afastamento daqueles
do convívio com as crianças. Inúmeros são os motivos e justificativas alegados pelas mães
para esse afastamento, que geralmente ocorre quando há a quebra dos laços conjugais do
casal; vale ainda destacar que em muitas ocasiões, os pais das crianças não são os atuais
esposos ou companheiros dessas mães e em muitos casos, abandonam essas mulheres quando
sabem da sua gravidez, ou depois de o bebê ter nascido. Ocorrências como infidelidade e
novas uniões conjugais também parecem contribuir para que as mães impeçam alguma
aproximação dos seus filhos com os pais, o que pode caracterizar uma possível Alienação
Parental, onde a mãe da criança procura manipular psicologicamente seu filho para deteriorar
a relação paterna, além de impedir o convívio do pai com o filho. Procuro analisar algumas
destas situações e suas implicações para a vida dessas mães solteiras no sexto e último
capítulo, intitulado “Eu não o procurei porque ele nunca me procurou: do afastamento dos

13
pais”, que está dividido em dois pontos: “Conjugalidade, fim dos casamentos e recasamentos”
e “Não quero ele perto de mim, nem da minha filha: Da alienação parental”.
Ao longo deste trabalho, ao destacar os relatos obtidos nas entrevistas realizadas,
diferencio-os das citações de autores, utilizando, para isso, fontes diferentes. Destaco também
que a razão de escrever na primeira pessoa do singular não expressa falta de cientificidade ou
pouca importância atribuída à escrita. Procuro, desta forma, trilhar a tendência apontada por
uma linhagem intelectual (cf. Oliveira 1998 e DaMatta 1981), que defende a necessidade de o
pesquisador responsabilizar-se pela autoria de seu texto, diferenciando-se de uma escrita
impessoal, no uso do “nós” (cf. Oliveira, 1998), assim não se ausentando do texto. O uso do
“nós”, segundo Oliveira (1988), afasta o autor que escreve uma etnografia da cultura que
pesquisou, pois faz com que este autor englobe sob seus próprios registros teóricos (registros
"éticos") os registros nativos (registros "êmicos"), passando a falar pelos atores pesquisados.
Já a utilização da escrita na primeira pessoa, circunscreve a voz do pesquisador aos seus
próprios registros, preservando a voz do outro, que será apresentada em seus próprios termos.
Ao mesmo tempo busco também dar o direito à plurivocalidade, consentindo que outras
vozes também tomem lugar em meu texto: estas vozes são as das mães solteiras que
gentilmente me partilharam suas noções de casamento, amor e família. Ainda que seus nomes
reais não estejam aqui registrados, nesta linhagem intelectual comparece o entendimento de
que faz também parte da ética da pesquisa lhes atribuir voz e lugar.
É importante também salientar que o registro das falas das informantes aparecerá, nete
trabalho, sob fonte diversa da utilizada para a citação dos autores. Para estes últimos, utilizo a
fonte Times New Roman 11. Já para a citação das falas das informantes, utilizo a fonte
Consolas 10.

14
2 ENTRE AS MÃES SOLTEIRAS OU SOBRE A
TRAJETÓRIA DA PESQUISA
Inicialmente, me aproximei da discussão que aqui trago quando realizei o meu estágio
supervisionado na Maternidade Escola Januário Cicco, um campo etnograficamente rico para
quem deseja estudar família e maternidade. Tive a oportunidade de estabelecer relações de
proximidade com algumas das mães internadas no hospital durante o período entre agosto de
2011 e julho de 2012 e os casos de mães solteiras e chefias femininas me chamaram a atenção
pela quantidade e pela inúmera variedade de suas histórias.
Com o término do estágio, estabeleci contato com um conjunto de mães solteiras
oriundas de segmentos populares e médios residentes na cidade de Natal, que me foram
apresentadas aleatoriamente por amigas e conhecidas. Foi entre estas mulheres que coletei os
dados que subsidiam este trabalho. Realizei dez entrevistas abertas que giraram em torno das
noções de família, amor materno e projeto de vida. Para tal, indaguei sobre suas percepções e
sentimentos envolvendo a experiência do ser mãe desde o período da gestação até o momento
em que se tornaram mães solteiras e chefes de família.
Neste momento, apresento as informantes da pesquisa, mulheres que foram ou são mães
solteiras1, todas se dispuseram a contar suas histórias e permitiram a gravação e os relatos
variaram de vinte minutos a uma hora. Entrevistei mulheres divorciadas, solteiras, viúvas e
amantes de homens casados. Uma das informantes atualmente está em um relacionamento
estável recente, porém foi mãe solteira por mais de vinte anos.
Nas entrevistas, procurei entender os diferentes motivos que, segundo elas, as levaram a
criar seus filhos sozinhas, muitas vezes afastando-os do contato com os pais das crianças.
Poucas delas têm nível superior (2), porém um número considerável trabalha fora do âmbito
1 Devo explicitar o que neste trabalho está-se compreendendo do termo "solteiro/a": desta maneira classifico
diferentes estados civis onde os indivíduos podem ser incluídos. Assim procedo para contemplar as várias
situações onde se encontram as mulheres ouvidas: algumas jamais casaram, outras são separadas, outras
divorciadas, outras viúvas. Apenas uma das informantes está em um relacionamento atualmente.

15
familiar (9). Algumas podem ser consideradas strictu sensu enquanto chefes de família.
Outras residem nas casas de seus pais ou de parentes próximos, que as auxiliam no cuidado e
educação de seus filhos.
Mônica tem vinte e um anos de idade e tem um filho com três anos e meio; namorava o
pai da criança, entretanto afirmou que nunca teve uma relação estável com ele. Chegou a
morar um tempo com este homem, mas, com as brigas frequentes, se separaram e ele veio a
falecer há aproximadamente quatro meses, vítima de um acidente. Mônica diz sofrer a perda
do pai do seu filho, apesar de afirmar que a sua relação com ele era marcada por brigas,
ameaças e violência. Tem casa própria e mora sozinha com o filho, terminou o ensino médio e
trabalha em tempo integral; nesse período a criança divide-se entre a escola e a casa da avó.
Não recebe nenhum tipo de pensão da família do ex-marido, mas afirma ser ajudada por sua
própria família. Diz não ter tido a presença do seu pai e sua mãe durante a sua adolescência,
sendo criada pela avó. A mãe mora em outro país e, segundo Mônica, foi contra a sua
gravidez, sugerindo até um aborto.
Ivete tem quarenta e cinco anos de idade, é graduada em pedagogia, possui
especialização em educação especial e inclusiva, trabalha em uma escola particular da cidade
de Natal. Atualmente está em uma união estável e possui um filho desse casamento. Antes
disso, teve duas filhas frutos de dois relacionamentos diferentes. Não chegou a ser casada com
nenhum dos homens anteriores e, segundo conta, criou sozinha as duas filhas até a
adolescência delas, quando a mais nova veio a falecer. A mais velha hoje tem vinte e um anos
de idade e ainda mora com ela. Engravidou da primeira filha aos dezesseis anos; dois anos
depois teve a segunda filha, que nasceu com má formação, graças a um aborto mal sucedido.
Durante o tempo em que passou solteira cuidando das duas filhas, Ivete morava com a mãe,
que, segundo ela, lhe prestava total assistência. Apesar das duas gestações, diz nunca ter
deixado de trabalhar e estudar.
Clara tem vinte e um anos de idade e é filha da Ivete. Engravidou, segundo conta, "de
forma inesperada" de um "ficante", que ela afirma não saber que era casado. Durante toda a
gravidez diz ter sofrido ameaças do pai do seu filho e de sua esposa, que, segundo diz,
"queriam que ela realizasse um aborto". Sua filha hoje tem oito meses; foi necessário que
Clara realizasse um exame de DNA para o reconhecimento da paternidade e requerimento de

16
pensão. Clara mora com a sua filha na casa da sua mãe (Ivete), juntamente com o marido de
Ivete e um filho do casal, irmão de Clara. Ela é técnica em enfermagem e diz trabalhar em
tempo integral em um hospital, nesse período, a filha fica sob os cuidados de sua avó materna,
que inclusive, segundo ela, ajudou na criação de Clara. Ela afirma continuar recebendo
ameaças da esposa do pai de sua filha, que diz não aceitar a paternidade, bloqueando qualquer
aproximação desse pai com a criança. Os avós paternos da criança, segundo Clara, tentaram
uma aproximação com ela e sua filha, mas devido a alguns conflitos, também romperam
relações.
Amanda tem dezessete anos e sua filha tem seis meses de idade. Diz não manter mais
nenhum relacionamento com o pai da criança, que é casado com outra mulher; afirma que a
relação só se constituiu em um “lance”. Sua filha nasceu prematura e precisou ficar internada
na UTI durante alguns meses, período em que a mãe também permaneceu no hospital,
cuidando da recuperação da filha. Não soube responder se o pai iria assumir a criança, que até
o momento não havia sido registrada, deixando claro em suas falas que "não se importava"
com isso. Afirma que "pode assumir sozinha e cuidar da criança". Amanda mora com os pais,
não terminou o ensino médio e trabalha fora de casa como doméstica.
Emanuele tem cinquenta e três anos de idade e teve três filhos, frutos de um
relacionamento de quinze anos. Terminou o ensino médio na Bahia, sua cidade natal, e
mudou-se para São Paulo, onde casou quando tinha vinte anos, engravidando em seguida.
Quando a sua terceira filha nasceu, deixou a casa e o marido. Este, segundo Emanuele, tinha
se tornado alcoólatra, ameaçava constantemente a mulher e os filhos e tinha parado de
trabalhar. Quando, segundo a informante, a situação teria se tornado insustentável, ela
separou-se do marido, passando a criar os três filhos sozinha. Diz não receber nenhum tipo de
ajuda financeira do marido que, no passado, constantemente a perseguia e a ameaçava,
forçando-a a "viver escondida", segundo conta. Trabalhava dois turnos e morava em uma casa
alugada, nesse período, afirmou que contava somente com a ajuda de uma tia, que cuidava das
crianças quando podia. "Não aguentando a pressão do ex-marido", Emanuele mudou-se para
o Rio Grande do Norte "em busca de paz". Hoje, ela vive sozinha com a sua filha mais nova,
é comerciante e possui casa e carro próprio. Diz não ter notícias do ex-companheiro há doze
anos.

17
Paula tem vinte e seis anos de idade e a sua filha tem três anos. Na época da gravidez,
já estava separada do pai da sua filha, com quem diz ter namorado. Segundo ela, continua
afastada dele, sem receber pensão e nenhum tipo de auxílio. Parece-me que o pai da criança
demonstra algum interesse em estabelecer um vínculo afetivo com a filha, mas pude notar que
ele está sendo bloqueado por Paula, que diz claramente que não quer ter contato com ele, nem
deseja que a sua filha tenha. Vale ressaltar que Paula está solteira desde o fim do namoro com
o pai da sua filha, enquanto ele possui um novo relacionamento. Paula terminou o ensino
médio e mora com os pais, de quem diz obter auxílio na criação de sua filha; trabalha em
tempo integral. Nesse período a filha permanece com a avó ou na escola.
Cássia tem dezoito anos de idade e engravidou aos dezesseis anos do seu namorado,
passou um tempo morando com esse homem, mas logo separou-se. Seu filho tem dois anos e
possui pouco contato com o pai. Cássia afirma que "não fala" com o pai da criança. Relata
também que recebe auxílio dele, “sempre que possível”. Cássia mora com a mãe em uma
quitinete, não concluiu o ensino médio e diz estar "procurando emprego". Ainda que esteja no
momento sendo "sustentada pela mãe", não relata ter grandes dificuldades para criar e educar
seu filho sozinha. Diz também que não pretende ter outros filhos.
Júlia tem vinte e nove anos de idade e é mãe de cinco filhos, teve o primeiro aos
quinze anos. Depois de um período conturbado, passou a morar com o pai dos seus filhos por
vários anos, mas, segundo ela, devido a infidelidade dele, separou-se. Agora vive em uma
casa própria, herdada da mãe com os cinco filhos e um primo. Seu ex-companheiro já possui
um novo relacionamento. Trabalha, não terminou o ensino fundamental e afirma receber
ocasionalmente "uma ajuda" (financeira) do ex-marido.
Maria tem cinquenta anos de idade, trabalha como cuidadora de uma idosa no período
noturno, é mãe de quatro filhos e mora com três deles em uma casa alugada. Engravidou do
primeiro filho quando tinha vinte anos; os filhos são frutos de dois relacionamentos
anteriores, sendo um adotado. Morou durante treze anos com um companheiro que diz tê-la
abandonado. Depois de treze anos solteira, diz ter se "juntado" com uma nova pessoa que
também a teria "deixado". Maria diz não receber "nenhum tipo de ajuda" dos pais das crianças
ou de seus parentes. Relata receber um salário mínimo e o complementar através de "bicos" e

18
do programa Bolsa Família2. Não terminou o ensino fundamental e trabalha durante a noite,
período em que os filhos permanecem sozinhos em casa. Afirma que pretende mover uma
ação para requerer pensão para os seus filhos; sua filha mais velha tem treze anos de idade.
Maria não terminou o ensino fundamental, contou que "sempre trabalhou". Está solteira há
sete anos e diz não querer uma nova pessoa; seu último companheiro está em um
relacionamento com uma mulher que, segundo Maria, o impede de visitar seus filhos.
Larissa tem quarenta e oito anos de idade, possui um único filho e o teve com trinta e
três anos. Seu filho é fruto de um relacionamento de dez anos com um homem casado,
segundo relato da própria entrevistada. Esse homem, pai do seu filho, veio a falecer há dez
anos. Larissa afirma que nunca “namorou” com ele, possuía apenas “um caso”. Conta que
sempre foi solteira e independente e ter um filho era uma realização pessoal, nunca recebeu
ajuda financeira do pai da criança, apesar dele manter certo contato com ela e o filho, tendo
uma relação que Larissa afirmou ser “amigável”. Mora sozinha com seu filho em uma casa
própria e conta que sempre recebeu apoio da família na criação do menino, hoje com quinze
anos. Larissa é graduada em pedagogia, é funcionária pública e trabalha em uma escola
primária.
2 O Programa Bolsa Família (PBF), segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS)
e a lei 10.836/2004 é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades que beneficia famílias
em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País.

19
3 "TODA MÃE QUER QUE O FILHO TENHA UMA
FAMÍLIA, PAI E MÃE": A NOÇÃO DE FAMÍLIA
PARA AS MÃES SOLTEIRAS
Ao estudarmos família, devemos ter em mente que este conceito não pode ser
examinado sem um olhar mais detido na literatura clássica sobre parentesco, o que nos remete
imediatamente a Lévi-Strauss (2003). Para ele, família é uma temática que deve ser abordada
a partir da discussão clássica da separação entre natureza e cultura. Na verdade, a constituição
da família significa já esta distinção, pois é esta constituição que inaugura a sociedade
humana, ao retirar os humanos da esfera da natureza na medida em que engendra a norma, a
regra, a interdição fundamental. E esta norma, essencial, pois que é a origem de todas as
demais, é a proibição do incesto (cf. Lévi-Strauss 2003). Assim é que as noções de amor
conjugal e casamento são variáveis entre as sociedades, havendo, porém, uma estrutura
elementar, fundada no tabu do incesto, universal entre os humanos.
Ora, os fatos culturais obedecem a normas, que variam social e culturalmente. A
proibição do incesto é a exceção, pois aparece em todas as sociedades e ao mesmo tempo é
uma regra. Essa proibição, segundo Lévi-Strauss (2003), faz com que os homens recorram a
exogamia e obriga a formação de alianças, com a troca de bens e mulheres3. Desta forma, pela
proibição do incesto se expressam e se realizam as estruturas fundamentais sobre as quais se
funda a sociedade humana como tal. Pode-se dizer, a partir de Lévi-Strauss (2003), que há
uma estrutura elementar de parentesco: a tríade mãe – pai – filho. Porém, em cada sociedade
humana os elementos desta tríade podem ser substituídos: o pai pelo tio ou pelo avô ou por
um parente próximo ou um amigo da mãe, assim como esta mãe e este filho. Desta maneira é
que há, segundo Lévi-Strauss (2003), inumeráveis modelos de família, condicionados pelo
tempo e pela cultura, havendo, no entanto, uma estrutura elementar que é o molde
fundamental, e que existe na mente humana.
3 Esta discussão também é problematizada por Saffiotti (2004). Neste texto, a autora desenvolve a tese de que
sob a lógica do patriarcado, o macho procura mulheres.

20
O termo família deriva do latim famulus e significa o conjunto de servos e dependentes
de um chefe ou senhor. Para Rocha-Coutinho (2006), a família é uma das instituições sociais
mais antigas da humanidade. Com o passar do tempo, ela vai adquirindo diversas
configurações e hoje possui diferentes modelos de organização que se baseiam em elementos
culturais, sociais e econômicos.
Sarti (2004) afirma que a família representa antes de tudo relações sociais e não uma
soma de indivíduos. Dessa forma, para a autora, para se estudar família é preciso buscar a
noção de quem a vive, estudá-la como uma “categoria nativa”, a partir do sentido a ela
atribuído pelas pessoas. Procurei conduzir a o meu trabalho etnográfico levando sempre em
consideração os relatos das entrevistadas, suas concepções e visões sobre diferentes entidades,
como o casamento, a família e os papéis de pai e mãe. Dessa forma, pude observar que tais
noções variam a cada realidade vivida por essas mulheres, proporcionando-lhe maneiras
diferentes de enxergar o mundo, havendo, porém, uma recorrência jamais negada nas falas
das entrevistadas: há sempre uma noção que serve como baliza para seu entendimento de
família, que nos remete à norma vigente acerca de família – a família nuclear burguesa4 – de
maneira que suas representações transitam em torno desta norma, sancionando-a ou negando-
a de diferentes maneiras.
Não obstante haja este modelo fundamental, segundo Sarti (2004) as unidades
familiares também podem ser delimitadas simbolicamente a partir de seus discursos sobre si;
sendo assim, cada família parece possuir uma história e um mito próprio, expressões das
diferentes realidades vividas e dos elementos culturais dos participantes.
Vale salientar a importância dos dispositivos jurídicos, médicos, psicológicos e
religiosos que nos influenciam para a formação simbólica de família. Segundo Sarti (2004),
“essas referências constituem os “modelos” do que é e deve ser a família, fortemente
ancorados numa visão de família como uma unidade biológica constituída segundo as leis da
4 A chamada família nuclear burguesa é uma construção familiar onde os elementos constituidores são a díade e
a prole (o casal junto aos filhos). É um modelo familiar que substituiu a chamada "família extensa" das
sociedades tradicionais. Este modelo familiar surge no Ocidente após a Revolução Industrial, se consolidando
entre os séculos XVIII e XIX.

21
natureza”. (SARTI, 2004, pág. 16) Com uma visão cristalizada do que vem a ser família,
visão essa fortemente difundida pelos meios de comunicação, não se adequar a esse modelo é
se excluir, é ser diferente.
É justamente dessa forma que se sentem as mães solteiras entrevistadas: dizem-se
sentir-se "diferentes", parecendo reproduzir certo estigma muito comum em nossa sociedade,
em relação às mães solteiras5. Muitas chegam até a afirmar que “não têm família”, já que seu
modelo de família não segue o padrão institucionalizado na sociedade. Nesse sentido, trago
aqui o relato de Clara:
É difícil você olhar prum casal, papai, mamãe e filhinho e saber que a sua filha não vai ter aquilo. É você sair... eu passei muito isso na gravidez no último mês que eu ia fazer o pré-natal e ia o pai, ia a futura mãe e o bebê né... E você olha e faz: que inveja! Ana não vai ter isso. Ela pode ter o contato com o pai dela, mas não vai ser comigo, a família... Até porque não existe uma família. (Clara)
A composição de família vai variar também conforme o período histórico e a cultura da
região. Para os mais pobres, Ariès (1981) afirma que no início da idade moderna, a família
correspondia “a nada além da instalação material do casal no seio de um meio mais amplo, a
aldeia, a fazenda, o pátio ou a “casa” dos amos e dos senhores, onde esses pobres passavam
mais tempo do que em sua própria casa” (ARIÈS, 1981, pág. 231). Já para a classe rica, a
constituição de uma família estava ligada ao patrimônio, honra e nome. Nas duas classes, não
existia nada de sentimental na construção de uma família, “a família era uma realidade moral
e social”, como afirma Ariès (1981). Portanto, elementos como amor, sexo e amizade no seio
da família são relativamente novos. A partir do século XV encaminha-se uma mudança nessa
realidade e percepções de família: ela se tornaria um centro de relações sociais, complexa e
hierarquizada, chefiada por um homem. Dessa forma, consolida-se o patriarcado que, segundo
Saffioti (2004), constitui-se do “regime da dominação-exploração das mulheres pelos
homens” (SAFFIOTI, 2004, pág. 44) que já era praticado desde a antiguidade.
5 Para a categoria estigma, cf. Goffman (1980).

22
É importante perceber e destacar a importância histórica da família, especialmente no
Brasil, que adotou por muitos anos um forte sistema familiar patriarcal. Segundo Samara
(2002), no Brasil colonial, foi através da instituição familiar que foram moldados os padrões
de colonização e criadas as normas de conduta social desta época.
Entre os séculos XVI e XVII, a economia colonial brasileira baseava-se nas plantações
de cana localizadas no Nordeste. Os senhores de engenho viviam em grandes casas que
formavam um verdadeiro complexo, onde o controle total estava nas mãos do homem. Nos
casamentos, os papéis do homem e da mulher estavam bem definidos, por costumes e
tradições apoiados nas leis. O poder familiar concentrava-se nas mãos do marido, que era
visto como o protetor e provedor da mulher e dos filhos, cabendo à esposa a administração da
casa e a assistência moral à família, sob a supervisão e mando do marido.
Nas famílias patriarcais, o pai era o chefe e comandante, detinha o poder absoluto sobre
a vida de todos os membros da família. Freyre (2002) conta que a vidas das mulheres casadas
nessa época era totalmente controlada, o que afetava até a sanidade dessas mulheres.
O isolamento árabe em que viviam as “sinhás-donas”, nas casas grandes de
engenho, tendo por companhia quase exclusivamente escravas passivas, sua
submissão diante dos maridos, a quem se dirigiam sempre com medo, tratando-os
de “Senhor”, talvez constituísse estímulos poderosos ao sadismo das sinhás, que
era descarregado nas negras escravas. (FREYRE, 2002, pág. 393-394)
Segundo Freyre (2002) “sadistas eram, em primeiro lugar, os senhores com relação às
esposas.” (FREYRE, 2002, pág. 394) Ainda sobre as sinhás6, o autor relata a ociosidade e a
vida sem encanto destas: “Mulheres sem ter, às vezes, o que fazer. A não ser dar ordens
estridentes aos escravos; ou brincar com papagaios, saguis, molequinhos. Outras, porém,
preparavam doces finos para o marido; cuidavam dos filhos.” (FREYRE, 2002, pág. 403)
Nessa época, a mulher se limitava a trabalhos domésticos e a organização da casa, não
podendo em hipótese nenhuma exercer qualquer outra atividade fora do campo doméstico,
tampouco expressar e impor suas vontades. Muitas nem sabiam ler e escrever, já que eram
6 Sinhá é uma forma de tratamento usada pelos escravos para designar a senhora ou patroa.

23
preparadas exclusivamente para o casamento e a procriação. Vale destacar que as mulheres
pobres e livres não seguiam este modelo, que era hegemônico e imposto pela sociedade.
Na década de 1690, com a descoberta das minas de ouro, tivemos um deslocamento do
eixo econômico brasileiro para o Sul e Sudeste. Esse fato alterou o quadro de organização
familiar e as relações de gênero naquele período. Com uma intensa migração masculina em
busca de ouro, muitas mulheres tiveram espaço para trabalhar fora do âmbito doméstico e até
mesmo chefiar casa e família.
Da revolução industrial até a primeira guerra mundial, o mundo passou por várias
mudanças que repercutiram nas relações de gênero e consequentemente também na estrutura
familiar. Houve uma incorporação massiva de mulheres, especialmente as jovens solteiras, no
universo fabril. Vale salientar que a expansão do trabalho industrial brasileiro contou com
uma participação significativa da mulher. Entretanto, isso não mudou a percepção do lugar
das mulheres nas famílias, que deveriam exercer as “funções básicas” de mães e de donas de
casa para as quais tinham sido socializadas e educadas. Para Samara (2002), “a vida
continuou girando em torno da família e a legislação reforçou, uma vez mais, o privilégio
masculino.” (SAMARA, 2002, pág. 7)
A partir de 1900, Rocha-Coutinho (2006) afirma que o homem vai perdendo espaço
dentro do modelo de família patriarcal conhecido, dando lugar a novas relações dentro da
família e redefinindo papéis. A autora destaca, por exemplo, a força simbólica da mãe: “a
figura da mulher-mãe, que, símbolo da honra familiar e da solidariedade moral do grupo,
passou a ocupar posição central na família.” (ROCHA-COUTINHO, 2006, pág. 92-93) E
mesmo com a modernidade e com o aparecimento de novas estruturas e relações familiares, a
figura materna continua carregando forte emocionalidade. Essa centralidade na mãe, como
pessoa responsável pela estrutura da família e dos filhos também pode ser notada nas falas das
minhas entrevistadas:
Eu acho assim, o pai é importante, é, não tenha a menor dúvida que o pai é importante, mas a mãe é muito mais na criação de uma criança. (...) nada substitui o amor de uma mãe. Nada, eu acho que nada, eu acho que mãe é mãe e pronto, já desde o início do mundo, já é dito pela Bíblia, mãe é mãe. Eu acho que mãe é a coisa mais importante que tem. (Emanuele)

24
Samara (2002) afirma então que todas essas transformações vão incidir diretamente na
família brasileira que vai aos poucos se distanciando do modelo apresentado por Freyre para
os primórdios do Brasil colonial. Já no século XIX, muitas famílias eram chefiadas por
mulheres, especialmente entre a camada mais pobre da sociedade. No Brasil, a partir dos
anos 1970, incorporamos múltiplos modelos familiares e um sistema patriarcal modificado.
Segundo Scott (2005), a família e seus valores vão se modificando com o passar do
tempo, das épocas e das relações que estas instituições têm com o mundo: “O que é
enxergado e valorizado nestas famílias se modifica com o tempo de acordo com a
constituição geral da rede internacional e o local específico que a nação ocupa nela.”
(SCOTT, 2005, pág. 220)
É necessário lembrar aqui, o papel do movimento feminista e de suas conquistas nestas
mudanças, que ao final se materializaram no modelo de família atual, espelhando a tendência
geral de urbanização e nuclearização, com divisões de papéis familiares de forma
complementar. No século XX, a sofisticação do mundo do trabalho, a crescente urbanização e
a presença das lutas do movimento feminista continuaram a afetar a estrutura da família: Scott
(2005) fala na tendência para a diminuição do tamanho da família, a nuclearização dos grupos
domésticos e o fim anunciado das famílias grandes tradicionais. Para o autor, a família
nuclear é um ponto de chegada, e a mudança faz parte de uma tendência que acompanha a
urbanização. Dessa forma, temos o desenvolvimento de pequenas unidades familiares,
adaptadas às condições urbanas. Para Scott (2005), “a família nuclear, espelhada na tríade
mãe-pai-filho, toma a frente no caminho de uma urbanização modernizadora.” (SCOTT,
2005, pág. 230)
Amazonas & Braga (2006) defendem que nunca existiu “a família”, um único modelo,
pronto e acabado: o que existem são famílias com peculiaridades próprias. Não obstante,
segundo as autoras:
As transições ocorridas nos âmbitos cultural, econômico, político e social têm
afetado essa instituição de uma forma, talvez, jamais vista na História. (...) apesar
de todas essas transformações acontecidas no interior da família, podemos dizer
que ela ainda se mantém idealizada e desejada por todos. (Amazonas & Braga,
2006, pág. 179)

25
Dentre as mães entrevistadas é frequente a idealização de uma “família” e o desejo de
terem uma família dita “normal”: como exemplo temos o relato de Mônica:
Aí fica difícil, quando você não tem uma representação masculina por perto pra ele. Eu espero que, não agora né que faz pouco tempo, mas que eu... antes eu nem pensava em me casar de novo, já que eu me juntei com o pai dele, mas por ele, eu me juntaria com outra pessoa pra que fosse melhor pra ele, pelo bem dele, não pro meu bem, mas pro bem dele eu me juntaria com outra pessoa pra ele ter aquela representação, aquele pai, aquele afeto, aquele amor presente, entendeu, de pai. Porque eu também não fui criada pelos pais, então eu sei como é difícil você crescer sem ter o pai e a mãe do lado, é muito difícil. (Mônica)
Também trago o exemplo de Ivete, mãe solteira por duas vezes, hoje casada, quando
questionada sobre o filho mais novo, fruto do seu casamento:
É muito diferente; eu vejo assim, é como se ele fosse filho único, é o meu primeiro filho, eu entendi o que é você ter um filho, de um casamento, de uma pessoa que você namorou, que você casou, que você planejou entendeu?(...) Eu sinto como se fosse meu primeiro filho, o filho de um casamento mesmo, estruturado, desejado, de um relacionamento que tem estrutura. Se você perguntar assim qual é a diferença, a diferença é a estrutura que eu nunca tive, nem psicológica, apesar de ter uma cabeça muito boa, sempre tive. Mas uma pessoa do seu lado é diferente, não tem comparação, é inexplicável. (Ivete)
Dessa forma, essas mães solteiras dizem que fogem ao padrão nuclear, sofrem e
reproduzem um preconceito, derivado de uma visão difundida pela sociedade. Clara, em sua
entrevista, afirma:
Quando eu digo família, eu falo das três pessoas, pai, mãe e filho. É, somos uma família, a família que vem surgindo muito agora né?! Que é... é só o que tem agora é mãe solteira! Como existe pai solteiro também... Porque o preconceito todo é em cima da mãe. O preconceito é todo em cima da mãe, mas também tem o pai, o pai solteiro, o pai que continua a vida dele, como se nada tivesse acontecido. (Clara)
Segundo Aquino (2007), a família composta por pai, mãe e filhos provindos da mesma
relação conjugal se constitui como um modelo ideal de organização familiar. É neste sentido
que se pode entender o frequente aparecimento nas falas das mulheres da chamada “visão
tradicional” do que é família: “pai, mãe e filho(s) coabitando em um mesmo ambiente”. Como

26
não se encaixam nesse padrão, as informantes se dizem “diferentes”. Algumas afirmam que
sofreram “preconceito” por serem “diferentes”, por não terem a família considerada
tradicional. Outras demonstram certa tristeza e/ou angústia pelo fato de os filhos não “terem
uma família.” Aqui é importante salientar a força que esta ideologia dominante sobre família
exerce nas representações destas mulheres. No próximo ponto, situo o lugar da parentela mais
ampla nas vidas das mães solteiras.
3.1 “Quando eu me separei, Mãe deu graças a Deus”: o lugar da
parentela mais ampla nas vidas das mães solteiras
A mãe, desde a antiguidade, goza de um lugar privilegiado na relação com o filho, isto
porque a criança depende quase que exclusivamente dela nos primeiros meses de vida,
instalando uma posição de onipotência da mãe perante a criança. Na sociedade atual,
percebemos que este ato de cuidar e assim estabelecer uma relação de poder sobre o filho vem
sendo compartilhado com outros membros da família, tais como avós, irmãos e tias.
Percebemos desta forma, que a família abre espaço para o exercício da parentalidade.
(Amazonas & Braga, 2006).
Essa tendência é bastante observada em famílias de mães solteiras, os dados empíricos
me remetem à uma prática da “circulação de crianças", já que estas mães dizem compartilhar
o cuidado dos filhos com os parentes por “falta de opção”, pois, como mães solteiras e únicas
responsáveis diretas pela sobrevivência do filho, precisam trabalhar para sustentar sua prole e
acabam confiando os filhos aos cuidados dos parentes. Os dados apontam que a mãe continua
reivindicando o seu lugar onipotente na vida do seu filho, mas sendo solteira, necessita de
auxílio no cuidado com a criança. Como exemplo, trago aqui o relato de Emanuele, que
ressalta a sua necessidade de trabalhar e precisar de alguém para cuidar da sua filha mais
nova:
Eu fui pra casa da minha irmã passei 3 meses na minha irmã, morando com a minha irmã. Ele [o pai da criança] ia lá direto, ele ia no meu trabalho, nessa época eu trabalhava, precisava trabalhar porque ele já não trabalhava mais. Eu tinha que trabalhar pra sustentar os meus filhos. Essa minha irmã ajudou muito com a minha filha pequena, nessa época quando eu me separei mesmo, ela tinha 5 anos. (Emanuele)

27
Outro exemplo interessante quando falamos na parentela é o de Paula, que afirma:
Dia dos pais, o pai dela é meu pai, eu compro as coisas exatamente pra ela dar, pra não sentir a falta do pai. Porque o pai dela é o avô dela. (Paula)
A consanguinidade – o lugar da parentela – pode ser experienciada de diferentes formas
dentro das famílias. No caso das minhas entrevistadas, mães solteiras, a parentela torna-se
uma parte essencial de suas vidas, sem as quais, segundo afirmam, seria impossível assumir,
criar e sustentar um filho com a ausência do pai da criança. Vale destacar os relatos de
Amanda e Clara sobre a importância e a presença de suas famílias:
Eu sempre tive o apoio da família, mais do que tudo. Principalmente a minha mãe, sempre teve ao meu lado, nunca falhou.(...) Até meu irmão que eu não me dou bem com ele foi contra quando eu falei em abortar, disse que eu tava merecendo uma surra pra aprender a ser gente. (Amanda)
Minha mãe me ajudou bastante, muito mesmo, minha família esteve ao meu lado o tempo todo. Eu acho que foi isso que me incentivou a ter Amanda. (...) Se não fosse a minha família, Amanda não estaria aqui hoje pra contar história. (Clara)
Realizando um exame histórico sobre o lugar dessa parentela na família, trago Freyre
(2002) que, ao relatar minuciosamente como era vida no Brasil Colonial, afirma que as negras
escravas eram usadas pelos senhores de engenho como um ventre livre, para gerar filhos,
descendentes e mais escravos. Dessa forma, tínhamos grandes famílias na época colonial, com
uma grande quantidade de filhos ilegítimos, que muitas vezes, habitavam as casas dos
senhores. Do ponto de vista dos laços sanguíneos, esses filhos bastardos também constituem a
“linhagem”, a parentela das famílias coloniais. A maioria, porém, continuava escravo e não

28
estabelecia nenhuma relação com o pai, indicando assim que as relações sociais construídas
dentro e para a família prevaleciam sobre o fator biológico7.
Não obstante, Freyre (2002) também nos conta que a Casa-grande demandava uma série
de indivíduos que não eram tratados como os demais escravos. Nas palavras do autor, eram
“indivíduos cujo lugar na família ficava sendo não o de escravos, mas o de pessoas de casa.
Espécie de parentes pobres nas famílias europeias.” (FREYRE, 2002, pág. 406) Também era
comum registrar na época do Brasil escravocrata, a união entre consanguíneos, principalmente
entre tio e sobrinha. A parentalidade não impedia, porém que grandes lutas separassem
primos, tios e até irmãos, lutas por terra, herança e questões de honra.
No caso das famílias monoparentais chefiadas pelas mulheres entrevistadas, o lugar da
parentela torna-se privilegiado, pois dela depende a mãe, chefe da família. As mães solteiras
demonstram um grande afeto pelos pais, irmãos, avós e tios, relatando que são eles que
auxiliam na criação dos filhos e tiveram um papel fundamental quando a mãe foi deixada
sozinha ou abandonou o esposo, pai da criança. É essa parentela que apóia e oferece uma
sustentação para que a mulher possa reorganizar sua vida e chefiar sua família. Segundo
Machado (2001):
Tanto mulheres que sustentam seus filhos, sozinhas, trazem parentes para sua casa,
para ajudarem a cuidar dos filhos, quanto outras deixam seus filhos aos cuidados de
parentes, especialmente suas mães. Sempre em nome das regras de reciprocidade:
dar, receber e retribuir entre a parentela. (...) É a identificação do modelo de
“família- parentela-estendida que comporta relações de obrigação e reciprocidade
entre consangüíneos e afins, que permite conferir sentido a muitos dos arranjos
monoparentais familiares, não se opondo logicamente um a outro. (MACHADO,
2001, pág. 9-10)
É interessante citar aqui a história de Júlia: ela teve o seu primeiro filho aos quinze
anos, sua família morava no interior do Estado, mesmo assim, ela afirma que não lhe faltou
apoio:
7 É importante citar que durante esse período histórico, o reconhecimento de um filho como legítimo, dando-lhe
assim privilégios, como o direito a herança, envolvia não só a construção de relações sociais. O fator biológico,
juntamente com a legitimação social eram condições essenciais, esta última, porém ganhava centralidade.

29
(...) na época que eu tinha ido pra maternidade e eu não tinha comprado nada pra ela [a criança] e minha mãe foi lá no interior arrumar dinheiro, só que ele [o pai da criança] não tinha como mandar que ele estava desempregado. (...) aí ela foi... ligou pra minha madrinha, minha madrinha foi lá no Santa Catarina e levou assim, o enxoval todo não, mas alguns pra mim poder sair de lá pra poder vim pra casa. Daqui que me levaram pra casa da minha madrinha pra terminar de criar ela, 4 meses eu fiquei lá... aí depois de lá vim pra cá. Aí aqui soube me virar. (Júlia)
A parentela, que é a família em seu sentido mais estendido, mantém vínculos de apoio
e reciprocidade fundamentais para as mulheres nestes momentos. Ora, segundo Romanelli
(2004), “a família funda-se na criação de laços de aliança entre um homem e uma mulher”,
(ROMANELLI, 2004, pág. 2) tendo como base a descendência e a consanguinidade entre os
entes pertencentes àquele círculo familiar.
A segunda metade do século XX ficou marcada pelo que Amazonas & Braga (2006)
chamam de “crise nas referências simbólicas”, uma vez que as mudanças nos grupos
familiares e nas formas de parentesco trouxeram novas posições e papéis para homens e
mulheres. Com o avanço do mundo moderno e a descoberta de novas tecnologias e técnicas
na biologia, temos o controle da procriação pela mulher através dos métodos contraceptivos;
esse fato vem alterar a estrutura e a noção de família e vida conjugal. Para Machado (2001),
diante das transformações presenciadas pelo mundo moderno, vivemos uma era de
individualismo que leva a degradação dos valores basilares da família e das parentelas.
Segundo a autora: “O valor atribuído ao individualismo no mundo ocidental parece estar
pondo em cheque o valor atribuído à família como princípio social balizador.” (MACHADO,
2001, pág. 2).
Rocha-Coutinho (2006) também ressalta o individualismo como valor central da
ideologia, marcando a modernização da família brasileira, especialmente a partir dos anos
1950, após o término da II Guerra Mundial, estabelecendo “escolhas pessoais”. A autora
ainda afirma que nas famílias “modernas”, em certos segmentos sociais8 as relações
8 Acerca destes novos arranjos familiares onde a noção de igualitarismo parece ter cada vez mais força, saliento a
pesquisa de Salem (1989) sobre os chamados "casais grávidos" e a discussão de Heilborn (1982) sobre o qautora

30
hierárquicas vêm sendo matizadas por relações mais igualitárias, em que o respeito e a
obediência não podem mais ser impostos pela posição que se ocupa na família, mas decorrem
do amor, da cooperação, da proteção e da cumplicidade entre seus membros. Essas novas
relações igualitárias constituem um fato curioso para a minha análise das mães entrevistadas:
questões como “falta de amor”, “cumplicidade” e “infidelidade” foram as mais apontadas para
o término dos relacionamentos. Aqui destaco os relatos de Maria e Júlia, que afirmam:
O meu primeiro casamento foi quando eu tinha 16 anos. Aí eu passei, com ele eu vivi 13 anos. Aí ele era muito namorador, essas coisas assim, aí eu que fui e deixei ele, eu que saí de casa (...) Porque eu era muito nova, muito menina, só que ele era muito namorador, aí eu como me casei muito nova, não aguentei né. Aí saí de dentro de casa e disse: eu vou ‘mimbora’ lá pra casa dos meus pais, aí levei meu menino. (Maria)
Ele..ele gosta de festa, de sair pra festa. Eu era muito de casa, aí... aconteceu, conheceu outras mulheres, eu descobri, fui atrás, aí separei. Mandei ele pra lá pra viver a vida dele e fiquei na minha. (Júlia)
Independentemente de sua formação, a família é uma instituição que molda as pessoas,
insere valores e forma opiniões; segundo Sarti (2004), ela “é o filtro através do qual se
começa a ver e a significar o mundo.” (SARTI, 2004, pág. 17) Tal processo é contínuo, sendo
importante inclusive entre os adultos, constituindo-se em um espaço de relações entre os
indivíduos e de elaboração de experiências vividas.
Rocha-Coutinho (2006) afirma que as famílias podem ser definidas como unidades de
relações sociais e de reprodução tanto biológica quanto ideológica. Dessa forma, é no seio das
famílias que se formam e são transmitidos os hábitos, costumes, valores e padrões de
comportamento. Na contemporaneidade, a família se configura como um espaço de
convivência, de trocas afetivas, de informações e das decisões coletivas. Por outro lado, a
chama de "conjugalidade igualitária". Estes são modelos dissonantes do hegemônico que aparecem com mais
frequência entre casais de segmentos médios urbanos altamente escolarizados e em alguns casos entre casais
engajados em movimentos sociais de cunho contestador.

31
família também é frequentemente lugar de violência e de agressão, se constituindo, pois, em
uma entidade contraditória.
Entre as classes sociais vai existir uma diferenciação com relação a significação da
família. Machado (2001) afirma que para as classes populares, o valor da família é
“fundamentalmente instituidor de uma moralidade estabelecida por um conjunto de regras de
reciprocidade, obrigações e dádiva”. (MACHADO, 2001, pág. 6). Já para as camadas mais
altas da sociedade, a família constitui modos de comportamento e na parentela estendida
temos um exercício privilegiado de recursos políticos e da transformação de recursos de
capital social em capital econômico.
Com relação às minhas entrevistadas, como já ressaltei, todas demonstram ter uma
concepção tradicional de família: dizem aceitar serem mães solteiras, mas não acreditam que
este seja um modelo ideal de família. Vale ressaltar que as mulheres entrevistadas relataram
também que não tinham a intenção de “segurar o casamento” por convenções ou por “medo
de enfrentar o trabalho e a sociedade”. As informantes disseram que preferiam “arriscar”,
“aceitar o desafio” de ser mãe solteira e chefe de família, pois, para elas, continuar a viver
com o companheiro era mais torturante do que enfrentar problemas por serem mães solteiras.
Assim afirma Emanuele:
E a dificuldade e a necessidade quando você se separa pra lutar pra criar os filhos é grande, mas eu passava mais quando tava com ele, entendeu? Casada eu não tinha paz, não tinha sossego e ainda faltava as coisas em casa porque ele não conseguia trabalhar. E o que tinha ele ainda destruía, estragava, então ficava mais difícil ainda. Então eu hoje se eu tiver que dar um conselho a uma mulher que passa o que eu passei, eu dou pra se separar. Vá se separar e procurar o que fazer porque pra uma mulher não falta serviço. (Emanuele)
Sobre a estrutura das famílias que se tornam monoparentais, Aquino (2007), vem
afirmar que “a família vem adquirindo muitas variações na sua composição, na sua
estrutura, nas suas inter-relações. Por esse motivo, cada unidade familiar constrói seu
mundo, adquirindo assim um caráter próprio” (AQUINO, 2007, pág. 16), dentro, no entanto,
de uma realidade mais ampla. Assim é que não se pode esquecer a importância do meio
social, da realidade social na qual a família está inserida na transmissão e perpetuação de

32
valores e comportamentos. Vale ressaltar que as famílias monoparentais, nesse contexto,
possuem uma configuração própria, diferente da nuclear. Essa configuração “diferente”, como
explicita o autor vem se destacando e “crescendo” atualmente.
Meus dados empíricos revelam que essas mães solteiras sentem que não possuem uma
família, sentem-se frustradas porque sua família não se encaixa nos “modelos”, e, se
pudessem escolher, escolheriam uma família dita “tradicional”. Nesse contexto, KEHL (2001)
vem afirmar: “Mas a dívida para com a família perdida nos deprime, nos faz sentir que
somos sempre insuficientes como pais, mães e educadores, já que de saídas estamos fora do
modelo de família tal como “deveria ser”“. (KEHL, 2001, pág. 36)
A família não pode ser analisada como uma instituição pronta e inamovível: durante
os séculos ela sofreu grandes transformações e neste momento mesmo há em curso muitas
destas, sendo os "novos arranjos" familiares exemplo disso. Assim, a estrutura da família se
reinventa, permitindo novas construções e abrindo espaço pra novas concepções de
conjugalidade e parentalidade.

33
4 "COMO NÃO CUIDAR? COMO NÃO AMAR?: O
AMOR MATERNO ENQUANTO CONSTRUÇÃO
Eu amei desde quando eu decidi ter, eu comecei a cuidar. (...) Aí foi uma benção, depois que eu tive ele parece que o filho veio junto a mãe de brinde, porque eu nunca imaginei ser mãe e ser assim do jeito que eu sou. (Mônica)
(...) nascer alguém e você perceber que aquela pessoa depende de você, do seu amor e do seu carinho e só tem você. Aí, como não cuidar? Como não amar? É pequenininha, é sua cara. (...) é a vida lhe dando uma chance de você ter alguém pra ser alguém. (Clara)
Para a discussão que desejo efetuar, saliento, com base em Badinter (1985) que a noção
de maternidade no Ocidente é tema envolvido pela atmosfera do sagrado9. A autora nos diz
que em nossa sociedade não há questionamentos acerca do amor materno, que é visto como
absoluto e indiscutível, além também ser visto como inerente à condição feminina. Já Pretto et
al (2009) afirmam a força que os ideais cristãos a respeito do amor exercem sobre a
sociedade. As autoras alegam que o cristianismo fortalece a concepção idealizada de amor
como um fim em si mesmo, com a negação da totalidade do ser humano. Assim, segundo
Pretto et al (2009), “o amor se faz incondicional: tudo suporta, tudo releva, é sacrifício,
abdicação e dedicação10
” (PRETTO ET AL, 2009, pág. 396). Dessa forma, o casamento vai
se configurando como o espaço mais apropriado para a realização do amor, objetivando a
propagação dos filhos de Deus pela constituição da família. O amor, então, é a centralidade
para a existência do sujeito: deixa de ser uma possibilidade dentre outras para se constituir na
justificação da existência humana.
Para Badinter (1985), o “amor no reino humano não é simplesmente uma norma. Nela
intervêm numerosos fatores que não a respeitam”. (BADINTER, 1985, pág. 15). A autora
9 Para uma pertinente discussão sobre a relação entre a figura da mãe no Ocidente, mais precisamente nas
sociedades mediterrâneas e o imaginário judaico-cristã envolvendo a figura da mulher, cf. Aragão (1983).
10 Ideias constantes nas cartas de Paulo, presentes na Bíblia (cf. Atos dos Apóstolos).

34
afirma, tratando de sociedades ocidentais tradicionais pré-modernas, que nestas existia uma
“aguda consciência da contingência do amor” e as pessoas “se recusavam a construir
qualquer coisa sobre uma base tão frágil.” (BADINTER, 1985, pág. 51). Além disso,
associava-se o amor à idéia de passividade, de enfraquecimento e efemeridade.
A autora vem, a partir deste estudo, eminentemente histórico, a contestar o caráter inato
atribuído ao amor materno e o fato de se acreditar que todas as mulheres partilham desse
sentimento e instintivamente "nascem para serem mães". Para Badinter (1985), uma mulher
pode ser “normal” sem ser mãe e nem todas as mulheres nutrem um desejo instintivo de
serem mães e cuidar de uma criança. Ao tecer tais considerações, a autora vem contrariar a
visão geral da sociedade ocidental, que vê a falta de amor por um filho como um crime
inexplicável, algo totalmente atípico e disfuncional para uma mulher, e, para as religiões
monoteístas, um pecado mortal. Pude observar que este pensamento também se faz presente
entre as minhas informantes:
Pra mim ser mãe é... não tem como você explicar (...) Só sabe quem é mãe e ama, só! Eu conheço muitas mães que um animal é mais, uma cachorra, uma porca, um animal é muito mais do que uma mãe, porque eu vejo mãe que mata filho. Eu vejo mãe que machuca, que joga na lixeira e tudo (...) Quem faz esse tipo de coisa é um monstro, na minha opinião não é mãe. (Emanuele)
Badinter (1985) levanta a idéia de que, em suas próprias palavras, “o amor materno não
é inato. É exato: acredito que ele é adquirido ao longo dos dias passados ao lado do filho e
por ocasião dos cuidados que lhe dispensamos.” (BADINTER, 1985, pág. 14-15) A idéia de
que o amor de mãe é instintivo e eterno é refutada pela autora, que acredita que o amor se
conserva em estado latente, mas se não se cuida dele, ele pode desaparecer. Se faltam
oportunidade para expressar esse amor, ele pode morrer, acabar. Já para a nossa sociedade, o
amor materno é profundo e não se modifica, mesmo que as ações da mãe pareçam
contraditórias e indiquem o oposto. Aqui, há a noção de que a maternidade e o amor
imensurável que a acompanha estão na natureza feminina, e assim, toda mulher é feita para
ser mãe e, mais, para ser uma boa mãe. Durante a minha pesquisa, pude notar que essa noção
encontra-se fortemente arraigada na mente das mulheres entrevistadas, que a demonstram em
seus depoimentos:

35
Eu sempre almejei ser mãe que é o sonho de toda mulher. (Larissa)
Eu acho que é o amor mais verdadeiro que tem. Eu acho que, não sei se os outros são né, mas pelo menos eu acho que o amor que você tem pelo filho é o maior de todos. Que antes eu não entendia, porque antes de ser mãe, você nunca entende, né? (Mônica)
O amor materno, segundo Badinter (1985) é apenas mais um dentre os sentimentos
humanos, e como os demais, é incerto, frágil e imperfeito e não está inscrito na natureza
feminina. Se observarmos atentamente o desenvolvimento das atitudes maternas, tal como
esta autora as apresenta, constatamos que o interesse e a dedicação à criança, a ternura e o
amor se manifestam e não se manifestam em nossa história.
A autora afirma que “segundo a sociedade valorize ou deprecie a maternidade, a
mulher será, em maior ou menor medida, uma boa mãe.” (BADINTER, 1985, pág. 26) Ou
seja, a mulher acompanha as regras da sociedade e segue os costumes de cada época, e isso
vale para o cuidado e amor dispensados aos filhos.
Ora, durante a idade média e início da era moderna, ser mãe, dispensar cuidados
maternos com os filhos, não era de “bom-tom”. Desse modo, as mães, principalmente as das
classes altas, se portavam com frieza com os filhos e procuravam não se apegar a eles, e o
papel de cuidar destes era delegado a pessoas de classe inferior. Isso não significa que esse
amor não existia antes de nossa época, mas que esse sentimento não tinha a posição nem a
importância que hoje lhe são conferidas. Badinter (1985) afirma que até o século XVIII a
criança tinha pouca importância na família, sendo muitas vezes para ela um transtorno.
Durante o século XVII, entre a burguesia generalizou-se o hábito de deixar a criança na casa
de “amas-de-leite”, já que as mulheres burguesas tinham “coisas melhores a fazer” do que
cuidar de sua prole. Maior prova de desinteresse traz a autora ao relatar a ausência dos pais no
enterro dos filho e a negação da mãe em amamentar as crianças. A amamentação era
considerada ridícula e repugnante para as mulheres burguesas.
Há várias justificativas para essa “falta de amor” e desinteresse pelos filhos. Uma parte
da explicação encontra-se nos desejos e ambições das mulheres. No século XVII, as tarefas
maternas não são objeto de nenhuma atenção, de nenhuma valorização pela sociedade, são
consideradas uma coisa vulgar. As mulheres não obtinham nenhuma glória sendo mães. Dessa

36
forma, julgavam essa ocupação indigna de si e preferiam livrar-se desse fardo. Além disso, a
criança era um empecilho na vida conjugal e social da mãe: “ocupar-se de uma criança não é
nem divertido nem elegante” (BADINTER, 1985, pág. 98)
Venâncio (2009) afirma que no Brasil, durante o período colonial, muitas mulheres
sentiram a necessidade de abandonar os próprios filhos. Essas mulheres encontravam em sua
vida obstáculos intransponíveis ao tentar assumir e sustentar os filhos legítimos ou ilegítimos.
O autor ainda nos conta que durante os séculos XVI e XVII o abandono de crianças era uma
prática relativamente comum no Brasil. Assim afirma:
Meninas e meninos com dias ou meses de vida não encontravam abrigos; eram
deixados em calçadas, praias e terrenos baldios, conhecendo por berço os
monturos, as lixeiras, e tendo por companhia cães, porcos e ratos que
perambulavam pelas ruas. (VENANCIO, 2009, pág. 190)
Para Venâncio (2009), no Brasil o abandono nesta época acontecia geralmente para
fugir da condenação moral e familiar que aquelas mulheres sofreriam pelo envolvimento em
“amores proibidos”, frequentemente eram as mulheres brancas burguesas que abandonavam
seus filhos, já que não podiam assumir uma criança bastarda. No campo, quase não se
observava o abandono de crianças. O autor ainda afirma que as origens do abandono variavam
de caso a caso: “Várias razões levavam a mãe a abandonar seus filhos: a pobreza, a
condenação moral às mães solteiras, o esfacelamento da família.” (VENANCIO, 2009, pág.
195) Algumas situações ocasionais também contribuíam para que as mães abandonassem seus
filhos, tais como o óbito dos pais e o nascimento gemelar. Para as mulheres mais pobres das
cidades e vilas brasileiras, abandonar o filho poderia representar uma forma de protegê-lo e
mantê-lo vivo em outro ambiente.
Já no último terço do século XVIII, Badinter (1985) vem afirmar que passa-se a viver
uma “espécie de revolução das mentalidades.” A imagem da mãe, seu papel e importância,
modificam-se radicalmente. Após 1760, surgem publicações que recomendam às mães a
cuidar pessoalmente dos filhos e lhes "ordenam" amamentá-los, alimentando a construção do
mito do amor espontâneo de toda mãe pelo filho. Algumas mulheres passam a acreditar que,
ao produzir esse trabalho familiar necessário à sociedade, adquiriam uma importância
considerável, conquistando assim, o respeito dos homens, o reconhecimento de sua utilidade e

37
de sua especificidade. Ser mãe era uma tarefa que só poderia ser realizada por mulheres. O
que pode-se depreender a partir da prática da leitura das publicações acima, é o fato de que se
é necessário ensinar as mulheres a serem boas mães e amar seus filhos, isto não pode ser
considerado algo natural e instintivo e sim social.
Assim é que desde o século XVIII vai se modelando uma nova imagem da mãe. A
maternidade passa a ser exaltada, sendo considerada uma atividade doce e desejada por todas
as mulheres. O aleitamento, antes repugnado, é relatado como realizado por prazer, dando e
recebendo do filho uma ternura infinita. Nas palavras de Badinter (1985):
A era das provas de amor começou. O bebê e a criança transformam-se nos objetos
privilegiados da atenção materna. A mulher aceita sacrificar-se para que seu filho
viva, e viva melhor, junto dela. (...) a mãe deve dedicar a vida ao filho. A mulher se
apaga em favor da boa mãe que, doravante, terá suas responsabilidades cada vez
mais ampliadas. (BADINTER, 1985, pág. 202-205)
A imagem de mãe em nossos dias é associada à doçura, sacrífico e santidade. A boa
mãe torna-se uma santa porque o esforço exigido é imenso. Já a falta de amor é considerada
como um crime imperdoável que não pode ser redimido por nenhuma virtude: uma mãe que
não ama seu filho não é mulher, não é humana.
Por outro lado, há, no interior do movimento feminista atual uma vertente que procura
desmistificar a maternidade natural da mulher. Dizem que, em vez de instinto materno, o que
existe é uma enorme pressão social para que a mulher seja mãe: para a sua realização plena,
alienando essas mulheres a valores morais, sociais e religiosos. Assim afirma Badinter (1985):
Estou convencida de que o amor materno existe desde a origem dos tempos, mas
não penso que exista necessariamente em todas as mulheres, nem mesmo que a
espécie só sobreviva graças a ele. Primeiro, qualquer pessoa que não a mãe (o pai,
a ama, etc.) pode “maternar” uma criança. Segundo, não é só o amor que leva a
mulher a cumprir seus “deveres maternais”. A moral, os valores sociais, ou
religiosos, podem ser incitadores tão poderosos quanto o desejo da mãe
(BADINTER, 1985, pág. 17).
Quanto aos meus dados empíricos, sem dúvida, são frequentes os relatos de amor
materno incondicional: as mães relatam o amor de mãe como um sentimento inexplicável, que

38
“só quem é mãe pode sentir”. Relatam que sofreram grandes transformações quando se
tornaram mães e, mesmo aquelas em que a gravidez foi indesejada, afirmam que ser mãe é
“uma das coisas mais sublimes” que pode acontecer a uma mulher. Trago aqui os
depoimentos de algumas delas:
Ah, porque pra mim eu acho que ser mãe é uma das coisas mais importantes da vida. Independente de ter condições, independente de ter dinheiro ou não. Pra mim ser mãe é uma dádiva de Deus e pra mim eu queria ser mãe de qualquer jeito (...) (Emanuele)
Olhe, ser mãe é padecer no paraíso. (...) Porque ser mãe é você abdicar da sua vida, você tem que fazer. Você não pode mais pensar só em você. (Ivete)
Até hoje quando ela me chama de mamãe, quando diz que me ama. Eu não sei nem explicar esse sentimento. É um amor, um amor. Eu daria a minha vida por ela hoje. (Paula)
Sendo assim, aparece de forma evidente como estas mulheres percebem o “ser mãe”
como algo “divino”, reforçando a idéia tradicional da sociedade de que “amor de mãe é
infinito”. No próximo capítulo, discutirei como essas mães se veem dentro de suas famílias
tendo de desempenhar diversas funções pela ausência do pai do seu filho.

39
5 SER "MÃE E PAI": DE MÃE SOLTEIRA A CHEFE
DE FAMÍLIA
5.1 Os papéis de pai e de mãe
Durante a coleta de dados, um fato que me chamou a atenção foram as noções que as
minhas entrevistadas relatavam, algumas vezes espontaneamente e em outras vezes a partir
das perguntas que fiz, em torno do papel que elas exerciam na sua família. Eram frequentes as
afirmações de que elas “assumiam todos os papéis”. Algumas falas ressaltavam a idéia do "eu
tive que aprender a ser pai e mãe". Neste sentido, cabe indagar: o que é ser pai e o que é ser
mãe para estas mulheres? Esta pergunta leva a uma reflexão envolvendo os papéis destas
entidades em nossa sociedade, de maneira que junto à discussão sobre família, é preciso
examinar os papéis dentro da família. Nos discursos de minhas informantes, é recorrente a
ideia de que aquele que "sai de casa pra trabalhar" é o pai, de modo que se é a mulher que sai
para trabalhar, ela assume o papel de “pai".
Para Badinter (1985), “é em função das necessidades e dos valores dominantes de uma
dada sociedade que se determinam os papéis respectivos do pai, da mãe e do filho.”
(BADINTER, 1985, pág. 26). Atualmente, vemos multiplicando-se o número de famílias
monoparentais, sendo a maioria delas chefiadas pelas mulheres. São estas “mães solteiras”,
chefes de família o objeto do meu estudo, pois elas parecem romper com o tradicional
conceito de família e o fazem, como os seus próprios relatos indicam, com alguma
consciência de seu lugar na sociedade e, por vezes, ostentando certo orgulho disso11
.
Carloto (2005) afirma que a família vai se organizando de acordo com a sociedade e o
tempo histórico vivido, vai se modificando conforme a estrutura social dada a ela. A
instituição de papéis, estruturas e relações de parentesco não devem ser naturalizadas, pois
11 Me deterei na específica noção de orgulho enquanto um sentimento de caráter social no sexto capítulo deste
trabalho.

40
elas são produtos da sociedade. A rígida divisão de papéis e trabalho que observamos na
chamada “família nuclear tradicional” traz os lugares dos homens como provedores e das
mulheres como responsáveis pela esfera doméstica, numa composição familiar onde moram
na mesma casa pai, mãe e filhos. Ainda conforme a autora, este modelo não corresponde à
realidade tanto no que diz respeito aos arranjos familiares quanto ao que concerne à
manutenção econômica.
A instituição das funções paternas e maternas tem origem histórica. Segundo Badinter
(1985), Paulo, ao escrever o texto bíblico “Epístola aos Efésios” já trazia uma teoria da
igualdade, onde o homem e a mulher teriam os mesmos direitos e os mesmos deveres, o que
não excluía certa hierarquia. O homem deveria ser o chefe do casal, pois teria sido criado em
primeiro lugar e dado origem à mulher. É a ele, portanto, que cabe o poder de mandar.
Embora Paulo indicasse que as ordens do marido deveriam possuir amor e respeito pela
mulher, caberia ao homem a decisão final. E por muitos séculos, a mulher viveu subordinada
ao marido, aconselhada pela igreja. Porém, no século XIX, começamos a observar a mãe
colocar-se, por vezes, ao lado do filho contra o pai (cf. Badinter 1985, pág. 42).
Como destaca Woortmann et al (2002), durante a Idade Média, a mulher sem irmãos
podia ser herdeira, mas essa posição não a tornava mais importante que os homens. Com a
Revolução Francesa e as transformações que ela trouxe, as mulheres passaram a reivindicar o
direito ao divórcio. A partir desse período, se fortalecem, na Europa especialmente, os laços
entre mãe e filha, avó e netos, formando redes de parentesco “matrifocais” e marginalizando o
lugar masculino na família. No Brasil, ainda segundo as autoras, os estudos não nos fornecem
dados diretos sobre chefia feminina ou monoparentalidade, mas sugerem que a sociedade
brasileira era bem menos "patriarcal" do que a ideologia dominante assinala.
Observa-se que os papéis de pai e mãe, de homem e mulher na sociedade moderna
eram mais definidos e delimitados entre a burguesia. D’Incao (2009) relata que a mulher da
elite, sendo esposa e mãe da família, deveria “adotar regras castas no encontro sexual com o
marido, vigiar a castidade das filhas, constituir uma descendência saudável e cuidar do
comportamento da prole.” (D’INCAO, 2009, pág. 230) A emergência da estrutura familiar
burguesa, centrada agora no amor materno e familiar, redefine o papel feminino, reservando

41
para a mulher diferentes atividades dentro do espaço doméstico. Ao aceitar incumbir-se da
educação dos filhos, a mulher burguesa melhorava sua posição. As mulheres acolheram,
então, a “obrigação” da educação e cuidado dos filhos, porque isso as fazia ascender
socialmente, conquistando algum destaque e poder sobre outros seres humanos, que eram os
seus filhos. Responsável pela casa, por seus bens e suas almas, a mãe é sagrada: a "rainha do
lar".
O dom da maternidade, institucionalizado como natural e específico para a mulher,
começa, a partir do século XX a ser questionado por estas12
. Badinter (1985) discute que isso
não significa que as mulheres queiram renunciar ou se afastar dessas tarefas, e sim que
possivelmente queiram compartilhar com seu companheiro o amor pelo filho e o sacrifício de
si, como se estes não lhe fossem inerentes.
Goldenberg (2001) afirma que as décadas de sessenta e setenta do século XX foram
importantes para as transformações dos papéis femininos e masculinos na sociedade
brasileira. Vários estudos, especialmente aqueles ligados ao movimento feminista em
ascensão, buscaram desmistificar a idéia de “natureza” feminina e masculina, afirmando que
as características peculiares ao homem e a mulher são uma construção social e cultural. Nesse
contexto, as mulheres passaram a reivindicar a conquista de novos espaços no mercado de
trabalho e a lutar pela igualdade de sexos. As produções literárias trouxeram reflexões sobre a
relação homem-mulher e os padrões sexuais impostos pela sociedade machista. Assim, os
papéis de “mãe”, “esposa” e “dona de casa” também sofreram grandes transformações. Para
Goldenberg (2001):
Nunca, como hoje, homens e mulheres foram tão parecidos em comportamentos,
visões de mundos e desejos. É verdade que algumas diferenças permanecem,
principalmente no espaço privado. As divisões sexuais do trabalho doméstico
continuam pendendo para o lado da mulher. Não podemos culpar apenas os
12 Devo salientar que este questionamento ocorre pioneiramente no seio do movimento feminista, que surge na
Europa, final do século XIX, entre mulheres burguesas e depois encampado por mulheres proletárias. As
mulheres burguesas de início lutavam pelo sufrágio; já as mulheres operarias quando tomam parte do
movimento, levantam a bandeira do socialismo, já que estavam engajadas no movimento operário. (autores).

42
homens por este foco de resistência às mudanças de gênero. (GOLDENBERG,
2001, pág.10)
De fato, como também ressalta Badinter (1985), até os dias atuais a imagem do pai
responsável por manter a família parece sobreviver. Em conjunto, a mãe continua sendo vista
como a principal responsável pela criação da criança. Devo aqui destacar o relato de Mônica e
Paula, que durante a entrevista, demonstram a noção que tem sobre os papéis do pai e da mãe
dentro da família:
(...) eu comecei a trabalhar e ele que ficava com ele em casa e eu que ia trabalhar, então ele ficou sendo a mãe e eu o pai. É tanto que ele ficou muito apegado ao pai dele que trocou os papéis, eu fiquei trabalhando e ele ficou cuidando de Alan em casa, mas isso ele já tinha mais de um ano, tinha quase 2 anos já. Mas ele não tinha aquele amor, aquele afeto não. Tinha porque era pai né, mas não o cuidado que a gente tem, que mãe tem. (Mônica)
(...) eu tive que aprender a ser pai e mãe ao mesmo tempo como eu sou hoje, porque até então eu trabalho somente pra ela, então eu sou o pai e mãe. Eu digo mesmo a ela, eu sou seu pai e sua mãe, não precisa de pai. (Paula)
Para Sarti (2004), o fato de o homem ser identificado como figura da autoridade, no
entanto, não significa que a mulher seja privada de autoridade. Existe uma divisão
complementar destas entre homem e mulher na família, a mulher é aquela que cuida de todos
e zela para que tudo esteja em seu lugar. A autoridade feminina vincula-se à valorização da
mãe, num universo simbólico, já o sustento da casa e a honra mesclam-se para compor a
autoridade paterna.
A autora ainda reflete sobre o fato de que existem muitos casos onde o papel de
provedor da casa pertence a mulher, mas nem ela, nem a sua família a identifica como chefe.
A autoridade moral continua sendo conferida ao homem. Conclui-se assim que não é
necessariamente o controle dos recursos econômicos da casa que fundamenta a autoridade do
homem, mas sim “seu papel de intermediário entre a família e o mundo externo, em seu papel
de guardião da respeitabilidade familiar” (SARTI, 2003, pág 70).

43
Segundo Woortmann et al (2002), “o monoparentalismo feminino é cinco vezes maior
que o masculino, espelhando talvez a permanência de uma ideologia de gênero tradicional,
onde ‘criança é assunto de mulher’”. (WOORTMANN, 2002, pág. 27). Cabe salientar aqui
de que "criança é assunto de mulher" não apenas pela razão ideológica, mas também por
razões biológicas, já que são as mulheres que geram. Neste sentido é que os dois fatores se
encontram entrelaçados. A construção simbólica de papéis é trabalhada desde a infância,
quando as meninas são direcionadas a sentimentos como carinho, amor maternal, cuidado e
responsabilidade pelos filhos, e os meninos a posturas firmes, de repressão, correção e mando
dos filhos.
Estabelece-se assim o isolamento da mulher no espaço doméstico-familiar, com a
socialização do trabalho dos homens e a domesticação do trabalho das mulheres. Coutinho
(2010) sustenta que o patriarcado não é apenas ideologia, é também uma estrutura de poder,
balizada na supremacia masculina que ordena e hierarquiza a sociedade para que os homens
exerçam o controle sociopolítico-econômico. Pude constatar durante a minha pesquisa que o
casamento, muitas vezes, representava uma “prisão”, onde a mulher se via obrigada a estar em
casa e cuidar dos filhos, já que dependia economicamente do marido. Ao separar-se, esse
isolamento da mulher no espaço doméstico é rompido, conforme observamos nos relatos:
Agora, depois que eu me separei... Quando eu tava com ele, num trabalhava não, era só em casa, pronto, ele que trabalhava, ia pra casa, pronto. Aí que eu comecei agora, depois que me separei, parece que melhorou 100% depois que eu me separei. (Júlia)
Segundo Coutinho (2010), além da chamada reestruturação econômica, vivenciada a
partir dos anos 1980 no Brasil, existe outra reestruturação, de ordem familiar. O avanço da
tecnologia e a globalização trouxeram velocidade às informações e acentuaram o impacto
destas sobre a reprodução da vida. Nesse contexto, é inconcebível a existência de um único
modelo familiar, nuclear e patriarcal, no qual o trabalho remunerado constitui
responsabilidade exclusiva do homem.
A reestruturação familiar não foi resultado somente do ingresso da mulher no mercado
de trabalho, mas também do movimento feminista, que engendrou um conjunto de
transformações nos papéis sociais que atingem a histórica e tradicional estrutura familiar,

44
caracterizada pela dependência econômica e cultural da mulher. Assim, a mulher ganha novas
atribuições e passa a executar novas e diferenciadas atividades na família, tomando decisões
relativas ao projeto de vida familiar.
Já Kehl (2001) vem afirmar que no “modelo” de família moderna, os lugares
masculinos e femininos não coincidem, necessariamente, com os lugares onde estão os
homens e as mulheres. Segundo o autor, “estes lugares circulam, talvez muito mais
intensamente hoje do que na época em que a família, tal como a conhecemos, se constituiu.”
(KEHL, 2001, pág. 29-30). Os papéis de homem e mulher, pai e mãe são mutáveis e circulam
entre a família. A família moderna, dessa forma, possuiria outra estrutura, diferente daquela
dita tradicional. Neste caminho é que talvez se possa entender os dados de meu campo,
apontando certa tendência da mãe solteira em acreditar que é “pai e mãe” da criança, uma vez
que desempenha os dois papéis, cuidando da casa, do filho, trabalhando... Enfim, chefiando a
família. KEHL (2001) afirma que:
(...) dividir a família em papéis também não nos ajuda muito. É verdade que
tendemos sempre a reproduzir a família com seus papéis tradicionais - pai, mãe e
filhos – mas não necessariamente estes papéis são desempenhados pelas pessoas
que, na estrutura de parentesco correspondem a pai, mãe e filhos. (KEHL, 2001,
pág. 30)
Aqui vale ressaltar que as mães entrevistadas, mesmo quando afirmam chefiar suas
famílias e “ocupar o lugar dos homens-pais”, inaugurando certo ethos13
de independência pela
sua condição de mãe solteira, também revelam em seus discursos uma ambivalência, na
medida em que idealizam uma família no modelo dito tradicional e desejam ainda
corresponder e se adequar a tal modelo.
13 Para a categoria ethos, cf. Bourdieu (1998), que afirma que hexis e ethos caracterizam o que ele chama de
habitus: um sistema de disposições duráveis adquiridas por um indivíduo no decorrer do processo de
socialização. Para o autor, a memória manifesta-se sob a forma de hexis corporal (posturas e disposições do
corpo interiorizadas pelo indivíduo) e sob a forma de ethos (princípios ou valores sob a forma de práticas morais
que regem a conduta quotidiana). A hexis atua no corpo e o ethos no campo da moral. As duas são formas
automáticas e inconscientes de agir no mundo.

45
5.2 O lugar do trabalho para a mãe solteira
É importante tecer algumas considerações sobre uma noção que aparece com frequência
em meus dados etnográficos: a noção do trabalho e o valor que ele assume para as mulheres,
mães solteiras. Aparece nas falas das informantes uma supervalorização da atividade do
trabalho, e frequentemente esta ênfase se dá não pelo ideal de que "trabalhar é importante para
o crescimento", mas pela necessidade de "criar o filho e lhe dar o que eu não tive
oportunidade de ter em minha vida".
Sarti (2003) discute o espaço fundamental que o trabalho ocupa na vida das famílias
pobres, especialmente entre as mães solteiras. Meus dados de campo me apontam esta
assertiva, pois dentre as minhas entrevistadas, todas, após a separação precisaram trabalhar
fora de casa para sustentar os filhos. Lembro que estas provém de segmentos populares e
médios, e que aquelas que já não trabalhavam antes de se tornarem mães solteiras, começam a
trabalhar, baseadas nas idéias de que “não querem depender do homem” ou que “precisam
sustentar sozinha seus filhos.” Aqui trago alguns relatos que indicam essa tendência:
(...) depois que eu arrumei um trabalho, não passei nenhuma ainda não. [dificuldade financeira] Porque antigamente eu passava porque eu dependia da pensão deles que ele mandava por quinzena (Júlia)
Eu explicava pra ela o porquê que eu tinha que fazer isso, que eu precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro pra sustentar os três. Aí eu falava: a mãe precisa trabalhar e você precisa ficar aqui, se não como é que vou conseguir alimentação pra vocês né, os sustento dos três filhos. (...) E aí passei muita dificuldade, eu cheguei a fazer 2 turnos na empresa. Eu trabalhava 2 horários, até que acabei tendo um problema de saúde e tive que parar. Mas pra pagar o aluguel, pra sustentar os três filhos, eu precisei trabalhar... (Emanuele)
Aí pronto eu comecei a trabalhar, aí eu tinha meu dinheiro, aí pronto que eu não fui mais atrás dele mesmo pra nada, né. Eu sempre trabalhei muito pra dar tudo aquilo que eu queria dar porque eu não tive, minha mãe não tinha condições. Então Priscila sempre teve tudo: plano de saúde, colégio particular entendeu, tudo porque eu trabalhei muito (Ivete).
Aparece com muita frequência nas falas dessas mães a noção de que não “aceitaram
submeter-se” aos ex-maridos e companheiros, “vivendo só da pensão que ele dá, quando quer

46
dar.” Quando começaram a trabalhar, as mulheres relatam que se sentiram “livres e
independentes”, já que não precisariam mais do “homem para nada”. Dessa forma, o trabalho
parece ocupar uma posição de destaque na vida dessas mulheres e na manutenção de sua
família.
Para Sarti (2003), a mulher assume o papel de chefe da família, papel historicamente
destinado ao homem, quando este não garante o teto e o alimento do lar. Segundo a autora:
“cumprir um papel masculino de provedor não configura, de fato, um problema para a
mulher, acostumada a trabalhar, sobretudo quando tem precisão.” (SARTI, 2003, pag. 67).
De fato, ao analisarmos a história da mulher relacionada ao trabalho, constatamos que nas
sociedades burguesas as mulheres das classes trabalhadoras sempre exerceram atividades
laborativas, ou para ajudar seus maridos ou para o seu próprio sustento; a diferença que se
verifica é que antes, essas atividades exercidas pelas mulheres não eram consideradas
“trabalho”, uma vez que eram consideradas secundárias e complementares, pois a “principal
função da mulher era cuidar da casa e dos filhos”. Segundo Fonseca (2009), em muitos casos,
a mulher trazia o sustento principal da casa e mesmo assim, o trabalho feminino continuava a
ser apresentado como um mero suplemento à renda masculina. “Sem ser encarado como
profissão, seu trabalho em muitos casos nem nome merecia.” (FONSECA, 2009, pág. 517)
Aqui também vale ressaltar a distinção entre as classes sociais; ora, a mulher pobre em
nosso País quase sempre se viu obrigada a trabalhar, mesmo com a presença do marido, para
ajudar no sustento da casa. Já as mulheres de classes dominantes, essas sim, viveram por
muito tempo vigiadas e limitadas ao espaço privado do lar, alienadas a reproduzir o
pensamento de que mulher deve ser “dona-de-casa” e “esposa.” Sobre esta concepção,
Fonseca (2009) vem a afirmar:
A norma oficial ditava que a mulher devia ser resguardada em casa, se ocupando
dos afazeres domésticos, enquanto os homens asseguravam o sustento da família
trabalhando no espaço da rua. Longe de retratar a realidade, tratava-se de um
estereótipo calcado nos valores da elite colonial, e muitas vezes espelhado nos
relatos de viajantes europeus, que servia como instrumento ideológico para marcar
a distinção entre as burguesas e as pobres. Basta aproximar-se da realidade de
outrora para constatar que as mulheres pobres sempre trabalharam fora de casa.
(FONSECA, 2009, pág. 517)

47
Segundo Fonseca (2009), a partir do século XVIII, temos um aumento expressivo da
presença feminina no “mundo do trabalho” no Brasil. Vários fatores justificaram essas
transformações. A mobilidade geográfica dos homens, por exemplo, que buscavam um bom
emprego, deixava as mulheres periodicamente em estado de abandono. Não restava opção a
essas mulheres a não ser também procurar uma atividade remunerada. Até mesmo mulheres
casadas, especialmente as mais pobres, precisavam procurar um emprego para que a família
não dependesse exclusivamente do salário (muitas vezes, incerto) do homem. De acordo com
Fonseca (2009) já em 1900, 42% da população economicamente ativa no Brasil era de
mulheres. Mesmo quando realizava uma atividade econômica considerada “digna” e
“honesta”, a mulher não escapava a preconceitos e julgamentos sociais, que viam o trabalho
feminino como uma deturpação de valores e uma ameaça a família. Dessa forma, Fonseca
(2009) afirma que:
Em vez de ser admirada por ser “boa trabalhadora”, como o homem em situação
parecida, a mulher com trabalho assalariado tinha de defender sua reputação contra
a poluição moral, uma vez que o assédio sexual era lendário. (FONSECA, 2009,
pág. 516)
Segundo Blay (2001), “a trajetória das mulheres no mundo capitalista e socialista,
ocidental e oriental é marcada pela discriminação.” (BLAY, 2001, pág. 84). As diferenças
sexuais foram utilizadas como pretexto para “impor relações hierárquicas”, nas quais as
mulheres eram as dominadas e os homens, os dominadores. Esta relação hierárquica de
gênero se reproduz a cada geração. A autora vem afirmar que a historiografia por muito
tempo ignorou a participação feminina no mercado de trabalho, já que no Brasil, as mulheres
sempre exerceram atividades econômicas enquanto escravas, libertas e livres, no sertão, nas
fazendas, nas vilas e nas cidades. A sociedade fundada em bases machistas e patriarcais “não
enxergava a dimensão do trabalho econômico da mucama, das vendedoras de rua, das
cozinheiras, das camponesas, das operárias” (BLAY, 2001, pág. 85)
Silva (2009) atenta para o trabalho feminino quase que obrigatório das mulheres do
campo. A autora afirma que as mulheres que trabalhavam nas áreas rurais sob o sistema de
colonato em conjunto com a sua família dividiam-se entre o trabalho da casa, na roça e no
cafezal. Apesar disso, como bem ressalta a autora, “as mulheres não existiam enquanto
trabalhadoras individualizadas, porque seus trabalhos eram englobados no trabalho familiar

48
controlado diretamente pelo pai-marido.” (SILVA, 2009, pág. 557) Além disso, na ocasião
do nascimento dos filhos, as mulheres afastavam-se da atividade produtiva, submetendo o seu
trabalho ao “ciclo vital da família”. Assim afirma Silva (2009):
As mulheres que trabalhavam no cafezal aproveitavam as noites e as madrugadas
para o serviço doméstico. A jornada de trabalho feminina acabava sendo maior que
a do homem. (...) No colonato, o trabalho doméstico, o trabalho “dentro de casa”
era complementar ao trabalho nas lavouras. (SILVA, 2009, pág. 558)
Com a urbanização e as transformações resultantes da industrialização, ocorre um
enorme êxodo de trabalhadores do campo para as cidades. Paralelamente houve mudanças na
estrutura do mercado de trabalho, ampliaram-se e se diversificaram os setores que incorporam
mulheres. Por representarem uma mão-de-obra mais barata, as mulheres foram absorvidas
pela indústria e submetidas a um intenso processo de exploração e dominação. Silva (2009)
afirma que a remuneração paga as mulheres fica bem abaixo da dos homens, mesmo que o
trabalho da mulher não seja tão rentável quanto o do homem, essa grande diferença só
justifica uma discriminação contras as mulheres na fixação de salários. E a autora
complementa:
A independência econômica feminina não representou o término das desigualdades
entre homens e mulheres porque elas não se resumem à esfera econômica e
material. Estão presentes na cultura, nas idéias, nos símbolos, na linguagem, no
imaginário; enfim formam um conjunto de representações sociais que impregnam
as relações. (SILVA, 2009, pág. 563)
A inserção das mulheres no mundo do trabalho trouxe uma dupla jornada, além do
trabalho “fora de casa”, as mulheres ainda tinham que “dar conta” do trabalho doméstico,
muitas vezes assumindo a criação dos filhos sozinhas. Isso porque o papel do homem na
família não se alterou, a mulher ingressou no “mundo masculino do trabalho”, mas o homem
não ingressou no “mundo feminino do trabalho doméstico”. E mais, de acordo com Blay
(2001) e Rago (2009), houve, nos dois pós-guerras mundiais, em virtude do retorno dos
homens uma forte pressão ideológica para que a mulher “voltasse para o lar”, criando imagens
negativas das mulheres que trabalham fora. Para Blay (2001) a questão tem a ver com a
subjetividade feminina e masculina construída dentro de um modelo de hierarquia de gênero,
onde “cuidar dos filhos é tarefa de mulher”; e o trabalho da mulher serve somente para
“ajudar” nas despesas da casa.

49
Nesse contexto, Rago (2009) vem afirmar que as mulheres tiveram de lutar contra
inúmeros obstáculos para ingressar no “mundo masculino do trabalho.” O discurso instaurado
nessa época é o de que o trabalho ameaçava a honra feminina e as mulheres deixariam de ser
mães dedicadas e esposas carinhosas, se trabalhassem fora do lar; e pior: deixariam de se
interessar pelo casamento e pela maternidade. Para muitos médicos higienistas, o trabalho
feminino fora do lar levaria à desagregação da família.
Bassanezi (2009) nos conta que na década de cinquenta, ainda prevalecia fortemente
esse pensamento: trabalhar fora de casa representava um perigo, pois as mulheres poderiam
perder a feminilidade, o respeito, a proteção e o sustento garantidos pelos homens. Destaca-se
que esses pensamentos atingiam mais fortemente a mulheres das classes mais abastadas, já
que as mulheres pobres eram obrigadas a trabalhar e consideradas profundamente ignorantes,
irresponsáveis e incapazes, mais irracionais que as mulheres das camadas médias e altas,
estas, por sua vez, eram consideradas menos racionais que os homens. (cf Bassanezi, 2009)
A ideologia patriarcal burguesa, no entanto, não conseguiu frear a emancipação dessas
mulheres que ganharam cada vez mais espaço no mundo do trabalho. Segundo Rago (2009), o
movimento feminista trouxe um discurso apontando os benefícios do trabalho feminino fora
do lar: “uma mulher profissionalmente ativa e politicamente participante, comprometida com
os problemas da pátria, que debatia questões nacionais, certamente teria melhores condições
de desenvolver a maternidade” (RAGO, 2009, pág. 590)
O discurso liberalizante das feministas considerava, sobretudo, as dificuldades que as
mulheres enfrentavam para ingressarem no mundo do trabalho, controlado pelos homens. Aos
poucos, as mulheres foram ocupando todos os espaços de trabalho possíveis. De acordo com
Blay (2001) as mulheres foram entrando para ocupações como o magistério, pois os homens
buscaram outras carreiras mais bem remuneradas e de mais prestígio social. Dessa forma,
fala-se em feminização do trabalho, onde determinadas profissões de baixa remuneração e
pouco status foram “deixadas paras as mulheres.” Outra colocação importante é o fato dessas
profissões, em certa medida, se relacionarem com o papel da mulher atribuído na família e na
sociedade, tais como: professoras, babás e empregadas domésticas.

50
Blay (2009) ressalta que nos últimos trinta anos o movimento feminista procurou
mostrar que “a maternidade não é doença” que impossibilite o trabalho e que ter e cuidar da
prole é uma “função” não apenas da mulher, mas também do homem. Para a autora, fatores
biológicos como menstruação, gravidez, maternidade, aleitamento, continuam sendo usados
como justificativa para a desvalorização do trabalho feminino frente ao masculino.
Meus dados etnográficos apontam que as mães informantes emitem frequentemente um
discurso atravessado pela ideia de "luta", de "vencer obstáculos" e "desafios" em relação à sua
vida de mãe solteira e chefe de família. Elas deixam claro que "não têm medo" de "encarar
criar o filho sozinha", e que preferem "passar dificuldades" do que "depender" ou "ter que
contar com a ajuda" do pai da criança. Ora, para Sarti (2003) a aceitação pela sociedade e pela
família da mãe solteira envolve nuances importantes, que aparecem no discurso popular, onde
é salientada a importância, não exatamente dos homens assumirem o casamento, mas sim de
assumirem a paternidade:
Ela é, em primeiro lugar, vítima de um safado, que não assume
as consequências dos seus atos, um homem que não é digno de
respeito, acusação que comporta uma ambiguidade, na medida
em que, ao mesmo tempo, ninguém pode obrigar ninguém a
casar. (SARTI, 2003, pág.75)
A mãe solteira que trabalha pra criar o seu filho sozinha ganha então uma imagem
positiva, desmistificando antigas noções. Ter o filho e conseguir criá-lo transforma-se em uma
prova de “coragem”, de quem enfrenta as “consequências dos seus atos”, como um código de
honra feminino. Pude notar em alguns dos relatos que a noção de valorização da mãe solteira,
como “guerreira e corajosa” se faz presente na mentalidade das minhas entrevistadas, que
afirmam também receber críticas positivas de outras pessoas pela sua “coragem e
determinação”. Assim relata Mônica:
(...) me acham tipo uma guerreira, corajosa por criar um filho sozinha e trabalhar e cuidar de casa, que nem todo mundo consegue. E sem o apoio do pai. Não achei nenhum preconceito não, achei pelo contrário que as pessoas me vêem com bons olhos, não com ruim por ter sido mãe cedo e criar sozinha. (Mônica)

51
Trabalhar confere a mulher respeito e a “redime” por ser “diferente”, por ter uma
família fora dos padrões tidos como normais. Assim, a mulher passa a controlar e a sustentar
sua prole assumindo um lugar que ela acredita ser destinado ao homem. Nos casos das
famílias monoparentais centradas na mulher, Sarti (2003) vem nos dizer que o trabalho vale
não só por seu rendimento econômico, mas por seu rendimento moral, a afirmação de uma
identidade, que antes cabia ao homem. Para Sarti (2003):
No caso da mãe solteira, ou da mulher abandonada pelo marido, o sentido do
desemprego aproxima-se daquele que tem para o homem. Para ela, o trabalho
remunerado adquire um sentido particular de honra, portanto, de afirmação de si
enquanto individuo, porque, através do trabalho, ela tem a oportunidade de reparar
o ato condenado ou readquirir seu orgulho e amor próprio. (SARTI, 2003, pág.103)
Vários outros motivos são apontados pela autora para justificar esse trabalho feminino
que não necessariamente possui bases ideológicas no sentido de que as mulheres buscam uma
afirmação individual na sociedade. O trabalho dessas mulheres é condição essencial para a
manutenção da família, uma vez que não há a presença do pai da criança. Então, a mulher
busca uma atividade remunerada não para alcançar um status na família e na sociedade e sim
para “suprir necessidades de casa”. Essa atividade, como argumenta Sarti (2003), acaba
subordinada às obrigações familiares, que vêm em primeiro lugar para a mulher; esta reafirma
o seu papel de “mãe” e “dona-de-casa” acima de tudo.
5.3 Chefia familiar feminina em famílias monoparentais
Como chefe da família, a mulher se vê responsável pela sua manutenção e, por vezes,
assume uma dupla jornada de trabalho, na tentativa de suprir as necessidades do lar. Além
disso, essa carga de trabalho geralmente vem acompanhada de uma carga de culpa por suas
insuficiências, tanto no cuidado das crianças quanto na sua manutenção econômica.
(CARLOTO, 2005). Esse quadro de problemas e dificuldades leva as mulheres a um
sentimento de impotência, principalmente nos casos em que elas não contam com nenhum
tipo de apoio, como o de parentes, ou ainda quando os recursos destas são também limitados.
Segundo Coutinho (2010):

52
As mulheres chefes de famílias possuem diferentes origens familiares, bem como,
experiências de vida material e afetiva. Elas têm em comum alguns componentes
de projeto de futuro, e sentimentos mesclados de culpa e de cumprimento de dever.
(COUTINHO, 2010, pág.164)
Hintz (2001) afirma que o mais comum é encontrarmos famílias monoparentais
formadas por mães e filhos, tanto mães separadas quanto solteiras; na maioria das vezes, a
mulher é a chefe da família. Também não é raro encontrarmos mulheres que têm uma boa
situação financeira e optam por terem seus filhos sem estabelecerem um compromisso com os
pais das crianças. Woortmann et al (2002) também atenta para esse fenômeno:
Nas camadas médias urbanas não são raros os casos de mulheres que decidem ter
filhos, mas não querem ter maridos. Por outro lado, preferem manter residência
independente. Nesses casos a "monoparentalidade" é o resultado de uma escolha
deliberada e pode ser uma situação permanente. São situações novas que se
distinguem dos casos em que uma separação ou divórcio pode ser seguida de nova
união(...) (WOORTMANN ET AL, 2002, pág. 87)
As autoras vêm afirmar que a existência de famílias chefiadas por mulheres demonstra
que não pode existir um conceito pronto e acabado para definir a família monoparental.
Quando nos utilizamos de termos como família “incompleta”, “despedaçada” ou
“fragmentada” estamos reproduzindo preconceitos homogeneizadores, já que o uso desses
termos acaba se configurando como estereótipos que rotulam negativamente os arranjos que
não se encaixam no padrão proposto e dominante na sociedade. É importante destacar que o
conceito de chefia familiar também é subjetivo e pode adquirir muitas variações. Segundo
Carloto (2005), o termo pode ter origem nas sociedades antigas, onde o homem mais velho
tinha poder sobre todos os membros da família. Já para Coutinho (2010):
A chefia de família é uma condição na qual o sujeito social é portador de
características específicas. A não-existência de definição unívoca para designar o
que é ser chefe de família se inscreve na caracterização de domicílio como unidade
de moradia, permitindo não apenas a coabitação de mais de uma família, mas
também a existência de mais de um chefe. (COUTINHO, 2010, pág. 157)
Coutinho (2010) vem então afirmar que não existe uma precisão sobre o termo, o que
revela que a chefia familiar, assim como a própria família, é construída e representada pelos
indivíduos na sociedade. Segundo o pensamento comum, o chefe da família seria aquele

53
responsável pelo sustento e manutenção da unidade doméstica e pela educação da prole,
atribuições que podem estar combinadas ou não.
Nesse sentido, precisamos frisar que nem sempre a mãe solteira torna-se “chefe de
família”, no sentido econômico desta: muitas mulheres separam-se dos maridos e voltam a
conviver com seus pais, sendo sustentadas por eles. Em outras ocasiões, a mulher solteira
engravida e nem sai da casa de seus pais. Na maioria dos meus relatos, percebo o apoio da
família para com a mãe; independente se ela mora só com os filhos ou com os parentes, a
família está disposta a ajudá-la na criação dos filhos e até economicamente.
De acordo com Coutinho (2010), as chefes de família são mulheres solteiras,
separadas/divorciadas ou viúvas, que criam seus filhos e, muitas vezes, seus netos, sem a
presença de um homem/companheiro. Dessa forma, elas mantêm economicamente o
domicílio e nem sempre recebem assistência de parentes, tomando para si, como ressalta a
autora, a responsabilidade da socialização dos filhos. Aqui cabe ressaltar os relatos de
algumas das entrevistadas, que demonstram o quanto essas mães solteiras se sentem as únicas
responsáveis pelo cuidado com a criança.
Se ele quiser se encontrar com ela, eu vou levo ela aonde ele quer e fico lá observando. Mas eu não quero que ela vá ficar acompanhando ele na casa da mulher dele não. (Paula)
(...) ele botou o menino no braço, disse: meu filho, como é lindo o meu filho. Marcos deu um sorriso de orelha a orelha. Eu fiquei tão irada que eu disse: deixe pra rir pra mãinha, que nunca lhe abandonou, você fica rindo pra uma pessoa que você não sabe nem quem é. (Larissa)
É necessário destacar que a chefia em famílias monoparentais se caracteriza como uma
forma de organização flexível, que não necessariamente será constituída pela mãe e filhos,
mas por um conjunto de pessoas que pode incluir outros consanguíneos e agregados. Todavia,
“chefia feminina familiar” não significa apenas que as mulheres se separaram ou assumiram
filhos fora do casamento. Coutinho (2010) vem afirmar que outros fatores colaboram para
esse fenômeno, como os demográficos: a expectativa de vida maior para as mulheres (cerca
de sete, oito anos) e a escolha de parceiros para o casamento entre homens mais velhos,
produzem um destino de viuvez.

54
Segundo alguns pesquisadores, o fenômeno da monoparentalidade e da chefia feminina
(que parecem andar juntos) é mais evidente entre as famílias mais pobres, além disso, muitas
dessas famílias chefiadas por mulheres estariam nas classes baixas, uma vez que há uma
menor capacidade de ganho das mulheres provocada por diversos fatores cujo principal vetor
é a condição de gênero articulado à classe e etnia. (CARLOTO, 2005).
De acordo com Braga (2009) a mulher acaba acumulando as funções de mãe, dona de
casa e única provedora do sustento do lar, tendo uma dupla jornada de trabalho. Para agravar
ainda mais a situação, recebe salário inferior ao do homem ou possui um emprego pouco
qualificado, o que lhe propicia um rendimento extremamente baixo. Em resumo, recebe
pouco, trabalha o dia todo e, no fim do dia ainda precisa cuidar do filho e realizar os afazeres
domésticos. Durante a minha pesquisa, era comum que as mulheres descrevessem os
problemas em assumir essa “dupla jornada de trabalho”, apontada por elas como uma das
principais dificuldades na vida das mães solteiras.
Mas eu acho que como eu trabalho muito, as vezes eu acho que eu não tenho tempo suficiente pra ela [a filha]. Porque eu trabalho o dia todo, quando eu chego de noite, eu chego super cansada. As vezes eu me estresso com ela, as vezes até peço desculpa porque eu me estresso do nada. (Paula)
Vitale (2002) vem afirmar que a associação entre monoparentalidade e pobreza pode
criar um estigma na sociedade em torno da noção de que a mulher não teria capacidade de
cuidar e manter uma família sem um homem. Outro ponto que a autora destaca é a dimensão
da pobreza que se aprofunda quando vinculamos monoparentalidade, sexo e etnia, levando-se
em consideração que as famílias monoparentais chefiadas por mulheres negras são as que se
mostram com menos condições de manter uma casa e os cuidados com as crianças.
De acordo com Woortmann et al (2002), a existência de unidades monoparentais com
chefia feminina não é algo recente nas camadas mais pobres da população, nem no Brasil,
nem em outros países. As autoras consideram novo o rápido crescimento de famílias
monoparentais entre a classe média brasileira. Para esse público, devido às transformações de
gênero que a sociedade presenciou, a chefia feminina pode ganhar outra conotação e não estar
somente associada a mulheres das camadas pobres. As autoras defendem que essas famílias
com chefia feminina que estão engendradas em uma marginalidade econômica, com

55
frequência não resultaram de valores alternativos à família nuclear e sim de uma ruptura bruta
dos vínculos conjugais. Os meus dados de campo apontam para uma variedade de motivos
que constituíram a monoparentalidade e a chefia feminina das minhas entrevistadas; dentre
elas a separação ou quebra dos vínculos conjugais é relatada como frequência. Seja por
iniciativa do homem ou da mulher, separar-se parece significar para essas mães solteiras
perder todo e qualquer contato com o parceiro, mesmo ele sendo pai dos seus filhos. Trago
aqui o relato de Maria:
Ele saiu de casa... quando ele saiu de casa, Luana ia fazer 3 anos, faz 7 anos. E de lá pra cá foi só eu pra sustentar e cuidar dos meninos, eu sou mãe e sou pai. (Maria)
Wortmann et al (2002) vêm atentar também para o fato de que as relações de parentesco
mais amplas na família nuclear é um fator importante nas práticas de arranjo e rearranjo do
grupo doméstico. Ainda segundo as autoras, essas redes de parentesco são organizadas
estrategicamente pelas mulheres.
A inserção das mulheres no mercado de trabalho para o sustento de sua família está
condicionada à procura de um lugar onde a sua prole possa receber cuidados e educação no
período em que a mãe não poderá estar presente. Assim, é frequente que a mãe com seus
filhos, nos casos de dissolução de uma união conjugal, passe a residir com sua própria mãe, o
que frequentemente resulta na formação de um arranjo que pode ser caracterizado como uma
“díade materna dupla”, já que a história de vida da filha pode replicar a da mãe. As redes de
parentesco teria assim, um forte viés matrilateral, o que é natural com relação àqueles que
foram criados em famílias com chefia feminina e/ou em famílias com sucessivos maridos-
pais. (Woortmaan et al, 2002).
Quando filhas de mulheres chefes de famílias se tornam mães, a chefia feminina se
fortalece, e em decorrência a mulher terá mais dependentes, pois adolescentes ou jovens
adultas sem companheiro têm dificuldades para criar um filho sem o auxílio da “mãe-avó”, o
que também se constitui em um empecilho afetivo para a ruptura da convivência entre aquela
que é mãe chefe de família com sua filha (Woortmann et al, 2002.). Vale ressaltar a história
de Ivete e Clara: Ivete foi mãe solteira de duas filhas; Clara é uma delas. Aos vinte e um anos,
Clara, ainda morando com a mãe, também foi mãe solteira, repetindo a história da mãe:

56
Ai, mulher, eu fiquei tão decepcionada... até hoje eu sou decepcionada com isso. Assim, porque eu preparei tanto o caminho, a gente almejou tantas coisas e depois eu vi as coisas indo por água abaixo, sabe. E também vi a minha historia se repetindo nela. (...) Quando eu vi o resultado do exame, foi passando aquele filme assim de uma história que eu já conhecia. Aí até hoje eu sou assim... me dói, isso me dói. (Ivete)
Ao longo dos anos, transformou-se muito a maneira de se gerar uma entidade
monoparental. Carloto (2005) nos diz que no passado grande parte destas famílias era
formada por viúvas ou mães que foram abandonadas; dessa forma, ser mãe solteira era uma
situação imposta; as mulheres não optavam por criarem seus filhos sozinhas, eram “vítimas”
das circunstâncias. Na contemporaneidade, as famílias monoparentais centradas nas mães
derivam de diversas situações. Merece consideração o fato de que hoje as famílias
monoparentais, apesar do caráter subjetivo presente em sua definição, já são consideradas
entidades legítimas, protegidas no artigo 226, § 4º da Constituição Federal de 1988, que traz o
seguinte texto: “Entende-se como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos
pais e seus descendentes.” Ressalta-se que a constituição anterior definia que o chefe da
família era o homem e a entidade familiar era a comunidade formada por homem, mulher e
filhos. Portanto, a CF. de 1988 trouxe avanços neste sentido.
Nos últimos anos, acompanhamos o crescimento no Brasil do número de famílias cujo
principal provedor é a mulher, estima-se que um terço das famílias tem a mulher como chefe
do lar (CARLOTO, 2005). Dentre os possíveis motivos para a ocorrência desse fenômeno
estão a instabilidade conjugal e as mudanças na estrutura familiar que vêm acontecendo na
contemporaneidade, em especial nas classes mais pobres da população, onde a mulher é
obrigada a acumular sozinhas funções de provedora e de única responsável pela unidade
familiar.
De acordo com Braga (2009), o modelo tradicional biparental com a presença de filhos
continua sendo o dominante no país. Não obstante, segundo o IBGE ( Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), a quantidade de arranjos familiares nesse formato (casal com filhos)
já reduziu de 53,3% para 46,3% entre os anos de 2001 e 2011 havendo um consequente,
aumento dos casais sem filhos (de 13,8% para 18,5%). Isso indica que as novas formas de
organização familiar, antes consideradas “ilegítimas”, estão cada vez mais se disseminando na
sociedade, forçando sua aceitação, apesar do estigma.

57
6 "É MEU, EU QUE FIZ": O FILHO COMO
PROPRIEDADE DA MÃE
Na minha pesquisa, pude observar que algumas das mães solteiras entrevistadas
rejeitam a ajuda dos pais das crianças: é comum relatarem que "não precisam de um homem
pra cuidar dos seus filhos". Quando questionadas se o filho possivelmente sentirá a
necessidade de um pai, elas afirmam que "até pode sentir", mas é algo "irrelevante" e que
"pode ser contornado". Também afirmam que a presença mais importante é a da mãe para
“cuidar, educar e dar amor ao filho.” Muitas dessas mulheres descreveram que “tiveram
muitas dificuldades” durante a gravidez e que “enfrentaram tudo sozinhas”. Dessa forma,
quando o filho nasce, elas aparentam querer exclusividade: “fui eu que sofri pra ter, então eu
tenho direitos, o filho é meu.” Se enxergam como peça primordial: “mãe é mãe”; “o amor de
mãe é o único verdadeiro”. Relatos como o de Clara abaixo são comuns:
(...) é você amar sabendo que você não vai ser traído, que você não vai ser enganado, que você não vai ser nada. Você tá amando sem esperar nada, absolutamente nada em troca. Ser mãe é isso, é um cuidado excessivo. (Clara)
Como já citado em capítulos anteriores, o amor de mãe é uma construção social,
cultural e histórica. Badinter (1985) vem afirmar que o amor de mãe é exato e não inato. A
mulher não possui um instinto natural para ser mãe e cuidar de uma criança, ela desenvolve
essa noção que é dada pela sociedade. A autora conta que nas sociedades ocidentais, a partir
do século XVIII, se fortaleceu essa noção de “amor materno”. Ora, um novo modo de vida
aparece nesse século, a família se volta para o seu “interior”, sua “intimidade”, conservando
bem fortes os laços afetivos familiares. Segundo Badinter (1984), “A vigilância materna
estende-se de maneira ilimitada. Não há hora do dia ou da noite em que a mãe não cuide
carinhosamente de seu filho.” (BADINTER, 1985, pág. 210)
As mulheres entrevistadas demonstram incorporar essa noção de “amor de mãe” e é
comum que relatem amor e afeto "demasiadamente grandes" pelos filhos. Deste sentimento de
“amor imensurável” parece surgir o sentimento de posse, pois estas mães frequentemente
parecem se colocar como “donas" de seus filhos, que se tornam uma “propriedade particular”

58
da mãe. Tratando de uma noção que podemos entender como propriedade do filho, importa
atentar para a categoria individualismo, que perpassa esta discussão, já que a partir da
discussão desta noção é possível entender mais precisamente o fenômeno descrito
anteriormente. Rocha-Coutinho (2006) nos fala do individualismo que, como valor central da
ideologia moderna, marca a modernização da família brasileira, estabelecendo “escolhas
pessoais”. É a partir do individualismo que se pode entender a noção de projeto para as mães
entrevistadas. Mas vamos aos dados.
6.1 Sonhando as vidas dos filhos: projeto e metamorfose14
Eu queria projetar nela as coisas que eu não vivenciei. (Ivete)
Falas como esta acima aparecem com frequência nos meus dados empíricos, é comum
que as mulheres criem grandes expectativas em torno dos filhos. Muitas delas, antes de serem
mães, tinham planos para o seu próprio futuro e a chegada inesperada de um filho,
especialmente para essas mulheres, mães solteiras, quebra todo um projeto. Não está se
querendo afirmar que essas mulheres não desejavam ser mães, mas sim que elas
demonstraram esperar que a maternidade acontecesse de outra maneira, imaginavam ter um
esposo-pai presente, por exemplo. Quando elas se veem mães solteiras, tendo que trabalhar
para sustentar seus filhos, precisando criá-los sozinhas, dar amor e atenção “em dobro”,
muitos dos projetos sonhados por essas mulheres precisam ser interrompidos ou até
abandonados.
Aí tem muitas coisas que eu não fiz porque eu engravidei, porque na época que eu engravidei eu estava fazendo as provas da Marinha. E quando eu engravidei, eu não pude mais fazer. Então quer dizer eu já tinha um planejamento pra minha vida que foi quebrado durante a gravidez. (Ivete)
14 “Projeto e Metamorfose” é o título do livro de Velho (1994), um dos autores que me baseio para construir este
capítulo.

59
Dessa forma, como precisaram interromper suas vidas, mudar seus projetos e planos
de futuro, as mães demonstram espelhar nos filhos os seus desejos. O que pude notar é que
algumas dessas mães evidenciam projetar nos filhos suas vidas frustradas e desejos, sonhos,
planos que não foram realizados. Elas desejam que “eles sejam o que elas não foram”, que
tenham “um futuro melhor” que o delas. Me parece que as falas acima apontam a presença da
noção de projeto, cara à modernidade. É desta noção que passo a tratar a partir de agora.
Ora, segundo Velho (1994), a sociedade moderna contemporânea tem como uma de
suas principais características a existência e a percepção de diferentes visões de mundo e
estilos de vida. Dessa forma, o autor questiona até que ponto a participação em um estilo de
vida vai implicar uma adesão significativa para a criação de identidades sociais. Vale
destacar também que, segundo o autor, há divergências entre uma identidade social já
elaborada socialmente e uma que é adquirida de acordo com uma trajetória, consequência de
uma série de escolhas e decisões. Muitas das mães solteiras, minhas entrevistadas, não
escolheram ser mães e solteiras, não tinham esse projeto para a sua vida. Assim, precisaram
adaptar-se a essa “nova identidade social”, carregada de preconceitos que, muitas vezes, é
internalizado por essas mulheres.
Para Alves (2006), o projeto é algo que dá sentido a uma trajetória individual e coloca
essa trajetória no curso do tempo. O indivíduo que faz projeto une o passado, o presente e o
futuro para assim formar a sua biografia. Para realizar essa união, o indivíduo recorre a sua
memória, onde faz a seleção de tudo que ele considera significativo do seu passado. O que se
faz é uma visão retrospectiva e o indivíduo constrói “uma antecipação no futuro dessa
trajetória e biografia” (VELHO, 1994: 101).
Projeto e memória articulam-se para dar sentido à trajetória individual das pessoas, ao
seu projeto de vida. Este será , segundo Alves (2006), expresso em conceitos que tomam o
outro como referência. Velho (1994) vem afirmar que o indivíduo que elabora um projeto
busca a organização de meios para alcançar determinados objetivos, também previamente
elaborados, e que a consistência do projeto dependerá da memória. Ora, ao lado da memória,
trabalhada por Velho (1994), saliento que também são importantes na constituição dos
projetos individuais o contexto mais amplo onde se encontra o indivíduo. Neste sentido é que

60
a classe social, o gênero e os diferentes grupos de socialização são fatores que matizam este
projeto, ajudando em sua conformação.
Quando questionadas sobre os planos para o futuro, minhas informantes parecem guiar-
se por suas memórias, resgatando as experiências negativas que viveram durante a gravidez
ou na ocasião do nascimento do seu filho. Dessa forma, é comum que as mães afirmem que
não querem ter mais filhos, que não pensam em casar ou ter outro relacionamento e que não
desejam ter o pai da criança por perto. Essas mulheres parecem se guiar por uma possível
experiência difícil e dolorosa que passaram ou ainda estão passando por serem mães solteiras.
Os relatos destacados abaixo parecem confirmar essa suposição:
Do começo ao fim, ela sabe né, da minha história todinha pra ela não passar o que eu passei.(...) Isso aí que eu dou conselho a qualquer uma né, pra não depender do marido, do homem, que é horrível. (Júlia)
Então os 9 meses pra mim foi marcante e eu fui abandonada pelo pai. Então aquilo me marcou muito assim... aí eu pensei assim: meu Deus, eu sonhava em ser mãe. E eu tinha um sonho assim, ideal da minha vida. Ter minha barriga paparicada. Aí só que eu fui assim, numa fase muito difícil né, abandonada. Tudo que eu queria era ser mãe, mas eu queria também ser paparicada e eu não fui. E na hora de parir, eu quase perdia a vida. (Larissa)
Velho (1994) afirma que o projeto é algo dinâmico e está em constante mudança, pois
pode ser reelaborado. Também a memória do indivíduo está em constante mudança, ganhando
novos sentidos e significados, repercutindo na própria identidade do individuo. Alves (2006)
afirma que essa reelaboração é feita dentro de um “campo de possibilidades”, onde o sujeito
avalia suas opções de escolha, com o objetivo de inserir-se no mundo. Ainda segundo Velho
(1994), o projeto existe no mundo da intersubjetividade, sendo expresso em conceitos,
palavras, categorias que pressupõem a existência do outro. Mais do que isso, o projeto é o
“instrumento de negociação da realidade” com outros indivíduos, é um meio de comunicação,
uma maneira de expressar suas aspirações, interesses, anseios.
É comum que as mães relatem: “minha vida agora é meu filho”. Afirmações desse
tipo parecem indicar que o projeto de vida das mães mistura-se a vida dos filhos, ou seja, elas
abdicam de construir um projeto de vida pra si para em contrapartida construir para os filhos.

61
Isso pode justificar o fato de que, com frequência, as mães procuram distanciar-se dos pais da
criança e impedir o contato entre os dois. Dessa forma, elas podem “ter o filho só pra ela”,
depositando todas as suas expectativas nele, educando-o para que ele realize os seus sonhos.
Os filhos tornam-se o motivo da vida delas: há um projeto de vida, mas este não tem lugar na
vida da mãe, e sim na vida do outro (o filho), estabelecendo relações frequentemente
atravessadas pelo controle e pela opressão destas mães sobre seus filhos. Assim, quando são
indagadas em relação a quais são os seus planos ou projetos para o futuro, as mães
respondem:
Meu plano é eu tenho muita vontade de um dos três fazer a faculdade, seguir carreira, o que eu não pude ser, eu quero que eles sejam. É porque eu sou assim, eu tenho muita vontade de criar meus filhos e eles ser alguém na vida. (Maria)
Eu desejo realmente que Aline seja alguém, tipo, que ela faça faculdade, que ela se forme, que ela não passe pelo o que eu passei. Literalmente que ela não passe pelo o que eu passei, porque... sonhos interrompidos no meio do caminho. Tá certo que não são impossíveis, mas foram interrompidos. (Clara)
Já Mônica me parece ser a única informante que, sob a justificativa de trazer um melhor
futuro para o filho, busca se qualificar, assinalando um projeto de vida individual, ainda que
este se faça em função do filho:
Estudar pra quando ele tiver maior, ele ter um bom futuro, porque o futuro dele depende do meu. (Mônica)
Velho (1994) vem afirmar que um indivíduo pode ter vários projetos, porém um será o
principal e os demais estarão subordinados a ele. Dessa forma, o que os dados me apresentam
é que o principal projeto dessas mães agora é criar e educar seus filhos; projetos particulares
são secundários e ficarão subordinados a este projeto principal.
Os dados coletados apontam que depois de se tornarem mães, mesmo entre as mais
jovens, estas mulheres perdem a idéia de perspectiva para o futuro, adquirindo uma postura de
mulher-mãe que deve viver somente para os filhos. Assim, estas mulheres dizem não pensar
mais em prazeres próprios (sair, namorar); algumas trazem relatos que sugerem que ela “já
viveu muito” e que não há nenhum plano, ambição para sua própria vida, só para a vida de

62
seu filho. Em alguns relatos, as mães contam que a sociedade também cobra essa postura
delas; que elas sejam “maduras”, “responsáveis”, “velhas”. As mães jovens sentem-se como
adultas, não podendo ter mais atitudes infantis porque já existe uma nova criança na história:
seu filho. Para essa discussão trago primeiramente o relato de Clara, mãe aos vinte e um anos
de idade:
(...) quando eu quero alguma coisa, alguma coisa infantil, vamos dizer um filme infantil eu vou assistir ou qualquer desenho que esteja passando na televisão: [as pessoas dizem]‘Ah, agora você quer assistir filme infantil, num é?’ Porque eu fui mãe não posso mais assistir filme infantil? Mudou? Eu tenho os mesmos hábitos de antes, eu continuo sendo a mesma pessoa de antes, agora com um filho. E adquiri novos hábitos.(Clara)
Pude notar que essa noção de “ser madura”, aparece inclusive entre as mães mais jovens
que entrevistei, assim afirma Mônica, que teve seu filho aos dezoito anos:
Eu acho que eu passei a ter mais responsabilidade que antes era muito... muito nem aí pro futuro, muito sem querer estudar, só queria saber de beber todo final de semana, de festa, até na semana também. Mas eu acho que foi bom pra mim, porque você queira ou não queira você amadurece. Eu tive ele muito cedo né, engravidar com 17 e ter com 18 pra mim é muito cedo. Mas eu acho que foi bom, acho que você amadurece bastante, você vê que a vida não é só farra, que você tem que pensar mais no futuro, é tanto que agora eu penso. Antes eu não pensava, em fazer faculdade, nada. Mas hoje em dia eu penso em estudar, em fazer uma faculdade pra dar um futuro melhor pra ele, as vezes, não é nem por mim, é mais por ele, entendeu? Que por mim talvez, se eu não tivesse tido ele, eu nem tivesse pensando nisso hoje, tivesse na mesma vida de sempre, bebendo, curtindo, saindo, sem querer saber de nada. (Mônica)
Assim, a partir dos meus dados de campo, pude perceber que quando há um
nascimento de uma criança, há uma profunda mudança na vida da mãe. Esta muda seus
planos, seu estilo de vida, seus pensamentos e seus hábitos.
(..) eu me tornei uma pessoa mais consciente. Até de falar com alguém, não machucar com as palavras. Eu não pensava nunca, o que eu queria, eu dizia e acabou. Era muito encrenqueira mesmo. (Paula)
Para Velho (1994), pode ocorrer uma espécie de metamorfose nos projetos, onde o
foco da transformação está na reconstrução contínua de si mesmo e dependendo das situações

63
e dos contextos sociais, vários percursos do passado podem ser reconstruídos. Segundo
Barros (2006):
Na formulação dos projetos de vida, o indivíduo se depara com situações de
escolha e de opção; há, portanto, também um processo seletivo entre vários
caminhos a seguir dentro de um campo de possibilidades dado pela sociedade.
(BARROS, 2006, pág. 30-31)
O projeto é algo dinâmico e permanentemente reelaborado, reorganizando a memória do
ator, dando novos sentidos e significados, provocando com isso repercussões na sua
identidade. (VELHO, 1994). Sarti (2003) afirma que a elaboração de projetos com a idéia de
“melhorar de vida” são formulados como projetos familiares. “Melhorar de vida é ver a
família progredir.” (SARTI, 2003, pág. 85) Nesse contexto, está a necessidade e a
importância atribuída ao trabalho. É frequente que as mães relatem que trabalham para
sustentar seus filhos, mas também para “dar um futuro melhor” para eles. Assim, como afirma
a autora, apesar da atividade laborativa ser realizada individualmente, o trabalho é concebido
dentro da lógica familiar e viabiliza a construção de um projeto familiar e não individual.

64
7"EU NÃO O PROCUREI PORQUE ELE NUNCA NOS
PROCUROU": DO AFASTAMENTO DOS PAIS
Eu lembro de um dia que ele me disse que tinha escolhido a mulher dele, eu fiz: ótimo, porque eu já escolhi a minha filha Aline. (...) Aí eu fiz: ele não escolheu Aline, ele escolheu a vida dele. E eu escolhi Aline, então pra que que eu vou continuar com uma pessoa que não fez a mesma escolha que eu? Foi simples. Eu pensei só nisso. (Clara)
Durante a minha coleta de dados, pude notar a diversidade de motivos que levaram as
entrevistadas a se tornarem mães solteiras. Ser mãe solteira para elas, como assim afirmaram,
significa criar sozinhas seus filhos, sem a presença do pai da criança. A ausência da figura
paterna acontece por causas variadas, mas é interessante destacar que em grande parte dos
casos que tive contato, a mãe decide afastar-se e afastar seu filho de qualquer contato com o
pai dele. Tal fato é percebido indiretamente (e muitas vezes, diretamente) na fala das
entrevistadas, e quando questionadas, algumas delas negam que estejam, por vontade própria,
afastando o seu filho do convívio com o pai e outras confirmam, justificando tal atitude, como
demonstra a fala de Paula:
Aí pouco fala com a menina e é tanto que eu não quero que ele tenha contato com ela. Porque a maior parte eu precisei dele, ele não teve do meu lado. (...) Porque na hora que eu mais precisava, ele abandonou. (Paula)
É importante destacar este fenômeno, recorrente entre essas mães solteiras e analisar
quais os possíveis motivos que poderiam levar estas mães a afastarem seus filhos dos pais
deles. Relatos próximos ao de Paula, acima, são frequentes dentre as minhas entrevistadas e
me apontam um dos motivos alegados para o afastamento dos pais da criança.
Tratando de casais de segmentos médios, Salem (1989) nos fala da importância
simbólica da gravidez e do parto para este casal; dois eventos concebidos sob uma experiência
que deveria pertencer ao par: pai e mãe, devendo ser partilhada a dois. No entanto, tratando
de segmentos populares em sua maioria, o que Salem aponta não é o que percebi em meus
dados, sendo nestes, muito mais frequentes relatos de gravidez e parto desacompanhados.
Aparece nas falas de minhas informantes também certa mágoa em relação a este fato,

65
parecendo indicar que a presença do pai seria importante no processo da gravidez para
aquelas mulheres e que, como isto não ocorreu em grande parte destes casos, a mãe "toma
para si" a responsabilidade sobre os filhos e vai mais além: toma para si também todos os
direitos sobre a criança.
Neste sentido é que, partindo do alegado pelas mães, apareça como "difícil" o ato de
“dividir” o filho depois que ele nasce. Ora, dizem elas: se no momento da gravidez,
"momento crucial, onde eu precisava de ajuda, ele não estava lá, porque eu precisaria dele
agora que o filho nasceu?". Assim, muitas mães decidem afastar os pais das crianças; o que
pude notar é que para isso, em algumas ocasiões, elas acionam a noção de "orgulho"; dizem
"não querer" ou “não precisar” procurar estes pais.
Porque eu sempre achei que ia dar conta de tudo e por orgulho também. (...) você tem aquele direito, você não precisa se humilhar porque o direito é seu. (...) Então pra mim não me humilhar, eu nunca gostei de humilhar ninguém, nem tá me humilhando, então eu preferi cuidar delas sozinha, trabalhar e manter sozinha, fazer tudo sozinha. (Ivete)
Para Alba (2012), o orgulho é uma emoção fundamental para a compreensão do
comportamento humano. Apesar de ser apontado como uma emoção subjetivamente
agradável, o orgulho pode tornar-se uma emoção egocêntrica, implicando em arrogância e
excessiva autoestima. Ainda segundo o autor, diante das dificuldades, o orgulho deve motivar
os indivíduos a adquirirem e demonstrarem habilidades com o objetivo de aumentar seu
status. Ora, percebo entre as minhas entrevistadas que, diante das dificuldades iniciais para ter
e criar o filho sozinha, estas acionam a noção de orgulho e mesmo se “enchem de orgulho”,
sob o discurso de que podem “superar tudo sozinhas”. Aqui trago o relato de Larissa:
(...) aí fiz o exame, quando eu peguei o exame fui atrás dele de novo, disse: tá aqui, o exame deu positivo, o pai biológico é você, mas você vai ser pai dele se você quiser. Se você não quiser, ele tem uma mãe que tá preparada pra tudo. (Larissa)
Alba (2012) nos conta que sentimos orgulho quando avaliamos uma realização ou uma
posse como sendo devido a causas internas estáveis, como a capacidade ou esforço. Assim, de
acordo com o autor, o orgulho representa a crença de que determinado indivíduo é competente

66
ou visto de forma positiva pelos outros. É desta forma que as mães solteiras, minhas
entrevistadas, se definem. Elas se veem como “batalhadoras”, “guerreiras”, se orgulham de
criar os filhos sozinhas e de serem independentes.
As pessoas sentem orgulho e não simplesmente felicidade se atingem ou possuem
algo que, subjetiva ou objetivamente, é valorizado. Sob uma perspectiva mais
funcionalista, pode-se dizer que o orgulho, especificamente, surge quando uma
pessoa atinge ou ultrapassa as expectativas ou padrões sociais. (ALBA, 2012, pág.
25)
De acordo com Alba (2012) o orgulho é uma condição importante para a sensação de
bem-estar pessoal e surge a partir do reconhecimento de algo que nos faz ganhar admiração
ou aprovação social, o que também aumenta a autoestima e fortalece a identidade individual e
social. O orgulho, então, motiva os indivíduos a procurar adquirir competências que
aumentem o status e o valor de alguém para algum grupo social.
O autor ainda vem afirmar que o orgulho é classificado como uma emoção
autoconsciente, tal qual a vergonha e a culpa. A diferença entre estes é que o orgulho decorre
de uma avaliação afirmativa acerca de seu comportamento; já a vergonha e a culpa
correspondem a uma avaliação negativa, que levam a conclusão de que houve uma falha.
Parece-me, pois, que além do orgulho, que por vezes é manifestado de forma clara pelas
minhas entrevistadas, também mesclam-se em suas falas emoções como vergonha e culpa.
Nesse sentido, vale destacar Alba (2012), que afirma:
Orgulho e vergonha são considerados, em culturas de honra, como uma resposta a
ampla gama de eventos sociais, ou seja, quando julgamentos sociais, ações de
outros, ou relacionamentos com outros são salientes. (ALBA, 2012, pág. 26. Grifo
meu.)
Segundo Costa (2008), a vergonha e a culpa são duas emoções morais ou emoções
sociais, que resultam de uma avaliação negativa que o indivíduo faz de si mesmo, levando em
consideração valores e regras dominantes na sociedade. Lévi-Strauss (1975)15
trata de emoção
15 Assim como Mauss (1921) em sua obra “A expressão obrigatória dos sentimentos”.

67
moral como aquela que é sancionada socialmente, não podendo ser compreendidas como
expressão da idiossincrasia de um indivíduo, sendo sempre partilhada coletivamente. Para
Lévi-Strauss (1975), as emoções morais derivam da relação entre um indivíduo e o grupo,
mais exatamente das relações entre certo tipo de indivíduos e certas exigências do grupo.
Já para Costa (2008), a vergonha e a culpa são emoções intensas e duradouras e são
envolvidas por sentimentos de responsabilidade. Enquanto a vergonha motiva a fuga, a culpa
motiva uma ação reparadora e tentativas de desfazer a ação errada. De acordo com a autora,
nas experiências de vergonha o indivíduo tende a desfazer aspectos de sua personalidade; já
nas experiências de culpa, a tendência é desfazer comportamentos específicos. Além disso,
ambas as emoções baseiam-se em “simulações mentais” das consequências dos
comportamentos, fundadas em situações que já aconteceram. Estas emoções sociais –
vergonha, culpa e orgulho – aparecem ao longo das falas de minhas informantes. É frequente
as mães relatarem que sentiam vergonha durante a gravidez, por exemplo.
Eu tinha vergonha de andar [na rua]. Não gostava, me sentia mal... e a barriga nem era grande, nem percebia. (Amanda)
Pude notar que para essas mulheres, o sentir vergonha está bastante associado a certo
estigma que estas dizem ter sofrido por serem mães solteiras, por "precisarem criar seus filhos
sozinhas" ou por terem sido "abandonadas". De acordo com Costa (2008), a vergonha é uma
emoção dolorosa e é acompanhada por um sentimento de desvalorização e impotência. Apesar
desta emoção não estar associada à necessidade de uma exposição, em geral as pessoas
quando envergonhadas sentem-se expostas e sentem desejo de escapar ou se esconder.
A culpa também é outra emoção que aparece relatada pelas mulheres. Ora, como já
salientado, as pessoas em geral sentem culpa por um evento específico. No caso dessas mães,
elas não afirmam sentir culpa por ter um filho e se tornarem mães solteiras, mas dizem
sentirem-se culpadas por não poderem, em alguns casos, “dar toda a atenção” que o filho
precisa ou mesmo por não terem sido capazes de "sustentar" seus casamentos e uniões com os
pais das crianças, ou ainda, "arrependem-se" pelo envolvimento que tiveram com esses
homens. Assim, afirma Mônica:

68
(...) porque eu queria dar uma família pra ele que eu acho que toda mãe quer isso, né, que o filho tenha uma família, pai e mãe presente do lado dele. Então se fosse pra mim escolher, eu escolheria ter me casado, já estar bem estruturada pra dar tudo que ele quisesse, ter o futuro ótimo... (Mônica)
Costa (2008) vem afirmar que a culpa envolve uma avaliação negativa de um
comportamento específico, não é considerada uma experiência tão dolorosa e devastadora
como a vergonha. Quando sentimos culpa, existe uma tensão, um remorso ou arrependimento
que impulsiona a pessoa a tentar reparar o seu erro. Neste contexto, associo os relatos das
minhas informantes que, apesar de informarem que não sentem arrependimento por terem
sido mães, demonstram certo arrependimento ou culpa de estarem criando seus filhos
sozinhas atualmente. Por este motivo, procuram ser autossuficientes e afastarem os pais das
crianças, que tanto “fizeram mal” a elas. Assim afirma Paula:
(...) porque eu acho que eu já tive tanta desilusão, então hoje eu vivo pra mim e pra ela [a filha]. Eu não quero ter mais ninguém, não. A mulher hoje em dia, o melhor marido que deve ter é o seu trabalho. (Paula)
É importante ainda salientar que, segundo Costa (2008), existe uma relação entre tais
emoções morais citadas acima e os comportamentos socialmente reprovados. A culpa está
relacionada à realização de ações reprovadas socialmente e é uma emoção eficaz para motivar
as pessoas a escolherem os padrões morais na vida. Além disso, a culpa influencia os
indivíduos a aceitarem as responsabilidades e tomarem ações reparadoras diante de seus
fracassos. Pude notar nas falas das mães essa motivação para “repararem seu erro”:
A Laura pode-se dizer que totalmente foi criada com a mãe, o pai e a mãe fui eu. Mas eu tentei fazer de tudo, não foi? Ser pai e mãe. (Emanuele)
Eu acho que eu sou uma mãe muito boa. Porque eu faço de tudo, eu não compro nada pra mim, o que eu arranjo já é dos outros que me dão, das patroas que eu já trabalhei. (...). Eu deixo de comprar pra mim e compro pra eles. (Maria)
A sensação de estar sendo “humilhada” também pode ser percebida entre os relatos das
minhas informantes. É recorrente afirmarem que se separaram dos pais das crianças por "se
sentirem humilhadas" e por achar que “não precisam”, “nem merecem” passar por

69
humilhações. Maldonado (1986), em seu estudo psicológico com casais separados, vem
afirmar que é comum que o sofrimento esteja mesclado com a raiva pelo outro e por si
mesmo. Além disso, quando a mulher é abandonada, a sensação de humilhação parece ser
realçada, uma vez que envolve a noção do seu próprio valor. Frequentemente, a sensação de
“ser humilhada” é relatada por minhas informantes:
(...) porque o pai dele nunca me respeitou, eu acho que se você vive num relacionamento com uma pessoa que não te respeita, nunca vai dar certo. Que te xinga, que te bate, que não tá nem aí pra você, que não tá nem aí pra como você tá se sentindo, não te respeita. (Mônica)
(...) foi quando eu decidi que eu não precisava dele pra cuidar de Aline. Que eu decidi que eu não precisava passar... aquilo, quando eu digo aquilo é humilhações, frustrações por causa de um homem que quer ter todas as mulheres. E enganar todas ao mesmo tempo. (Clara)
Assim, para não se sentirem “dependentes”, nem “humilhadas” pelos pais das crianças,
muitas dessas mulheres dizem preferir não contar com a ajuda financeira do homem. Afinal,
para elas seria “humilhante ter de pedir dinheiro para àquele homem”. Elas preferem
“trabalhar duro” a precisar da ajuda do pai da criança, como apontam os relatos abaixo:
(...) eu que era uma mulher que eu não queria dinheiro de homem. Eu tinha muito medo de homem me dar dinheiro e achar que mandava em mim, entendeu? E eu não queria, eu queria a minha liberdade. (Larissa)
(...) não dependo de ninguém, não tenho que tá o tempo todinho atrás dele, atrás do dinheiro dele não. (...) Só que da parte dele, ele quer que eu sempre fique indo atrás, só que agora eu não vou atrás, porque eu não preciso né, ‘bem-dizer’. O dinheiro que eu ganho dá pra mim sustentar eles todinho. (Júlia)
Porque até agora eu não preciso e é um motivo que, se eu pedir pensão, é motivo dele querer se aproximar mais dela, de querer conviver. (...) Eu acho que não precisa não, até agora eu tô levando, não falta nada hoje né. Então quero continuar permanecendo assim. Isso que eu quero. (Paula)
Porém, é frequente as informantes relatarem que buscam "deixar a porta aberta”, no
sentido de que "se o pai quiser procurar, ele que venha, mas eu não vou procurar por ele":

70
mais uma vez aqui, um discurso que remete ao orgulho, ao lado de um conteúdo remetendo a
talvez uma busca por aproximação com este homem atualmente ausente.
Já em relação ao desejo dos filhos quererem conhecer os pais, algumas mães relatam
que "apoiariam", mas isso não significa dizer, segundo elas, de que o ato de conhecer se
transforme em convivência cotidiana. O que aparece nas falas é a idéia de que a mãe não
impede que a criança conheça o seu pai, não querendo privar o filho desta aproximação, mas
que, no entanto, não deseja que os dois estabeleçam um vínculo mais profundo.
Mas eu não proibia, eu nunca tirei o direito dos meus filhos de procurar o pai. (Emanuele)
Eu não falo com você, você pra mim nunca existiu na vida. Aí ele disse: “ai, minha filha, num sei o quê”. Eu disse: olhe, você sabe onde eu moro, se você quiser estar com ela, vê-la, você vai até lá, mas eu em momento nenhum vou procurar você, nunca eu vou lhe procurar (...) (Ivete)
Frequentemente me deparei com essa justificativa, no entanto os dados demonstram que
não parece haver realmente uma proibição por parte das mães, mas sim uma preocupação em
influenciar de alguma maneira a criança para que ela não se sinta motivada a procurar o pai16
.
Cabe ainda destacar aqui os casos onde a mulher era casada e houve a separação. Nestas
situações, talvez haja uma relação entre os diferentes fatores que levaram a separação e o
afastamento desses pais. As razões que possivelmente levam as mães a afastarem os pais dos
filhos, estão frequentemente associadas a relatos de "raiva" e “mágoa” dos pais: esse poderia
ser um dos motivos para que elas excluam o filho do contato com o pai.
É também possível dizer que a decisão das mães solteiras em afastar os filhos dos pais
está de alguma maneira ligada a sua decisão de separarem-se de seus companheiros. Ora, as
histórias são diversas, mas é recorrente o dado de que, nestes casos, as relações entre o casal
se mostravam conturbadas frequentemente desde a gravidez, e até mesmo no caso dos casais
16 Aqui os dados apontam para possíveis casos de alienação parental, que discutirei mais à frente.

71
casados. Esse fato se agrava quando os homens já têm uma segunda família ou outra
companheira. Algumas entrevistadas ainda relataram que os ex companheiros as perseguiam e
as ameaçavam, desejando reestabelecer a união conjugal; já outras afirmaram que os pais das
crianças nunca mais as procuraram, nem pra saber dos filhos.
7.1 Conjugalidade, fim dos casamentos e “recasamentos”
(...) eu não tinha contato com ele, depois quando eu tava com nove meses, ele veio atrás de mim dizendo que... que me perdoava, isso é uma piada! E perguntando se assim, se eu queria ser amante dele, que como amante eu poderia ter uma vida feliz, eu, ele e a bebê. (Clara)
(...) nunca casei com ninguém, sempre fui uma pessoa muito bem resolvida, não preciso de um papel. (Ivete)
Queria que eu ficasse em casa direto, direto, direto... mas eu nunca obedecia. Quer dizer, ele não é meu pai, nem meu marido, nem meu namorado pra mandar em mim, né? É só um lance. (Amanda)
Depois que eu me separei dele, parece que apareceu luzes e estrela lá na minha porta, graças a Deus. (Júlia)
Porque era pai dos meus filhos, eu vivi 20 anos com esse homem. E era uma pessoa que... não casei por amor, mas depois me apaixonei muito, eu gostava muito, eu amava, eu era louca por ele. Eu fazia qualquer negócio pra ajudar ele. (...) a maior dificuldade foi criar coragem pra me separar, essa é a verdade. Eu acho isso agora depois que eu passei pela experiência. É criar coragem pra partir pra separação (...) (Emanuele)
Durante a minha pesquisa de campo, era comum que as mulheres relatassem suas
experiências de casamento e relacionamentos anteriores. Conforme a informante contava sua
história e a sua “transformação” em mãe solteira, apareciam narrativas que envolviam
infidelidade, casamentos, “relacionamentos abertos”, separações e “recasamentos”. Dessa
forma, é importante considerar as noções e os relatos expostos por essas mulheres, já que
estão diretamente ligados ao desenrolar da sua história e contribuíram para as suas posturas e
atitudes atuais e para a construção de sua vida como “mãe solteira”.

72
Segundo Sarti (2003), o casamento, no sentido mais tradicional do termo significa a
formação de uma família, significa desvincular-se dos pais e irmãos e formar um núcleo
independente, em uma nova casa. A autora afirma, baseada em seu estudo nas família da
periferia de São Paulo, que para o discurso hegemônico ocidental17
“é inconcebível formar
uma família sem o desejo de ter filhos. A idéia de família compõe-se então, de três peças: o
casamento (o homem e a mulher), a casa e os filhos”. (SARTI, 2003, pág. 72).
Dessa forma, casar-se ou juntar-se em um lugar específico com um companheiro é o
projeto inicial através do qual começa a se constituir a família. Ao realizarmos um breve
histórico sobre o casamento e o divórcio, percebemos que essas instituições, assim como a
família, sofreram grandes transformações ao longo do tempo. Tais transformações estão
bastante ligadas a mudanças nas noções de amor, fidelidade, papéis sociais e conjugalidade.
Na Europa, segundo Fonseca (2009), o casamento oficial não era bem definido até a
Contrarreforma, quando a igreja católica iniciou este movimento a partir de 1545 objetivava
reforçar o domínio e monopólio do catolicismo, criando assim uma série de medidas, dentre
elas a reafirmação da importância do matrimônio. Ainda nessa época, os casamentos não
duravam por muito tempo, porque era comum que um dos cônjuges, na maioria das vezes a
mulher, viesse a falecer. A duração média de um casamento era de aproximadamente quinze
anos. Eram comuns também a gravidez pré-nupcial e a coabitação antes do casamento oficial,
durante o noivado. Apesar do reconhecimento das relações sexuais antes do casamento, a
afinidade sexual não era um fator primordial no ideal de felicidade conjugal (BASSANEZI,
2009).
Bassanezi (2009) vem afirmar que na noção idealizada de casamento, homens e
mulheres tinham atribuições distintas e específicas. A mulher deveria dirigir todas as suas
17 Saliento que nesse momento pretendo trazer o discurso dominante sobre casamento e família no Ocidente,
ligada à ideia de heterossexualidade. Problematizando esta noção se colocam na nossa sociedade um conjunto de
discursos discordantes, que vêm do lado do movimento LGBTT, assim como do movimento feminista e também
entre os heterossexuais sem filhos e entre pessoas que não desejam se casar. Acerca destes discursos
discordantes em relação ao modelo hegemônico, trato mais à frente neste trabalho.

73
atenções para o marido e para os filhos. O amor era considerado importante para a união
conjugal, mas não era a base principal: o casamento deveria basear-se em um “amor”
composto por juízo e razão. Esse amor só era aceitável e digno se não rompesse com os
moldes convencionais de felicidade ligada ao casamento legal e à prole legítima. Ainda
segundo Bassanezi (2009):
De maneira não muito explícita, mas contundente, o bem-estar do marido era
tomado como ponto de referência para a medida da felicidade conjugal, a
felicidade da esposa viria como consequência de um marido satisfeito.
(BASSANEZI, 2009, pág. 627)
Badinter (1985) afirma que as condições do casamento não implicavam a satisfação da
amizade e do desejo. Outros fatores pesavam mais na escolha de um bom matrimônio. O amor
e a ternura raramente estavam presentes no ato do casamento e “não se podia esperar a
aparição do amor senão ao sabor do acaso e em consequência dos hábitos conjugais.”
(BADINTER, 1985, pág. 47)
Entre a burguesia brasileira, durante o período colonial, o casamento era utilizado
como um degrau de ascensão social ou uma forma de manutenção do status (D’INCAO,
2009). A maioria das uniões, como afirma D’Incao (2009), envolviam alianças politicas e
econômicas, por isso, o casamento possuía um sistema rígido, tanto para o homem, quanto
para a mulher, para impedir que nada pudesse atrapalhar o sucesso das uniões de interesses.
Fugindo aos padrões da classe alta, Fonseca (2009) nos diz que no século XIX, muitos
casais dos segmentos populares no Brasil dispensavam o casamento legal e que os divórcios
eram raros. Apesar disso, a sociedade tinha bem definidos os papéis do homem e da mulher
dentro da família. “Para a mulher ser honesta, devia se casar; não havia outra alternativa.”
(FONSECA, 2009, pág. 525) Já a presença do homem representava a integridade moral da
família e da mulher.
A separação, conforme afirma Bassanezi (2009), era temida e representava uma
ameaça para as mulheres. Separar-se significava perder o seu principal projeto de vida, que
era constituir uma família e ser esposa, mãe e dona-de-casa. Além disso, a grande maioria

74
destas dependia economicamente do marido e a separação não era interessante, até porque,
após separada, a mulher sofreria a discriminação de toda uma sociedade e dificilmente
encontraria uma atividade. Assim, as mulheres eram aconselhadas a desenvolver um controle
emocional, fugindo de tentações e impulsos para manterem-se fiéis aos maridos, mesmo que
eles não agissem do mesmo modo.
A traição masculina e a feminina eram interpretadas de maneira distinta. Se o marido
fosse infiel, mas continuasse exercendo suas funções de pai, marido e provedor da família, as
esposas não deveriam se queixar e se manifestassem alguma raiva, essa seria pela amante do
seu marido. Nesses casos, a mulher deveria mostrar ao marido que ela, como boa esposa,
poderia ser melhor companheira que a outra. Em casa, a paz conjugal deveria ser mantida
(BASSANEZI, 2009). No caso de uma esposa infiel, a separação era inevitável, já que
acreditava-se que uma mulher infiel não “tinha respeito” e não poderia ser boa mãe e dona-de-
casa. Algumas destas idéias são reproduzidas ainda hoje em nossa sociedade.
Quanto ao divórcio, segundo Fonseca (2009), quando o homem não queria mais viver
com a mulher, ele simplesmente ia embora e a deixava sozinha, para cuidar da casa e dos
filhos. Já a mulher não podia expulsar o homem de casa. Assim, a autora afirma que, em
qualquer condição, a mulher que era abandonada tinha mais desvantagem do que o homem
para recomeçar sua vida. De acordo com Fonseca (2009), a lei não reconhecia que a mulher
casasse novamente ou tivesse um novo companheiro. A essas uniões davam o nome de
“mancebia”, sendo consideradas como “sem moral.” Vale ainda destacar toda a discriminação
que existia entre as mulheres e homens separados que casavam novamente. Estes eram
considerados “desvirtuosos” e ameaçadores para as famílias “de bem”. As mulheres,
acostumadas e acomodadas com um homem chefiando a família, casavam-se novamente, mas
para isso tinham que abrir mão dos filhos das uniões anteriores, o que mostra que o vínculo
materno não era tão forte para essas mulheres. Fonseca (2009) afirma: “Havia tanta
discriminação contra a mulher recasada que podemos perguntar por que, depois de separar-
se, ela não procurava se manter independente.” (FONSECA, 2009, pág. 524). Ora, é possível
responder a esta indagação de Fonseca: muitas preferiam casar novamente a ser independente,
pois não era permitido às mulheres trabalharem fora de casa.

75
Na década de 1950, Bassanezi (2009) conta que a única possibilidade de separação
oficial dos casais no Brasil era o desquite e este não dissolvia os vínculos conjugais e não
permitia novos casamentos18
. As mulheres desquitadas ou as que viviam com um homem
desquitado sofriam com os preconceitos da sociedade. Apesar disso, a autora afirma que
aumentou consideravelmente a proporção de mulheres que se declararam separadas nos
censos demográficos entre as décadas de quarenta e sessenta.
Hintz (2001) vem afirmar que a industrialização19
trouxe um novo modelo de família e
de uniões conjugais, onde a escolha dos cônjuges passou a ser tida como relativamente livre e
baseada no amor. Nessas novas uniões, a autora nos conta que se passou a valorizar as
realizações pessoais, tendo o afeto e o desejo sexual o poder de direcionar essas decisões
individuais. Barros (2006) também atenta para o fato de que vivemos hoje um processo que
tornou a conjugalidade um domínio relativamente autônomo da família, orientado por
dinâmicas internas nas quais a sexualidade ocupa um lugar central. E, mais ainda, observa-se
que a atividade sexual deixou de se restrita ao matrimônio.
A conjugalidade moderna, segundo Heilborn (1992), pode ser resumida em “termos
ideais (nativos) como um núcleo de trocas afetivo-sexuais com uma não-demarcação de
papéis conjugais” (HEILBORN, 1992, Pág. 9). A autora fala que a conjugalidade moderna
baseia-se na preservação da autonomia individual e das singularidades que são concebidas
dentro de relações de amizade e companheirismo.
Já Salem (1989), ao falar de novas famílias, trata especificamente de alguns casais, os
por ela pesquisados, que trazem algumas características: fazem parte de segmentos médios
altamente escolarizados, muitas vezes engajados em movimentos sociais ou simpatizantes de
ideologias libertárias. Entre estes casais especificamente, Salem (1989) nos diz que há a
presença de um discurso onde prevalece a noção de liberdade de escolha baseada no desejo e
no afeto, e neste sentido o valor atribuído aos laços conjugais extrapola o laço sanguíneo.
18 Devo lembrar aqui que o divórcio só foi aprovado no Brasil em 1977.
19 Ao lado do movimento feminista, vale lembrar.

76
Entre estes casais, a formação do vínculo afetivo supõe relações de amizade e
companheirismo. Para a autora, nestes casos é frequente que a relação matrimonial esteja
fundada em um complexo jogo de reciprocidade e dependência afetiva. Em seus discursos, os
casais dizem que sua relação é baseada no amor, que constrói um vínculo de deveres e
direitos, onde os parceiros estabelecem um "encontro psicológico". O ideal de conjugalidade
que se apresenta entre estes indivíduos expressa um modelo onde os envolvidos tendem dizer
que compõem uma unidade, o “ser um só”. E a autora complementa afirmando que, entre
estes casais, “com exceção, talvez, da relação dos pais para com seus filhos, o vínculo
marital é tido como mais fundamental e estreito que qualquer outro.” (SALEM, 1989, página
9)
Salem (1989) ressalta a importância que os filhos têm para este modelo de casal, mas
defende que a existência destes não é a base fundamental da relação conjugal. Entre estes
indivíduos, valoriza-se o “vínculo propriamente conjugal – e da relação dual que o constitui
- enquanto um elemento que deve ser destacado e singularizado também desse conjunto.”
(SALEM, 1989, pág.8 )
Para Maldonado (1986), muitos são os fatores que determinam a escolha do parceiro e
a manutenção do casamento: amor, complementação, carências e necessidades neuróticas. As
pessoas buscam um relacionamento, uma união conjugal por diferentes motivos também.
Segundo a autora, frequentemente, aparece como a principal motivação para se começar ou
manter um casamento o medo da solidão. O casamento pode ser visto como uma proteção,
um meio de normatizar a vida, uma vez observado que ele continua contando com uma forte
valorização social, onde as pessoas casadas são consideradas mais dignas e respeitáveis. A
autora ainda destaca:
Frequentemente, casa-se não com o outro, mas com o próprio desejo.(...) Há
também os que se casam com uma idealização do casamento. Sobre essas bases
frágeis, o casamento se sustenta apenas quando tudo corre bem. ( MALDONADO,
1986, pág. 27-28).
Devemos ressaltar que, segundo Hintz (2001), o relacionamento humano é permeado
de emoções, vontades, decisões que nem sempre são diretamente aceitas pelo outro. A autora
diz que a modernização dos casais, das uniões conjugais trouxe uma maior liberdade de

77
escolha, permitiu a valorização dos indivíduos e o reconhecimento de suas particularidades e
desejos. Por outro lado, essas inovações contribuíram para que ocorresse certa “fragilização”
nessas uniões, já que os relacionamentos se constroem e se destroem com frequência e
velocidade maior que no passado.
Ainda segundo Hintz (2001), parece haver nos casais atuais uma maior impaciência ou
exigência de um para com o outro, esperando respostas ou mudanças mais rápidas em seus
sentimentos e comportamentos. Goldenberg (2001) vem afirmar que esta tendência é
resultado das mudanças ocorridas com o advento da modernidade, mais precisamente a
facilidade ao acesso de informações, a rapidez com as quais estas chegam e as revoluções
ocorridas no mundo do trabalho, especialmente no que diz respeito à mulher. Segundo a
autora, “as mulheres passaram a exigir muito mais de seus relacionamentos afetivos-sexuais.
Quanto mais independente economicamente é a mulher, mais exigente ela se torna com o seu
parceiro amoroso.” (GOLDENBERG, 2001, pág. 10) Outro problema apontado pela autora é
a excessiva valorização da sexualidade, que obriga as pessoas a exacerbarem essa noção e a
torná-la central nos relacionamentos. Segundo a autora:
Muitos casais que poderiam ser felizes, como amigos e amantes, sentem-se
bombardeados pela propaganda do sexo e passam a questionar a sua felicidade
sexual, comparando-a com a de outros casais imaginários. A fantasia parece mais
real do que a própria realidade e a sensação de que estamos longe da felicidade
possível nos traz insatisfação. (GOLDENBERG, 2001, pág. 11)
Para Goldenberg (2001), a insatisfação é algo inerente ao ser humano e a busca pela
perfeição é impraticável, já que nunca haverá um relacionamento perfeito para as duas
pessoas. Para a autora, acreditar que um homem e uma mulher devem se bastar de todas as
formas durante toda a vida é uma hipocrisia, que produz infelicidade e frustrações. As uniões
conjugais da atualidade, diferentemente das de meados do século XX, são construídas a partir
da satisfação dos desejos e do prazer. Sobre isto, vale ressaltar Goldenberg (2001), que
afirma, sobre as gerações do imediatamente pós-segunda guerra:
O sonho era ter uma casinha, filhos saudáveis, uma geladeira branca, um telefone
preto e um carro Ford ou Chevrolet de segunda mão. [Já] A sociedade atual não
permite sonhar com o futuro, preocupados que estão todos de viver
hedonisticamente o presente, consumindo ao máximo, bens materiais e relações
afetivo-sexuais. (GOLDENBERG, 2001, pág. 13. Modificações minhas)

78
De acordo com a autora, como as pessoas depositam expectativas enormes sobre os
seus companheiros, as chances de decepção também são grandes. Dessa forma, os casamentos
são mais facilmente desfeitos e novos casamentos se realizam. Também não existe muita
clareza sobre o que é considerado certo e errado nos relacionamentos conjugais. Sobre a
atualidade, Goldenberg (2001) analisa que estes são relacionamentos que duram poucos anos
e que são vividos baseados no companheirismo, na “entrega total”, mas também em grandes
cobranças e expectativas.
Durante a pesquisa, observei vários casos de “relacionamentos temporários”, algumas
das mães solteiras entrevistadas não eram casadas com os pais das crianças, outras não
possuíam nem um relacionamento sério. Quanto a aquelas que se separaram, é recorrente
justificarem a separação (tanto dos vínculos conjugais, quanto dos vínculos afetivos) pela
infidelidade do marido ou porque este teria ou tem um novo relacionamento. Quando
perguntada pela relação do pai com seus filhos, assim afirma Maria:
Não tem contato sabe porque? Porque ele quem não quer. (...) mas lá a mulher dele não deixa ele ter contato com ela. Ele não dá pensão, ele até recebe bem, mas só que ele entrega o dinheiro todo na mãe dela. Ele recebeu aqui da firma, entrega todo na mão dela lá. E ela não gosta dos filhos, ela só quer tudo pra eles lá, pros dela. (Maria)
Hintz (2001) afirma que a “família reconstituída” não é um fenômeno novo, mas
parece haver um crescimento expressivo desses arranjos familiares na atualidade, e a causa
desse fenômeno estaria atribuída a fatores econômicos e sociais, tais como a emancipação
feminina, as guerras mundiais, a liberação sexual e a busca pela felicidade individual. Hintz
(2001) explica que esse modelo de família “reconstituída” tem sido considerado frágil e
instável. Não obstante, nem toda família “reconstruída” será conflituosa ou com tendências a
se dissolver.
Maldonado (1986), ao analisar um grupo de trezentas pessoas que passaram pela
experiência da separação e “recasamento”, afirma que as transformações e transições, por
menores que sejam, têm um impacto na vida das famílias. Segundo a autora:

79
Mesclam-se desespero e desesperança, o vislumbrar de perspectivas se abrindo, a
conscientização de que é preciso juntar forças e refazer-se, revendo e reavaliando
um mundo de coisas. (MALDONADO, 1986, pág. 14)
Como já ressaltado antes, as uniões conjugais são, muitas vezes, instáveis, mantendo-se
até quando conseguem satisfazer os desejos do casal; depois disso, as pessoas não aceitam as
diferenças e as decepções resultantes da convivência e acabam separando-se. Maldonado
(1986) afirma que viver o presente, “deixar para trás o que não está dando certo”, passa a ser
uma necessidade muito forte. As pessoas manifestam medo de arrepender-se de ter vivido em
uma relação insatisfatória; dessa forma, é mais fácil procurar um novo casamento. “Investir
num casamento para durar uma eternidade já não é uma meta para muita gente.”
(MALDONADO, 1986, pág. 20)
Nesse contexto, a separação pode adquirir várias funções e ser resultado de distintas
situações. De acordo com Maldonado (1986), muitas mulheres veem no casamento a única
fonte de sustento e muitos casamentos são sustentados por falta de dinheiro ou de iniciativa de
um dos cônjuges, especialmente a mulher, em procurar sua independência. Já em outras
situações, a autora afirma que a separação pode representar um retorno a vida, pois naquela
união, o indivíduo não compartilhava mais dos mesmos projetos de vida de seu cônjuge. Ela
afirma que quando o casal não compartilha um projeto de vida semelhante, são grandes as
chances da relação ser temporária, a menos que um dos parceiros renuncie ao seu projeto,
priorizando o casamento. Na atualidade, percebemos que é cada vez mais difícil haver essa
renúncia. Os dados de campo me atentaram para o fato de que as pessoas parecem se mostrar
individualistas, priorizando a sua realização pessoal acima de tudo. Dessa forma, é mais fácil
renunciar a um casamento que não “combina” com seu projeto de vida e depois achar uma
nova união que combine, do que o contrário: renunciar ao seu projeto de vida inicial, criando
outro que envolva a família e o casamento.
Para Maldonado (1986) as separações não ocorrem inesperadamente, elas são produtos
de situações provocadas pelo casal que se arrastam até se tornarem insuportáveis. Segundo a
autora: “Atinge-se um ponto de tamanho desespero que nada pode ser pior do que a situação
em que a pessoa se encontra.” (MALDONADO, 1986, pág. 58)

80
Apesar disso, nem todas as separações são comemoradas e representam liberdade.
Homens e mulheres separados costumam sofrer com as mudanças provocadas pelo fim da
união; é necessário criar novas metas e esquecer as decepções da união passada, segundo a
autora: “o luto não é apenas pela perda do parceiro, mas também pela quebra de expectativas
e ideais sobre o casamento em geral e sobre aquele casamento em particular.”
(MALDONADO, 1986, pág. 107)
A situação de separado(a) também pode envolver certo estigma na sociedade. No caso
das minhas entrevistadas, esse preconceito duplica, já que elas são separadas e mães solteiras.
Para Maldonado (1986), nestas circunstâncias a mulher pode, muitas vezes, sentir-se
humilhada, envergonhada, fracassada. Muitas têm receio de se separar e ser encarada como
uma “mulher sem valor”. Segundo a autora, por ainda não terem refeito uma identidade
própria, essas mulheres acabam se identificando com o estereótipo negativo que advém da
sociedade.
Com relação às traições e relações extraconjugais, Maldonado (1986) explica que,
muitas vezes, elas ocorrem decorrentes de casamentos falidos, onde as pessoas continuam
juntas por pura conveniência. Em muitos casos, essa prática é até tolerada por um dos
cônjuges, desde que não ameace o casamento e todos os privilégios advindos dele. “A
infidelidade também ocorre quando o parceiro se sente sufocado e procura evitar a sensação
de estar aprisionado na “gaiola dourada”. (MALDONADO, 1986, pág. 38)
Saliento aqui uma variedade de formas de relacionamento que me foram apresentadas
pelas mulheres entrevistadas: desde amantes, ficantes, casais com relacionamento aberto até
casais legais que conviveram por décadas.
(...) as vezes ele ficava aqui, as vezes ele ficava com outras pessoas, a gente brigava, eu descobria, nunca ficou comigo firme mesmo namorando não. (Mônica)
Foi, aí ele voltou pra ela, ele voltou... eles separaram por causa da vizinha que ele tava ficando com a vizinha, aí, deixaram lá, ele começou a ficar comigo e parece que deu um chute na bunda da vizinha. Aí... ele voltou pra ela, eu também me chateei que ele mentiu, né, que eu descobri. (Amanda)

81
(...) porque ele sempre me traía, desde quando a primeira filha nasceu, quando ela tinha 2 meses de vida, que eu tive pra separar, exatamente o que me prendeu foram os meus filhos. Porque a 1ª traição minha filha tinha 2 meses de nascida, a mais velha. Aí foi quando eu parti, eu disse, vou me separar, vou criar minha filha sozinha. (Emanuele)
Ele era casado e outra coisa, ele tava sumido, chegou a gente deu uma saída e eu engravidei. Aí ele já tinha a terceira mulher, minha mãe não queria saber dele por nada. (Larissa)
Durante a pesquisa, pude notar que os casos de infidelidade e relações extraconjugais
eram frequentes, sendo apontados muitas vezes como a causa para a separação ou para o
afastamento da mulher e de seu filho do convívio com o pai da criança. Mesmo quando a
mulher não afirmava não possuir um relacionamento com o pai da criança, o afastamento da
criança de seu pai acontecia frequentemente por questões relacionadas a rompimentos afetivos
com os pais das crianças.
7.2 “Não quero ele perto de mim nem da minha filha”: da
alienação parental
Durante a pesquisa, pude conhecer a realidade das mulheres entrevistadas,
estabelecendo uma relação de proximidade com elas. Dessa forma, tornou-se evidente que
muitas dessas mães solteiras não mantinham contato com o pai da criança porque não
desejavam esse contato nem para ela, nem para o seus filhos. São frequentes relatos do tipo:
"Mas eu não proibia, eu nunca tirei o direito dos meus filhos de procurar o pai". A
observação atenta dos casos mostrava que não parecia haver realmente uma proibição por
parte das mães, mas sim certa preocupação em influenciar de alguma maneira a criança para
que esta não se sentisse motivada a procurar o pai. Os dados pareciam apontar para possíveis
casos de alienação parental, uma vez que, nas conversas, pude notar que muitas destas
mulheres também nutriam sentimentos de mágoa e raiva pelos pais dos seus filhos. Assim,
trago os relatos de Paula e Clara:
Eu tenho muita mágoa, porque quando eu comecei a namorar com ele, eu gostava muito dele. Então o amor que eu tinha foi transformado só em raiva. Foi muita raiva, tudo que eu sentia se transformou em raiva. (Paula)

82
Dá vontade de... quando a gente se encontra, porque teve o DNA né, e eu passei literalmente o dia todinho ao lado dele, dá vontade de dar um soco nele. E o pior de tudo é... foi quando ele pegou a primeira vez, que me deu vontade de tomar da mão dele. De dizer, você não queria que eu tirasse, porque você quer pegar? (Clara)
A alienação parental é um fenômeno social estudado pela psicologia e acontece
quando um dos genitores, no nosso caso a mãe, não permite a convivência do outro genitor
com o seu filho, buscando deteriorar a relação dos dois através de uma manipulação
psicológica da criança. Segundo o Artigo Segundo da Lei 12. 318, de 26/08/2010, constitui-se
como alienação parental:
“a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida
ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou
adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou
que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.”
(BRASIL, Lei nº 12.318, de 26 de Agosto de 2010, 2010.)
A lei 12.318 foi sancionada em 2010 pelo Presidente Luís Inácio Lula da Silva e trata
exclusivamente da alienação parental. Ainda que não tipifique esse fenômeno como crime,
reconhece que ele fere os direitos da criança e do adolescente constituindo-se como um abuso
moral. De acordo com o Artigo 3º da referida Lei:
“A prática de ato de alienação parental fere o direito fundamental da criança ou do
adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas
relações com genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança
ou o adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou
decorrentes de tutela ou guarda.” (BRASIL, Lei nº 12.318, de 26 de Agosto de
2010, 2010.)
De acordo com Góis (2010), a alienação parental acontece com frequência em
separações que demandaram processos emotivos intensos. Ela funciona como uma “vingança”
contra o companheiro, motivada por diversas situações sofridas pelo genitor que aliena. A
autora afirma que esse tipo de fenômeno é derivado de processos de ruptura dolorosos, que
esfacelam as relações entre o pai e a mãe da criança.
Os dados de campo me apontavam que parecia existir em alguns casos a alienação
parental, manifestada em certa manipulação psicológica efetuada por parte das mães sobre

83
seus filhos, mascarada por um conjunto de justificativas contendo histórias negativas e de
condenação dos pais de seus filhos. Lembro que a manifestação mais comum da alienação
parental, segundo Faccini (2011) caracteriza-se pela rejeição exacerbada e injustificada de um
dos genitores, que manipula o seu filho. O principal motivo dessa alienação, segundo a autora,
é o ressentimento para com o ex-cônjuge e um desejo de puni-lo. A autora completa:
(...) eles não veem valor na presença do outro pai na vida da criança. Em segundo
lugar, acreditam firmemente que o genitor rejeitado é perigoso, comumente
alegando abuso ou negligência por parte do mesmo. Em terceiro lugar, há a crença
de que o genitor não é rejeitado e de que ele não tem amor e nem se preocupa com
a criança. O comportamento do genitor rejeitado pode contribuir para o processo de
alienação. (FACCINI, 2011, pág. 30)
Dessa forma, no meu estudo, as mães frequentemente colocavam-se como o centro,
como as chefes da família, bloqueando qualquer aproximação do pai. Com esta atitude,
Faccini (2011) afirma que o que o alienador deseja é o reconhecimento e afeiçoamento
exclusivo a um genitor (o próprio alienador, sua família deste e o seu círculo de amizades),
constituindo uma família monoparental. Nela, o filho só reconhecerá a mãe como ente
parental, acreditando e confiando somente nela. Para a discussão, trago os casos de Ivete e
Clara, mãe e filha, ambas mães solteiras, as duas trazem discursos semelhantes com relação
ao “direito do pai”:
Porque o pai da outra nunca soube, eu nunca cheguei pra ele pra dizer, eu não tinha relacionamento com ele, eu não convivi com ele, ele nem sabia que era pai. (Ivete)
Eu pensei assim, que uma pessoa que manda tirar um filho, como é que ele pode sentir amor por ela? Só porque ela nasceu? Ela já tava viva dentro de mim. Então porque dentro da barriga ele pode ameaçar dentro da barriga ele pode mandar tirar e quando ela nascer ele tem direito. Qual é essa lei? (...) Então porque quando ela nasceu, eu ia ter que ligar: “ah, sua filha nasceu”. Se ele não se interessa, é demais também! (...) Aí todo mundo fica: não, mas ele vai sentir falta de um pai. É, vai sentir falta de um pai, e se ele for um mau pai? E se ele bater nela? Se ele gritar com ela... E se um dia ele ficar com raiva e disser na cara dela que não queria ela? Como é que vai ser? Ela podia muito bem ter ficado sem isso. (Clara)
O afastamento da criança do convívio com o pai pela mãe afasta o filho também da
rede de parentela de seu pai. A intenção é dificultar a convivência e quebrar qualquer vínculo

84
com esse homem. Por outro lado, é importante considerar que “alguns pais podem usar as
acusações de alienação parental para culpar sua ex-companheira e minimizar a sua
negligência.” (FACCINI, 2011, pág. 21)
A genitora alienadora, por deter a guarda desta, envolve a criança em um emaranhado
de artifícios para impedir sua convivência com o seu pai. Vários são os motivos para que a
mulher seja levada a tais atos. Os mais frequentes na minha pesquisa estão associados ao
abandono da mulher “no momento que ela mais precisava”, especialmente durante a gravidez.
A falta de interesse do homem, pai da criança pela família: “se ele não se interessa, eu não
vou correr atrás”, também é uma justificativa constante. Uma relação conturbada, com brigas,
traições e violência também faz com que as mulheres desejem romper qualquer tipo de
relação com o ex-companheiro. Outro fator relevante é a presença de uma terceira pessoa,
quando o homem já tem uma nova companheira ou família. Não podemos ignorar também
casos de envolvimento das mulheres com homens casados, que já possuem uma família; neste
caso, uma nova família ou um novo filho seriam inconvenientes para o homem e para a
mulher amante.
Também é preciso destacar os sentimentos frequentes de “orgulho”, “altivez” e a
noção de “autossuficiência” dessas mulheres: a grande maioria diz que “não vai se submeter
ao homem”, que “não precisa dele para nada” e que “pode manter sua casa e seu filho
sozinha.” Assim, de formas variadas, essa Alienação Parental ocorrerá em consequência de
conflitos existentes entre o pai e a mãe da criança. Faccini (2011) afirma que:
(...) a alienação parental existe tanto em famílias com pais divorciados quanto
naquelas em que os pais estão casados, o que sugere que o conflito parental é um
melhor indicador da possibilidade de alienação do que o estado civil dos pais.
(FACCINI, 2001, pág. 27)
Durante os relatos das minhas informantes, notei que muitas delas manifestam uma
espécie de “proteção excessiva” com o filho e o distanciamento do pai da criança “serve para
proteger” a criança. Segundo Faccini (2011), a Alienação Parental pode ser consequência de
um abuso emocional ou do poder familiar praticado pela mãe. Nesse caso, as crianças podem
ser alienadas devido ao abandono parental ou “por causa do comportamento exibido por um
pai que tenta afastar a maioria das pessoas.” (FACCINI, 2011, pág. 18)

85
A conclusão extraída a partir da análise dos meus dados empíricos é a de que as mães,
como “nunca tiveram o apoio dos pais, que abandonaram nos momentos difíceis”, não
desejam que depois o filho “que ela criou com tanto esforço sozinha” tenha contato com um
pai “desnaturado que nunca ligou pra ele”. Pahim (2008) afirma que: “o genitor alienador
cria em relação ao seu filho uma situação de controle total, a ponto de não conseguir
conceber-se separado dele, como se fossem ambos uma unidade só.”
A consequência deste controle sobre os filhos parece ser a formação de indivíduos
dependentes e limitados, pois que sufocados pelos ditames maternos. Em outros casos, podem
aparecer indivíduos rebeldes ao controle extremo de suas vidas desde a tenra infância.

86
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho buscou discutir, a partir de um conjunto de dados etnográficos colhidos
através de entrevistas abertas entre mães solteiras de segmentos populares e médios da cidade
de Natal, o lugar destas mulheres enquanto chefes de família e as repercussões em torno dos
papéis que estas assumem no âmbito familiar a partir deste lugar. Partindo da preocupação em
torno destes papéis, o trabalho pôs-se a examinar elementos colhidos nas falas das mulheres,
mais precisamente suas representações sobre família, casamento e amor materno.
Foi efetuado levantamento bibliográfico que objetivou em um primeiro momento
analisar historicamente estas noções e discutir algumas de suas mudanças no tempo. Já em um
segundo momento, sempre a partir dos dados de campo, o trabalho examinou a importância
atribuída pelas entrevistadas à parentela ampla, ao trabalho feminino, à figura do pai na
família e ao projeto de vida particular destas mães versus o projetado para seus filhos, assim
como a um conjunto de emoções morais que atravessavam a experiência do ser mãe solteira,
tomando lugar central o orgulho e em adição a vergonha e a culpa. Devo salientar que a noção
de papéis sociais aparece atravessando todo o trabalho, na medida em que as informantes, ao
analisar as noções acima mencionadas, o faziam a partir de seu lugar na família.
São perceptíveis, nas falas das mulheres, elementos que remetem a uma busca pela
emancipação feminina, já que as mães ouvidas situam recorrentemente certa igualdade de
direitos e deveres e a corresponsabilidade pelo comando da família para homens e mulheres.
Por outro lado, este é um discurso ambivalente, pois nele comparece também, enquanto
idealização, as noções já clássicas sobre casamento e família.
O trabalho fora de casa é apontado como fator primordial para a busca por essa
emancipação feminina. Ao tornarem-se mães solteiras, estas mulheres procuram chefiar suas
famílias e o sustento econômico destas torna-se uma “questão de honra”. As mãe emitem
discursos de liberdade em relação aos ex maridos ou companheiros, não desejando necessitar
destes em nenhuma hipótese. Para isso, procuram uma atividade remunerada que as
proporcione independência e condições para criar seus filhos sozinhas, sem o auxílio do pai
da criança. A noção de trabalho ganha destaque nas falas das entrevistadas, o que pode

87
significar certa adesão a um discurso de negação da submissão feminina e a busca por novos
lugares na sociedade.
Os recorrentes relatos sobre amor, especialmente o amor materno, indicam como as
mães solteiras entrevistadas enxergam “o ser mãe”: ser mãe é amar incondicionalmente seu
filho, está na natureza da mulher esse amor. Essa noção clássica de amor materno,
influenciada por dispositivos históricos, culturais, sociais e religiosos continua ganhando
grande destaque em nossa sociedade. As informantes seguem a perspectiva apontada por
Preto et al (2009), quando estes afirmam que o amor nas sociedades ocidentais ganha a
centralidade para a existência do sujeito: deixa de ser uma possibilidade dentre outras para se
constituir na justificação da existência humana.
A intensidade atribuída ao amor materno traz como conseqüência um maior controle do
filho pela mãe, especialmente entre as mães solteiras entrevistadas, que relataram grandes
dificuldades para parir e criar o filho sem a assistência do pai da criança. Como aponta o título
do trabalho, minhas informantes tomam para si o controle da sua família e o da vida dos
filhos, projetando neles seus planos. Em alguns casos, o controle exercido passa a ser tão
intenso que a presença, bem como a assistência do pai é rejeitada. Ora, já que afirmam que
podem criar seus filhos sozinhas, a presença do pai torna-se irrelevante. Ocorre então, um
afastamento destes pais do convívio com os filhos, instigado por fatores diversos, como a
ruptura abrupta das uniões afetivas das mães com aqueles pais.
Vale ainda destacar que esse distanciamento buscado pela mãe, que impede o convívio
do seu filho com o pai pode caracterizar possíveis casos de alienações parentais. Como
procuram exercer o controle dos filhos, a mãe toma para si todos os direitos sobre ele: o filho
é propriedade exclusiva da mãe. Dessa forma, a mãe procura afastar o filho do pai e
manipulá-lo para que não sinta a sua falta, justificando que, como afirmam, o pai não
demonstrou interesse, sendo a mãe a única responsável por ter e criar o filho.
O trabalho procurou apresentar como a experiência de ser mãe solteira, sendo esta fruto
de diversas circunstâncias sociais sofridas pelas mulheres entrevistadas, consagra certo ethos
de independência e estabelece novos papéis familiares, com a recorrente inversão da
hierarquia do poder familiar nos casos apresentados. Paradoxalmente, este ethos encontra-se

88
carregado de noções tradicionais sobre a instituição familiar, que continua sendo almejada e
idealizada por estas mulheres.
Para trabalhos posteriores, avalio a pertinência de ampliar esta discussão para apanhar
as representações sobre o lugar destas mães solteiras para a sua própria família, em especial
para suas mães, avós das crianças, que têm presença fundamental nas famílias monoparentais,
mais recorrentemente nos segmentos populares. Também é importante uma pesquisa que
examine a recorrência, nas falas das mães entrevistadas, do desejo de abortar, não obstante
este desejo seja, segundo as próprias informantes contam, invariavelmente negado por suas
famílias. Talvez seja também importante discutir os processos de estigmatização sofridos por
estas mulheres, elemento não evidenciado neste trabalho, mas que é fenômeno importante e
merece ser melhor analisado.

89
9 REFERÊNCIAS
ALBA, George dos Reis. (2012) Os efeitos do orgulho nos torcedores de futebol: uma
perspectiva de marketing. 2012. 168 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Escola
de Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Disponível em
< http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/39519/000826822.pdf?sequence=1 >
Acesso em 04 de outubro de 2012.
ALVES, Andréa Moraes. (2006) Mulheres, corpo e performance: a construção de novos
sentidos para o envelhecimento entre mulheres de camadas médias urbanas. In: Família
e gerações / Organizadora: Myriam Lins de Barros. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV.
AMAZONAS, Maria Cristina Lopes de Almeida; BRAGA, Maria das Graças Reis. (2006)
Reflexões acerca das novas formas de parentalidade e suas possíveis vicissitudes
culturais e objetivas. Ágora (Rio de Janeiro) v. IX n. 2 jul/dez 2006 177-191. Disponível em:
< http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-14982006000200002&script=sci_arttext >
Acesso em 12 de setembro de 2012.
AQUINO, Francisca Luciana. (2007) “Mãe é só uma”, “Pai adquirido”: discutindo
parentalidades e famílias no contexto do recasamento. In: VII RAM - UFRGS, Porto
Alegre, Brasil, 2007 - GT 11: Amor, conjugalidades e parentalidades na contemporaneidade.
Coordenação: Anna Paula Uziel (IP/UERJ e CLAM/IMS/UERJ, Brasil) e Florência Herrera
(Universidad Diego Portales, Chile).
ARAGÃO, Luiz Tarley (1983). Em nome da mãe: posição estrutural e disposições sociais
que envolvem a categoria mãe na civilização mediterrânea e na sociedade brasileira. In
DURHAM, Eunice. Perspectivas antropológicas da mulher. Rio de janeiro: Zahar,1983.
ARIÈS, Philippe. (1981) História social da criança e da família. 2. ed Rio de Janeiro: LTC,
1981.
BADINTER, Elisabeth. (1985) Um amor conquistado: o Mito do Amor Materno.
Tradução de Waltensir Dutra. — Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.
BARROS, Myriam Lins. (2006) Gênero, cidade e geração: perspectivas femininas. In:
Família e gerações / Organizadora: Myriam Lins de Barros. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora
FGV.
BASSANEZI, Carla. (2009) Mulheres dos Anos Dourados. In: História das mulheres no
Brasil/ Mary Del Priore (org.) e Carla Bassanezi (Coord. de textos) 9. Ed., 2ª reimpressão –
São Paulo: Contexto.

90
BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada. Tradução de João Ferreira de Almeida, Barueri – SP,
Sociedade Bíblica do Brasil, 2008.
BLAY, Eva Alterman. (2001) Um caminho ainda em construção: a igualdade de
oportunidades para as mulheres. REVISTA USP, São Paulo, n.49, p. 82-97, março/maio
2001.
BOURDIEU, Pierre (1998) . A Escola conservadora: as desigualdades frente à escola e à
cultura. In: NOGUEIRA, Maria Alice ; CATANI, Afrânio (Org.). Escritos de educação. 2.
ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1998.
BRAGA, Marisa Barbosa. (2009) Famílias Monoparentais: proteção jurídica e políticas
públicas. 2009. 64 f. Monografia apresentada Centro Universitário de Brasília para a
obtenção do grau de bacharel em Direito. Disponível em : <
http://www.repositorio.uniceub.br/handle/123456789/837 > Acesso em 22 de setembro de
2012.
BRASIL. Constituição (1988). Capítulo VII, Art. 226. Constituição [da] Republica
Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal. Disponível em <
http://www.dji.com.br/constituicao_federal/cf226a230.htm > Acesso em 08 de outubro de
2012.
BRASIL, Lei nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004. Cria o programa Bolsa Família e dá
outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2004/Lei/L10.836.htm > Acesso em 20 de novembro de 2012.
BRASIL. Lei nº 12.318, de 26 de Agosto de 2010. Dispõe sobre a alienação parental e
altera o art. 236 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12318.htm > Acesso em 08
de outubro de 2012.
CARLOTO, Cássia Maria. (2005) A chefia familiar feminina nas famílias monoparentais
em situação de extrema pobreza. Revista Virtual Textos & Contextos, nº 4, dez. Disponível
em: < http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/view/994/774 > Acesso em
04 de setembro de 2012.
COSTA, Carla Filomena César Dias. (2008) As emoções morais: a vergonha, a culpa, e as
bases motivacionais do ser humano. 2008. 54 f. Dissertação (Mestrado integrado em
Psicologia) – Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade de Lisboa,
Lisboa. 2008. Disponível em: <
http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/739/1/17391_Carla_Filomena_C_D_Costa_Monografi
a.pdf > Acesso em 01 de outubro de 2012.

91
COSTA, Dora Isabel Paiva. (2000) As mulheres chefes de domicílios e a formação de
famílias monoparentais: Brasil, século XIX. Revista Brasileira de Estudos de População,
v.17, n.1/2, jan./dez. 2000. Disponível em: <
http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/rev_inf/vol17_n1e2_2000/vol17_n1e2_2000_3artigo_
47_66.pdf > Acesso em 22 de setembro de 2012.
COUTINHO, Dolores Pereira Ribeiro. (2010) Chefia feminina de família e produção da
vida em Campo Grande – MS no final do século XX. Revista Outros Tempos. Dossiê
Estudos de Gênero, vol.7, nº 9. Disponível em: <
http://www.outrostempos.uema.br/revista_vol7_9_pdf/dolores_pereira.pdf > Acesso em 21 de
setembro de 2012.
DA MATTA, Roberto. (1981) Relativizando: uma introdução à Antropologia Social.
Petrópolis: Vozes, 1981.
D’INCAO, Maria Ângela. (2009) Mulher e família burguesa. In: História das mulheres no
Brasil/ Mary Del Priore (org.) e Carla Bassanezi (Coord. de textos) 9. Ed., 2ª reimpressão –
São Paulo: Contexto.
FACCINI, Andréa.(2011) Vínculos afetivos e capacidade de mentalização na alienação
parental. 2011. 119 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica) – Universidade do Vale
do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2011.
FONSECA, Cláudia. (2009) Ser mulher, mãe e pobre. In: História das mulheres no Brasil/
Mary Del Priore (org.) e Carla Bassanezi (Coord. de textos) 9. Ed., 2ª reimpressão – São
Paulo: Contexto.
FREYRE, Gilberto. (2002) Casa-grande & Senzala. 46ª ed. Rio de Janeiro: Record.
GOFFMAN, Erving (1980). Estigma – Notas sobre a manipulação da identidade
deteriorada. 4ª ed. Brasil: Zahar Editores.
GÓIS, Marília Mesquita. Alienação Parental, 2010. Disponível em:
< http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5841/Alienacao-parental dddd > Acesso em 21
de setembro de 2012.
GOLDENBERG, Miriam.(2001). Sobre a Invenção do Casal. Revista Estudos e Pesquisas
em Psicologia, 2001, vol. 1, n. 1.
HEILBORN, Maria Luiza. (1992) Vida a Dois: Conjugalidade Igualitária e Identidade
Sexual. In: Anais do VIII Encontro Nacional de Estudos Populacionais - vol. 2. São Paulo,

92
Associação Brasileira de Estudos Populacionais - ABEP, 1992, p. 143-156. Disponível em: <
http://www.clam.org.br/bibliotecadigital/uploads/publicacoes/115_1746_vidaadois.pdf >
Acesso em 21 de setembro de 2012.
HINTZ, Helena Centeno. (2001) Novos tempos, novas famílias? Da modernidade à pós-
modernidade. Pensando Famílias, 3; (8-19) Disponível em: <
http://www.domusterapia.com.br/pdf/PF3HelenaHintz.pdf > Acesso em 19 de setembro de
2012.
KEHL, Maria. Rita. (2001) Lugares do feminino e do masculino na família. In: A criança
na contemporaneidade e a psicanálise: família e sociedade: diálogos interdisciplinares,
1/COMPARATO, M.C.M. & MONTEIRO, D.S.F. (org.). São Paulo: Casa do Psicólogo.
LÉVI-STRAUSS, Claude. (2003) As Estruturas Elementares do Parentesco. Rio de
Janeiro: Editora Vozes. ISBN: 8532628583
LÉVI-STRAUSS, Claude.(1975) O Feiticeiro e sua magia. Antropologia Estrutural. Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro.
MACHADO, Lia Zanotta. (2001) Famílias e individualismo: tendências contemporâneas
no Brasil. Revista Interface. Comunicação, Saúde, Educação. Fundação UNI
Botucatu/UNESP, vol.5, nº 8.Botucatu, S.P.: Fundação UNI. Disponível em: <
http://www.scielo.br/pdf/icse/v5n8/02.pdf > Acesso em 22 de setembro de 2012.
MALDONADO, Maria Tereza. (1986) Casamento: término e reconstrução. 2 ed. – Rio de
Janeiro: Vozes.
MAUSS, Marcel. (1921). A expressão obrigatória de sentimentos. In: Marcel Mauss:
antropologia/ Roberto Cardoso de Oliveira (org.); Regina Lúcia Moraes Morel, Denise Maldi
Meirelles, Ivone Toscano (trad.). São Paulo: Ática, 1979.
OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. (1998) O trabalho do Antropólogo. Editora Paralelo 15:
Brasília,1998
PAHIM, Igraine Martins. (2010) Alienação Parental: uma disputa sem vencedores. Revista
Jurídica: Editora Notadez. Disponível em : <
http://www.integrawebsites.com.br/arquivos/d3b0a1789ad0115d4ba042018f0356b6.pdf >
Acesso em 04 de outubro de 2012.
PRETTO, Zuleica; MAHEIRIE, Kátia; TONELI, Maria Juracy Filgueiras. (2009) Um Olhar
sobre o Amor no Ocidente. In: Psicologia em Estudo. Maringá, 2009, v. 14, n. 2, p. 395-403,

93
abr./jun. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
73722009000200021 > Acesso em 10 de setembro de 2012.
RAGO, Margareth. (2009) Trabalho feminino e sexualidade. In: História das mulheres no
Brasil/ Mary Del Priore (org.) e Carla Bassanezi (Coord. de textos) 9. Ed., 2ª reimpressão –
São Paulo: Contexto.
ROCHA-COUTINHO, Maria Lúcia. (2006) Transmissão geracional e família na
contemporaneidade. In: Família e gerações / Organizadora: Myriam Lins de Barros. 1ª ed.
Rio de Janeiro: Editora FGV.
ROMANELLI, Geraldo. (2004) Paternidade em famílias de camadas médias. Estudos e
Pesquisas em Psicologia (UERJ), Rio de Janeiro, v. 2, p. 79-95. Disponível em: <
http://www.revispsi.uerj.br/v3n2/sumariov3n2.html > Acesso em 12 de setembro de 2012.
SAFFIOTI, Heleieth I. B. (2004) Gênero, patriarcado, violência. 1ºed. São Paulo: Fundação
Perseu Abramo, 2004.
SALEM, Tânia. (1989) O Casal Igualitário: Princípios e Impasses. Revista Brasileira de
Ciências Sociais, n.9, v.3, fev/1989.
SARTI, Cynthia Andersen. (2003) A família como espelho: um estudo sobre a moral dos
pobres. 2ª ed. Ver. – São Paulo: Cortez.
SARTI, Cynthia Andersen. (2004) A família como ordem simbólica. Psicologia USP, 2004,
15(3), 11-28
SAMARA, Eni de Mesquita. (2002) O que mudou na família brasileira? (Da colônia à
atualidade) Psicologia USP. Psicol. USP v.13 n.2 São Paulo. Disponível em: <
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65642002000200004 >
Acesso em 05 de setembro de 2012.
SCOTT, Parry. (2005) A família brasileira diante de transformações no cenário histórico
global. Revista ANTHROPOLÓGICAS, ano 9, volume 16(1): 217-242 (2005). Disponível
em: < http://www.ufpe.br/revistaanthropologicas/index.php/revista/article/view/55 > Acesso
em 04 de setembro de 2012.
SILVA, Maria Aparecida Moraes. (2009) De colona a bóia-fria. In: História das mulheres no
Brasil/ Mary Del Priore (org.) e Carla Bassanezi (Coord. de textos) 9. Ed., 2ª reimpressão –
São Paulo: Contexto.

94
VELHO, Gilberto. (2003) Projeto e Metamorfose: antropologia das sociedades
complexas. 3 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.
VENÂNCIO, Renato Pinto. (2009) Maternidade negada. In: História das mulheres no
Brasil/ Mary Del Priore (org.) e Carla Bassanezi (Coord. de textos) 9. Ed., 2ª reimpressão –
São Paulo: Contexto.
WOORTMANN, Ellen F.; WOORTMANN, Klaus. (2002) Monoparentalidade e chefia
feminina: Conceitos, contextos e circunstancias. Apresentado no Pré-Evento Mulheres
Chefes de Família: crescimento, diversidade e políticas, realizado em 4 de novembro de 2002,
Ouro Preto-MG pela CNPD, FNUAP e ABEP. Disponível em: <
http://www.abep.nepo.unicamp.br/XIIIencontro/woortmann.pdf > Acesso em 18 de setembro
de 2012.

95
10 APÊNDICES
Roteiro de entrevista semiestruturada com as mães solteiras
1 – Como foi a experiência desde antes de ser mãe, quando você namorou, quando descobriu
que estava grávida, como foi a história e todo o processo?
2 - Como foi o período da sua gravidez?
3 – Como é o sentimento de ser mãe?
4 – Como era a sua relação com o pai da criança quando você engravidou? Como é a relação
hoje?
5 – Porque você não tem contato com o pai da criança?
6 - Você acha que a sua filha precisa de contato com o pai?
7 – Quais foram as mudanças que você percebeu na sua vida?
8 - Como é a sua relação com a sua família, recebeu ou recebe apoio?
9 – Quais são as maiores dificuldades e desafios em ser mãe solteira?
10 – Você se arrepende de alguma coisa?
11 – Quais são seus planos para o futuro? Pensa em ter novos relacionamentos?
12 – Desde o começo da sua trajetória como mãe solteira, poderia dizer qual foi a maior
alegria e a maior tristeza?
13 - Você acha que sozinha dá conta da criação do seu filho?
14 - E hoje como você avalia a sua vida, como está sua vida hoje?
15 – Para você, o que é e como é ser mãe solteira, qual a sensação?
16 – Você sofreu algum preconceito?
17 – Você guarda alguma mágoa ou raiva?