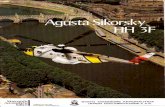MONOGRAFIA CHARLYTON
Transcript of MONOGRAFIA CHARLYTON
6
INTRODUO
A pequena empresa existe desde muitos e muitos anos atrs. Nossos antepassados j administravam seus pequenos negcios, muitos deles formados pelo provedor da famlia e mais um ou outro parente. De modo que tudo era administrado de forma rudimentar. At que surgiu o capitalismo selvagem e os pequenos empresrios tiveram que ir aperfeioando seus servios. E aos poucos foi ganhando mercado de maneira que hoje as pequenas e mdias empresas representam segundo pesquisa do SEBRAE (Servio de Apoio Micro e Pequena Empresa) 99,8% das empresas no Brasil. Chr (1990, p.77), cita em seu livro A Gerncia das Pequenas e Mdias Empresas que a maior preocupao dos pequenos empresrios com dinheiro e deixa de lado os recursos humanos. Ocorre que sem uma fora de trabalho qualificada, bem treinada e desenvolvida, no se atingir com facilidade (...) o sucesso financeiro do empreendimento. Segundo Rogrio ChrMuitos autores tm ponderado que independentemente do grau de industrializao ou do nvel de desenvolvimento, a pequena e mdia empresa tm uma substancial importncia na evoluo da sociedade, contribuindo do ponto de vista econmico, social e at poltico. Para muitos, a experincia histrica tem demonstrado que esse extrato de empresas vem se mostrando essencial e indispensvel a economias desenvolvidas ou em desenvolvimento. (1990, p.18).
Na opinio de Chr (1990), a pequena empresa foi um dos pilares para o desenvolvimento econmico das naes industrializadas de nossos dias. Atravs de uma anlise histrica, realizada por Sobman (1986), infere-se que o capitalismo moderno teve incio com a pequena empresa, crescendo a partir de negociantes que, acompanhadas de seus servos, viajavam pelo interior do pas vendendo mercadorias nobreza. A pequena e mdia empresa em sua maioria no dispem de recursos que auxilie o pequeno empresrio na gerncia do seu negcio, alm do que, muitas vezes a falta de conhecimento acerca do prprio negcio torna-se um problema para a sade geral do mesmo. Chr (1990), argumenta que a pequena empresa ainda confundida com a pessoa fsica, e isso trs para a mesma, srias conseqncias. O empresrio tende a centralizar todas
7
as decises nele prprio. No delega tarefas e acaba tendo que carregar a empresa nas costas. Deixando as pessoas que ali trabalham sentirem-se incapazes, desmotivadas e insatisfeitas. E ainda outro aspecto: o paternalismo. Benefcios, remunerao adequada e justa, treinamento e desenvolvimento, participao e integrao do trabalhador, reconhecimento pelo bom desempenho e qualidade de vida no trabalho no podem ser encarados pelos empresrios, como j mencionamos, como ddivas ou concesses. A Contabilidade Gerencial est cada vez mais presente na pauta daqueles que estudam, analisam e, sobretudo, discutem a contabilidade, principalmente no mbito didtico, mas o fato que ela ainda no unnime no que diz respeito a existir ou no concretamente. H os que defendem sua existncia enquanto ramo da contabilidade, com tcnicas e procedimentos prprios. Outros acreditam existir a partir de aes que a tornem concreta, produzindo, num lapso determinado de tempo, relatrios, avaliaes, interpretao e informaes de fatos contbeis e econmicos a fim de oferecer subsdios aos administradores para tomada de decises. Iudcibus (1998, p.21), por exemplo, afirma ser a Contabilidade Gerencial: [...] todo procedimento, tcnica, informao ou relatrio contbil feito sob medida para que a administrao os utilize na tomada de decises entre alternativas conflitantes, ou na avaliao de desempenho. Auxiliar a gerncia na tomada de decises o objetivo precpuo da contabilidade gerencial, a identificao dos fatos contbeis e sua quantificao para estabelecer as diretrizes a serem adotadas pelos administradores devem acompanhar passo a passo o cotidiano empresarial. Nesse particular, compete ao contador gerencial evidenciar aquilo que relevante ou irrelevante para ser objeto de anlise, alis, a simples aglomerao de dados algo extremamente simples de se obter atravs dos atuais sistemas de informaes computacionais. A relevncia da contabilidade gerencial reside na identificao daquilo que realmente vai fazer a diferena na deciso de fabricar um bem ou adquirir de terceiros, deixar de produzir uma linha de produtos, terceirizar, enfim, cabe ao contador atuar para subsidiar o modelo para a deciso entre diferentes linhas de ao. Considerando-se isso, este estudo tem a inteno de analisar as principais ferramentas de gesto financeira utilizada na tomada de deciso nos seus aspectos tericos e prticos. Cremos que ao fazermos um confronto entre o que se aprende na teoria e se aplica na prtica, estaremos contribuindo para a discusso e resoluo de alguns problemas do dia-a-dia do profissional da rea financeira.
8
O presente estudo, de carter descritivo, foi desenvolvido por meio de pesquisas bibliogrficas e virtuais. As pesquisas bibliogrficas e virtuais foram realizadas nas fontes disponveis em livros, revistas, artigos e internet, possibilitando a obteno de mais informaes e maior conhecimento sobre a Contabilidade Gerencial. Aps coletados, reunidos e selecionados todos os dados referentes a pesquisa, estes foram analisados e descritos posteriormente de forma dissertativa,utilizando-se os mtodos racionais de anlise.
9
CAPTULO 1 A CONTABILIDADE GERENCIAL E OS PRINCIPAIS TPICOS PARA SUA EXECUO 1.1. Origem da Contabilidade Gerencial A Revoluo Industrial foi um fator muito importante para a contabilidade. Exatamente neste perodo que se originou a contabilidade gerencial como um complemento da contabilidade financeira. No anteceder da Revoluo Industrial, a contabilidade mantinha apenas um pequeno registro das relaes externas de uma organizao em relao a outras organizaes comerciais no se preocupando com o processo de comunicao entre ambas. Aps a Revoluo Industrial, com o aumento dos negcios, houve a necessidade de precificar o valor do processo de converso da mo-de-obra e dos materiais em novos produtos e de verificar se as organizaes estavam tendo resultado em relao aos recursos que consumiam na produo. Com as operaes em grande escala, surgiu a necessidade de maior nfase na contabilidade voltada aos interesses internos das organizaes competitivas e ao uso de registros contbeis como meio de controle administrativo da organizao. (PAMPLONA 1998, p.2) Mesmo a contabilidade gerencial, sendo em outros tempos bem simples, vinha a atender s necessidades dos proprietrios, e esses iniciavam o contato mais restrito com o profissional responsvel pela orientao contbil. Com isso nasceu a contabilidade gerencial, devido necessidade de dar valor ao processo de converso da mo-de-obra. Sabe-se que as organizaes comerciais nos Estados Unidos seriam as primeiras a desenvolver a contabilidade gerencial. De acordo com Pamplona (1998, p.2), As primeiras organizaes americanas a desenvolverem sistemas de contabilidade gerencial foram as tecelagens de algodo mecanizadas e integradas, surgidas aps 1812. O fator favorvel ao uso das novas prticas de contabilidade gerencial observadas nas firmas industriais do sculo XIX foi sem duvida a procura de oportunidades de ganho, pela introduo de dois ou mais processos de converso de uma atividade econmica especfica. Segundo Johnson e Kaplan (1993, p.35), uma das fbricas a terem seus primeiros registros de custos foi a Boston Manufacturing Company, nos EUA; seus registros mostravam
10
um conjunto aprimorado de contas de custo. Foi tambm a primeira tecelagem mecanizada a integrar, numa nica fbrica, os processos de fiao e tecelagem. Esses procedimentos foram realizados pelos fundadores de outras companhias da Nova Inglaterra. Para Atkinson et al (2000, p. 36), a Contabilidade Gerencial o processo de identificar, mensurar, reportar e analisar informaes sobre os eventos econmicos da empresa. Esses autores defendem que muitas inovaes, na contabilidade gerencial, ocorreram nas dcadas iniciais do sculo XX para apoiar o crescimento de empresas multidivisionais diversificadas. Destacam ainda a experincia da Dupont e da General Motors nesse perodo:A Dupont Company por ter introduzido uma das inovaes mais duradouras que a frmula do Retorno sobre Investimento (ROI Return on Investment), uma medida de desempenho e a General Motors - GM pela implementao do controle centralizado com responsabilidade descentralizada (ATKINSON, 2000, p. 36). Relaes Entre as Contabilidades Financeira e Gerencial. CONTABILIDADE FINANCEIRA CONTABILIDADE GERENCIAL
Demonstraes Financeiras
Relatrios Gerenciais
Usurios Externos e Administrao
Administrao
Usurios:Objetivo Objetivo e Subjetivo Preparados de acordo com as necessidades gerenciais
Preparados conforme os princpios fundamentais da contabilidade (PFCs) Caractersticas:
Preparadas Periodicamente
Preparadas periodicamente ou quando necessrio
Entidade Empresarial
Entidade empresarial segmento
ou
Fonte: WARREN (2001, p.2)
11
1.2. Caractersticas do Contador Gerencial Segundo Crepaldi (1998, p.24),[...] o contador gerencial, tambm conhecido como controller da empresa, tem como principal funo na moderna Contabilidade Gerencial, a funo de assessoria, o seu departamento que tem a incumbncia de prestar servios especializados aos outros administradores e presidncia da empresa.
pelo departamento de contabilidade que passa o aconselhamento e a ajuda na elaborao do oramento da empresa, a anlise de variaes, determinao de preos, tomadas de decises especiais, uniformizao da contabilizao dos departamentos para que os relatrios sejam uniformes, afim de que possa facilitar o manuseio da informao gerada. Segue abaixo algumas funes do Contador Gerencial: Garantir que as informaes cheguem s pessoas certas no tempo certo; Fazer compilao, sntese e anlise da informao; Fazer planejamento perfeito com objetivo de se chegar a um controle eficaz, ou seja, controlar as atividades da empresa; Elaborar relatrios padres para facilitar sua interpretao; Avaliar e assessorar os gerentes e o presidente; Organizar o sistema de informao gerencial a fim de permitir administrao ter conhecimento dos fatos ocorridos e seus resultados; Comparar o desempenho esperado com o real; Pensar e planejar a administrao tributria; Elaborar relatrios para o governo e entidades oficiais; Proteger os ativos da empresa; Fazer avaliao econmica para tomada de decises; Propor medidas corretivas a fim de melhorar a eficincia da empresa (CREPALDI, 1998, p.24). Tambm pode-se definir como caracterstica do contador gerencial a preciso e a defesa dos interesses da empresa, pois os administradores querem que o controller fornea dados e nmeros precisos e pertinentes deciso que ser tomada, querem inclusive que ele recomende qual deve ser a deciso, mesmo que no seja esta a deciso tomada pela alta administrao (WERNKE, 2002, p.24).
O contador gerencial deve ser uma pessoa altamente qualificada, com profundo conhecimento dos princpios contbeis, pois ele quem definir e controlar todo o fluxo de informaes da empresa, fazendo com que, como j foi citado anteriormente, as informaes corretas cheguem aos interessados dentro de prazos adequados e que a administrao superior s receba informaes teis tomada de decises.
12
Entende-se que o contador gerencial tambm deve ter conhecimento de tecnologia sofisticada, ter padro de exigncia, ser adepto a operaes virtuais, desburocratizado, empreendedor, possuir uma equipe de trabalho de alta confiana, ser orientado para informao, automotivado, negociador, corajoso, consciente, altamente produtivo, democrtico, saber se comunicar com facilidade, ser comprometido com o sucesso da empresa e estar sempre em processo de aprendizagem continuada. 1.3. Ferramentas da Contabilidade Gerencial Segundo Braga (2006, p.2) as ferramentas de contabilidade gerencial no so autosuficientes. Eles necessitam ser efetivamente bem-sucedidos no cumprimento de seu objetivo e esse sucesso somente pode ser definido a partir do modelo decisrio do gestor. O que se defende que sistemas de contabilidade gerencial sejam estruturados no tendo como ponto de partida as melhores ferramentas, mas sim a partir das informaes desejadas pelos gestores. Somente depois de terem sido definidas as informaes desejadas pelos gestores que se pode identificar quais ferramentas melhor se encaixam a tais informaes. Isso representa uma utilidade relativa, definida a partir do modelo decisrio dos gestores e que, portanto, sofrer modificaes na medida em que o modelo decisrio mudar. Certamente, pode-se sempre argumentar que impossvel traar, em um primeiro momento, todas as informaes desejadas pelos gestores, dentro de uma racionalidade limitada. Pode-se argumentar ainda que a contabilidade gerencial, por meio de suas ferramentas, no suficiente para atender a todas as necessidades de informao j identificadas pelos gestores, alm dessas necessidades mudarem ao longo do tempo. Para o primeiro argumento, preciso destacar que sistemas de contabilidade gerencial representam sistemas formais de informao e que essa formalizao somente poder ocorrer diante da identificao de quais informaes se espera formalizar. Agir de outro modo, antecipando informaes que os gestores nem sabem se desejam, poder conduzir a decises desalinhadas das estratgias formuladas (BRAGA, 2006, p.2). Para o segundo argumento, resta mencionar que o sistema de contabilidade gerencial no o nico disposio dos gestores para auxlio ao processo decisrio. Existem outros sistemas que podem ser utilizados no apoio gesto organizacional, tais como, controles pessoais e controles de cl, cujo monitoramento mtuo entre os diversos atores organizacionais ocorre atravs de normas e valores de grupo. Portanto, um dos desafios importantes da pesquisa cientfica em contabilidade gerencial a identificao dos contextos
13
organizacionais e os estgios no curso de vida organizacional em que sistemas de contabilidade gerencial podem representar uma alternativa til para auxlio ao processo decisrio (BRAGA, 2006. p.3). Em sntese, sistemas de contabilidade gerencial so sistemas formais de informao que existem para auxiliar o processo decisrio dos gestores. As informaes que produzem so determinadas pelas ferramentas existentes. Seu sucesso e, portanto, sua eficcia, depende da percepo dos gestores quanto aos benefcios relativos que efetivamente oferecem para o processo decisrio em comparao a outros sistemas de auxlio ao processo de tomada de deciso.Como conseqncia, para que a pesquisa cientfica em contabilidade gerencial possa ser til para os gestores, ela tem que partir das expectativas de informao dos prprios gestores e, diante dessas expectativas, desenvolver artefatos que possam ser efetivamente utilizados em seus modelos de deciso, na medida em que oferecem as informaes desejadas. De outro modo, a pesquisa em contabilidade gerencial pode sempre correr o risco de escutar dos gestores que na prtica, a teoria outra (BRAGA, 2006, p.3).
1.4. Anlise de Balanos Na anlise de balanos, a anlise dos indicadores econmico-financeiros pode ser realizada de vrias maneiras distintas. Dentre as mais utilizadas esto: por ndices; por tendncia; e por ponto de equilbrio. Na pesquisa de campo, com relao a esse tpico, foram considerados apenas os indicadores calculados por ndices que so construdos a partir de valores extrados do Balano Patrimonial e do Demonstrativo do Resultado do Exerccio. importante salientar que, de acordo com Iudcibus (1993, p. 59), muito mais til calcular um certo nmero selecionado de ndices e quocientes, de forma consistente, de perodo para perodo, e compar-los com padres pr-estabelecidos e tentar, a partir da, tirar uma idia de quais problemas merecem uma investigao maior, do que apurar dezenas e dezenas de ndices, sem correlao entre si, sem comparaes e, ainda, pretender dar um enfoque e uma significao absolutos a tais ndices e quocientes.
Anthony (1996) enfatiza que na anlise de balanos, aps a escolha dos ndices a serem analisados, a tarefa fundamental encontrar um padro ou norma com que se possa comparar o desempenho real. Em geral, h trs tipos de padres:1. objetivos, ou oramentos, fixados antes do perodo do exame; 2. dados histricos, que mostram o desempenho da mesma empresa no passado; e 3. o desempenho de outras empresas, conforme indicam suas demonstraes financeiras, ou por mdias compiladas das demonstraes financeiras de
14
muitas empresas. Nenhum deles perfeito, porm muitas vezes se pode fazer uma concesso aproximada para os fatores que causam a no comparabilidade. (ANTHONY, 1996, p.238)
Portanto, a anlise financeira e de balanos no se resume, como muitos acreditam, no clculo de centenas de ndices. Ela trata da interpretao e da relevncia desses ndices, sendo um instrumento de avaliao e desempenho.
1.5. Oramento Empresarial Conforme Anthony (1996, p.293), Todas as administraes fazem planos. No se pode conceber uma organizao de qualquer tipo cujos lderes no pensem sobre quais deveriam ser os objetivos da organizao e sobre o melhor modo de ating-los. Um grupo de pessoas que no operam de acordo com alguma espcie de plano meramente uma multido incoerente, sem orientao, e no uma organizao. O oramento envolve planejamento, ou seja, preciso decidir antecipadamente o que deve ser feito e quais os recursos necessrios para se atingir o objetivo pr-estabelecido. Orar significa processar todos os dados contbeis atuais introduzindo os dados previstos para o prximo exerccio. Todo processo de gerenciamento contbil tem seu ponto culminante, em termos de controle, no oramento empresarial. Uma das grandes vantagens do oramento est na obrigatoriedade dos administradores pensarem no futuro, terem uma viso a longo prazo, procurando relacionar tambm os fatores externos que influenciam as decises da empresa. Para Padoveze (1994, p.333),O objetivo do plano oramentrio no apenas prever o que vai acontecer e seu posterior controle. Ponto bsico, entendido como fundamental o processo de estabelecer e coordenar objetivos para todas as reas da empresa, de forma tal que todos trabalhem sinergicamente em busca dos planos de lucros.
1.6.Clculo do Custo do Produto/Servio Para Iudcibus (1998, p.103), a palavra custo, na linguagem comercial, significa o quanto foi gasto para adquirir certo bem, objeto, propriedade ou servio.
15
Segundo Martins (1996, p.54), custo o Gasto relativo bem ou servio utilizado na produo de outros bens ou servios. Diferente da despesa que, segundo o mesmo autor um bem ou servio consumido direta ou indiretamente para obteno de receitas. Os custos podem ser divididos em diretos ou indiretos de acordo com a facilidade de alocao ou fixos e variveis de acordo com o seu comportamento. Viveiros (1993, p.35) cita que os objetivos principais do sistema de custo gerencial so:Suprir a alta administrao de informaes para a tomada de deciso; Servir como ponto de orientao quanto a medidas de correo; Acompanhar distores de valores, nveis e eficincia de produo e qualidade dos padres estabelecidos; Identificar, entre outros aspectos, contribuio por produto, linhas deficitrias etc.
Para Iudcibus (1993, p.27), os sistemas de custos visam dois objetivos principais: um bom custeamento do produto e propiciar condies para avaliao do desempenho departamental, dentre outros. 1.7. Anlise da Margem de Contribuio A melhor maneira de se entender o conceito da margem de contribuio precisa-se, primeiramente, que se entenda o conceito de mtodo de custeio direto. Em amplitude restrita, o Custeio Direto ou Custeio Varivel caracteriza-se por apropriar aos produtos ou servios somente os seus custos variveis. De acordo com Martins (1996, p.178), no Custeio Direto ou Custeio Varivel, s so alocados aos produtos os custos variveis, ficando os fixos separados e considerados como despesas do perodo, indo diretamente para o Resultado; para os estoques s vo, como conseqncia, custos variveis. Uma concepo de grande relevncia, que deriva-se do custeamento varivel, o conceito de margem de contribuio ou de abordagem de contribuio, que a diferena entre as receitas e os custos e despesas variveis. Os custos fixos so subtrados desta margem de contribuio para se obter a renda lquida. Segundo Padoveze (1994, p.243), margem de contribuio o mesmo que o lucro varivel unitrio do produto, deduzido dos custos e despesas variveis necessrios para produzir e vender o produto. A margem de contribuio propicia informaes ao gerente para decidir sobre se deve diminuir ou expandir uma linha de produo, para avaliar as alternativas provenientes da
16
produo, de propagandas especiais, etc. Tambm possvel decidir sobre estratgias de preo, servios ou produtos e principalmente, avaliar o desempenho da empresa.
1.8. Fluxo de Caixa Para Zdanowicz (1996, p.37):Denomina-se fluxo de caixa de uma empresa ao conjunto de ingressos e desembolsos de numerrio ao longo de um perodo determinado. O fluxo de caixa consiste na representao dinmica da situao financeira de uma empresa, considerando todas as fontes de recursos e todas as aplicaes em itens do ativo.
De forma sinttica, o fluxo de caixa o instrumento de programao financeira, que corresponde s estimativas de entradas e sadas de caixa em certo perodo de tempo. Esse instrumento possibilita: planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar os recursos financeiros da empresa. O objetivo do fluxo de caixa dar uma viso das atividades desenvolvidas, bem como as operaes financeiras que so realizadas diariamente, no grupo do ativo circulante, dentro das disponibilidades, e que representam o grau de liquidez da empresa. A otimizao dos fluxos de caixa reduz, automaticamente, a necessidade de capital de giro, sendo, portanto interesse da empresa buscar essa otimizao. Matarazzo (1997, p.369) cita que a Demonstrao do Fluxo de Caixa pea imprescindvel na mais elementar atividade empresarial e mesmo para pessoas fsicas que se dedicam a algum negcio. O Fluxo de Caixa o registro de controle sobre a movimentao do caixa de qualquer empresa, expressando as entradas e sadas de recursos financeiros ocorridos em determinados perodos de tempo. O Fluxo de Caixa assume importante papel no planejamento financeiro das empresas. Portanto, constitui-se num exerccio dinmico, que deve ser constantemente revisto, atualizado e utilizado na tomada de decises. Normalmente a anlise realizada atravs de indicadores especficos, de acordo com cada projeto ou situao analisada, tais como: Valor Presente (Valor Atual Lquido), Taxa Interno de Retorno, Paybaxck e Taxa Mdia de Retorno. Conforme Assaf Neto (1989), o Fluxo de Caixa constitui ferramenta de fundamental importncia para a boa administrao e avaliao das organizaes. A sua adoo possibilita
17
uma boa gesto dos recursos financeiros, evitando situaes de insolvncia ou falta de liquidez que representam srias ameaas continuidade das organizaes. A boa utilizao da ferramenta Fluxo de Caixa tambm possibilita o conhecimento do grau de independncia financeira das organizaes, com base na avaliao do seu potencial para gerao de recursos no futuro para saldar seus compromissos e para pagar a remunerao dos seus empreendedores. Viabiliza, ainda, a avaliao da capacidade de financiamento do seu capital de giro ou se depende de recursos externos, permitindo conhecer a capacidade de expanso com recursos prprios, gerados a partir de suas prprias operaes a aferir o potencial efetivo das organizaes para implementar decises de investimento, financiamento, distribuio de lucros e/ou pagamento de dividendos. Tambm, gera indicadores do momento ideal para a realizao de emprstimos ou captaes de recursos externos, tanto para a cobertura de eventuais situaes dficits, como para implementar decises que dependem de aportes adicionais, alm de orientar as aplicaes dos excedentes de caixa (supervites) no mercado financeiro, possibilitando maiores ganhos para a organizao e melhor compatibilizao dos prazos. 1.9. Relao Custo/Volume/Lucro e Ponto de Equilbrio De acordo com Tafner (1993, p.55) a anlise custo/volume/lucro estuda as interrelaes entre quatro fatores: custo, receita, volume e lucro. Esta anlise pode estabelecer efeitos da mudana de um ou mais desses fatores sobre os outros e suas inter-relaes. A autora diz ainda que:Juntamente com o planejamento de lucros, a anlise de custo/volume/lucro facilita a escolha custo de ao mais desejvel na forma operacional: o curso de ao mais desejvel o que apresentar as inter-relaes de custo, receita, volume e lucros mais satisfatrios. Apuramos este curso de ao mediante testes sucessivos. Repetidamente mudamos um ou mais dos quatro fatores e anotamos o seu efeito. Anlise de custo/volume/lucro, para usar um termo moderno empregado em outras disciplinas, so simulaes de operaes (TAFNER, 1993, p.55).
Segundo Iudcibus (1998, p.34), O ponto de ruptura, ou de equilbrio aquele volume em que as receitas totais se igualam aos custos totais. No ponto de equilbrio no h lucro nem prejuzo. Essa informao do ponto de equilbrio de grande importncia porque identifica o nvel mnimo de atividade em que a empresa ou cada diviso deve operar conseguindo cobrir
18
todos os custos variveis das unidades vendidas ou produzidas, e tambm cobrir todos os custos fixos. 1.9.1. Alavancagem Financeira e Operacional De acordo com Matarazzo (1997, p.404) A expresso alavancagem financeira significa o que a empresa consegue alavancar, ou seja, aumentar o lucro lquido atravs da estrutura de financiamento. Ao passo que alavancagem operacional significa o quanto a empresa consegue aumentar o lucro atravs da atividade operacional, basicamente, em funo do aumento da margem de contribuio (diferena entre receitas e custos variveis) e manuteno dos custos fixos. Santos et al. (1999, p.168) ressaltam que a alavancagem pode ter um efeito benfico ou no para a empresa. Quando a taxa de retorno de investimento maior que o custo do capital a alavancagem favorvel (positiva); ao contrrio, quando o custo do capital superior ao gerado pelo prprio negcio, a alavancagem desfavorvel (negativa). Logo, a administrao da alavancagem financeira est relacionada a capacidade que a empresa tem de administrar os recursos, prprios e/ou de terceiros, e com isso maximizar os lucros por ao. O clculo do grau de alavancagem utiliza os seguintes ndices da anlise de balano: Retorno sobre o Patrimnio Lquido: o quanto a empresa gera de lucro para cada $100 investidos e, Retorno sobre o ativo: quanto os acionistas ganham para cada $100 investidos. A razo entre as taxas de retorno sobre o Patrimnio e de retorno sobre o Ativo chamada de grau de alavancagem financeira: GAF = RsPL/ RsA 1.9.2. Determinao do Preo de Venda A formao do preo de venda um assunto amplamente discutido tambm pela teoria econmica, pois, na anlise da melhor maneira de se calcular o preo de um produto, preciso que se conhea variveis como o tipo de mercado em que a empresa atua e caractersticas do produto. No entanto, os objetivos da empresa quanto ao lucro a ser obtido, segundo Crepaldi (1998, p.210):
19
o mais importante fator na estruturao do preo de venda do produto, mercadoria ou servio. Seria a partir desse objetivo que a empresa passaria a adotar determinado procedimento com relao ao preo. O autor cita os seguintes objetivos bsicos da gesto de preos: Um adequado retorno sobre o investimento; uma determinada participao no mercado; uma capacidade de enfrentar a concorrncia e a obteno da lucratividade global compatvel.
O ponto de concorrncia vem a exercer de uma maneira ou outra uma influncia no preo. Diante de um aumento na oferta do mesmo produto por uma maior quantidade de empresas, o preo desse produto tende a cair. A formao do preo de venda a partir do custo determina, conforme Padoveze (1994, p. 280), pelo menos um parmetro inicial estabelecendo o limite inferior de preo de venda a ser praticado. Abaixo desse limite a empresa estar trabalhando com prejuzo em suas operaes. Existe tambm a utilizao do multiplicador sobre os custos, tambm conhecido como mark up que definido por Rodrigues e Varolo (1993, p.98), como sendo um ndice multiplicador ou divisor que aplicado ao custo do produto fornece o preo de venda.
20
CAPTULO 2 A GESTO FINANCEIRA DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 2.1. Dilema Risco-Retorno De acordo com Gitman (1987, p. 283) o relacionamento entre capital circulante lquido, liquidez e risco tal que se o capital circulante liquido ou a liquidez aumentarem, o risco da empresa diminuir, e vice-versa.Gitman (1987, p.289) assinala ainda a existncia de trs tcnicas para se obter uma composio adequada de financiamento dos recursos totais demandados por uma empresa: a tcnica agressiva, a conservadora e a mista. A tcnica agressiva requer o financiamento de necessidades imediatas com recursos de curto prazo e as necessidades permanentes de capital de giro, com recursos de longo prazo. As sazonalidades tambm so financiadas com recursos de curto prazo por essa tcnica. Sob o ponto de vista de custo, essa opo implica em ganhos, pois em se tratando de economias estveis ou mesmo em pocas de normalidade em economias instveis, as taxas de juros de curto prazo so menores que as de longo prazo. Para Gitman:O objetivo da administrao financeira a curto prazo gerir cada um dos ativos circulantes (caixa, ttulos negociveis, duplicatas a receber e estoques) e passivos circulantes (duplicatas a pagar, ttulos a pagar e contas a pagar) a fim de alcanar um equilbrio entre lucratividade e risco que contribua positivamente para o valor da empresa. (1987, p. 293).
Deve-se deixar bem clara que existem excees de conjunturas quanto ao grau de risco, tal opo vem submeter empresa a um ponto de risco maior, pois os recursos que se podem obter no curto prazo, tm clara limitao, e, no caso de imprevisibilidades, poder incorrer em riscos de insolvncia. O parmetro conservador tem como base financiar todas as necessidades de recursos que uma empresa demanda com operaes de longo prazo, utilizando-se, excepcionalmente, recursos de curto prazo (GITMAN, 1987, p.294). Efetivamente, uma opo de aplicao discutvel, vez que, em pases como o Brasil, h uma escassez crnica de recursos de longo prazo, e em pases de estabilidade monetria, as taxas de juros de longo prazo so mais elevadas que as de curto prazo. Nesse sentido essa tcnica acarretaria custos financeiros mais elevados para a empresa. Tambm deve-se ressaltar o fato de que certas operaes realmente
21
no teriam sentido em serem financiadas a longo prazo, como por exemplo a compra de matrias-primas para a produo corrente, que so tradicionalmente financiadas por fornecedores e esto inseridas e ajustadas dentro da previsibilidade do ciclo operacional. As necessidades sazonais tambm no teriam sentido em serem financiadas a longo prazo pelo seu carter transitrio (GITMAN, 1987, p.294). A tcnica conservadora, embora possa garantir um nvel de liquidez bastante seguro, implica claramente em custos maiores e, portanto, em menor rentabilidade. 2.2. Determinao da Necessidade de Capital de Giro Determina-se a necessidade de capital de giro de uma entidade pela diferena entre o investimento do passivo circulante operacional e os valores constantes do Ativo circulante operacional. Segundo Matarazzo (1998, p. 348) a necessidade de capital de giro reflete o montante de que a empresa necessita tomar para financiar o seu ativo circulante em decorrncia das atividades de comprar, produzir e vender. Assim:
NCG = ACO - PCO; NCG - Necessidade de Capital de Giro; ACO - Ativo Circulante Operacional; PCO - Passivo Circulante Operacional.Fonte: Matarazzo (1998).
O ativo circulante operacional trata-se dos investimentos operacionais que decorrem das necessidades das atividades normais das entidades: compras de mercadorias e matrias primas, estocagem e outras (MATARAZZO, 1998, p.348). O passivo circulante operacional refere-se a valores inerentes aos itens operacionais constantes no passivo circulante, normais das atividades empresariais, cujos valores so empregados como parte dos recursos que iro cobrir os gastos do ativo circulante operacional (MATARAZZO, 1998, p.348). A necessidade de capital de giro compe-se da diferena entre os valores do ativo circulante operacional e o passivo circulante operacional, constituindo-se de recursos dos quais a entidade deve buscar no seu capital prprio ou de terceiros. Quando ACO > PCO, h NCG positiva, significando que a empresa deve buscar fontes de financiamentos (MATARAZZO, 1998, p.349).
22
2.3. Dimensionamento da Necessidade de Capital de Giro O modelo Fleuriet permite que atravs dos ndices de prazo mdio se obtenha a necessidade de capital de giro, e, demonstrando que esta proporcional s vendas da empresa, desde que os prazos mdios se mantenham constantes.
NCG = ativo cclico passivo cclico (1)Fonte: FLEURIET, KEHDY e BLANC (2007).
Admitindo que as nicas contas que compe o ativo cclico sejam estoques e contas a receber, e que o passivo cclico seja constitudo somente por contas a pagar, a igualdade (1) pode ser escrita da seguinte maneira: NCG = estoques + contas a receber contas a pagar (2)Fonte: FLEURIET, KEHDY e BLANC (2007).
2.4. Importncia das Pequenas e Mdias Empresas A importncia das pequenas e mdias empresas na economia brasileira no pode ser medida apenas por critrios econmicos, pois os aspectos sociais, culturais dentre outros tambm possuem uma relevncia no cenrio brasileiro as quais no se pode ignorar.Que a importncia das micro, pequenas e mdias empresas est baseada em premissas: oportunidade de emprego, utilizao de trabalho intensivo,crescimento econmico com base em iniciativas de negcio de pequena escala, formao de uma base econmica para expanso dos negcios, desenvolvimento de estratgias que ajudam a passar as iniciativas econmicas do setor informal para o setor formal, oportunidade de desenvolvimento econmico para as populaes locais, alm de gerar desenvolvimento de talento e de habilidades empresariais. (PINHEIRO apud MENEZES, 1999, p. 11).
Embora no se possa fazer uma anlise da importncia das pequenas e mdias empresas brasileiras apenas pelos aspectos econmicos, os nmeros da sua participao na economia nacional so relevantes e expressivos. Segundo Gimenes (apud MENEZES, 1999, p. 12) em 2000, somente as micro e pequenas empresas foram responsveis por 65,5% dos
23
empregos no pas e geraram 57,6% do seu faturamento global. Ressalta-se a constatao de que os investimentos realizados em pequenas e mdias empresas geram mais empregos que aqueles realizados em empresas de grande porte ao se aplicarem recursos similares. Tabela 01: Porte dos estabelecimentos x pessoal ocupado (2007) em %:
Fonte: SEBRAE/ES (2007).
Tambm em nmero de estabelecimentos e pessoal empregado o desempenho das empresas de pequeno e mdio porte so preponderantes para economia capixaba e nacional, conforme pode ser constatado pelos nmeros fornecidos pelo SEBRAE (2007), tabela 13 e 14, com base em dados coletados na Relao Anual de Informaes Sociais (RAIS). Tabela 02 - Percentual de firmas sobreviventes em 2004 entre as nascidas em 2007:
Fonte: SEBRAE/ES (2007).
Embora tenham uma representatividade importante em todos os setores da economia nacional, constituindo se num elemento importante para o desenvolvimento econmico e
24
social, as pequenas e mdias empresas tm uma taxa de sobrevida baixa quando comparadas com as de maior porte. Constatada a importncia das pequenas e mdias empresas no cenrio econmico e social, a sua alta taxa de mortalidade nos primeiros anos de existncia pode se traduzir em um entrave ao desenvolvimento social e econmico. Entende-se que a superao de boa parte desse problema s ser possvel quando parte dos problemas gerenciais presentes nessas entidades forem sanados. 2.5. Metade das Empresas Fecha em At Dois Anos Metade das empresas brasileiras morre antes de completar dois anos de atividade. Praticamente 60% no chegam aos quatro anos. A maioria absoluta (96%), emprega at nove funcionrios. O principal motivo para o fenmeno so as falhas gerenciais dos empreendedores. o que mostra a pesquisa Fatores Condicionantes de Taxa de Mortalidade de Empresas no Brasil, publicada pelo Sebrae. Realizado no primeiro trimestre deste ano, o levantamento mostra que, entre 2000 e 2002, 772.679 empresas fecharam as portas. O Sebrae estima que elas geravam 2,4 milhes de empregos e que, nesses trs anos, investiram R$ 19,8 bilhes. Nem tudo desperdiado, porm, porque o ritmo de abertura de empresas muito intenso. No Brasil, abrem-se todos os anos 470 mil empresas - muitas pelas mesmas pessoas que encerraram atividades anteriores. Caso do engenheiro Marcelo Molinari, 33 anos, que triunfa hoje com uma indstria metalrgica, mas que falhou com uma fbrica de biscoitos e com um escritrio de contabilidade. Escassez de dinheiro foi o principal motivo apontado pelos microempresrios falidos para o fechamento das portas de seus negcios: 42% deles cravaram "falta de capital de giro" como o maior motivo. "Isso evidencia um problema crnico no Brasil, que a falta de financiamentos adequados para micro e pequenas empresas", afirma Luis Carlos Floriani, secretrio-geral do Movimento Nacional da Micro e Pequena Empresa (Monampe). Mas dinheiro apenas no basta: a segunda maior causa apontada foi a "falta de clientes". A pesquisa conclui que as causas da mortalidade esto relacionadas, em primeiro lugar, a falhas gerenciais na conduo do negcio, seguido das causas econmicas, conjunturais e tributao. "As falhas gerenciais esto relacionadas falta de planejamento na abertura do negcio, que leva o empresrio no avaliar corretamente dados vitais para a
25
sobrevivncia do empreendimento, como a existncia de concorrncia, o potencial dos consumidores, entre outros fatores", aponta o levantamento. 2.6. Associativismo Alternativa para Evitar Falncia Se o problema so falhas gerenciais, a soluo passa obrigatoriamente pelo associativismo. A opinio de Luis Carlos Floriani, secretrio-geral do Monampe. "Nenhuma microempresa consegue sobreviver sozinha por mais de trs anos", sentencia. H razes que embasam sua tese: 96% das empresas que fecharam suas portas entre 2000 e 2002 tm, no mximo, nove funcionrios. No incomum que o prprio empreendedor atue no processo produtivo, desenvolvendo ele mesmo o produto ou servio que ser vendido. Num cenrio assim, quem vai cuidar da burocracia, do planejamento, da concorrncia, dos fornecedores, dos clientes e de todos os outros fatores administrativos que a administrao de uma empresa envolve? "A quantidade de informaes que se precisa hoje para manter uma empresa muito maior do que dez anos atrs. Argumenta Floriani:Sozinho, o empresrio no tem tempo para cuidar de tantos detalhes. As estruturas de fiscalizao esto mais rgidas, as decises precisam ser tomadas de forma mais rpida. Empresas que fazem parte de consrcios de exportao ou de incubadoras tendem a durar mais tempo..
O bom das pequenas empresas comeou na dcada de 1990, relata o secretrio-geral do movimento, quando o Brasil abriu seu mercado para exportaes. "As indstrias brasileiras investiram pesado em tecnologia. Mquinas desempregaram gente e no havia um planejamento para reacomodar toda aquela massa de pessoas sem emprego. Resultado: a maioria virou empreendedor por necessidade". Como o casal Geraldo e Tereza Morais, que em 1986 comprou uma pequena fbrica de mveis. Os negcios at que iam bem, mas a sucesso de fracassos dos planos econmicos do governo os fez fechar as portas. "De uma hora para outra a inflao disparou, e os juros aumentaram e nossas dvidas se multiplicaram", lembra Geraldo. Ele um dos participantes do Programa para Diminuiao da Taxa de Mortalidade da Micro e Pequena Empresa (Prodim). Desenvolvida pela Associao de Joinville e Regio das Pequenas, Mdias e Micro Empresas (Ajorpeme) em parceria com o Sebrae, o programa tem quatro fases. Primeiro, faz um diagnstico das empresas que participam. Depois oferece treinamentos que vo de marketing a finanas. Em seguida h consultorias de gesto e, no final, palestras sobre
26
encargos e tributos. "Hoje seria muito mais difcil de fecharmos as portas", diz Geraldo Morais. "Temos mais condies e estamos mais preparados". (MF) 2.7.Falncias das Pequenas e Mdias Empresas na Regio do Brasil As informaes indicam ainda que 49,7% das micro e pequenas empresas fecham as portas antes do segundo ano de funcionamento. So dados fidedignos, porque extrados do rgo que neste pas melhor entende do problema, o Servio Nacional de Apoio s Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). No curso dos primeiros trs anos de operaes, fecham 56,4% dessas entidades e, at quatro exerccios, fecham 59,9%. A Regio Nordeste lidera no pas a funesta estatstica da mortalidade das micro e pequenas empresas considerado o perodo de quatro anos. No disporiam as micro e pequenas empresas do oxignio sem o qual nem os grandes conglomerados empresariais sobreviveriam: no dispem, na maioria dos casos, do necessrio capital de giro. Na faixa dos trs anos, anota o Sebrae, onde se d uma espcie de atenuao desse enorme prejuzo social que o estrangulamento das micro e pequenas iniciativas econmico-empresariais. A chamada taxa de mortalidade correspondente ao perodo assinalado, trs exerccios, vm felizmente declinando a partir de 2001. No exerccio anterior, o percentual se considerava alarmante (62,7%), mas declinou, conforme assinalado, para 59,9%. claro que este ltimo nmero igual e patentemente insatisfatrio sob todos os ngulos pelos quais se estude o fenmeno, mas trata-se de um declnio da posio pior para uma posio melhor, podendo vir a se alongar como uma tendncia benfica. (SEBRAE/ES, 2007). Nem s de epitfios vivem os vivos. Se, conforme a clebre newtoniana, a cada ao corresponde uma reao igual em sentido contrrio, o pas assiste a notcias governamentais sobre o que se vai fazer de bom para essas iniciativas altamente germinativas do emprego da mo-de-obra. O Conselho Nacional do Desenvolvimento Industrial - CNDI est em vias de aprovar documento dirigido ao Presidente da Repblica, no sentido de que se lance com a brevidade possvel o programa fazendrio Super Simples, pretenso sucessor do Simples que veio para facilitar s micro e pequenas empresas o pagamento das respectivas obrigaes fiscais. Agora, com o Super Simples, ir-se- mais longe, posto que cogitar, pura e simplesmente, de desobrigar essas modestas iniciativas do pagamento de todo e qualquer imposto e toda e qualquer taxa na ordem federal. (SEBRAE/ES, 2007).
27
O projeto iria mais distante ainda: a Unio Federal est induzindo os Governos Estaduais a seguirem as suas pegadas, isto , desobrigar as micro e pequenas empresas do recolhimento dos tributos e contribuies estaduais, para que, segundo o modelo federal, recaia sobre elas, to apenas, a tributao municipal. Caso no seja possvel o expediente da parte dos Estados, a Unio Federal ficaria satisfeita se eles concordassem numa representativa diminuio dos respectivos tributos, taxas e contribuies. Esta srie de providncias em gestao no impedir que as autoridades pblicas revejam o problema do financiamento do capital de giro das micro e pequenas empresas, nos termos do que acima ficou enunciado. preciso tambm reconhecer que a desonerao de parte ou do todo da carga fiscal que pende sobre as firmas de que falamos uma forma indireta de lhes prover o capital de giro a que aspiram. Maior giro e dispensa de tributos completa-se, no se excluem. (SEBRAE/ES, 2007).
28
CAPTULO 3 O PAPEL DO CAPITAL DE GIRO PARA O CRESCIMENTO DAS MPES O termo capital de giro teve origem com os antigos mascates ianques, que carregavam suas carroas com mercadorias e percorriam suas rotas vendendo seus artigos. A mercadoria era chamada de capital de giro, pois era o que o mascate vendia (girava) para gerar seus lucros.A carroa e o cavalo eram financiados com capital prprio, compondo os ativos fixos do mascate, porm o capital para a compra de mercadorias era financiado pelos bancos e eram chamados de emprstimos para capital de giro, que deveriam ser saudados ao fim de cada viagem para a continuidade do crdito (BRIGHAM e HOUSTON, 1999).
Brigham, Gapenski e Ehrhardt, (2001) nos do algumas definies de capital de giro e termos relacionados:Capital de Giro: Investimento da empresa em ativos de curto prazo (perodo inferior a um ano) em caixa, ttulos negociveis, estoques e contas a receber. Capital de Giro Prprio: parte do ativo circulante que financiada com recursos da prpria empresa. ndices de Liquidez: quocientes que mostram a relao entre caixa e outros ativos circulantes de uma empresa e seus passivos circulantes. Gerenciamento de Liquidez: planejamento de compras e de utilizao de recursos lquidos, possibilitando o cumprimento das obrigaes assumidas. Tem como um dos principais fatores, o tempo. Poltica de Capital de Giro: diretrizes determinantes das decises sobre os nveis do ativo circulante e seu financiamento. Administrao do Capital de Giro: gerenciamento dos ativos e passivos circulantes.
A Gesto do Capital de Giro, engloba a administrao, dentro de critrios estabelecidos dos ativos circulantes e dos passivos circulantes definidos atravs de uma poltica adotada pela empresa, dos nveis desejados dos seus ativos e seus passivos.Em geral as empresas seguem um ciclo operacional no qual compram estoques, produzem, vendem mercadorias a crdito e depois cobram as contas a receber. Este ciclo chamado de ciclo operacional de caixa.
29
A boa poltica de Capital de Giro elaborada para minimizar o tempo entre desembolsos de caixa com materiais e o de recebimentos de vendas, conforme ser visto mais adiante ao se tratar do Ciclo Operacional. Para o Gerenciamento do Capital de Giro, fundamental conhecer os Demonstrativos Financeiros mais utilizados pela empresa: Balano Patrimonial e Demonstrativo de Resultados. Conforme ensinam Martins & Luna:As contas do Balano esto relacionadas ao clculo das necessidades de Capital de Giro e forma de financiamento destas. As contas do Demonstrativo de Resultados, por sua vez, vo refletir os aspectos econmicos da empresa. Estes aspectos so necessrios para a avaliao das necessidades do Capital de Giro e o entendimento do Ciclo do Negcio. (1997, p.54).
3.1 A Gesto de Custos Administrativos Capital de Giro um jogo (habilidade para lidar com o lucro ativo e passivo) empresarial apoiado em tcnicas de simulao cujo objetivo conduzir o educando a testar e avaliar aes sem ter que submeter a empresa a riscos ou custos de uma situao real. As pequenas empresas participantes necessitam de um conhecimento em custos e gesto do capital de giro, para fazerem frente s situaes impostas pelo mercado aqui representado pelo animador, bem como uma viso estratgica do cotidiano empresarial. Como no mundo real em que esto inseridas as pequenas empresas, o fator determinante para o sucesso nas vendas o menor preo praticado pela empresa competidora, visto que, no atual cenrio mundial, as pequenas empresas para permanecerem no mercado, necessariamente trabalham com produtos cuja qualidade inquestionvel. Diante deste fator, a pequena empresa que praticar o menor preo ter maiores possibilidades de venda. Vale ressaltar, porm, que menores preos podem no garantir a rentabilidade necessria, em contrapartida preos elevados podem significar queda nos volumes de vendas comprometendo o desempenho econmico da empresa. Cabe a pequena empresa competidora, determinar o valor de venda em funo de garantir sua participao no mercado, sem o comprometimento de sua sade financeira. Com a determinao do preo de venda, ser determinado tambm o resultado de cada empresa competidora e divulgado em um Relatrio Confidencial, no qual constar o Balano da pequena empresa, seu Demonstrativo Gerencial de Resultados, seu Fluxo de Caixa, sua Demanda, Vendas e Preos praticados por regio, entre outras informaes essenciais para a gesto da pequena empresa. Este relatrio subsidiar a empresa nas decises para o perodo
30
seguinte. Alm do Relatrio Confidencial, ser gerado um Relatrio Especial dos Resultados das pequenas empresas participantes, contendo informao sobre os Balanos das Empresas, os ndices Econmicos/ Financeiros, a Demanda e Venda por regio com a participao de cada empresa concorrente e os preos mdios praticados pelas empresas nas regies de atuao. 3.2 As Dificuldades das Pequenas e Mdias Empresas em Gerir o seu Capital de Giro permitido pequena empresa fazer aplicaes no mercado financeiro. As aplicaes feitas em um perodo sero resgatadas no perodo seguinte. A taxa de Juros para aplicao ser 30% maior que a taxa de juros referencial do Banco Central, apresentada no Boletim Informativo. Sobre o resultado da aplicao incide uma taxa de 35% referente ao imposto de Renda, que ser debitado no perodo seguinte aplicao juntamente com o seu resgate. O resultado lquido da aplicao dever ser registrado no DGR (Demonstrativo Gerencial de Resultados), na conta Receitas Financeiras e o montante aplicado no Realizvel a Curto Prazo do Balano Patrimonial do perodo da aplicao. 3.3. Ferramentas de Acesso ao Capital de Giro Disponveis Para as MPEs no Banco Real Com experincia de 90 anos no pas, o ABN AMRO tem profundo conhecimento no mercado brasileiro. Tambm est presente em mais de 70 pases, sendo um dos maiores bancos do mundo. O ABN AMRO Brasil engloba um conjunto de empresas: ABN AMRO Bank BANCO REAL ABN AMRO Asset Management BANDEPE REAL SEGUROS A trajetria do ABN AMRO comeou em 1917. Em 1945 abriu sua primeira filial na cidade de So Paulo. Em 1963 adquire 50% das aes da Aymor Financiamentos.
31
O nome ABN AMRO Bank surge em 1993, quando muda sua sede do Rio de Janeiro para So Paulo. A aquisio do Banco Real e do Bandepe acontece em 1998. Estas foram algumas das mais importantes fases da instituio no Brasil. Em 2001, entrou em vigor a nova estrutura mundial do banco, com os seguintes objetivos: Aprimorar cada vez mais o atendimento a nossos clientes, Atingir posio de liderana em mercados selecionados e Maximizar o valor adicionado para o acionista, amparado por trs linhas de negcios.
Lucro 2006 Banco Real Empresas ABN AMRO no Brasil apresentam resultado operacional 25,1% maior que no 1semestre de 2003 e lucro lquido de R$ 690 milhes.
Lucro 2007 O resultado operacional alcanado no 1 semestre de 2004 pelo Banco Real e empresas ABN AMRO no Brasil foi 25,1% maior que o registrado no mesmo perodo de 2007, atingindo R$ 931 milhes. O lucro lquido foi de R$ 690 milhes, 57,0% superior aos R$ 439 milhes registrados no mesmo perodo de 2007. Essa elevao se deve ao crescimento da carteira de crdito e de uma slida retomada do crescimento das receitas de servios, resultados do foco do Banco Real e empresas ABN AMRO nas necessidades de seus clientes. Adicionalmente, vale mencionar o resultado positivo decorrente da variaocambial que impactou a posio de hedge (investimentos no exterior) causando uma reduo na linha de impostos. A rentabilidade sobre o patrimnio lquido no semestre foi de 19,5% a.a. Crescimento da plataforma de negcios
32
Os ativos totais do Banco Real e empresas ABN AMRO no Brasil alcanaram R$ 60,0 bilhes, um crescimento de 45,5% em relao aos R$ 41,2 bilhes registrados em junho de 2007. A rentabilidade dos ativos no perodo foi de 2,4% a.a. Com a aquisio do Banco Sudameris, o Banco Reale empresas ABN AMRO no Brasil compreenderam em 30 de junho de 2004 uma rede de 3.163 pontos de atendimentos prprios e 5.418 pontos de venda.
Crescimento contnuo do total de emprstimos e financiamentos, impulsionado pelo varejo. A carteira de crdito representou 47,7% do total de ativos, cresceu 57,2% em relao a junho de 2007 e atingiu R$ 28,6 bilhes. O varejo, que representa mais de 50% dos crditos concedidos, registrou um crescimento de 45% em relao ao total no mesmo perodo de 2007. O crescimento da carteira de crdito ao varejo foi impulsionado por negcios com pequenas empresas, ressaltando o suporte do Banco. Aquisio do Banco Sudameris Desde que a administrao do Banco Sudameris foi assumida pelo Banco Real e empresas ABN AMRO no Brasil o foco principal vem sendo a retomada das atividades comerciais e a busca de maior eficincia a partir do aproveitamento das sinergias entre as instituies. O processo como um todo tem transcorrido conforme o esperado, seguindo os princpios e valores de respeito, profissionalismo, trabalho em equipe e integridade que pautam a atuao do ABN AMRO em todas as suas atividades. At outubro deste ano deve estar finalizada a migrao de sistemas, processos e infra-estrutura, assegurando a conquista de mais um passo na direo da construo da nova histria do Banco Real e do Banco Sudameris, oferecendo mais segurana e modernidade aos clientes do Banco Sudameris. Os dois bancos iro atuar com produtos e servios atravs de canais de acesso eletrnicos que iro oferecer o mesmo nvel de servio (Internet, call center e autoatendimento) atendendo as necessidades especficas de cada segmento de clientes. O Banco Real acompanha atentamente as taxas de juros praticadas no mercado, pois tem como objetivo oferecer sempre as melhores condies a seus clientes. As taxas correspondentes a cada produto. Linha de crdito para empresa, de acordo com seu projeto ou necessidade.
33
Capital de giro Com o Capital de Giro do BANCO REAL/ ABN AMRO, a pequena e micro empresa
tem acesso a uma linha de crdito destinada a atender s necessidades de caixa de curto e mdio prazo. Sua empresa recebe o valor contratado de uma s vez na conta corrente e conta com prazos flexveis para pagamento. As taxas podem ser prefixadas ou ps-fixadas. Na hora da contratao, voc pode oferecer uma srie de garantias que sero atreladas ao emprstimo. As modalidades de Capital de Giro disponibilizadas pelo Banco Real so: Capital de Giro 13 Salrio: a taxa pr-fixada e sua empresa tem carncia de at 60 dias para pagar a primeira parcela. Se preferir, pode parcelar o pagamento em at 8 vezes Capital de Giro Final: sua empresa escolhe a melhor forma de pagamento, de acordo com as previses de receita Capital de Giro Parcelado: os pagamentos so mensais, de acordo com o fluxo de caixa da sua empresa, sem a necessidade de descapitalizao. Valores a partir de R$ 500 podem ser divididos de 3 a 9 vezes em parcelas fixas, e a cada parcela paga o limite recomposto com base no valor principal. Depois da aprovao do limite, voc pode utilizar o crdito por meio do Real Internet Empresa, do Disque Real Pessoa Jurdica, do Auto-Atendimento, ou preenchendo uma das trs ltimas folhas de seu talo de cheques, identificadas com o nome Real Giro Automtico.
34
CONCLUSO
As empresas esto em constantes mudanas, cada vez mais necessitam de controles precisos e de informaes oportunas sobre seu negcio para adequar as suas operaes s novas situaes. Observamos que durante anos a Contabilidade foi vista apenas como um sistema de informaes tributrias; na atualidade ela passa a ser vista tambm como um instrumento gerencial que se utiliza de um sistema de informaes para registrar as operaes da organizao, para elaborar e interpretar relatrios que mensurem os resultados e forneam informaes necessrias para tomadas de decises e, para o processo de gesto: planejamento, execuo e controle. As empresas de pequeno porte normalmente so administradas pelos prprios scios, que tem formao tcnica ligado ao seu negcio, mas sem a formao administrativa de gesto, tais como administrao, finanas, economia, marketing, etc. isto tem levado a um grande numero de falncias, concordatas e fechamento das pequenas empresas nos seus primeiros anos de vida. O profissional da rea financeira, pela prpria natureza das funes que lhe so solicitadas a desempenhar, necessitar de formao bem diferente daquela exigida para o profissional que atua na contabilidade formal, precisando assim de bons conhecimentos matemticos e estatsticos, pesquisa operacional e tcnicas de planejamento. O primeiro passo para uma, verdadeiramente, que seja atualizada, conciliada e mantida com respeito s boas tcnicas contbeis. Realidade presente na maioria das empresas brasileiras, que ningum pode negar, a existncia de controles financeiros parte, visando ocultar o chamado caixa dois, que so os recursos advindos do faturamento sem nota fiscal. Esta prtica, bastante comum, visa diminuir os custos tributrios envolvidos na operao de um negcio. Sem o conhecimento do mercado, da concorrncia, da formao de preos, do controle dos gastos, do controle dos estoques, do fluxo de caixa, do ponto de equilbrio, de um planejamento tributrio, da legislao pertinente ao seu negcio, os empresrios tomam decises incompatveis com os objetivos da empresas levando-as a morte precocemente.
35
A empresa, para vender o seu produto e se valorizar, deve organizar-se de modo a manter um processo contnuo de comunicao com seus clientes, buscando perceber seus anseios e suas necessidades para que possa ser um instrumento gerencial eficaz. O fato de os contadores manterem comunicao constante com seus clientes j abre espao para que a contabilidade gerencial venha a ser disseminada e despertar o interesse dos empresrios das pequenas e microempresas, pois a contabilidade gerencial no apenas para as grandes empresas, o microempresrio tambm pode usufruir dela, pois a sua utilizao atende tanto aos grandes quanto aos pequenos empresrios. J os mtodos multicritrios agregam um valor significativo informao contbil, na medida em que no somente permitem a abordagem de problemas considerados complexos e, por isto mesmo, no tratveis pelos procedimentos intuitivo-empricos usuais, mas tambm conferem ao processo de tomada de deciso uma clareza e conseqente transparncia, no disponveis quando esses procedimentos ou outros mtodos de natureza monocritrio so utilizados. Na rea financeira, porm, a aplicao dos mtodos multicritrios ainda muito escassa. Cabe, portanto, aos profissionais da rea financeira, inteirarem-se acerca das caractersticas dos mtodos e suas provveis aplicabilidades na lide gerencial cotidiana, para usufruir desta poderosa ferramenta de apoio ao processo de tomada de decises.
36
REFERNCIAS
ANTHONY, Robert N. Sistemas de Controle Gerencial Traduo: Adalberto Ferreira das Neves. So Paulo: Atlas, 1996. ASSAF NETO, Alexandre. Finanas Corporativas e Valor. So Paulo: Atlas, 1989. ATKINSON, Anthony A.; et all. Contabilidade Gerencial. So Paulo: Atlas, 2000. BORGERT, Altair. Construo de um Sistema de Gesto de Produtos Luz de uma Metodologia Construtivista Multicritrio. Tese (doutorado). UFSC: Florianpolis, 1999. BRAGA, H. R. Demonstraes Financeiras: Estrutura, Anlise e Interpretao. So Paulo: Atlas, 2006. CHR, Rogrio. A Gerncia das Pequenas e Mdias Empresas: O que saber para administr-las. 2 ed. So Paulo: Maltese, 1990. CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade Gerencial, Teoria e Prtica. So Paulo: Atlas, 1998. DIEHL, Carlos Alberto. Proposta de um Sistema de Avaliao de Custos Intangveis. Dissertao (mestrado). UFRGS: Porto Alegre, 1997.
_________. Custos intangveis: uma proposta de avaliao. In: Congresso Brasileiro de Custos, 6, 1999, So Paulo, Anais... So Paulo: FIPECAFI, 1999.
FREITAS JR., Antonio A.; GOMES, Luiz F.A.M. A Importncia do Apoio Multicritrio Deciso na Formao do Administrador. Revista ANGRAD, v.1, n.1. Rio de Janeiro, jul./set.2000.
IUDCIBUS, Srgio de. Contabilidade Gerencial. 6. ed. So Paulo: Atlas, 1998.
37
JOHNSON, H Thomas. KAPLAN, Robert S. Contabilidade gerencial: a restaurao da relevncia da contabilidade gerencial nas empresas. Rio de Janeiro: Campus, 1993. MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. So Paulo: Atlas, 1996. MATARAZZO, Dante C. Anlise Financeira de Balanos: abordagem bsica e gerencial. 4 ed. So Paulo: Atlas, 1997. PADOVEZE, Clvis Lus. Contabilidade Gerencial. Um enfoque em sistema de informao contbil. So Paulo: Atlas, 1994. PAMPLONA, Edson de O. A Contabilidade Gerencial. 1998. Disponvel em: http://www.iem.efei.br/edson/. Acesso em: 21 Out. 2007. REIS, Ernando A. dos. GUERREIRO, Reinaldo. O Papel da Subjetividade no Contexto da Contabilidade Gerencial. In: Congresso Brasileiro de Custos, 6, 1999, So Paulo, Anais... So Paulo: FIPECAFI, 1999. SANTOS, Ariovaldo et al. Retorno de Investimento: abordagem matemtica e contbil do lucro empresarial. So Paulo: Atlas, 1999. SOUZA, Marcos Antonio. Prticas de Contabilidade Gerencial Adotadas por Subsidirias Brasileiras de Empresas Multinacionais. So Paulo, Tese de Doutorado Apresentada a FEA / USP, 2001. SVEIBY, Karl Erik. A Nova Riqueza das Organizaes. Rio de Janeiro: Campus, 1998. TAFNER, Elisabeth P. et al. Metodologia de Trabalho Acadmico. Rio de Janeiro: Juru Editora, 1993. VIVEIROS, Ulisses de. Enfoque Gerencial da Contabilidade de Custos. Conselho Regional de Contabilidade de So Paulo. Curso de contabilidade gerencial. So Paulo: Atlas, 1993. WARREN, Carl S.; et al. Contabilidade Gerencial. 2 ed. So Paulo: Pioneira, 2001. ZDANOWICZ, Jos E. Fluxo de Caixa: uma deciso de planejamento e controle financeiros. 2 ed. Porto Alegre: DC Luzato, 1996.
38