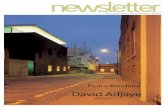Nau 4
-
Upload
azougue-editorial -
Category
Documents
-
view
236 -
download
1
description
Transcript of Nau 4



| 1
Caro leitor, como as vagas que se chocam com nosso casco, NAU
faz nesse número o movimento de refluir para o futuro avanço.
Voltamos 45 anos no tempo, para um momento expressivo da
nossa história, 1968, quando no Museu de Arte Moderna do Rio de
Janeiro uma trupe de jovens artistas se uniu para pensar a Cultura e a
Loucura na arte brasileira. Estavam lá Hélio Oiticica, Rogério Duarte,
Lygia Pape, Caetano Veloso, Frederico Moraes, Nuno Veloso e Sérgio
Lemos.
O entrevistado é Guilherme Zarvos. Poeta, agitador cultural, cria-
dor do CEP 20.000, o principal evento de poesia do Brasil, Zarvos é
uma figura central para a cultura carioca. O poster central é um po-
ema de Marcelo Montenegro, “Buquê de presságios”, ilustrado pelo
grande quadrinista Carcarah.
A revista traz ainda Bixiga 70, um dos mais interessantes expoentes
da cena musical atual, com suas experiências instrumentais baseadas
na riqueza rítmica do afrobeat e de outras raízes da música negra.
Por fim, uma coluna de Renato Rezende e a chance de continu-
armos nos deliciando com Caronte, a barqueira do amor, do grande
Rafael Campos Rocha.
Boa navegação!
Coordenação geral
Didi Rezende
Editores
Afonso Luz
Sergio Cohn
Editor de arte
Tiago Gonçalves
Foto da capa
Edu Monteiro
Produção
Tay Lopes
Revisão
Evelyn Rocha
Barbara Ribeiro
Tiragem
20 mil exemplares
Contato
Número 4 | 2013
ISSN: 2318-1192
SuMáRIo
MAM 68: Cultura & Loucura 02
Poesia | Marcelo Montenegro 14
Pôster 16
Entrevista | Guilherme Zarvos 18
Bixiga 70: Deixa a gira girá 26
Vozes&Visões | A resistência da poesia brasileira 30
Caronte | por Rafael Campos Rocha 32

2 |

| 3mam 68: cultura & loucura

Em 10 de junho de 1968, quando o Museu
de Arte Moderna do Rio de Janeiro sediou o
debate intitulado “Amostragem da Cultura/
Loucura Brasileira”, era o lugar e a hora certa.
O Brasil estava vivendo a efervescência tro-
picalista, que colocava em pauta muitas das
questões tratadas naquela noite. E o MAM se
tornou um dos espaços centrais de encontro
dos artistas e jovens que estavam criando
uma renovação da cultura brasileira. Era lá o
cenário principal carioca para as conversas
culturais, seja na sua cantina, na cinemateca,
ou nos seus jardins, durante os “Domingos da
Criação”, os eventos livres organizados por
Frederico Morais, um curador independente
que coordenava os cursos do museu.
Foi Frederico Morais, aliás, quem realizou
o convite para Hélio Oiticica e Rogério Duarte
organizarem o evento, que ficou conhecido
como Cultura e Loucura. Um mês antes, no
dia 23 de maio, o MAM já havia sediado o de-
bate “Critério para o julgamento das obras de
arte contemporâneas”, em que a participação
de Hélio foi feita através de um texto cujo teor
era a provocativa constatação da crise dos va-
lores tradicionais e acadêmicos como critério
de julgamento nas artes de seu tempo. Esses
dois debates selaram uma parceria de três
meses entre Oiticica e Rogério Duarte, que foi
iniciada em maio e teve seu auge no dia 6 de
julho de 1968, com o início do evento “Arte no
Aterro – um mês de arte pública”, realizado no
Parque do Flamengo, onde eles apresentaram
o happening “Apocalipopotese”.
“Cultura e Loucura” reuniu alguns dos
principais nomes da vanguarda da época,
para discutir o tema de forma inteiramente
aberta. Estavam lá músicos, artistas, soció-
logos. Mas algumas ausências foram senti-
das: Abelardo Barbosa, o Chacrinha, estava
convidado e não pode comparecer. O mesmo
ocorreu com Fernando Gabeira e Glauber Ro-
cha. Em 1973, o artista visual Antonio Manuel
criou um Super-8 utilizando trechos do áudio
do evento, sobrepostos em imagens filmadas
posteriormente de alguns dos participantes.
Mas foi apenas quase quarenta anos depois
que as fitas completas reapareceram, permi-
tindo um registro mais claro do que foi o de-
bate. A transcrição de trechos delas permite
a compreensão da riqueza do pensamento
sobre o tema de então.
Frederico Morais, o mediador, foi quem
realizou a apresentação:
“Bom, nesta mesa, estão presentes, da
direita para a esquerda: Rogério Duarte, que
juntamente com Hélio Oiticica, é o organi-
zador do debate. Ao lado, nós temos Sérgio
Lemos, que é um brilhante sociólogo da nova
geração, professor de Sociologia do Conheci-
mento e Sociologia da Vida Cotidiana, e que
desde então tem procurado estudar, entre ou-
tras questões, o comportamento sexual e os
mitos do consumo de massa. Em seguida, Ly-
gia Pape, artista plástica, participante de um
dos mais importantes movimentos da arte
brasileira, que foi o neoconcretismo. Em se-
guida, Hélio Oiticica, também ex-integrante
do neoconcretismo, e que, além de artista de
vanguarda da maior importância, é também
um teórico e um escritor de muito talento.
Em seguida, Caetano Veloso, que não é pre-
ciso apresentação, porque vem revolucionan-
do a música popular no Brasil. E, finalmente,
Nuno Veloso, provavelmente o menos conhe-
cido aqui, neste momento. Mas Nuno Veloso,
que foi o ex-presidente da ala de composito-
res da Mangueira, e fez um curso de doutora-
do livre, na Alemanha, tendo como professor
Marcuse, entre outros, exatamente os filóso-
fos aí da moda, né, os filósofos pop. É assis-

| 5
tente também da cadeira de Filosofia Alemã,
na Universidade Livre, no Instituto da Euro-
pa Oriental. E foi um dos professores de Rudi
Dutschke – isso é um fato muito importante.
Bem, feita a apresentação, nós consideramos
agora aberto o debate, e estamos ainda aguar-
dando a presença de Chacrinha, que deverá
sentar ao meu lado. Glauber Rocha e Fernan-
do Gabeira não puderam comparecer”.
O primeiro a falar foi Hélio Oiticica. Em
1968, Oiticica era um artista visual já reconhe-
cido, que estava seguindo com a sua proposta
experimental e já havia criado Parangolés e
Penetráveis, inclusive o “Tropicália” que no-
mearia o movimento. A sua fala, como sem-
pre provocativa, questiona as fronteiras entre
alta e baixa cultura, num discurso que mostra
a clara identintificação com os tropicalistas:
“O conceito de gênio foi uma coisa cria-
da pela classe dominante, na Renascença; é
uma coisa que pra mim não existe mais. Eu
já cansei de dizer, por exemplo: pra mim, a
Mirinha da Mangueira, que mal sabe ler, diz
coisas muito mais importantes do que qual-
quer gênio desses da humanidade. Hoje em
dia, a tendência é acabar com tudo isso. Esse
conceito de gênio não existe mais. É uma coi-
sa que Lygia Clark define como a precarieda-
de do momento. Quer dizer, cada momento
é que é a criação. Agora, eu acho que o Cha-
crinha, dentro desse negócio, de momento da
criação, ele é profundamente criador, porque
tudo que ele faz é uma coisa criadora, ele não
está lá pra desempenhar um papel. Eu sei que
ele é consumo também, sei que ele pode ser
um instrumento de domínio da massa, ago-
ra é também uma coisa criadora. Porque nós
vivemos numa sociedade capitalista, todas as
coisas boas e ruins são instrumentos de do-
mínio, de modo que... Por exemplo, Danny
Kaye é um gênio fantástico, um grande co-
mediante, mas também era um instrumen-
to de domínio da cultura americana, para se
impor no mundo. Uma coisa não pode ser
vista separada da outra. Já a loucura seria o
que não é feito. Por exemplo, uma pessoa tem
um ataque, arranca os cabelos, isso daí é uma
loucura, mas é uma loucura que se manifesta.
Então, é um ato criador. É uma coisa que está
se manifestando. Agora, a loucura morta mes-
mo, como uma coisa morta, é o que você não
fez, e não manifestou. O que fica na subjeti-
vidade e se volta para ela mesma. Isso é que
seria a loucura mesmo. Cientificamente ex-
plicada, seria isso. Ao passo que todas as ou-
tras coisas no mundo são coisas apreensíveis,
e não são coisas loucas. Então, é isso”.
O próximo a falar foi Rogério Duarte. Um
dos mais importantes designers gráficos bra-
sileiros, foi o criador do famoso cartaz do
filme “Deus e o Diabo na Terra do Sol”, além
de capas de alguns dos discos tropicalistas,
como os de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Em
1965, publicou na Revista Civilização Brasi-
leira o texto seminal “Notas sobre o desenho
industrial”. Em 1968, estava morando na casa
de Oiticica no Jardim Botânico. Foi lá que os
dois atuaram no filme experimental Câncer,
de Glauber Rocha. É sobre o fotógrafo Carlos
Saldanha, que participou dessa filmagem,
que Rogério fala na sua exposição. Nela, ele
também cita a crise que sofreu após a prisão e
a tortura ocorrida em abril daquele ano, após
a Passeata dos Cem Mil:
“Eu gostaria que o Carlos Saldanha vies-
se aqui falar. Quem é Saldanha? Saldanha é
uma pessoa que eu conheço há muitos anos,
e que depois viajou, passei quatro anos sem
ver, e agora ele aparece, e conta uma porção
de coisas novas. Eu comecei a me interessar
mais fortemente por Saldanha quando o vi
no trabalho, fazendo um filme com o Glau-
ber Rocha, do qual eu participei como ator,
com o Hélio Oiticica, chamado “Câncer”...
Então, quando eu o vi no trabalho, eu me sur-
preendi com um tipo de integração, que me
parecia quase impossível, entre uma pessoa
e uma ferramenta, no caso, uma máquina
moderníssima, que é uma câmera de cinema,
de som direto. Depois eu vi, junto com o seu
instrumento de trabalho, um caderno de ano-
tações sobre revelação de filme, sobre curvas,

6 |
latitude, sobre problemas de som, de eletrô-
nica. Eu suponho que seja isso, porque eu não
entendi direito, era um tipo de especulação
de cientistas, que eu não me sentia assim, à
altura de acompanhar, mas eu pude ver que
aquilo era misturado com uma série de outros
tipos de trabalhos, como os trabalhos de Pas-
cal, onde ele questionava uma série de coisas
fundamentais, ou mesmo onde ele funda-
mentava, onde ele nomeava, onde ele tomava
a palavra. Eu quero fazer disso a minha res-
posta, pelo seguinte, me lembrando de uma
antiga dificuldade de acompanhar o que o
Saldanha sempre chamou de a velocidade
dele, e vendo que dessa vez eu estava mais
ágil para esse acompanhamento, de repente
eu realmente perdi, a partir disso, a noção
da diferença entre o processo de criação e a
loucura. Porque eu perdi a medida, realmente
uma série de medidas. Eu enlouqueci, fiquei
embriagado, e me perdi. E eu não sei qual é o
meu processo, se eu sou sujeito ou objeto da
minha loucura, por exemplo. Eu não sei se a
minha obra é criada por mim ou pelos outros.
Eu não sei se existe alguma coisa que eu pu-
desse chamar de obra, entende? A dificuldade
se estende, arrodeia o plano do conceitual,
porque nos trai na própria matéria do concei-
to. Eu não sei se isso que eu estou dizendo faz
sentido, e também não sei qual o sentido que
faz o próprio sentido. E, de repente, as pala-
vras começaram a se comer umas às outras,
como num processo de leucemia...”
Em seguida, a primeira convidada pelos
organizadores, a artista visual Lygia Pape. Ela
havia participado junto com Oiticica do neo-
concretismo, e seguia uma trajetória experi-
mental que fazia com que, embora fosse cerca
de dez anos mais velha que os outros partici-
pantes da mesa, estivesse em plena sintonia
com eles:
“Bom, eu vou falar sobre Marcuse, mas
isso não significa que eu seja especialista em
Marcuse. Qualquer pergunta que vocês quei-
ram fazer sobre ele depois, eu espero que se
dirijam ao Nuno, que é especialista nisso. É
Hélio Oiticica no penetrável “Tropicália”.

| 7
que há um trecho num livro dele, que me pa-
receu uma resposta ao problema da loucura.
E então, eu fiz uma pequena síntese, que eu
vou ler aqui pra vocês. Marcuse nos fala que
o homem animal converte-se em ser humano
através de uma transformação de sua natu-
reza. Isto é, do princípio de prazer, o homem
passa ao princípio de realidade, onde esse ho-
mem desenvolve a função da razão. Torna-se
um sujeito consciente, e que parte para uma
racionalidade que lhe é imposta de fora para
dentro, e, logicamente, condicionado por essa
cultura. Mas é um modo de atividade mental
que está separado ou isolado dessa organiza-
ção mental nova, a fantasia, que está prote-
gida das alterações culturais. Essa fantasia,
que eu chamaria loucura, confunde-se com o
sentido de liberdade, e é o elemento deflagra-
dor da criação, da invenção. Toda boa cultura
estabelece padrões sociais, morais, políticos,
artísticos etc. Eles são a própria defesa contra
qualquer mudança na sua estrutura. O ho-
mem enfia-se dentro de uma forma segura,
fechada e castradora, mas que ele conhece. A
loucura, fantasia e criação propõem estrutu-
ras abertas, em que o homem é levado a re-
fletir e desmontar seus critérios de razão, e a
ter uma visão dinâmica das coisas. Desconfio
sempre do sucesso de qualquer... Bom, isso
aqui agora já é a minha opinião. Desconfio
sempre do sucesso de qualquer coisa aceita
sem reservas, pois algo está errado: ou não foi
compreendido ou é uma forma acomodada a
essa cultura. Toda agressão supõe uma trans-
formação. É necessário corromper os valores,
e para fazer isto, temos coisas novas, que dão
estruturas novas, que dão uma linguagem
nova, que é a invenção. A criação é uma totali-
dade, a loucura como ato total. Relembrando:
criação, loucura e fantasia são os elementos
deflagradores de qualquer invenção. A razão
vem depois, como elemento conscientizador,
e como degrau para uma nova criação, fanta-
sia, loucura. É um ciclo infinito, é a própria
vida. É a loucura que salva o homem. Eu fiz
uma colocação sucinta assim, mas a loucura
pra mim significa uma abertura, uma liberda-
Rogério Duarte em cena do filme “Câncer”, de Glauber Rocha.

8 |
de, no sentido de criação e de invenção, isso
dentro do meu trabalho, ou dentro de qual-
quer outra atividade humana”.
Caetano Veloso, que havia então lançado
seu primeiro disco solo, faz um testemunho
do seu pensamento na época:
“Eu queria dizer que o meu pensamen-
to flutua. Eu só posso dar um testemunho,
fazer uma espécie de confissão sobre o que
aconteceu com o meu trabalho. Isso talvez
me aproxime realmente de muito do que foi
dito nesta mesa. Por exemplo, quando eu fa-
lei que o Chacrinha era mais cultura do que o
Flávio Cavalcante, isso implicava necessaria-
mente numa atitude. Eu acho que inclusive
alguém, logo depois, disse: ‘Mesmo porque
gostar de Chacrinha agora já é moda’. Eu não
tenho muito medo da moda, mas aconte-
ce que ficou estranho gostar de Chacrinha,
pode ser uma prisão mais fechada do que
negar Chacrinha, e apagar, e não considerá-
-lo como representante da cultura brasilei-
ra. Entretanto, a resposta do Hélio Oiticica,
quando disse que o Flávio Cavalcante é fas-
cista e o Chacrinha não é fascista, realmen-
te me agradou na hora em que eu ouvi. Eu
não tenho muita consciência sobre isso, não
é uma consciência imbatível, eu não quero
impor o meu pensamento, mas eu gostaria
de dizer que realmente, enquanto o trabalho
explícito do Sr. Flávio Cavalcante é policiar
a criação brasileira, que se dirige ao consu-
mo de massas, o Chacrinha é um elemento
criador dessa própria arte de consumo, e o
mais genial e criativo de todos. Realmente,
ele me oferece elementos para o enriqueci-
mento da minha criação, mas eu não gosta-
ria que as pessoas não viessem a pensar no
Chacrinha como o maior pensador sobre a
realidade brasileira, mas, sim, que reconhe-
cessem, nessa criação brutal que vai através
da televisão de um país subdesenvolvido, al-
guns elementos de brutalidade mesmo, que
me podem ser muito caros. E que a própria
inspiração, nesse sentido, já denota um mo-
vimento ao qual eu quero... Como se diz?...
Torquato Neto durante o evento Apocalipopótese (1968).

| 9
me engajar, sei lá, quer dizer, a um movi-
mento de enlouquecimento da cultura na-
cional, no sentido de que seja uma intuição
brutal, inicial, como a necessidade de uma
nova razão”.
O sociólogo Sérgio Lemos falou em segui-
da. Na época, Lemos era conselheiro do jor-
nal-escola O Sol, uma aventura editorial im-
portante, capitaneada pelo poeta Reynaldo
Jardim. E portanto estava lidando com algu-
mas das grandes questões da juventude:
“Qual é a loucura que terá importância?
Será a loucura de não prendermos as nossas
limitações da aparência. Fundamentalmen-
te, é isso. A conveniência nossa, da peque-
na burguesia, que se choca com o Programa
do Chacrinha, deve ser derrubada, porque
ela nos impede também de fazermos coisas
inconvenientes. A nossa opção contra o sis-
tema é prejudicada, é atrasada, pelo nosso
culto à aparência, o nosso culto à conveniên-
cia. E quando fazemos, será sempre no nível
da conveniência, como conveniência, como
aparência, para aparentar negar o sistema.
A negação real, a revolucionária, ela se torna
impossibilitada a nós, pequenos burgueses,
por esse culto à aparência. Quebrar a nossa
aparência, nos humilhar, não é ruim, é bom.
A alienação, a separação entre indivíduo e
sociedade, evidentemente que não é irredutí-
vel, mas o que nos interessa é valorizar a lou-
cura enquanto protesto, enquanto negação,
formulação de novas estruturas. E a luta pela
idealização de novas estruturas exige uma
descrença, uma desmoralização das estru-
turas vigentes, através daqueles laços que os
prendem a ela, daqueles controles – no caso
especificamente do pequeno burguês, a apa-
rência. Vamos dizer que eu não teria coragem
de dizer estas coisas, se não tivesse renun-
ciado, durante alguns acessos de loucura há
anos atrás, da aparência do homem certinho,
direitinho. Eu fui congregado mariano, inclu-
sive, eu vivia do culto da aparência, eu seria
incapaz de pensar que realmente pudesse
haver o que na época eu chamara injustiça
Caetano Veloso vestindo um Parangolé.

10 |
tação dos escravos em 1888 aqui no Brasil. E
o primeiro núcleo de escravos livres aqui, no
Rio de Janeiro, foi justamente de Mangueira,
onde hoje em dia chama-se Morro do Telha-
do – no tempo, Morro Pindura Saia, porque as
escravas lavavam suas roupas e penduravam
no alto do morro de Mangueira. É também a
escola mais antiga. Vai fazer 40 anos, ano que
vem. Essa ideia toda, que hoje se chama de
burguesia no samba, essa coisa toda, nasceu
de um erro de um governo: por volta de 1937,
38, se criou uma coisa chamada Estado Novo,
e esse Estado Novo é que exigia, obrigava a es-
cola de samba a manter um enredo que falas-
se de qualquer ato patriótico, que depois foi
modificado para regional ou folclórico, mas
era só ato patriótico. Eu, pessoalmente, sou
contra isso, mas a ideia... Quando eu passei a
morar nos morros, eu consegui mudar esses
itens, para levar também o artesanato a essa
ideia, quer dizer, contar esse ponto não só
para a dança, e para o samba, e a música, mas
também para o bordado das bandeiras, o bor-
dado das roupas, que houvesse oportunidade
para todo mundo ter a sua expressão cultural,
no morro. Agora, se depois disso se desvir-
tuou, se hoje em dia existem escolas que em-
pregam profissionais para o seu carnaval, isso
evidentemente não é culpa do morro, e muito
menos da Mangueira.
[Auditório] Você veio aqui falar sobre Mar-
cuse, e agora está falando da Mangueira?
[Frederico] Um momentinho. O debate
é sobre a amostragem da cultura brasileira;
samba e Mangueira fazem parte da cultura
brasileira.
[Nuno] Quem tem questões sobre Marcu-
se, pode perguntar. Ninguém? Então, posso
continuar.
[Hélio] Por que é que Marcuse é bom, e a
Mangueira não é? Ah, é muito melhor.
[Nuno] Acabou”.
Hélio Oiticica escreveu na época um texto
sobre o evento, que reproduzimos ao lado.
social no Brasil. Porque isso me faria trair
aquela aparência do homem certinho, do
bom mocinho, direitinho, bonitinho. Houve
choques,vamos dizer, me chocaram, que de
algum modo, me humilharam muitas vezes
na vida. Eu tive que desistir da aparência
pequeno burguesa, e que, realmente, aquilo
podia não funcionar, deixou de ser sagrado.
É claro que está sempre a cultura de massa,
está sempre o sistema reabsorvendo todas as
suas negações. Cada vez que for reabsorvido,
passamos pra outra. Creio, nesse sentido, que
as políticas são um pouco isso”.
Por fim, falou Nuno Veloso. Figura curiosa,
única, Nuno era parceiro de Cartola na Man-
gueira, e foi, conforme dito por Frederico,
assistente de Herbert Marcuse na Alemanha.
Transitava sem dificuldades por esses dois
universos, para encantamento de seus ami-
gos, como Oiticica. Em entrevista realizada
para Maurício Barros de Castro, Nuno se lem-
bra um pouco sobre a época:
“Eu me perguntava como ia pra lá, então
entrei para a marinha mercante, fui pra In-
glaterra, fiz o tal Mestrado em Filosofia da
Arte, aí voltei e apareceu a oportunidade de
fazer Doutorado na Alemanha. Eu tive que
aprender outra língua e lá fui eu para o dou-
torado. Foi lá que eu fui assistente do Her-
bert Marcuse. Eu só podia fazer o doutorado
e voltar ao Brasil, a promessa era essa, mas
na hora de vir embora, me convidaram pra
dar aula em alemão, na Alemanha, e ser as-
sistente do Marcuse, que foi embora pra Ca-
lifórnia e eu fiquei como professor titular...
Cartola dava força, me escrevia toda semana,
no carnaval me mandava fantasia da ala dos
compositores, que eu fazia parte, e eu chora-
va como um desesperado, era um débil men-
tal, pior que ainda sou, qualquer coisa eu
choro. Eu perdi meus pais muito cedo, mas
tive sorte porque, de repente, todos eram
meus pais e todas eram minhas mães, às ve-
zes não sabia como, mas acordava na casa
de um, ficava amigo do outro... Lembro que
quando voltei da Alemanha, já Doutor, e eu
não tinha pra onde ir, e o Nelson Cavaquinho
foi me esperar. Nelson Cavaquinho, o Carto-
la e o Elton Medeiros, que ficou muito meu
amigo... Aí eu disse: ‘Eu não tenho pra onde
ir’, e o Nelson respondeu: ‘Vai lá pra casa’; eu
respondi: ‘Não quero te atrapalhar, Nelson’,;
e ele, ‘O último lugar que eu vou é a minha
casa, você pode ir lá, ficar à vontade’”.
A sua fala no evento “Cultura e Loucura”
causou fortes reações na plateia, o que mos-
tra o quanto as ideias defendidas pelos pales-
trantes, de encontro entre cultura erudita e
popular, eram avançadas para a época. Como
declarou Rogério Duarte, num depoimento
de 1987, relembrando o evento: “Aquilo foi
muito combatido pela esquerda tradicional,
colonizada. Nós não cabíamos nessa gaveta
e fomos rejeitados por isso, por buscar uma
totalidade num momento em que tudo estava
compartimentalizado. O tropicalismo, e sua
força, significa isso. Ele não é um movimento,
mas um momento de um movimento que já
começa muito antes”.
Vamos então para a fala de Nuno Veloso,
que fecha a noite em grande estilo:
“Eu tenho impressão que a gente pode en-
contrar fonte de encontros e desencontros em
qualquer manifestação da vida. Isso não quer
dizer que seja uma novidade, que esteja bus-
cando qualquer coisa de nova, quando se faz
uma nova arte. Acho também que a intenção
do Hélio, quando foi procurar os morros, não
foi criar o Parangolé, eu acho que a vivência
nos morros é que levou ele a fazer essa arte,
que fala muito bem da descoberta do lixo das
favelas. Essa arte dele também é social, ainda
que muita gente não entenda assim. E depois,
eu acredito realmente que haja um certo exa-
gero nele, nesse amor pela Mangueira. Mas
eu acho que, na parte histórica da coisa, de
toda a criação da arte eminentemente po-
pular, no sentido de samba, e de bordados, e
essas coisas todas, começaram com a liber-




14 |
A arte da poesia falada no Brasil ainda é coisa para poucos. Os eventos de poesia se multipli-
cam, poetas recitam seus versos em profusão, mas são raros os que criam uma dicção própria,
capaz de cativar o público e levá-lo a outros lugares expressivos. Se você perguntar a Chacal, um
mestre da poesia falada desde os anos 1970, quando junto com o grupo Nuvem Cigana criou as
Artimanhas, quem é capaz de fazer isso no Brasil de hoje, ele citará certamente Marcelo Mon-
tenegro como um dos exemplos. Marcelo, nascido em São Caetano do Sul, em 1971, é autor dos
livros de poesia Orfanato portátil (2003) e Garagem lírica (2012), e tem circulado por aí com
o incrível espetáculo Tranqueiras líricas, onde funde poesia com rock’n’roll, jazz e blues. Sua
poesia, lírica e coloquial, se encaixa perfeitamente com o espetáculo, conquistando entusiastas
tanto entre leitores assíduos de poesia quanto o público em geral. Como diz o poeta e críti-
co Maurício Arruda Mendonça, “a sensibilidade de Montenegro é a do carinho pelos detalhes,
porque ele busca o gosto de existir na celebração do momento presente, porque deseja captar
fenômenos efêmeros e registrá-los velozmente antes que se desmanchem e sejam velados pelo
esquecimento”. [Sergio Cohn]
Marcelo Montenegro Poesia
foto
: Ser
gio
Co
hn

| 15
Marcelo, você estreou em livro nos anos
1990, mas diz que encontrou sua voz apenas
na década seguinte, com o segundo livro.
Fale um pouco da sua trajetória como poeta
e das suas referências.
Nos anos 90, eu e um amigo, Marcelo Ca-
panema, fazíamos um fanzine, o Ruptura,
que circulou de forma muito bacana, baita
experiência. Inclusive, antes mesmo des-
te meu primeiro livro enjeitado (De soslaio,
1997), eu e o Capanema editamos em parce-
ria umas brincadeiras concretistas – ele me
apresentou aos concretos e, uau, foi um cho-
que (já o De soslaio foi feito sob o choque dos
surrealistas, hehe). Obviamente foi um cami-
nho necessário para eu chegar a tal da minha
voz, mas, numa versão ideal, não deveria ir
parar em livro. O lance é que eu era movido
pelo espírito de fanzine, tinha pressa. Não
tinha lá muita noção de nada. Por exemplo.
Estou lendo uma coletânea de entrevistas do
Allen Ginsberg e ele diz que tudo se trata de
um comprometimento profundo, em todos
os níveis, com a literatura. Essa equalização
dificílima – como diz o Bernardo Pellegrini: “o
amor é mão de obra” – entre o que você é e
o que você faz. Sabe a história juvenil de es-
tar com os amigos, aí chega sua garota e você
faz sinal para os caras não falarem sobre tal
assunto na frente dela? Ou, sei lá, ela não gos-
ta que você fume um negocinho, e você tem
que fumar escondido? Pois eu fazia isso com
a literatura também. O fato é que de lá até a
concepção dos poemas que viraram o Orfa-
nato portátil (2003) eu passei por um proces-
so forte de definições. Uma espécie de refina-
mento. Artístico, mas, sobretudo, da minha
própria vida. Até estudar eu fui. Era formado
em história e nunca tinha estudado literatura
formalmente. Resolvi, como diria o Nei Lis-
boa, levar “uma vidinha sincera” – em suma,
a tal da equalização. Só aí passei a ter clare-
za da limonada que eu queria fazer. A paixão
pela canção, pelo cinema, pela leveza, pelas
pequenas coisas da vida urbana, pelo efême-
ro, tudo que eu mantinha “escondido” da lite-
ratura, incluindo consciência de linguagem,
apareceu. Por isso considero o Orfanato meu
primeiro livro. O segundo, Garagem lírica, é
de 2012. Do ponto de vista das referências,
hoje posso brincar falando sério que minha
poesia é um misto de João Cabral de Melo
Neto e Jerry Seinfeld.
Além da poesia escrita, você tem um trabalho
reconhecido de poesia lida com acompanha-
mento de uma banda de blues e rock’n’roll.
Como é esse espetáculo?
Faço o espetáculo – que se chama Tran-
queiras líricas – desde 2004. Pelo fato de ter
essa influência da música, de trabalhar bas-
tante o ritmo e a escolha de cada palavra,
meus poemas acabam funcionando bem fa-
lados. É muito gostoso fazer e muito legais
os comentários das pessoas depois de assis-
tirem. Reforça o lance do Octavio Paz de que
“compreender um poema é ouvi-lo”. Hoje
está consolidado no formato guitarra, bai-
xo e bateria, mas já fiz com piano, trompe-
te, gaita. Muitas vezes faço só com o Fabio
Brum, grande guitarrista e parceiro – são
dele os arranjos todos. Sempre achei que é
algo que funciona exclusivamente ao vivo,
mas estamos tão entrosados e fazendo há
tanto tempo que o Fabio me convenceu: va-
mos gravar um CD em breve.
Quais são os seus novos projetos? Algum li-
vro de poesia em andamento?
De concreto só a ideia do CD. Livro ainda
deve demorar, mas aquela história. Poesia
você nunca para de escrever e de pensar, a ca-
beça não para, é uma desgraça. Mas tenho or-
ganizado coisas dos meus blogs antigos. Tem
uns textos e poemas ali que gosto bastante.
Talvez dê jogo. A ver.
dois poemas
Poema estatístico
Tem uma esquina prenha de um latido.
Trechos de pássaros que permanecem
nos muros que ficam. E vice-versa.
Um e-mail anotado às pressas no canhoto
do tintureiro.
A cirrose portátil. A síndrome de pânico.
O enroladinho de presunto e queijo.
Tem a Mulher Mais Linda da Cidade.
Groupies de cabelo rosa. Poodles
da solidariedade. Alguém chorando lágrimas
de tubaína. Penélopes Charmosas.
Dick Vigaristas. Um cara que já sai desviando
do cinema del arte, evitando ser atingido
por alguma conversa perdida.
Tem a mulher da video locadora
que não conhece o filme que estou procurando.
Um amigo que diz que escreve
só para colocar epígrafes.
Taxistas infláveis. Manicures em chamas.
Um casal que desce a rua na banguela
prolongando a gasolina daquilo tudo
que um dia fora. Eu ando apaixonado
pela mulher da video locadora.
Lendo revistas na sala de espera
do consultório dentário. Tem uma
que venta. E um que desiste.
De arranhar os vidros do aquário.
Plano
Morder o pássaro do pensamento
sem apaziguar o seu voo.
Caber na canção uma dor
que não cabe no mundo.
Um cachorro mancando na aurora.
A beleza fugiu do assunto.




entrevista por Sergio Cohn
| 19
Guilherme, como foi que começou o seu in-
teresse pela arte?
É preciso entender que no Rio de Janeiro
dos anos 1970, entre o surfe e a areia da praia,
existia uma atividade cultural que não acon-
tece mais hoje. Havia uma disposição para
mostrar as coisas, que eu acompanhava alea-
toriamente. Eu não conhecia os artistas, mas
se você cutucasse encontrava tudo. E todo
mundo fumando maconha. A ditadura era
um ambiente terrível, mas numa situação de
perigo parece que se cria vontade de encon-
tros, de escapar da porra da doença. E nessa
época eu comecei a fazer teatro no colégio,
mas não produzia muita coisa. Eu escrevia
muito mal. Meu primeiro texto foi publicado
quando eu tinha entre sete ou nove anos. Era
um texto que se espera de uma criança, mas
não vem ao caso. Depois que comecei a fu-
mar maconha, parti para o surf, drugs & rock
and roll, e parei de escrever. Só fui retomar a
escrita na minha tese de mestrado, no fim da
década de 1980.
Mas já naquela época você convivia com
muitos artistas na casa da sua mãe.
Convivia com escritores, intelectuais ca-
nônicos, mas de grande qualidade: Rubem
Braga, Antonio Callado, Ferreira Gullar, Paulo
Mendes Campos, Otto Lara Resende, Hélio
Pellegrino, um pouco antes com o Paulo Fran-
cis. Mas era uma coisa diferente. Nós éramos
cinco filhos, minha mãe não tinha tempo de
nos entrosar muito com os artistas. Mas o
pessoal com quem eu fumava maconha com
15 anos também tinha uma excelente educa-
ção, tinha livros em casa, e a gente conversava
sobre literatura. Depois, no meu caso, por ter
ambiguidades sexuais, eu acabava levado à
procura da experimentação, quanto mais era
a oferta. Se fosse ao cinema para ver “Mimi,
o metalúrgico” já era um ato político eferves-
cente, com palmas, porque a ditadura pegava
muito pesado. E tudo era marcado por essa
experimentação. Depois vieram os anos ul-
traliberais da década de 1980.
Que foi quando você partiu para a política e
participou da implantação dos CIEPs com o
Darcy Ribeiro. Como foi essa construção?
Isso foi uma alucinação maravilhosa,
como se estivesse construindo Brasília. Por
sinal foi mais quantidade de cimento movi-
mentada do que no tempo de Brasília. Ima-
gina, 500 prédios. E todo mundo acreditando.
Até hoje, mesmo agradecendo ao Lula, não
chegamos onde sonhávamos em 1980. Era
um deslumbre, eu jovem, andando para todo
lado, vendo tudo que o Darcy trabalhava, com
entusiasmo e aplicação. Prática e delírio. Fo-
ram anos muito felizes. Depois disso nunca
mais consegui um emprego. Um emprego es-
tável, pelo menos.
E nunca seria tão bom quanto...
Não existe mais essa linha de liberdade.
Quando a Jandira Feghalli foi secretária de
cultura da prefeitura do Rio, ela me cha-
mou com aquela conversa de boi dormir,
me convidou para trabalhar junto, mas não
dava para aceitar. Aí vai todo mundo junto,
mas se você der dois gritos, está fora. Tem
que ter bons modos. Mas cultura e política
é emoção, e isso eles não entendem. Imagi-
na com Darcy, ele não tinha bons modos, e
se os maus modos saíssem, estavam dentro
de um contexto. Mas é claro que ele não fa-
lava besteira. Ele podia estar errado, mas o
errado dele era certo, porque era como eu
brincava com ele: os gênios têm razão, eles
não têm que ser sábios, mas sim ter humo-
res. O gênio tem muitos defeitos. Se você
tem um mestre, e acha ele um gênio, você vai
respeitá-lo, como os orientais. Nada de ficar
questionando. Quando conheci o Darcy em
1977, eu tinha 19 anos, ele 55. Então foi um
susto. Aí li tudo que ele escreveu. E para ele
eu era de direita, o que era meio complicado.
Dentro de uma tradição leninista, qualquer
reformista é de direita. Mas nosso convívio
foi tão bom que eu fui indicado por ele para
candidato a deputado. Ele dizia: “Guilherme
foi conquistado da direita pelo Brizola”. E eu
respondia: “Tá bom, Darcy”...
Você acha que os CIEPs acabaram por moti-
vo político ou por ter sido um projeto muito
ambicioso, um salto muito grande?
Motivos políticos. O projeto era exequível.
O Darcy queria era dobrar de tamanho. Mas
o Darcy, como disse, era gênio. Ele fez uma
lista junto com o José Mário Pereira, essa lista
está no Senado hoje, dos mil livros mais im-
portantes, e mandou comprar. Eram livros
para as crianças e para as professoras. Nun-
ca se comprou tanto livro por um governo
de estado. Eu dizia a ele: “Darcy, os meninos
não estão lendo!”. Ele respondia: “Buuurro,
burro, burro! Você não entende que se sair
um intelectual de cada CIEP os livros já estão
muito mais do que pagos?” Quer dizer, o ní-
vel de pensamento dele era muito alto. E eu
ria. Eu era muito jovem, ria e dizia: “Está cer-
to, vamos lá!” E algumas pessoas liam, sim.
guilherMe zarvoS

20 |
O MV Bill conta que leu ao menos alguns, no
CIEP da Cidade de Deus, onde ninguém que-
ria ir dar aula. Ele ia lá ensaiar com a banda
dele, não sei se com gato de eletricidade ou
se deixavam, no salão previsto para receber
casamento, onde a juventude depois de fa-
zer esportes de dia ia dançar à noite. O Darcy
pensava o tempo todo em criar ambientes – o
CIEP seria um ambiente integrado, para toda
a comunidade. O que vem já do Anísio Tei-
xeira, voltamos ao modernismo. Mas a classe
dominante é de um egoísmo, uma raiva con-
tra a garotada desprovida, e não deixou esse
projeto se consolidar.
Depois do trabalho com o Darcy nos CIEPs,
você realizou as Terças Poéticas. Como foi
essa história?
Isso foi na prefeitura do Marcelo Alencar,
no começo dos anos 1990. Eu já o conhecia de
antes, quando namorou minha mãe, na épo-
ca que foi senador após a cassação do Mário
Martins. Depois, o Marcelo também foi cassa-
do. Ele era legal, mas com o poder foi mudan-
do muito. Mas ele foi indicado pelo Brizola,
e o Gerardo de Melo Mourão, que trabalhava
com ele na parte de cultura, era uma indica-
ção e um grande amigo do Darcy. Quando fui
conversar com o Darcy sobre um projeto que
eu queria fazer de literatura, ele foi bastante
duro, e disse que se quisesse ficar com ele,
que eu continuasse na área da educação. Ele
já estava ficando irritado com as minhas ten-
dências sexuais. Mas se quisesse partir para
a literatura, podia ir conversar com o Gerar-
do, que ia gostar do projeto. Mas também fez
um porém: “Não me traga os chatos dos poe-
tas para falarem da própria obra, traga para
falarem da obra de outros!” Aí eu procurei o
Gerardo e ele abraçou o projeto. Então cha-
mei as pessoas que achava legais, pesquisei.
Falei com o Aloísio, que era maravilhoso e
infelizmente já faleceu, mas na época tinha a
Livraria Timbre e morava lá no Baixo Gávea,
onde ficava bebericando o dia todo, e ele me
ajudou a formatar o evento. Pensamos vários
dias de projeto. As Terças Poéticas sempre ti-
nham uma estrutura de duas pessoas conver-
sando sobre poesia, e depois uma garotada
recitando.
Quem participou das Terças Poéticas?
Muita gente. O próprio Gerardo. O João
Cabral de Melo Neto, falando sobre si mes-
mo. Porque houve uma situação muito incô-
moda. Minha mãe estava casada com Rodol-
fo Sousa Dantas, que tinha sido casado com
a filha do Vinicius e era diplomata, então
bebericou muito com o Vinicius e, por ser di-
plomata, ficou amigo do João Cabral. Então
minha mãe disse que eu não podia de ma-
neira nenhuma chamar o João Cabral, que ia
ficar irritadíssimo. Então chamei o Antonio
Carlos Secchin para falar dele. E aí convidei
a maravilhosa, mas não tão grande poeta,
Marly de Oliveira, que estava casada com o
João Cabral, para falar. Mas não é que no dia
entra João Cabral pela porta? E ele falou so-
bre poesia. No último dia, consegui levar a
Heloísa Buarque de Hollanda e ela fez as pa-
zes com o Chacal. Eles falaram sobre a época
definida como poesia marginal. Nesse dia fe-
liz foi o Boato que participou, junto com ou-
tros poetas que até hoje a gente convive. E aí
o Chacal viu aquilo tudo e queria continuar.
Mas eu não. A responsabilidade de chamar
gente importante para falar durante a tarde
era muita. Não quis. Aí o Chacal falou de fa-
zermos de noite. Fui conversar com o Tertu-
lião dos Passos, que estava comandando a
RioArte. Foi nesse momento em que o Carlos
Emílio Corrêa Lima entrou em cena. Ele es-
tava trabalhando como editor do Letras&Ar-
tes da RioArte, que ele fez se tornar um jornal
amalucado e vanguardista, que ganhou até o
prêmio APCA em São Paulo. E gostou muito
do que viu nas Terças Poéticas, então ajudou
no contato com o Tertulião. Depois, o Carlos
Emílio espalhou que fundou o CEP 20.000,
mas na verdade ele só ajudou nessa relação
com a RioArte. E o Tertulião era muito liga-
do ao Marcelo e muito amigo da minha mãe.
A participação do Carlos Emílio foi impor-
tante, mas não tanto. Então, ficou assim: o
Chacal estava precisando de dinheiro. Já eu,
mais uma vez de graça, queria criar ambien-
te, porque na Alemanha eu tinha decidido
que seria basicamente homossexual, então
lá vivi com os punks, no meio de ambientes
maravilhosos, nem sempre com poesia, mas
com muita música.
Você estava em Berlim quando caiu o Muro?
o Darcy pensava o tempo todo em criar ambientes o cieP seria um ambiente integrado, para toda a comunidade. o que vem já do anísio teixeira, voltamos ao modernismo. mas a classe dominante é de um egoísmo, uma raiva contra a garotada desprovida, e não deixou esse projeto se consolidar.

| 21
Não, foi antes. O Brizola seria candidato
naquele ano, e voltei em final de setembro
para fazer a campanha. No final de dezem-
bro o Muro caiu. Em Berlim todo mundo se
encontrava, os Verdes, os punks, era uma ci-
dade muito livre. Qualquer um que com 17
anos não quisesse servir o exército ia para lá
e ainda recebia um dinheiro para ficar mo-
rando. Todo mundo traumatizado porque o
papai não falava da Segunda Guerra, e como
não queria nem exército, nem serviço social,
aquilo virou o que chamei no meu livro de
“essa ilha chamada Berlim”. Era minha se-
gunda grande viagem para o exterior. Um
pouco antes, tinha voltado para o Brasil, para
acabar o mestrado, e decidi me mandar nova-
mente. Já havia tido várias experiências, ido
para Índia, e resolvi escolher um lugar barato
para fazer o doutorado. Mas em Berlim não
tinha doutorado em inglês. Fiquei seis meses
sem conseguir nada, a Universidade Livre de
Berlim estava em greve e eu não conseguia
aprender alemão, e decidi voltar para fazer
a campanha do Brizola. Quando o Brizola
perdeu a eleição, percebi que na política real
não ia dar mesmo. Sendo homossexual, não
tinha jeito. Só se mentir. Mas vi que uma coi-
sa que me agradava, ainda mais na verdade,
tanto que continuo fazendo até hoje, é a jun-
ção de política e cultura, essa movimentação
pela cidade, a circulação por esses ambien-
tes. Na Alemanha o Partido Verde, que era
mais progressista, desejava proibir carros de
circularem por boa parte de Berlim. Eu era
estrangeiro, pegava carona, parava os carros,
mesmo à noite. Eles me davam carona para
todo lugar. Então eu vi uma cidade grande
funcionar com liberdade. Depois eu voltei lá
e não é mais a mesma coisa, mas na época
vi uma cidade mais libertária, até porque ela
queria contrastar com a Alemanha do outro
lado do Muro. Mesmo essa não era aquela
desgraça toda que dizem. Muita gente tem
saudade, especialmente os mais velhos. Mas
era outra opção, muito desagradável, igual
ao tempo da ditadura no Brasil.
Voltando para a criação do CEP 20.000, você
e o Tertuliano é que conseguiram o Sérgio
Porto para abrigar o evento?
O Teatro Sérgio Porto era considerado o
patinho feio dos espaços culturais no Rio. Ele
foi conseguido pelo Tunga, nos anos 1980, que
propôs fazer algo como um espaço fantástico
de arte contemporânea. Então, ele e o Waltér-
cio Caldas fizeram uma exposição maravilho-
sa. E Darcy, junto com o Gerardo, que é pai
do Tunga, conseguiu com o Marcelo Alencar a
cessão do espaço que guardava a papelada da
Secretaria Municipal de Educação, lá no Hu-
maitá. Eu fui ao lançamento da exposição. Fui
também à geração 1980 no Parque Lage. Mas
o evento do Sérgio Porto foi lindo. E, quando
precisávamos pensar um espaço para substi-
tuir as Terças Poéticas, eu me lembrei de lá.
O Sérgio Porto era realmente visto como o
patinho feio, com barulhos de chuva no teto
de zinco, sem nenhuma estrutura. Era con-
siderado uma caveira de bode. Mas o Chacal
adorou o espaço e começamos a trabalhar. Eu
saí distribuindo papel para a garotada toda...
Para divulgar o evento.
Sim. Quando começamos, já existiam à
nossa volta todas as pessoas que tinham par-
ticipado das Terças Poéticas. Já eram umas
cinquenta pessoas, provavelmente. E o Baixo
Gávea estava crescendo como ponto de en-
contro. Em 1987 já estava começando, quando
saí do país. Quando voltei, em 1989, já estava
fervendo. Em 1990, quando a gente começou
o CEP 20.000, aquele ambiente já estava for-
mado. Era 24 horas. Os nem-nems, os jovens
que nem trabalhavam nem estudavam, pas-
savam todo tempo lá. Você acha que o Plano
Collor atingiu a turma do Baixo Gávea? Não!!!
Ninguém tinha poupança. Era um ambiente
muito próximo do que eu sentia em Berlim. Eu
já tinha visto isso antes da Alemanha. Em 1978,
eu vi um pouco do movimento punk na Ingla-
terra. Mas aí era mais careta. E tinha visto um
lugar em Amsterdam, que hoje é mais forma-
lizado, mas fui saber que havia sido criado pe-
los Provos em 1966, aquela turma que criou as
bicicletas brancas. Já era uma resistência, uma
criação de ambiente Provos. E era isso que me
animava. E começamos a fazer o evento, que
chamamos de Centro de Experimentação Poé-
tica. E, brincando com o número do CEP do
Rio de Janeiro, incluímos o 20.000.
No momento em que vocês criam o CEP, o
Brasil está vivendo um período de escassez
Quando o Brizola perdeu a eleição, eu percebi que na política real não ia dar mesmo. sendo homossexual, não tinha jeito. só se mentir. mas vi que uma coisa que me agradava, ainda mais na verdade, tanto que continuo fazendo até hoje, é a junção de política e cultura, essa movimentação pela cidade, a circulação por esses ambientes.

22 |
na cultura. Não havia eventos, nem mesmo
livros de poesia nas estantes. Não tem qua-
se ninguém publicando. Agora, vivemos o
oposto, muito por consequência do CEP: te-
mos dezenas de saraus de poesia no Rio de
Janeiro, o Brasil publica 2 mil títulos novos
de poesia por ano. Mas, em 1990, qual era a
importância do CEP, da criação de um espa-
ço livre de expressão para a juventude que
queria fazer poesia?
Foi muito importante, mesmo sabendo
que no começou o CEP abrangia apenas da
Zona Sul até Santa Teresa. Mas foi conquis-
tando espaço com o tempo, porque quan-
tos eventos vieram depois influenciados
pelo CEP? Dezenas! De gente que ia ao CEP
e aprendia a fazer. Em São Gonçalo, em Ni-
terói. Depois, na comemoração dos dez anos
do CEP, teve o CD encartado na Revista Trip,
que repercutiu bastante. Mas a gente não
teve um maior reconhecimento por causa
das liberdades excessivas de comportamen-
to. O que é uma caretice completa do meio
cultural brasileiro. Pelo CEP ser totalmente
livre, foi difícil de se manter politicamente.
Mesmo no começo. Quando o Tertuliano
chegou no primeiro dia, ele se assustou. Mas
ele tinha vontades políticas. Era presidente
da RioArte, e queria ser vereador. E ele che-
gou para mim e disse: “Não pode ter maco-
nha!” E eu disse: “Olha, isso eu não garanto.
Quer ir lá na frente falar?” E ele deixou pas-
sar, porque sabia que não tinha como con-
trolar. Eu já tinha falado com o Darcy sobre
isso, que era preciso dar essa liberdade. O
Darcy entendia. Quando rolou o festival de
Águas Claras, em São Paulo, em 1983, eu fui
lá e adorei, e então propus para o Darcy que
a gente fizesse algo parecido no Rio. A gente
pensou em fazer um Festival da Juventude,
e chamou o Medina para conversar. Mas daí
o desgramado do Medina fez o Rock’n’Rio.
Águas Claras foi a coisa mais livre que eu ti-
nha visto da vida. Foi uma loucura...
Quais eram as bandas?
Eram grandes. O festival era grande, numa
fazenda. Chovia três dias, e era assim: se não
agradou, laaaama! Laaama! Aí vinha a Wan-
derleia, e queriam jogar na lama. E pediam
calma, porque vinha o João Gilberto, o Fagner.
Egberto Gismonti. Raul Seixas estava muito
doente. Erasmão conseguiu segurar gente. Eu
já tinha tomado ácido, estava com dez ami-
gos, quinze, estava com a minha namorada.
Você uma vez me falou que no Brasil logo
após a ditadura havia mais liberdade do que
no Brasil anos 2000.
1979, 1980? Muito mais. Nós tivemos o
Rock Brasil, as pessoas ainda acreditavam que
o Brasil seria um país, não desenvolvido nes-
se termo que estão falando no governo atual,
mas no sentido utópico. No caso do Darcy era
socialismo moreno, mas em outros casos, não
sei, vivia-se a ideia de uma realização asso-
ciada, outros iam pensar na forma tradiconal
Moderna. Mas todos pensavam em algo um
pouco utópico. Ainda havia um sentimento
que acabou com o neoliberalismo, com a glo-
balização, que nunca que um bárbaro que vá
invadir um império pode achar que o império
exista. A gente chamava de alguma coisa, de
“do mal”, de “desgraçados”, ou de “vamos en-
trar no poder para transformar o poder”, mas
havia um desejo ali de mudança. Essa acei-
tação com naturalidade só surgiu nos anos
1990. A naturalidade de sonhar pouco. Isso foi
se radicalizando até 2001, com o ataque das
Torres Gêmeas. Aí que eu já estava desespe-
rado. Foi quando eu conheci você e lançamos
o Morrer. Eu achava que nada valia a pena
nesse mundo. Sei lá de quê que eu estava tão
puto. Mas em 2002 o Lula vence a eleição e
reaparece alguma esperança.
E você faz o Zombar...Aí já estava zombando demais. Zombei
tanto que o santo me fez pegar AIDS. Toda vez
que eu faço demais, acontece alguma coisa.
O que é um pouco a situação grega do ficar
cego. Ou eu quebro a perna, ou pego uma
doença, ou arrebento as costas. Isso é do san-
to. Eu não quero ser um herói trágico. Eu me
defino como um borderliner, um fronteiriço.
Não é que eu queira. É onde eu pude ficar. Eu
gostaria de morar numa fazenda, ter meus fi-
lhos, minha mulher. Não sei em que nível de
libertário eu estaria se isso ocorresse, ou se
estaria no poder mais establishment. Mas a
minha natureza, a minha transformação que
passou pela homossexualidade, que até hoje
passa, me fez ir para onde eu me encaixava,
que foi para a arte de escrever. Apesar de ser
eu me defino como um borderliner, um fronteiriço. Não é que eu queira. É onde eu pude ficar. eu gostaria de morar numa fazenda, ter meus filhos, minha mulher. mas a minha natureza, a minha transformação que passou pela homossexualidade, me fez ir para onde eu me encaixava, que foi para a arte de escrever.

| 23
uma poesia sempre distanciada de um forma-
lismo. No início eu queria escrever romance,
mas havia uma pressão interna no CEP pela
plataforma poética como uma forma maior, e
acabou que fui me deixando entrar na poesia.
Lendo, pensando a poesia como expressão
principal. Depois, já nos anos 2000, veio o
pessoal das artes plásticas. Mas na verdade é
tudo a mesma coisa. Como o Marcos Faustini,
que falou na entrevista que fizemos com ele
que queria ser um vagabundo. Isso eu sempre
soube também. Podia ser dentro do capitalis-
mo, ou fora, eu sempre quis o igualitário e o
vagabundo. Se eu tivesse uma fazenda, a pro-
priedade podia ser até que eu gerisse melhor
que os empregados, mas a diferença salarial
teria que ser pequena.
Você disse que o Darcy o considerava de di-
reita. Você é contra a propriedade?
Não, acho que as pessoas podem ter pro-
priedade. Mas as relações humanas, muita
gente detesta ser empreendedor, prefere um
emprego, não se pode obrigar a todos a serem
empreendedores.
E a história da sua mãe? Ela passou por tudo.
Pelo menos até 1974 sim. Entre 1959 e
1974. Ela se separou do meu pai em 1959, ti-
nha 28 ou 29 anos. Eu tinha dois anos, só fui
ver meu pai com oito. Ele era um ser humano
que escrevia e mandava presentes exóticos
no mundo inteiro, mas eu não sabia quem era
de verdade. Sempre tinha aquela empregada
má em casa. Minha mãe não era de classe
alta, e era desabutinada, então tinha aquela
empregada que batia, que me apertava e ain-
da ficava dizendo: “ah, seu pai não é vivo!!!”
Mas como chegavam os presentes, eu criava
uma ideia de que esse pai era longínquo, e a
mamãe era a super-heroína porque sempre
convivendo com pessoas legais e persegui-
das pela ditadura. Ela não pôde mais escrever
com o nome dela durante a ditadura, assinar
os textos, teve que ir inventando nome. Era
jornalista, começou assinando Thereza Cesá-
rio Alvim, depois criou pseudônimo.
A história de vida dela é forte. Ela nem ter-
minou o segundo grau, já frequentava a PUC,
que estava começando, com Raquel Jardim,
Álvaro Americano e sua turma. E daí é uma
história longa, porque a família da minha
mãe tinha apartamento em Paris e ela passa-
va temporadas lá. E acabou se casando com
meu pai, que era fazendeiro, mas vendeu uma
ideia totalmente errada. Em Paris ele gastava
que nem um louco, e vendeu a ideia para ela
de que estava bem de vida, mas já estava per-
dendo muito dinheiro. Ela achando que ele
era boa vida, uma fazenda do nível da famí-
lia Prado, e não. Era uma fazenda com uma
dureza boa, mas uma solidão terrível. Aí ela
exigiu que o papai mudasse para São Paulo.
Isso dificultou. Ele era um jovem, casou com
26 anos, essa movimentação foi penosa, por-
que ela exigia um nível de vida muito alto. Já
que casou com um grego que era rico, exigia
um nível de vida condizente. Sei que deu tudo
errado, e ela aproveitou que ele teve que ir
embora do Brasil, por vários motivos, e falou:
“não, vou voltar para o Rio”. E a família dele
falou: “Se ficarem em São Paulo vão ter tudo
o que quiserem, no Rio terão o mínimo”. Mui-
to bem, ela aceitou o mínimo. E começou a
trabalhar. Logo, poucos meses depois, ela faz
uma tradução do Sartre. Aí já foi chamada
pelo pessoal de teatro. Era uma jovem bem de
vida, bem posicionada, de uma família com
um lado moderno. Era tia da Miúcha, que ti-
nha quase a mesma idade. E foi entrando no
grupo de teatro, começou a namorar o Paulo
Francis, que botou ela para escrever na revista
Senhor. Depois ele não quis mais fazer crítica
de teatro na Última Hora, e chamou ela. Ela
não quis, porque achava que conhecia pouco
de teatro, mas o Samuel Wainer foi educadís-
simo num sentido progressista e falou: mas
nós queremos uma opinião assim, de uma
pessoa que tem bom gosto, você fica substi-
tuindo o Paulo Francis, mas não precisa saber
de teatro. E depois ela entrou para a parte de
política. E daí teve o golpe, e ela começou a
escrever contra a ditadura.
Em 1973, ela fez a Folha de Eva, o pri-
meiro jornal feminista. Ela vinha bebendo
menos, sempre bastante, mas nem tanto
quanto antes. Ela sempre bebia muito. Mas
sempre tinha projetos. Antes, ela tentou
fazer um jornal com Sebastião Nery, Jorge
Miranda Jordão, que ela namorou depois
do Paulo Francis, gente de resistência. O
Juscelino não quis bancar o jornal, que se
chamaria Urgente. Isso ainda na frente am-
pla, 1966. Ou já depois de 1968, e por isso
que não quis bancar. O Folha de Eva era de
No início eu queria escrever romance, mas havia uma pressão interna no ceP pela plataforma poética como uma forma maior, e acabou que fui me deixando entrar na poesia. lendo, pensando a poesia como expressão principal. Depois, já nos anos 2000, veio o pessoal das artes plásticas. mas na verdade é tudo a mesma coisa.

24 |
uma modernidade incrível. O desenho era
da Marta Alencar, mulher do Hugo Carvana.
Só que o pessoal do Pasquim, que era mais
inteligente em termos de marketing, falou:
“Nós temos que criar uma briga, senão o
jornal não vai aguentar”. Eram amigos dela.
Ela ficou ofendida com a ideia de uma bri-
ga falsa entre o Pasquim, que tinha fama de
machista, e o Folha de Eva, para consolidar
um jornal feminista. Achava que existia es-
paço para a mulher. Fizeram achando que o
jornal ia vender... Acho que isso contribuiu
muito para ela... Foi o último ato de rebeldia.
Depois ela até fez outras, mas já estava um
pouco enlouquecida, não de loucuras, mas
sem forma.
E seu pai?
Quando eu o conheci, comecei a admirá-
-lo, a achar ele um máximo. Mas ele admirava
a ditadura, e não dava para admirar a ditadu-
ra. Mas eu podia admirar o Brasil grande que
a ditadura propunha. Ele acusava a esquerda
de festiva! Eu via a resistência, levava a sério,
sabia que as pessoas eram importantes. Mas
hoje, depois de ler a Odisseia, eu era uma es-
pécie de Telêmaco entre os dois. E acredita-
va mesmo num Brasil grande, mas grande e
libertário. E fui fazer economia. Aos 18 anos
não, era um deslumbre, porque, ah, ele tinha
uma fazenda imensa e eu fui tentando me
aproximar e não conseguia. Era sempre con-
fuso, louco, louco, louco. E fui me afastando,
como toda a família. Porque ele não convivia,
era difícil. Ele, desconfiando que eu era gay,
já queria me deserdar. E me considerava um
vagabundo. Agora, eu não ia para empresa
privada para receber pouco, e não cabia na
política. Onde podia ficar? Ou na universida-
de ou na arte de rua. E a arte de rua foi o que
primeiro me pegou.
Esses temas todos permeiam a sua escrita,
embora você diga que ela não é autobiográ-
fica.
Não é totalmente autobiográfica. Eu não
vou ficar choramingando. No caso, o Morrer
foi o livro mais autobiográfico que eu fiz. No
livro mais recente tem algumas coisas, mas
minha vida mesmo é muito mais barra pe-
sada do que meus escritos, e eu não vou es-
crever essa barra pesada toda. Nunca escrevi.
Escrevi talvez um pouquinho do segundo li-
vro, Paulinho, um negócio intenso de garo-
to, mas já era distanciado. Eu, infelizmente,
por não achar um espaço sentimental que
me agrade, ando muito com gente que tam-
bém está na beira. Isso desde sempre. Eu não
acho que isso seja motivo, nem isso que estou
contando sobre a minha família. Claro que
eu não deixo de ser confessional. Mas tenho
que mentir, senão não traz literatura. Tem que
ter as máscaras. O Silviano já falava no início
do CEP: “Se você trouxer os seus sentimen-
tos reais sem a estética, sem a mentira, você
está fazendo carta para a namorada, ou carta
para a posteridade, institucional para quando
morrer?” Eu acho que o escritor tem que ser
feito de mentira. Ou, o caso da Beat Genera-
tion. Mas a gente nem chegou a isso no Brasil,
escrever a realidade, Bukowski. A genialidade
do Allen Ginsberg. Mas não acho que a lite-
ratura passe por aí não. O texto tem a marca
da sua vida. Mas se está marcando demais, sai
dela. Inventa! Vive mais feliz na literatura do
que está sendo na realidade. Em vez de trazer
mais choro, traz mais alegria. Vai bater sem-
pre um pouco no Morrer, meio fora da curva.
Mas foi você e o Ericson Pires que disseram:
“Guilherme, isso é um livro”. Eu estava achan-
do muito autobiográfico, geralmente eu fujo.
Mas faço o caminho, principalmente nessa
época, sem a linguagem do eu. Porque nos
anos 1970 minha mãe falava: “quem escreve
‘eu’ não sabe escrever”. Mesmo tendo alguns
caras bons, inclusive eu tenho impressão que,
por exemplo, o Menino de engenho é uma boa
escrita que está mentindo. Agora, Insônia,
que é do maravilhoso Graça, eu tenho a im-
pressão que é na primeira pessoa. Mas como
jornalista dos anos 1970, não só ela, muitas
pessoas falavam que é muito mais fácil escre-
ver com o eu, e quem escrevia com o eu escre-
via com menos força. Por isso que quando eu
não aguentei mais ali, que foi o Morrer, antes
é lírico, tem um eu. Ele bate na potência, mas
a potência da escrita vem do estômago, quan-
do já foi digerida muita coisa, não é dos poros.
Fumaça de rua, falta de toque, não. Tem que
ser outras pessoas, mas pouca gente escreveu
na primeira pessoa bem.
eu, infelizmente, por não achar um espaço sentimental que me agrade, ando muito com gente que também está na beira. isso desde sempre. eu não acho que isso seja motivo, nem isso que estou contando sobre a minha família. claro que eu não deixo de ser confessional. mas tenho que mentir, senão não traz literatura. tem que ter as máscaras.

| 25
Tem uma pesquisa difundida agora que 90%
dos protagonistas da literatura brasileira
atual são brancos, de classe média, jornalis-
tas e tal. É a elite, da qual a princípio fazemos
parte. E ao mesmo tempo, eu não me sinto
representado pela literatura brasileira con-
temporânea...
Elite sim, mas vamos falar dos humanis-
tas. Elite do saber pelo menos. Aqui eu volto
à questão que Ericson Pires colocava. Você é
neguinho? Você é amigo de quem? Quer dizer,
há uma literatura onde ainda são os humanis-
tas falando em nome de classes de emergên-
cia, mas já tem os intelectuais vindo da clas-
se de emergência se expressando. Você, eu e
mais várias pessoas vivemos coisas que não
estão aí. Não somos da classe dominante, não
somos paupérrimos. Nosso termo é a liberda-
de, é a libertação. Acho que a literatura só vai
ser boa quando misturar. Mas tem que ter es-
critores que não têm dinheiro, mas podem es-
crever. Não precisa escolher porque mora na
favela. Quando der dinheiro cultural aleatório
aí vai aparecer. Outro dia ouvi, acho que foi o
Claufe Rodrigues na TV, que disse que o ato
de ler um livro em papel tornou-se um pouco
subversivo. A leitura e o pensamento.
Falando em pensamento, antes de você sair
do CEP, você tinha a proposta de uma plata-
forma dentro do projeto voltada para a re-
flexão, o CEPensamento. Você sempre teve
essa preocupação com a ausência de espa-
ços de reflexão no Rio de Janeiro. Como está
vendo isso?
A gente conseguiu sair do nada e criar o
jornal Atual – o último jornal da Terra segun-
da dentição. O que seria impossível antes das
manifestações de junho. Como seria impossí-
vel o Congresso aprovar 75% para a Educação,
25% para a Saúde se não fosse essa movimen-
tação. Ela ganhou um tipo de alegria, de uto-
pia, mesmo que a gente não saiba se vai dar
tudo errado. Aí é o que estou chamando de
“me dê motivo”, não importa mais se vai dar
certo ou não. Se a tendência do mundo é vi-
vermos cada vez mais em cidades, é claro que,
sim, uma cidade que nem Berlim, que nem
Paris, não vai haver dinheiro para tudo isso.
Então, eu vejo infelizmente uma sociedade
de consumo, onde os subversivos devem ser
apenas 2% da população. Você falava em 5
mil leitores no Brasil. Eu sempre achei esse
número pouco, agora sabemos que é muito
mais – com as manifestações de dezenas de
milhares de pessoas, que devem estar dispos-
tas a ler coisas interessantes. É preciso criar
um jeito de produzir e distribuir livro para
essas pessoas. Tem que ter projeto. Se quiser
fazer sozinho, faça. Mas tem que ter projeto
de estado também. Não essa pão-durice, que
parece raiva dos editores livres, dos escritores
livres. Não tem mais análise literária, a gente
tem que resistir.
Eu pessoalmente estou com 57 anos, não
vou ficar pensando em como o mundo vai ser
daqui a 50 anos. Não tenho a menor ideia, e
nem tenho o compromisso político que eu ti-
nha aos 30, aos 20, aos 7 anos de idade com
um país que ia dar certo. O Darcy inventou
esse bordão. Não. Agora é estar junto com
um grupo legal que esteja pensando. Parar
também de chamar essa juventude narcisista
para as coisas e escrever os meus livros, tentar
conseguir uma escola que me deixe dar aula.
Eu não quero dar aula o dia inteiro, vira uma
confusão. Sou doutor, mas não há lugar para
alguém como eu dar aula. Passar da universi-
dade com escrita criativa? Tudo tem que ser
formal, entrar no sistema. Se é federal não
adianta fazer isso. Se é particular vão dizer
que você está atrapalhando, a burrice impe-
ra. A gente tem que resistir e agir. Quem sabe
o mundo no futuro não possa ser melhor?
Quem sabe?

26 |

| 27
Vendo o show do Bixiga 70 no Circo Voador, é impossível não se lembrar da definição de
arte por Mário Pedrosa: “alegria de criar, alegria de viver”. Acima de tudo, o que fica evidente no
palco é o prazer dos músicos de estarem juntos tocando, dançando, celebrando.
Cada arranjo, cada improviso é fruto desse encontro prazeroso de dez músicos da nova
cena paulista, ocorrido três anos atrás. Em conversa no camarim, pouco antes do show, os
músicos contaram e refletiram sobre a trajetória da banda. Mantendo o tom do Bixiga 70, as
aspas são coletivas. “Todos nós já nos conhecíamos antes de tocar no Bixiga 70, bastante em
função do Estúdio Traquitana, que virou um polo aglutinador da cena musical que despontou
em São Paulo nos últimos anos. O estúdio fica no bairro do Bexiga, na rua 13 de Maio, 70, e
existe desde 2009, dirigido por Cris Scabello e o Décio 7. A gente produziu lá discos do Leo
Cavalcanti, Pipo Pegoraro e mais recentemente o disco da Alzira E. O estúdio também sempre
foi um espaço de ensaios e encontros de vários trabalhos paralelos. Já passaram pelo Traqui-
tana Anelis Assunção, Curumim, Karina Buhr, Ganja Man, músicos que fazem parte dessa
mesma cena que a gente faz parte”.
Segundo eles, todos esses músicos trazem em comum uma liberdade criativa que os apro-
ximam da Lira Paulistana, surgida trinta anos antes: “A nossa cena é marcada pela liberdade
de trabalhar com a música sem se preocupar com o que o mercado está ditando. É o lado
positivo de não existir mais a possibilidade de atingir grandes sucessos de público. A gente
pode se permitir experiências mais ousadas de composições e arranjos. Não temos uma preo-
cupação em agradar o público geral. Nesse sentido, acho que nos aproximamos da turma da
Lira. E assim como eles fazemos um trabalho colaborativo. Todo mundo toca junto, compõe,
convive. Não há competição”.
Foi em 2010 que a banda realmente começou a se reunir. “O Décio 7, que é o baterista da
trupe, foi quem começou a juntar a turma. Ele saiu catando os músicos, que tinham em comum
a ligação com a música africana, o jazz, o soul, reggae, o dub, com a ideia de uma big band instru-
mental. O Décio 7, junto com o Rômulo Nardes, que toca percussão, já haviam até acompanhado
a Fanta Konate, que é uma importante música de malinké, o ritmo do Guiné. Então nós já come-
çamos pensando bastante em arranjos que valorizassem a riqueza rítmica. E logo nos primeiros
ensaios, quando estávamos montando o repertório, fomos convidados para tocar na Festa Fela,
que rola todo ano para celebrar o aniversário do Fela Kuti, que é no dia 15 de outubro. Então a
gente correu para montar um repertório para apresentar na festa, e chamou o grupo de Bixiga 70,
em homenagem ao Africa 70, o grupo que acompanhava o Fela. E a partir desse momento a gente
nunca mais parou”.
Com dois discos já lançados, Bixiga 70 já mostrou que vai muito além da retomada do Afro-
beat. Os arranjos sofisticados e as referências sonoras abrangem uma pesquisa muito mais pro-
funda de estilos musicais, especialmente no segundo disco, onde a música brasileira ganhou
maior espaço. “Tem a presença de Tincoãs, de quem regravamos ‘Deixa a gira girá’ e Moacir
deixa a gira girá Bixiga 70
fotos: Nicole Heiniger

28 |
Santos, por exemplo. Mas a principal diferença do segundo disco é a
tentativa de captar o estilo de som que fazemos ao vivo, com mais pega-
da, com mais punch. Isso foi resultado da experiência que tivemos de-
pois do disco de estreia. Foram mais de cem shows entre os dois discos”.
Circulando em shows pelo Brasil e Europa, a banda tem consegui-
do encontrar seu público. O que não é tarefa fácil: “Com a parada de ter
dispersado os fomentadores, com o fim das gravadoras, todo mundo
se apropriou do seu próprio trabalho. Então é uma cena imensa de
pessoas produzindo sem ter que passar pelo crivo de uma força supe-
rior, que não existe mais. O que é muito bom, porque permite que mui-
ta coisa interessante surja. Mas depois fica todo mundo batendo cabeça
para encontrar o rumo do seu produto, porque não existe mais os canais
tradicionais de distribuição. Se você faz certo tipo de som, tem que con-
seguir que ele chegue ao público que você acredita que é interessado
nesse tipo de música. Esse é o ponto. Se conseguir isso, terá maior visi-
bilidade, pode conseguir respirar, ter um público pequeno mas fiel. Mas
é uma cena gigantesca, e que não conta com nenhum meio divulgador”.
As questões cotidianas se multiplicaram no gerenciamento de uma
banda após o fim das gravadoras. Agora, os músicos precisam cum-
prir diversas funções, de produção à assessoria de imprensa, que antes
possuíam profissionais especializados nas grandes empresas. De saber
prensar e distribuir o seu próprio disco a se relacionar com a mídia, o Bi-
xiga 70 aprendeu a lidar internamente com essas demandas: “Na divisão
da tarefa, ajuda bastante sermos dez. Tem cara que cuida do agenda-
mento do show, outro que cuida do mapa do palco, outro da comunica-
ção e redes sociais, envio de discos, manutenção de sites. Em torno de
uma banda existem mil funções, e é importante saber dividir e adminis-
trar essas demandas. Mas não somos só nós. O Bixiga 70 conta com pro-
fissionais além dos músicos, como a Verdura Produções, que é a nossa
produção executiva, e a Pessoa Produtora, que cuida da venda de shows.
Mas nós somos cara de pau, todos temos mais de uma década de estra-
da na música, e aprendemos a lidar com as tarefas, por necessidade”.
A relação com a mídia e o público é pensada internamente pela
banda: “A nossa principal maneira de trabalhar é tentar antigir dire-
a principal diferença do segundo disco é a tentativa de captar o estilo de som que fazemos ao vivo, com mais pegada, com mais punch. isso foi resultado da experiência que tivemos depois do disco de estreia. Foram mais de cem shows entre os dois discos.
tamente nosso público, com as redes sociais
e com as nossas relações pessoais. A gente
eliminou vários intermediários com isso. O
gerenciamento do Bixiga 70 é feito por nós
mesmos, e sem ser necessariamente voltado
para os grandes meios de comunicação. A
gente está muito mais interessado nessa re-
lação direta com o público do que depender
dos grandes meios de comunicação”. Seguin-
do esse caminho, a experiência do Bixiga 70
vai na contramão dos que afirmam apenas o
fechamento de espaço para a reflexão crítica
no Brasil atual: “A resposta em relação aos
discos é surpreendente. Saiu muita coisa em
blogs e jornais, no Brasil inteiro, e é fantástico
ver que as pessoas estão interessadas e pen-
sando a música com profundidade. Muitas
vezes a gente lê as pessoas escrevendo coisas
que a gente conversava internamente, e que
nunca expressou publicamente, o que mostra
que elas sacaram o que a gente está fazendo.
Nos interessa muito mais falar com veículos
independentes, que dialogam com um públi-
co mais proativo, do que atingir um grande
número de pessoas passivas por um veículo
mais tradicional”.
Essa relação de trabalho horizontal, com
todos atuando ativamente, acontece também
no processo criativo da banda e se reflete no
palco. Todos participam dos arranjos e com-
posições, contribuindo com ideias e suges-
tões. O resultado disso pode ser visto nos dis-
cos e no nos shows do Bixiga 70, um dos mais
vibrantes e criativas em atividade.

| 29
BIxIGA 70
Décio 7 (Bateria)
Douglas Antunes (Trombone)
Cris Scabello (Guitarra)
Marcelo Dworecki (Baixo)
Cuca Ferreira (Sax Barítono)
Daniel Gralha (Trompete)
Maurício Fleury (Teclado e Guitarra)
Rômulo Nardes (Percussão)
Daniel Nogueira (Sax Tenor)
Gustávo Cék (Percussão)
foto: Nicole Heiniger

30 |
Em O destino da pintura moderna, o crí-
tico britânico Herbert Read assinala as mu-
danças da estrutura econômica da sociedade
nos últimos três séculos, que fez com que o
mecenato desaparecesse, e ironiza a então
demanda dos artistas plásticos por um pa-
trocínio estatal: “Não vejo qualquer diferença
cívica entre o poeta e o pintor: cada um de-
les expressa individualmente uma visão, que
pode ter ou não uma grande importância so-
cial; num dos casos, porém, a sociedade pode
impunemente ignorar a criação, e no outro é
agora compelida a aceitá-la e a pagar por ela
um preço, com o dinheiro do próprio rendi-
mento público”. Seria interessante, a partir
dessa observação, comparar o circuito das ar-
tes visuais contemporâneas com o da poesia
contemporânea no Brasil. Em ambos, existe a
versatilidade dos papéis do artista, em ambos
a distância entre a obra de arte e o “grande
público”, mas, no caso da poesia, uma falta
fundamental: não há mercado, não há retor-
no financeiro, não há verdadeira circulação.
Para além das questões econômicas ligadas
aos mecanismos financeiros da arte contem-
porânea, atados ao ultracapitalismo, o crítico
e curador paulista Teixeira Coelho, no artigo
“A contemporaneidade comum”, levanta a
hipótese de que as artes visuais brasileiras só
ganharam terreno e prestígio no circuito in-
ternacional da arte contemporânea depois de
terem desistido do conceito de identidade, de
brasilidade; em suma, depois de terem aberto
mão do projeto nacional do modernismo.
Teria a poesia brasileira, que desde os seus primórdios e até recen-
temente (até o modernismo), lidava também principalmente com a
construção de uma identidade nacional, perdido o público interno
depois de ter, no mesmo movimento, abandonado essa questão e pas-
sado a majoritalmente versar sobre a própria linguagem e a rede teci-
da pela literatura? Por outro lado, talvez o que mais tenha contribuído
para a poesia brasileira em termos de popularização e divulgação no
século 20 tenha sido as gravações feitas por nossos músicos e compo-
sitores, possivelmente os verdadeiros herdeiros e parceiros dessa forte
tradição, já no contexto da indústria cultural. Curiosamente, a canção
popular brasileira nunca precisou se preocupar com a questão da pro-
cura ou da formação de uma identidade nacional, por ser, desde o iní-
cio – e sem poder deixar de sê-lo – intrinsecamente brasileira, devido
ao seu caráter e origem fundamental e irredutivelmente popular. Teria
a canção, principalmente depois da difusão em massa de discos e cds,
e do seu apogeu a partir da bossa nova e, logo a seguir, do tropicalismo,
tomado para si a função de debater o país e suas mazelas enquanto
que a poesia (e também as artes visuais) se tornava mais cosmopolita,
mais voltada às questões da própria linguagem, e mais removida da
“realidade”?
Para Affonso Romano de Sant’Anna – um crítico ferrenho e nem
sempre lúcido da arte contemporânea, mas frequentemente um argu-
to pensador da cultura –, o duplo fenômeno da proliferação dos poetas
e da diminuição da circulação da poesia é global. Em seu estudo “O
desemprego do poeta”, ARS afirma que “a história do poeta enquan-
to indivíduo social é a história de seu desemprego”, devido aos “fato-
res da vida moderna que vieram lhe alterar a função dentro da nossa
sociedade burguesa”. Discordando de João Cabral de Melo Neto, que
no Congresso de Poesia de São Paulo, em 1954, havia identificado o
recuo da importância social da poesia na incapacidade dos poetas
de valorizar e dominar os meios de comunicação em massa, como
o rádio e a TV, para a criação e a disseminação de seus poemas, Ro-
mano de Sant’Anna acredita que o problema não está nem na poesia
nem nos poetas, mas na própria sociedade capitalista burguesa, que
a reSiStênCia da poeSiabraSileira
Renato Rezende
Vozes&Visões

| 31
tudo industrializa e transforma em capital e trabalho – tudo, menos a
poesia, que, devido à sua própria natureza, resiste a este processo e,
desta forma, teria se alienado do sistema e se tornado uma atividade
socialmente intransitiva.
Seja como for, como a poesia poderia resistir, em termos de lin-
guagem, de contribuição ao diálogo e de lugar para reflexão? Para
Jean-Luc Nancy, em ensaio justamente intitulado “Resistência da
poesia”, “é preciso contar com a poesia”, mesmo se “poesia” não sig-
nifique o poema, tradicionalmente compreendido como tal, mesmo
ela se mantenha algo indeterminável. Talvez seja justamente para re-
sistir e prosseguir resistindo que a poesia deva, no contemporâneo,
abrir mão de seus suportes, narrativas, discursos e linhagens pré-es-
tabelecidos pelo cânone. Talvez seja possível pensar a poesia, des-
de suas origens remotas à atualidade das mídias digitais, como uma
disponibilidade à intermedialidade, à alteridade e à tradução, sendo,
portanto, fundamental investigar suas bordas, suas zonas de passa-
gens, transporte e trocas com outros discursos disciplinares, cultu-
rais e midiáticos. Para Nancy, a poesia insiste e resiste por um lado,
ao discurso e, por outro, ao manter vivo, latejando, insistindo, aquilo
que não pode ser capturado pelo discurso, aquilo que “anuncia ou
contém mais do que a língua”. Poderíamos, aqui, talvez aproximar
tais ideias de resistência e expansão da compreensão do ato literário
(e poético) do que, mais próxima de nós, propõe Josefina Ludmer:
“escrituras [que] não admitem leituras literárias; isso quer dizer que
não se sabe ou não importa se são ou não são literatura”. Para a crí-
tica argentina, tais escrituras, que ela denomina de ‘pós-autônomas’,
embora continuem sendo apresentadas como literárias, permeiam o
campo social constituído pela imaginação pública (fundindo ficção e
realidade, ou seja, vida e linguagem) e esva-
ziam radicalmente o dispositivo canônico da
“literatura”. Importa, portanto, para a poesia,
não mais transmitir noções sobre a vida, mas
promover formas de vida.
Vivemos uma época marcada pela insta-
bilidade e por incertezas que, para o bem e
para o mal, dissolvem fronteiras, abalam es-
truturas, unem águas profundas e rasas, mis-
turam, produzem o informe e o inaudito. É
preciso dar sentido e significado àquilo que
nos invade, que nos desafia e nos atormenta;
ainda que, sempre, algo disso nos escapará
– é preciso fazer desse resto, ou melhor, des-
se excesso, uma possibilidade de linguagem,
um risco. É preciso, portanto, enfrentar a es-
curidão e as contradições do nosso tempo,
identificar outras chaves de leitura e novas
brechas e bordas para pensar a nossa poesia.
A meu ver, a poesia contemporânea brasilei-
ra se mantém atual e potente ao desguarne-
cer as fronteiras que a separam, por um lado,
de disciplinas como a política e a filosofia e,
por outro, ao expandir o conceito de poema
para incluir novos meios e suportes, além de
aumentar seu corpus ao incluir em sua tra-
dição linhagens esquecidas ou desdenhadas.
a meu ver, a Poesia coNtemPorâNea Brasileira se maNtÉm atual
e PoteNte ao DesguarNecer as FroNteiras Que a seParam, Por
um laDo, De DisciPliNas como a Política e a FilosoFia e, Por
outro, ao exPaNDir o coNceito De Poema Para iNcluir Novos
meios e suPortes, alÉm De aumeNtar seu corPus ao iNcluir em
sua traDição liNhageNs esQueciDas ou DesDeNhaDas.

Rafael Campos RoCha