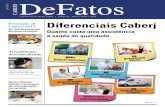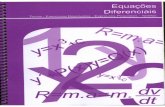Neuroticismo: Algumas variáveis diferenciais
description
Transcript of Neuroticismo: Algumas variáveis diferenciais
O neuroticismo é uma das variáveis do fun-cionamento negativo da personalidade mais es-tudadas na literatura psicológica a nível clínico,mas também social e educacional. Basta contarna literatura as centenas de vezes que, por exem-plo, em diversos estudos é usado o Questionáriode Personalidade de Eysenck, onde o neuroticis-mo aparece como um dos factores principais. Naverdade, pouca gente se pode considerar total-mente equilibrada, mais na sociedade stressanteem que vivemos. Já em 1937, Karen Horney ti-nha intitulado um livro: «Personalidade neuró-tica do nosso tempo», na sequência dos estudosde Freud e de tantos outros psicanalistas, masatribuindo às neuroses uma etiologia essencial-mente social. Estudos há que verificam um au-mento significativo da ansiedade e do neuroticis-mo nas últimas décadas, particularmente naAmérica (Twenge, 2000).
As perturbações neuróticas abrangem um vas-to leque de sofrimento psíquico, com conotaçõescognitivo-afectivas: inadaptações de diversa or-dem, ansiedade, timidez, angústia, manifestaçõesfóbicas e obsessivo-compulsivas, sensibilidadeexagerada e irritabilidade, tensão e fraqueza,insegurança, tendência à depressão, amnésias,além de muitas sequelas psicossomáticas, como
insónias, vertigens, transpiração, perturbações navista e na fala, na respiração e na pele, distúrbioscardíacos e gastro-intestinais, transtornos ali-mentares, e mesmo convulsões, como nas reac-ções histéricas. As pessoas dominadas por um ouvários sintomas, são frequentemente apelidadasde neurasténicas, psicasténicas, hipocondríacas,obsessivo-compulsivas, histéricas, enfim, angus-tiadas (neurose de angústia ou de ansiedade) einseguras. Tais sintomas ou síndromas são maisou menos vistosos, embora os neuróticos possamapresentar-se socialmente como pessoas ‘nor-mais’, escondendo em grande parte o seu sofri-mento, ao contrário do que acontece com os psi-cóticos.
Sem nos determos no quadro nosográfico, nodiagnóstico, na etiologia e na indicação terapêu-tica das (psico)neuroses, interessa-nos apenasconfirmar a complexidade desta ‘doença’ psíqui-ca e de algum modo tentar defini-la. SegundoCosta e McCrae (1987, p. 301), o neuroticismo é«uma ampla dimensão de diferenças individuaistendendo a experienciar emoções desagradáveise aflitivas, possuindo ao mesmo tempo traçoscognitivos e comportamentais». Trata-se de umadefinição parcial, como outras, mas tem o méritode insistir na vasta gama sintomatológica, no so-frimento psíquico que provoca e na dimensãocognitivo-comportamental que abrange.
O neuroticismo, mais do que um estado emo-tivo passageiro, é um traço ou tendência estávelda personalidade. Como diversos autores distin-guem, a respeito da ansiedade (e o neuroticismo
647
Análise Psicológica (2002), 4 (XX): 647-655
Neuroticismo: Algumas variáveis diferenciais
JOSÉ H. BARROS DE OLIVEIRA (*)
(*) Faculdade de Psicologia e Ciências da Educaçãoda Universidade do Porto.
é praticamente inseparável da ansiedade ou a an-siedade está sempre presente de algum modo noneuroticismo), entre ansiedade-traço (tendênciageral para reagir ansiosamente) e ansiedade-es-tado (reacção ansiosa transitória) (Spielberger,1972), também se poderia falar de neuroticismo-traço e neuroticismo-estado, como de pessimis-mo-traço e pessimismo-estado. Não obstante,consideramos o neuroticismo como um funcio-namento perturbado, mais ou menos estável, dapersonalidade, se bem que se possa aligeirar ouagravar a sua carga conforme as diversas cir-cunstâncias e momentos do sujeito.
Dadas as dificuldades em definir este constru-to, também se adivinham maiores dificuldadesna sua avaliação através de escalas ou questioná-rios. O mais frequentemente usado é o EysenckPersonality Questionnaire (EPQ) (Eysenck &Eysenck, 1969) com três dimensões: extrover-são, neuroticismo e psicoticismo, havendo umaversão primitiva e outra revista. Trata-se dumquestionário um pouco extenso e com factoresmenos interessantes quando está em causa aavaliação unicamente do neuroticismo. Por isso,baseados na bibliografia, avançamos com aconstrução e validação duma escala que mani-festou possuir suficientes características psico-métricas (Barros, 1999).
Há muitos estudos correlacionais que confron-taram o neuroticismo com outras variáveis, co-mo o optimismo. Segundo Scheier, Carver eBridges (1994) algumas investigações sobre ooptimismo disposicional, avaliado pela escalaLife Orientation Test (LOT) de Scheier e Carver(1985), foram contestadas, pois os efeitos atri-buídos ao optimismo poderiam na realidade per-tencer a uma terceira variável implícita e de sen-tido contrário, o neuroticismo. Os autores nãoconfirmaram esta suspeita, e o LOT provou pos-suir validade discriminante e preditiva, apesar dese admitir a vantagem de rever a escala (Barros,1998).
O neuroticismo também foi frequentementecorrelacionado com o pessimismo e a depressão(Maltby, Lewis & Hill, 1998). Um estudo deSaklofske, Kelly e Janzen (1995) provou a rela-ção que existe entre sintomas neuróticos, como avariação de humor, e a depressão. Suls, Green eHillis (1998) encontraram uma correlação posi-tiva entre o neuroticismo e a reacção emocional
aos problemas do dia-a-dia. Muitos estudos re-lacionam também o neuroticismo com a doençafísica, particularmente com sintomas menos gra-ves, como asma, úlceras, disfunções cardíacas eoutras manifestações dentro da interacção oudinâmica corpo-espírito. Muitas investigaçõesindicam que os estados emotivos stressantes po-dem afectar o sistema imunológico e por isso asresistências do organismo (Knapp et al., 1992;Naliboff et al., 1991; Cohen et al., 1993). Maioratenção foi prestada ao neuroticismo como po-tencial preditor da doença. Os que se queixam desintomas de doença física ou psicossomáticaapresentam mais traços neuróticos de personali-dade do que os que não apresentam sintomasdoentios (Costa & McCrae, 1980, 1985, 1987;Watson, 1988; Watson & Pennebaker, 1989).Mas muitos dos estudos relacionando o neuroti-cismo com a doença podem sofrer de algum ar-tefacto metodológico (Brown & Moskowitz,1997).
O neuroticismo foi outrossim abordado em re-lação a outras dimensões que agora mais nos in-teressam: religião, interculturalidade, idade, se-xo. Quanto à religião, Francis e Pearson (1991),usando seis escalas de neuroticismo concluíramque o neuroticismo e a religiosidade são variá-veis que não se correlacionam. Noutro estudo, osmesmos autores (Francis & Pearson, 1993) nãoencontraram diferenças significativas entre estu-dantes praticantes e não praticantes da religião.Estudos interculturais, considerando a religião, oneuroticismo e diversos grupos étnicos não che-garam a conclusões consistentes, como é o casode Rothko (1996) que, comparando um grupo dejudeus com um grupo de polacos (pretendia ain-da comparar com um grupo de xeitas libanesesmas teve dificuldades na amostra), concluiu quenão havia relação significativa entre religiosi-dade e neuroticismo. Outro estudo de Schutte eHosch (1996), relacionando o optimismo, a reli-giosidade e o neuroticismo numa amostra comamericanos-mexicanos, americanos-ingleses emexicanos, não confirmaram a hipótese, emduas subamostras, de que o optimismo e a reli-giosidade seriam preditivos do neuroticismo.Muita inconsistência nestes resultados pode serdevida às medidas usadas na avaliação da reli-giosidade, além da religião ser mais ou menosvivida convicta e pessoalmente (intrínseca) ou
648
como mero facto social (extrínseca) (cf. Maltby,1999).
Estudos interculturais também não chegarama resultados conclusivos. Jung (1995) concluiuque os americanos de origem asiática apresen-tavam uma tendência neurótica mais acentuadaque os americanos de origem latino-americanaou europeia. Outro estudo comparando negrossul-africanos com canadianos não mostrou dife-renças significativas quanto ao neuroticismo(Mwamwenda, 1992). Um estudo realizado em34 nações, incluindo Portugal, com a escala dePersonalidade de Eysenck, além de confirmarque ela funciona bem a nível intercultural,concluiu que em muitas nações os resultados so-bre o neuroticismo não se diferenciam muito(Barrett, Petrides, Eysenck & Eysenck, 1998).Por seu lado, Lynn e Martin (1995), analisandonada menos que 37 nações, procurando as dife-renças não apenas no neuroticismo, mas ainda naextroversão, psicoticismo e outras variáveis, en-contraram alguns valores diferentes nas diversasnações. Num estudo comparando estudantes por-tugueses com caboverdianos, os portuguesesmostraram tendência a maior neuroticismo(Barros, 1999).
Diversos estudos controlaram variáveis socio-demográficas, como a idade e o sexo. Costa eMcCrae (1985) não encontraram grandes dife-renças, conforme a idade, em relação ao neuroti-cismo e à hipocondria. Segundo Hoffman, Levy-Shiff e Malinski (1996) parece que o neuroticis-mo afecta mais o stress e as dificuldades deadaptação dos (pré)adolescentes. Num estudocheco, os novos tendiam a ser mais neuróticosque os mais velhos (Hrebickva, Cermak &Osecka, 2000). Tal tendência verificou-se tam-bém num estudo em Portugal (Barros, 1999),mostrando-se os alunos do secundário mais neu-róticos que os universitários.
Quanto ao sexo, as investigações apontampara uma tendência maior nas mulheres a ex-pressarem mais sintomas neuróticos (cf. e.g.Heaven & Shochet, 1995; Martin & Kirkcaldy,1998). Isto verifica-se em diversas nações, comona República Checa (Hrebickva, Cermak &Osecka, 2000) ou na África do Sul onde as mu-lheres também se mostraram mais sensíveis àsperturbações afectivas sasonais (Kane & Lowis,1999). Lynn e Martin (1997), num estudo reali-zado em 37 nações, concluíram que, em todas, as
mulheres tinham uma média mais elevada emneuroticismo (e os homens em psicoticismo),embora as diferenças não fossem estatisti-camente significativas. Num estudo português,as mulheres manifestaram-se também mais neu-róticas (Barros, 1999).
Após esta introdução teórica, damos conta detrês trabalhos de campo, visando o primeirofundamentalmente perceber, a respeito doneuroticismo, se há diferenças significativasquanto à idade. No segundo e terceiro estudosestá em causa particularmente a interculturali-dade (portugueses vs. caboverdianos e angola-nos). No terceiro, além da interculturalidade,para de algum modo replicar o segundo, contro-lamos particularmente a religião (analisandouma amostra de freiras em relação a leigos). Emtodas as amostras se considera também a variá-vel sexo.
Trata-se de um estudo essencialmente explo-ratório, pois a bibliografia anterior não nos per-mite formular hipóteses seguras quanto à idade,à cultura (etnia, nação) e à religião, mormentenas nações em causa e na religião vivida comovocação exclusiva (freiras). Estudamos particu-larmente as culturas caboverdianas e angolanas,para além da portuguesa, desconhecendo outrosestudos com estas populações. No que concerneà religião, não temos conhecimento de estudoscomparando irmãs ou freiras com leigas, parti-cularmente em Angola e Portugal.
Não obstante, de algum modo baseados na bi-bliografia anterior, partimos dos seguintes pres-supostos:
1.º) Quanto ao sexo, em geral as mulherestendem a ser mais neuróticas.
2.º) No que concerne à idade, os adolescentesmanifestam mais neuroticismo do queos adultos.
3.º) Do ponto de vista cultural, os povos afri-canos (em particular os caboverdianos eos angolanos) podem tender a ser maisneuróticos que os portugueses.
4.º) Considerando a religião, embora os re-sultados de investigações anteriores se-jam inconsistentes, é de esperar que asfreiras se mostrem menos neuróticas doque as raparigas leigas, supondo-se que a
649
vivência da fé possa constituir um factorde equilíbrio.
ESTUDOS EMPÍRICOS
1.º estudoObjectivo fundamental deste estudo é perce-
ber se há diferenças significativas quanto aoneuroticismo, segundo a idade, considerandoainda a variável do género.
1. MÉTODO
1.1. Participantes
No total, a amostra constou de 454 sujeitos,repartida por quatro subamostras díspares emidade e em formação: 1.ª: 117 alunos do 6.º anode escolaridade (média de idade: 11,4 anos, sen-do 75 rapazes e 42 raparigas); 2.ª: 105 alunos do9.º ano de escolaridade (média de idade: 14,8anos; M=66 – F=39); 3.ª: 128 professores do en-sino secundário (média de idade: 36,9 anos;M=44 – F=84); 4.ª: 104 idosos (média de idade74,2 anos; M=49 – F=55).
1.2. Medidas
Juntamente com outras escalas, foi usado umquestionário sobre o neuroticismo de Barros(1999) que manifestou possuir boas caracterís-ticas psicométricas. Consta de 21 itens a respon-
der numa escala de Likert com cinco modalida-des, desde totalmente em desacordo até total-mente de acordo. Quanto maior pontuação, maisneuroticismo.
1.3. Procedimento
A todos os grupos foi passado, em 1999, oquestionário sobre o neuroticismo, juntamentecom outras escalas. Eram pedidos ainda dadossociodemográficos, como a idade, o sexo e a cul-tura. Os questionários dos alunos foram respon-didos durante uma aula, na presença do professorpreviamente preparado para isso. Os professoresdisponíveis após uma conferência levaram oquestionário para casa, entregando depois. Dosidosos, praticamente metade estavam internadosnum Lar duma Instituição Particular de Solida-riedade Social e a outra metade viviam em suascasas. Aos idosos internados o questionário foipassado por uma assistente social e aos idososem suas casas por dois alunos preparados anteci-padamente para isso.
2. RESULTADOS
Começou-se por verificar a consistência in-terna da escala em cada uma das amostras atra-vés do coeficiente alfa de Cronbach, cujos valo-res se apresentam no Quadro 1, juntamente comas Médias (por idade/grupo e sexo) e Desvios--padrão.
Constata-se antes de mais que a escala apre-senta nestas amostras uma boa consistência in-terna.
650
QUADRO 1Consistência, Médias e Desvios-padrão nas amostras com crianças, adolescentes, professores e
idosos
Amostras Alfa de Cronbach Média Desvio-padrão
Masc. Fem. Masc. Fem.
Alunos do 6.º ano .83 49,3 50,0 12,5 14,6Alunos do 9.º ano .88 50,7 51,9 12,8 11,5Professores .91 40,8 45,7 13,7 12,1Idosos .86 51,0 60,6 12,5 14,3
Procedeu-se seguidamente a uma análise (uni-variada) de variância idade (4 grupos) x sexo (2).No confronto entre as diversas idades (grupos),encontrou-se um efeito principal significativo (F(3/451)=17.2; p.<.001). Testes post hoc Scheffémostraram que o grupo de professores contrastasignificativamente com todos os outros, mostran-do-se menos neuróticos e também os dois gruposde alunos vs. o dos idosos, sendo estes os maisneuróticos. Pode concluir-se que os sintomasneuróticos estão mais presentes nas crianças//adolescentes, para diminuir na idade adulta(embora a amostra de professores seja muito es-pecífica), para de novo aumentar significativa-mente na terceira idade. Nos estudos citados an-teriormente nota-se também a tendência a ummaior neuroticismo por parte dos jovens em re-lação aos adultos, não tendo ponto de compara-ção com os idosos.
Quanto ao sexo, encontrou-se também umefeito principal significativo (F (3/451)=10.4;p.<.001), assistindo-se em todas as amostras auma tendência de o sexo feminino mostrar maiorneuroticismo, estando conforme com a maiorparte dos estudos. Isto é particularmente signifi-cativo nos adultos (professores) e mais ainda nosidosos, sendo natural que a diferença se agravecom a idade. Com efeito, a interacção entre gru-po e sexo esteve perto da significância (p.=.06).
2.º estudoEste estudo visa confrontar particularmente
duas culturas/nações diferentes (a caboverdianae a portuguesa) no que tange ao neuroticismo,para além de controlar também o sexo.
3. MÉTODO
3.1. Participantes
No total, a amostra consta de 487 sujeitos dis-tribuídos por duas subamostras: 1.ª: 285 jovensde Cabo Verde do curso complementar (secun-dário) do liceu Domingos Ramos da Praia (San-tiago), sendo 112 rapazes e 173 raparigas; 2.ª:202 jovens portugueses frequentando o 12.º anonum Colégio de V. N. de Gaia, sendo 110 rapa-zes e 92 raparigas.
3.2. Medidas
Foi usado o mesmo questionário do estudo an-terior.
3.3. Procedimento
Aos grupos foi passado, em 1997, o questio-nário sobre o neuroticismo, juntamente com ou-tras escalas. Eram pedidos ainda dados sociode-mográficos, como a idade, o sexo e a cultura. Osquestionários foram respondidos durante umaaula, na presença do professor, previamente pre-parado, ou do psicólogo.
4. RESULTADOS
Começou-se por verificar a consistência inter-na da escala nas duas amostras através do coefi-ciente alfa de Cronbach, cujos valores se apre-sentam no Quadro 2, juntamente com as Médias(por nação e sexo), e os Desvios-padrão.
651
QUADRO 2Consistência, Médias e Desvios-padrão nas amostras de estudantes do ensino secundário de
Cabo Verde e Portugal
Amostras Alfa de Cronbach Média Desvio-padrão
Masc. Fem. Masc. Fem.
Alunos sec. Cabo Verde .81 50,8 53,8 11,6 14,0Alunos sec. Portugal .86 50,0 55,3 12,5 11,1
Constata-se que a escala apresenta uma boaconsistência interna com estas amostras.
Procedeu-se a uma análise de variância naçãox sexo, não se encontrando um efeito principalsignificativo por nação ou cultura, com tendên-cia, no caso das raparigas portuguesas, a mani-festarem-se um pouco mais neuróticas do que ascaboverdianas. Por sexo foram encontradas dife-renças significativas (F(1/486)=12.3; p.<.001),sendo as raparigas mais neuróticas, como jáacontecia na amostra anterior, conformando-secom a maior parte dos estudos. Não houve in-teracções significativas entre a nação e o sexo.
3.º estudoO último estudo teve como objectivo verificar
o confronto entre duas culturas, agora entre a an-golana e a portuguesa, quanto ao neuroticismo, eainda a variável vivência religiosa (freiras vs.leigas).
5. MÉTODO
5.1. Participantes
No total, a amostra consta de 434 sujeitos,sendo 238 de Angola e 196 de Portugal; 183 sãofreiras e 251 são alunos do ensino superior.Quanto ao sexo, 108 são homens e 326 mulhe-res. A amostra total consta de quatro amostrasparciais: 1.ª: 129 (59 rapazes e 70 raparigas) sãoestudantes (na maior parte de Direito) do 1.º ano
da Universidade Católica de Luanda (média deidade: 21,9); 2.ª: 109 freiras de Angola, a maiorparte frequentando o ICRA (Instituto de CiênciasReligiosas de Angola) de Luanda (média deidade: 28,6); 3.ª: 122 alunos (49 rapazes e 73 ra-parigas) do 1.º ano de Direito da UniversidadeCatólica do Porto (m.i.=19 anos ); 4.ª: 74 freirasportuguesas de diversas partes do país (m.i.=31,5anos).
5.2. Medidas
Foi usado o mesmo questionário dos estudosanteriores.
5.3. Procedimento
A todos os grupos foi passado, em 2000, oquestionário de neuroticismo, juntamente comoutras escalas. Eram pedidos ainda dados socio--demográficos, como a idade, o sexo e a cultura.Os questionários passados aos estudantes, foramrespondidos, após uma conferência, na presençado psicólogo, em Luanda, e numa aula, na presen-ça do professor, no Porto. Quanto às religiosas, aamostra angolana abrangeu todas as irmãsdisponíveis que estudavam no ICRA e ainda ou-tro grupo dum Instituto de Lubango. Às irmãsportuguesas disponíveis, de diversas Congrega-ções, foi pedido para preencherem o questionário.
6. RESULTADOS
Começou-se por verificar a consistência inter-
652
QUADRO 3Consistência, Médias e Desvios-padrão dos estudantes universitários angolanos, das freiras
angolanas, dos universitários portugueses e das freiras portuguesas
Amostras Alfa de Cronbach Média Desvio-padrão
Masc. Fem. Masc. Fem.
Univ. de Angola .81 46,4 52,1 10,5 13,6Freiras de Angola .83 – 51,1 – 12,5Univ. de Portugal .90 49,0 45,3 13,6 11,9Freiras de Portugal .90 – 46,2 – 12,0
na da escala nas diversas amostras através docoeficiente alfa de Cronbach, cujos valores seapresentam no Quadro 3, juntamente com as Mé-dias (por nação e sexo) e os Desvios-padrão.
Note-se antes de mais que a escala apresentauma boa consistência interna com estas amos-tras.
Procedeu-se a uma primeira análise de variân-cia unicamente com o grupo de estudantes pornação (angolanos vs. portugueses) e sexo, não seencontrando nenhum efeito principal significati-vo nem por nação nem por sexo. Todavia, aten-dendo às médias, os estudantes universitários an-golanos tendem a ser mais neuróticos do que osportugueses, devido às raparigas, porque quantoaos rapazes, são os portugueses os mais neuró-ticos. Não se assistiu a interacções significativasnação/sexo.
Uma outra análise de variância, unicamentecom o sexo feminino, confrontou as raparigas efreiras angolanas com as raparigas e freiras por-tuguesas e ainda as freiras angolanas e portugue-sas com as raparigas angolanas e portuguesas.Por nação, foi encontrado um efeito principalsignificativo (F (1/250)=7.8; p<.01), mostrandoas angolanas maior neuroticidade. Quanto aoconfronto entre freiras e estudantes leigas, nãoforam encontradas diferenças significativas. As-sistiu-se a uma interacção significativa (F(1/250)=10.1; p<.01) por nação e religião. Com-parando unicamente as freiras angolanas com asportuguesas nota-se um efeito significativo (F(1/181)=7.1; p<.01), mostrando-se as irmãs an-golanas mais neuróticas do que as portuguesas,confirmando a tendência por nação.
7. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
Trata-se de resultados que, carecendo de sufi-ciente apoio em investigações anteriores, dada aespecificidade da amostra, quer por nação, querpor religião (são particularmente muito escassosos estudos com amostras de freiras) não são fá-ceis de fundamentar e de explicar, sendo neces-sários mais estudos com estas populações parti-culares. O nosso estudo é essencialmente explo-ratório.
Não obstante, podemos afirmar que, em geral,as nossas suposições iniciais se confirmaram,mostrando o sexo feminino uma maior tendência
para o neuroticismo, na sequência da maior par-te dos estudos (cf. e.g. Barros, 1999; Lynn &Martin, 1997), denunciando os adolescentesmaior neuroticismo que os adultos, e havendotendência nas culturas africanas a maior neuro-ticidade, talvez explicável pela idiossincrasiado povo ou pelas circunstâncias mais desfavorá-veis em que vivem; aliás, outros estudos inter-culturais citados na introdução, também não seapresentam conclusivos. Não se confirma aindaque a religião, expressamente professada, comoé o caso das freiras, seja garantia de maior equi-líbrio psíquico, sobretudo em África; tambémaqui outros autores (e.g. Francis & Pearson,1991, 1993) não encontraram correlações entrereligião e neuroticismo. Torna-se necessárioprosseguir os estudos, designadamente a nívelintercultural e religioso.
Por outro lado, o instrumento usado, apesar demanifestar suficientes qualidades psicométricas,devia ser confirmado por outros questionários,como o de Eysenck e Eysenck (1969), para alémde outros eventuais processos de avaliação doneuroticismo, como os testes projectivos.
De qualquer modo, o mais importante é pro-mover, a nível ambiental e educacional, ummaior equilíbrio psíquico, pois muitas vezes sãoas circunstâncias adversas da vida e do mundoactual que tornam a pessoa cada vez mais neuró-tica, embora possa haver pessoas mais ou menosdesequilibradas psicologicamente devido a ten-dências hereditárias. Assistindo-se a uma maiortendência nas crianças e nos adolescentes, eainda no sexo feminino, para a neuroticidade,torna-se mais necessário ainda trabalhar comestes grupos.
REFERÊNCIAS
Barrett, P., Petrides, K., Eysenck, S., & Eysenck, H.(1998). The Eysenck personality questionnaire:An examination of the factorial similarity of P, E,N, and L across 34 contries. Personality and Indi-vidual Differences, 25 (5), 805-819.
Barros, J. (1998). Optimismo: Teoria e avaliação (pro-posta de uma nova escala). Psicologia, Educação eCultura, 2 (2), 295-308.
Barros, J. (1999). Neuroticismo: teoria e avaliação(proposta de uma nova escala). Psicologia, Educa-ção e Cultura, 3 (1), 129-144.
653
Brown, K., & Moskowitz, D. (1997). Does unhappinessmake you sick? The role of affect and neuroticismin the experience of common physical symptoms.Journal of Personality and Social Psychology, 72,907-917.
Cohen, S., Tyrell, D., & Smith, A. (1993). Negative lifeevents, perceived stress, negative affect, and sus-ceptibility to the common cold. Journal of Perso-nality and Social Psychology, 64, 131-140.
Costa, P., & McCrae, R. (1980). Influence of extraver-sion and neuroticism on subjective well-being:Happy and unhappy people. Journal of Personalityand Social Psychology, 38, 668-678.
Costa, P., & McCrae, R. (1985). Hypochondriasis, neu-roticism, and aging. American Psychologist, 40,19-28.
Costa, P., & McCrae, R. (1987). Neuroticism, somaticcomplaints, and disease: Is the bark worse than thebite? Journal of Personality, 55, 299-316.
Eysenck, H., & Eysenck, S. (1969). Personality structu-re and measurement. London: Routledge & KeganPaul.
Francis, L., & Pearson, P. (1991). Religiosity, genderand the two faces of neuroticism. Irish Journal ofPsychology, 12 (1), 60-67.
Francis, L., & Pearson, P. (1993). The personality cha-racteristics of student churchgoers. Personalityand Individual Differences, 15, 373-380.
Heaven, P., & Shochet, I. (1995). Dimentions of neuro-ticism: Relationship with gender and personalitytraits. Personality and Individual Differences, 18(1), 33-37.
Hoffman, M., Levy-Shiff, R., & Malinski, D. (1996).Stress and adjustment in the transition to adoles-cence: Moderating effects of neuroticism andextroversion. Journal of Youth and Adolescence,25, 161-175.
Horney, K. (1937). The neurotic personality of our ti-me. New York: Norton and Company.
Hrebickva, M., Cermak, I., & Osecka, L. (2000). Deve-lopment of personality structure from adolescenceto old age: Preliminary findings. Studia Psycholo-gica, 42 (3), 163-166.
Jung, J. (1995). Ethnic group and gender differences inthe relationship between personality and coping.Anxiety, Stress and Coping – An InternationalJournal, 8 (2), 113-126.
Kane, A., & Lowis, M. (1999). Seasonal affective di-sorder and personality, age, and gender. SouthAfrica Journal of Personality, 29 (3), 124-127.
Knapp, P., Levy, E., Giorgi, R., Black, O., Fox, B., &Heeren, T. (1992). Short-term immunologicaleffects of induced emotion. Psychosomatic Medici-ne, 54, 133-148.
Lynn, R., & Martin, T. (1995). National differencies forthirty-seven nations in extraversion, neuroticism,psychoticism and economic, demographic andother correlates. Personality and Individual Diffe-rences, 19 (3), 403-406.
Lynn, R., & Martin, T. (1997). Gender differences inextraversion, neuroticism, and psychoticism in 37nations. Journal of Social Psychology, 137 (3),369-373.
Maltby, J. (1999). Religious orientation and Eysenck’spersonality dimentions: The use of the amended re-ligious orientation scale to examine the relationshipbetween religiosity, psychoticism, neuroticism andextraversion. Personality and Individual Differen-ces, 26 (1), 79-84.
Maltby, J., Lewis, C., & Hill, A. (1998). Oral pessi-mism and depressive symptoms: A comparisonwith other correlates of depression. British Journalof Medical Psychology, 71, 195-200.
Martin, T., & Kirkcaldy, B. (1998). Gender differenceson the EPQ-R and attitudes to work. Personalityand Individual Differences, 24 (1), 1-5.
Mwamwenda, T. (1992). Black South Africans andCanadians on neuroticism as a dimension of per-sonality. Psychological Reports, 71 (1), 332-334.
Rothko, C. (1996). Religion and personality: An exa-mination across three cultures. Dissertation Abs-tracts International (section B), 56 (8-B), 4627.
Saklofske, D., Kelly, I., & Janzen, B. (1995). Neuroti-cism, depression, and depression proneness. Per-sonality and Individual Differences, 18, 27-31.
Scheier, M., & Carver, C. (1985). Optimism, copingand health: Assessment and implications of gene-ralized outcome expectancies. Health Psychology,4, 219-247.
Scheier, M., Carver, C., & Bridges, M. (1994). Dis-tinguishing optimism from neuroticism (and traitanxiety, self-mastery, and self-esteem): A reeva-luation of the Life Orientation Test. Journal of Per-sonality and Social Psychology, 67, 1063-1087.
Schutte, J., & Hosch, H. (1996). Optimism, religiosity,and neuroticism: A cross-cultural study. Persona-lity and Individual Differences, 20, 239-244.
Spielberger, C. (1972). Anxiety, current trends in theoryand research, vol. 1. New York: Academic Press.
Suls, J., Green, P., & Hillis, S. (1998). Emotionalreactivity to everyday problems, affective inertia,and neuroticism. Personality and Social Psycholo-gy Bulletin, 24, 127-136.
Twenge, J. (2000). The age of anxiety? The birthcohort change in anxiety and neuroticism, 1952-1993. Journal of Personality and Social Psycholo-gy, 79 (6), 1007-1021.
Watson, D. (1988). Intraindividual and interindividualanalyses of positive and negative affect: Their re-lation to health complaints, perceived stress, anddaily activities. Journal of Personality and SocialPsychology, 54, 1020-1030.
Watson, D., & Pennebaker, J. (1989). Health complains,stress, and distress: Exploring the central role ofnegative affectivity. Psychological Review, 96,234-254.
654
RESUMO
O neuroticismo é um traço cognitivo-afectivo ouuma expressão negativa da personalidade. Depois detentarmos definir este construto e de fazer alguma re-ferência à sua avaliação, analisamos alguns estudosque o correlacionam com outras emoções negativas oupositivas da personalidade e com variáveis sociodemo-gráficas. Na parte empírica são analisados três estudos,numa perspectiva diferencial, tentando saber se há di-ferenças significativas conforme a idade, o sexo, a cul-tura/nação e a religião. Dada a pouca base bibliográfi-ca capaz de sustentar algumas hipóteses, o estudo tor-na-se exploratório, embora se confirmem alguns pres-supostos iniciais: conforme o sexo, as mulheres ten-dem a ser mais neuróticas do que os homens; aten-dendo à idade, os adolescentes e os idosos são maisneuróticos que os adultos. Quanto à cultura/nação, osafricanos (caboverdianos e angolanos) tendem amanifestar maior neuroticidade que os portugueses. Noque concerne à religião, não foram encontradas dife-renças significativas entre as freiras e as raparigas uni-versitárias.
Palavras-chave: Neuroticismo, idade, sexo, cultura,religião.
ABSTRACT
Neuroticism is a cognitive-afective trait or a nega-tive expression of personality. After defining thisconstruct, some studies correlating it with other nega-tive or positive personality emotions and with socio-demographic variables are reviewed. There follows anempirical section in which three studies are compara-tively analysed according to age, gender, culture/natio-nality, and religion. Given the paucity of definitive re-search capable of confirming any single hypothesis,the study remains exploratory, though some initial pre-suppositions are confirmed: according to gender, fe-males are more neurotic than males; according toage, adolescents and older people are more neuroticthan adults. In respect of culture/nationality, CaboVerdians and Angolans show a grater tendency to-wards neuroticism than the Portuguese. Concerningreligious persuasion, there were found to be no signi-ficant differences between nuns and female students interms of susceptibility to neuroticism.
Key words: Neuroticism, age, gender, culture, reli-gion.
655