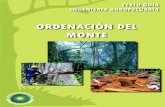O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELOS … · Com a intenção de alcançar as metas apresentadas...
Transcript of O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELOS … · Com a intenção de alcançar as metas apresentadas...
O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELOS TRIBUNAIS ARBITRAIS
Marcelo Cipolat1
RESUMO
Recentemente, foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro um conjunto de normas referentes às câmaras arbitrais, o que suscitou uma série de questões que, neste estudo, estão discutidas no campo doutrinário a fim de consolidar entendimentos, esclarecer condições de aplicação, além de explicitar a padronização de procedimentos e processos por parte dos tribunais arbitrais. Destarte, trata-se da legitimação de competência das cortes arbitrais no sentido de permitir o exercício pleno do controle constitucional no âmbito privado. Secundariamente, apresenta-se a evolução histórica da arbitragem, sua recepção pela sociedade brasileira, conduta adequada e, portanto, a ser exigida do juiz arbitral em caso de conflitos com a constituição e suas repercussões no campo jurídico, assim como, a análise dos modelos de controle constitucional. Com a intenção de alcançar as metas apresentadas foi fundamental a consulta a doutrinadores como Barroso (2015), Carmona (2004), Lenza (2014), e Palu (2001); e ainda, com base nos preceitos do Direito Comparado foram consultados juristas internacionais como Maniáci (2005); Canotilho (1991), Calamandrei (1930), Cerri (2012), Perlingieri (2002), Sammartano (2010) entre outros. Tendo em vista os objetivos definidos, o estudo caracteriza-se por ser nessa primeira etapa de cunho, exclusivamente, bibliográfico, baseado em roteiros de leitura, previamente, definidos e que foram ferramentas na apreciação de doutrinas, artigos e demais publicações correlacionadas. Por fim, expõe-se quanto ao poder de controle constitucional exercido pelo juiz arbitral o método que melhor se adapta ao instituto da arbitragem na legislação brasileira.
Palavras-chave: Arbitragem. Controle Constitucional. Juiz Arbitral.
RESUMEN
Recientemente, se ha incorporado en el ordenamiento jurídico brasileño un conjunto de normas relativas a las cámaras de arbitraje , que elevó una serie de dudas, que en este estudio, serán discutidas en el campo doctrinal para consolidar la comprensión, aclarar las condiciones de aplicación , y aclarar la estandarización, procedimientos y procesos por los tribunales de arbitraje. Así, la legitimación de competencia de los tribunales de arbitraje para permitir el pleno ejercicio de control constitucional en el sector privado. En segundo lugar, se presenta la evolución histórica del arbitraje, su recepción por la sociedad brasileña, conducta apropiada y, por lo tanto, se requiere del tribunal arbitral en caso de conflicto con la Constitución y sus repercusiones en el ámbito jurídico, así como, el análisis del modelos de control constitucional. Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos fue fundamental la consulta a doctrinadores como Barroso (2015),
1 Aluno pesquisador do 6º semestre do curso de Ciências Jurídicas da Faculdade de Belém (Fabel).
Carmona (2004), Lenza (2014), e Palu (2001); y además, basado en los preceptos de lo Derecho Comparado fuerán consultados eruditos como Maniáci (2005); Canotilho (1991), Calamandrei (1930), Cerri (2012), Perlingieri (2002), Sammartano (2010) entre otros. Teniendo en vista las metas definidas, el estudio se caracterizó por lo ser, em su etapa primeira, objetivo exclusivamente, bibliográfico basado en encaminamientos de lectura, previamente, definidos y que fuerán instrumentos de apreciación de las doctrinas, artículos e otras publicaciones correlacionadas al discutido. Por fin, se expone, quanto al poder de control constitucional ejercido por el juez arbitral, el método que mejor se adapta a lo instituto de arbitraje de la legislación brasileña .
Palavras-chave: Arbitraje. Control Constitucional. Juez Arbitral.
1 INTRODUÇÃO
Nos últimos anos a arbitragem vem ganhando espaço tanto no âmbito
internacional, em especial nos Estados Unidos e Europa, como no campo brasileiro.
Neste percurso, observa-se uma agitação dos doutrinadores nacionais no sentido
de consolidar a aplicação da nova legislação.
O instituto da Arbitragem consiste em um método privativo e heteropositivo de
resolução de conflitos no qual as partes contendoras elencam, de livre e
espontânea vontade, um árbitro para que este auxilie na resolução da lide,
pacificando conflitos de forma a equacionar a disputa, satisfazendo ambas as
partes. Assim, cabe aos litigantes estipular as regras legais a serem seguidas pelo
árbitro escolhido, verifica-se, então, que a autonomia da vontade das partes é o
princípio prevalecente a ser observado pela arbitragem, na medida em que o
instrumento jurídico somente terá a eficácia se os agentes envolvidos aceitarem a
nomeação do árbitro.
No Brasil, concebe-se a arbitragem como forma alternativa ao Poder
Judiciário para dirimir lides, por meio de contratos firmados entre as partes com o
propósito de estabelecer acordo solucionando controvérsia existente ou que
possam vir a ocorrer no desenrolar de um negócio jurídico, como forma de
substituição ao poder judiciário público.
Para sedimentar o peso e relevância do instituto, ressalta-se que a sentença
exarada pelo juiz arbitral tem a mesma força da emitida pelo juízo convencional,
sendo de cumprimento obrigatório pelas partes. Exatamente, pela sua característica
privada, surge, então, a alternativa rápida à lentidão do sistema judicial estatal, ou
seja, a redução do lapso temporal para resolução de questões, sendo o fator
principal do enfoque dado ao instituto.
Assim, é de conhecimento comum a morosidade da atuação jurisdicional e este
é, talvez, o principal óbice do poder judiciário atualmente, contudo não é
somente o processamento das ações judiciais que devem ser otimizadas pela via
arbitral, mas deve-se trabalhar a mudança dos paradigmas da nossa sociedade no
sentido de conhecer e valer-se deste novo meio.
O Estado brasileiro, atento à situação, procura estimular o emprego do juízo
arbitral como forma de “desafogar” a pesada carga processual do poder judiciário
no país. Neste ínterim, os doutrinadores nacionais investigam princípios em outros
países com maior experiência nessa ferramenta, desse modo busca-se inserir
novos instrumentos lançando-se mão do direito comparado.
Dessa forma, verificou-se que os legisladores brasileiros procuram aprimorar
a Lei 9.307, sob a necessidade de acompanhar a demanda da sociedade que
impõe novas situações. Tais alterações introduzidas na lei visam perpetuar
melhores condições para que, tanto a mediação como a arbitragem, encontre terreno
fértil para desenvolver a nova sistemática jurídica.
Neste contexto, deparamo-nos com o objeto do estudo, haja vista que, uma vez
propostas as normas a serem observadas, poderiam os árbitros declarar
inconstitucionalidade de algum procedimento solicitado pelos litigantes, assim,
contrariando a vontade das partes? Qual o método de controle constitucional
empregado e tal ação estaria revestida de natureza jurídica?
É Importante ressaltar que em virtude do Brasil ter adotado o método da
arbitragem há poucos anos, faz-se mister traçar melhor entendimento a respeito de
sua aplicação e abrangência. Nesse sentido, procurou-se elucidar o
posicionamento de doutrinadores de outros países, tais como - Espanha, França,
Portugal e Itália - onde a arbitragem é utilizada há larga data e, de modo que, por
uso da fonte do Direito Comparado, seja possível apresentar soluções para o
impasse.
Logo, traçamos como meta a abordagem de aspectos específicos do sistema
de arbitragem considerando o espectro internacional a partir da sua concepção
histórica, ainda apresentando a sua inserção no ordenamento jurídico nacional até as
novas compreensões da ferramenta em busca de ampliar seu uso. Na esteira deste
pensamento, o estudo em questão entende como necessário comparar o
desenvolvimento arbitral desde a sua criação na França napoleônica até os dias
atuais com o emprego maduro deste instituto nos demais países.
É oportuno considerar a relevância desta pesquisa em função das profundas
transformações que o sistema de arbitragem pode executar no processo judiciário
brasileiro a exemplo do que ocorreu em outros países do mundo, assim, é silente,
mas crescente a procura pelo processo alternativo de justiça como forma de alcançar
com maior celeridade os objetivos desejados pelas partes litigantes ou como cláusula
elencada para resolução de conflitos futuros.
No escopo desse trabalho investigativo nos amparamos em preceitos
estipulados pelo novo regramento brasileiro, pretende-se explorar os conflitos que
possam se apresentar entre a arbitragem, presidida pela autonomia da vontade, e a
Constituição Federal Brasileira e que resultem em inconstitucionalidade e, por isso,
exigindo uma resposta do juízo arbitral. Na seção posterior, são evidenciados os
aspectos do percurso metodológico do trabalho de pesquisa.
Por fim, o presente estudo procurou compreender as discussões em torno da
aplicação da nova Lei de Arbitragem somando-se a esse aspecto o exame dos
modelos de controle de constitucionalidade. Em referência à atividade investigativa
optou-se por uma pesquisa, exclusivamente, de cunho bibliográfico, tendo por
orientação o método do Direito Comparado.
Como técnica fundamental da seleção de conteúdo à temática em realce, foram
feitas leituras mediante a observação de roteiros, que consistiram em destacar
as principais contribuições de cada autor/obra consultado(a). Ainda, foram realizados
fichamentos das fontes analisadas como modo de melhor sistematizar as
constatações apresentadas.
Para direcionar o trabalho de articulação dos resultados foi necessário e
relevante optar pelo processo científico dedutivo (LAKATOS; MARCONI,2005), uma
vez que pautou-se por um quadro comparativo da experiência de outros Estados
nacionais (como o caso italiano), cujo interesse, uso e produção científica em
relação à temática em realce é contínuo e anterior à experiência brasileira.
A seguir, são apresentados de maneira sequencial os principais argumentos de
resposta à questão-problema do estudo.
2 BREVE HISTÓRICO DA ARBITRAGEM NO BRASIL E NO MUNDO
Ao verificar a evolução histórica da arbitragem no ordenamento jurídico
brasileiro é importante retornar no tempo e compreender sua utilização pelas
civilizações antigas. Em tempos remotos, a via escolhida para solução de
desentendimentos era o conflito armado, porém a arbitragem também desempenhava
papel importante. A doutrina costuma afirmar que, nas contendas entre as primitivas
tribos, existiam procedimentos pacíficos, tais como a mediação e a arbitragem.
Conforme Delgado (2003), existem registros históricos que comprovam ter
sido a civilização Mesopotâmia que floresceu, no período entre 2.500 a 3.000 anos
a.C., uma das primeiras a usar o princípio da arbitragem da qual se tem notícia. Ao
longo do tempo, o autor supracitado aponta relatos do uso da arbitragem na
Grécia Antiga; nesse período, os helênicos decidiram pela implantação de um
Conselho de Anciãos nas civitas com o intuito de resolver questões entre os
cidadãos da polis. Os árbitros eram definidos pelas partes envolvidas e os
Conselhos dos Anciãos, embora tivessem caráter religioso, também executavam
tarefas jurídicas e políticas, isto é, eram os árbitros soberanos.
Soromenho-Pires (2010), sustenta que a arbitragem já era desenvolvida nos
primórdios da civilização. A resolução de litígios usando de uma terceira pessoa,
imparcial e indicada espontaneamente pelas partes é antiga, sendo que uma de
suas primeiras aplicações remete ao ano 445 a.C. na celebração de tratado entre
Esparta e Atenas, levando as duas cidades-estados a optarem pela via arbitral no
caso de surgimento de litígio.
Entretanto, foi na Idade Média que o instituto recebeu maior notoriedade na
Europa, visto que proporcionava aos súditos esquivarem-se da “justiça senhorial”,
da qual a imparcialidade e neutralidade eram duvidosas, como também pelo
interesse dos burgueses em adequar as lides conforme seu entendimento usando
para isto o poder econômico e demais instrumentos para pressionar o árbitro a obter
decisão favorável aos interesses da classe comerciante e descartar a interferência
de terceiros.
Nas lides, durante a Idade Média, era comum a intervenção eclesiástica
com o objetivo de resolver conflitos de várias naturezas. A Igreja, por meio da figura
do Papa, trabalhava intensamente com técnicas de mediação e arbitragem para
solucionar os litígios entre as nações cristãs agindo, em um primeiro momento da
história, antes da formação dos Estados Nacionais, junto aos senhores feudais
que comumente recebiam o encargo de árbitro de seus vassalos e, em um
segundo momento, quando do fortalecimento do poder da realeza, no alvorecer do
absolutismo, atuando diretamente com os monarcas, empregando a excomunhão
como técnica de fortalecimento do poder da Igreja nas negociações e conduzindo
as mediações conforme interesse desta.
Ao analisar o caso brasileiro observa-se que a primeira inclusão da justiça
arbitral em nossa legislação ocorreu por ocasião da União Ibérica, em 1580,
quando nosso país recepcionou as Ordenações Filipinas, conjunto de leis nas
quais o instituto estava presente. Após, o reestabelecimento da monarquia lusa, a
arbitragem foi mantida, vindo a permanecer em vigor mesmo após a proclamação
da independência.
De acordo com Delgado (2003), a Constituição Imperial de 1824 acolheu a
arbitragem para lides, porém limitou seu emprego nas esferas penais e cíveis,
como se pode verificar no artigo 160, título VI: “nas cíveis, e nas penas civilmente
intentadas, poderão as Partes nomear Juízes Árbitros. Suas Sentenças serão
executadas sem recurso, se assim o convencionarem as mesmas partes”.
A Constituição republicana de 1891 restringiu ainda mais sua aplicabilidade,
decidindo que a utilização da arbitragem só seria aceitável para evitar conflitos
armados, como observa o artigo 34, inciso 11: “34 - Compete privativamente ao
Congresso Nacional: (.....) 11 - autorizar o governo a declarar guerra se não tiver
lugar ou malograr-se o recurso do arbitramento, e fazer a paz”.
Na sequência temporal, evidencia-se a Carta Magna de 1934 que referencia
a possibilidade de arbitragem apenas em questões comerciais e em caso de
guerra, sendo que a responsabilidade seria da federação. Assim, conforme o
disposto nos artigos 4º e 5º, XIX, c, o Estado teria competência para legislar a este
respeito como sugere os artigos transcritos abaixo:
Artigo 4º - O Brasil só declarará guerra se não couber ou malograr- se o recurso do arbitramento; e não se empenhará jamais em guerra de conquista, direta ou indiretamente, por si ou em aliança com outra nação Art 5º - Compete privativamente à União: (...) XIX - legislar sobre: (...) c) normas fundamentais do direito rural, do regime penitenciário, da arbitragem comercial, da assistência social, da assistência judiciária e das estatísticas de interesse coletivo;
No entanto, a Constituição de 1937, não textualizou nenhuma norma a
respeito da arbitragem, por outro lado, em 1946, na promulgação da nova
Constituição, novamente o instituto figura no artigo 4º que, a exemplo de 1891,
manteve a aplicação apenas em caso de guerra.
Artigo 4º - O Brasil só recorrerá a guerra, senão couber ou malograr o recurso ao arbitramento, ou aos meios pacíficos de solução do conflito, regulados por órgão internacional de segurança de que participe; e em caso nenhum se empenhará em guerra de conquista, direta ou indiretamente, por si ou em aliança com outro Estado.
Na Constituição de 1967, com força da Emenda nº 1 de 1969, consolidou
em seu artigo 7º, que as lides internacionais seriam resolvidas por negociação direta,
arbitragem e outros meios pacíficos: “os conflitos internacionais deverão ser
resolvidos por negociações diretas, arbitragem e outros meios pacíficos, com a
cooperação nos organismos internacionais de que o Brasil participe”.
Já na Lei fundamental de 1988, a arbitragem aparece no parágrafo 1º do
artigo 114, com a seguinte redação: “frustrada a negociação coletiva, as partes
poderão eleger árbitros”. A crescente cobrança da população que exige maior
agilidade na definição dos contenciosos, fundamentado no princípio da celeridade,
provocou o estudo de possíveis soluções para o problema da morosidade
processual no país. Por conseguinte, em 1996, a legislação brasileira se rende ao
instituto com a promulgação da Lei 9.307/96 que revogou expressamente os
artigos conexos do Código Civil e de Processo Civil, regulando todas as normas para
a organização desse método de solução de conflitos.
Como demonstrado, a arbitragem desenvolveu-se silente no ordenamento
jurídico brasileiro, recebendo pouco espaço tanto na doutrina nacional como na
prática, sendo desconhecida da sociedade.
No contexto internacional, é interessante frisar que o Brasil no século XIX,
desempenhou papel de árbitro em algumas questões internacionais, bem como
também teve que se submeter como parte interessada em processos arbitrais.
Dessa forma, a inserção da Lei da Arbitragem em 1996 ocasionou a necessidade
de romper paradigmas e, neste contexto, deve-se compreender como a autonomia
da vontade é respeitada na escolha das normas aplicadas ao conflito.
Segundo Tibúrcio (2002), o procedimento da escolha do regramento arbitral
pelas partes ocorre em duas dimensões, a primeira é a lei a ser empregada no
mérito e segunda é aquela elencada para conduzir o processo (lex fori), sendo a
primeira o enfoque da seção posterior.
3 AUTONOMIA DAS PARTES NA ELEIÇÃO DO REGRAMENTO ARBITRAL
A escolha do árbitro e da norma jurídica a ser respeitada no processo de
arbitragem é especificada em cláusula contratual, item que oficializa o ato negocial
e vincula as partes ao tribunal arbitral, nesta seção procurou-se estudar como ocorre
a aplicação da lei escolhida para julgamento do mérito. Conforme entende Tibúrcio
(2002), a redação da cláusula compromissória especificará as regras para a
condução do conflito. O processo ocorre na medida em que os agentes interessados
indicam, de forma personalíssima, o árbitro, ou os árbitros, que serão incumbidos de
dirigir um litígio que possa vir a ocorrer.
Da mesma forma ocorre com o ordenamento legal a ser respeitado, de livre
escolha das partes. Imperioso afirmar que o princípio da autonomia da vontade é o
grande preceito a ser seguido. De acordo com o parágrafo primeiro da Lei da
arbitragem, podemos compreender que qualquer regramento é válido, nacional ou
internacional, desde que não ofenda aos bons costumes e ordem pública, de acordo
com a transcrição do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 9.307/96 a seguir: “§1º
Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na
arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública”.
Mantendo a linha de raciocínio traz-se a baila uma questão que atrai
discussão no campo doutrinário e que se relaciona diretamente com o princípio da
equidade e autonomia da vontade no que concerne a escolha da norma a ser
implantada na resolução da lide.
Em relação ao processo de escolha dos regramentos pela autonomia da
vontade das partes, é relevante enfatizar qual a lei será aplicável ao procedimento
arbitral. Assim, a lei escolhida para reger o processo arbitral pode ser distinta da que
conduz a relação de mérito. Os litigantes, ao decidirem a respeito da norma que
administrará o processo, estão constituindo os preceitos que dirigirão o
procedimento arbitral. Este acerto pelas partes pode constar tanto na cláusula
compromissória quanto no compromisso como ressalta Tibúrcio (2002).
Conforme Teixeira (1997) aponta que existem algumas diferenças no
estabelecimento da lei que tratará do processo, uma vez que ela deve seguir
certos procedimentos preestabelecidos na lex fori restando claramente as medidas
e etapas a serem respeitadas no processo, caso contrário, o árbitro encontrará
dificuldades em aplicar a lei elencada pelas partes. Logo, o Brasil ainda
necessita estudar uma forma de melhor vincular a lei elencada pelas partes para o
processo com a já estabelecida lex fori estatal.
Entretanto, em relação a esses desencontros, os contendores mantêm a
garantia de livre-arbítrio afiançado por meio da Lei 9.307/96 e convenções
internacionais, desse modo, as partes detêm autonomia da vontade para
concordar com aplicação do regulamento de Câmara Arbitral, adotando seus
preceitos procedimentais: escolher lei processual do país sede da arbitragem;
indicar lei processual de país estrangeiro ou fazer uso da autonomia da vontade e
criar de regras processuais próprias para o desenvolvimento da arbitragem. Caso
as partes não especificarem a lei aplicável ao processo caberá ao árbitro promover
a lei que mais se adequar a situação.
Portanto, o entendimento de que cabe aos contendores escolher o
regramento que melhor se enquadre ao caso discutido, podendo consultar
regramentos de outras nações e, até mesmo, criar sua própria norma provoca uma
discussão a respeito de como se processaria o controle constitucional, ou seja, se
o árbitro poderia usar esta ferramenta e qual o método utilizado. Na sequência
será melhor analisada tal temática.
4 A ARBITRAGEM E OS MODELOS DE CONTROLE CONSTITUCIONAL
Inicialmente, será abordada a questão do controle constitucional e seus
modelos, para posteriormente, observar em conformidade com a Lei da Arbitragem
como o árbitro deve se comportar ao constatar violação aos preceitos
constitucionais. Assim, observa-se que o princípio da Supremacia Constitucional
possibilitou o desenvolvimento de mecanismos de garantia da respeitabilidade desta
superioridade normativa sobre os demais regramentos.
Em virtude das peculiaridades de cada país constata-se que o controle de
constitucionalidade apresenta-se diferenciadamente nos Estados nacionais e de
alguma forma influenciam o Brasil. Pode-se elencar distinções nos sistemas da
common law e da civil law, como sugere Lenza (2014), sobretudo, em função de
divergências substanciais na formação cultural das sociedades. Nesse sentido, é
importante verificar as especificidades de cada caso apresentado, de forma a
identificar quais seriam adequados para o emprego no juízo arbitral.
Destarte, conclui-se que as constituições de países com
maior amadurecimento político e social consagram três métodos de controle
jurisdicional de Constitucionalidade: o aberto, difuso ou norte-americano, onde
todo e qualquer órgão do Poder Judiciário de qualquer grau de jurisdição pode
fazer controle de constitucionalidade; o concentrado, reservado ou austríaco,
onde um único órgão pode fazer o controle e o misto, no qual ocorre uma
condição de abrangência entre os dois controles jurisdicionais, anteriormente,
apresentados, agindo às vezes como concentrado outras como o difuso, o que
vem a ser o sistema adotado pelo Brasil.
Segundo Lenza (2014), o controle difuso originou-se do célebre caso
envolvendo Marbury versus Madison ocorrido em 1803, nos Estados Unidos. A
decisão do caso coube a Suprema Corte Americana e o julgamento final de
responsabilidade do Chief Justice John Marshall, que decidiu pela
inconstitucionalidade do ato de Madison e manteve a nomeação de Marbury
para Juiz de Paz. Esta deliberação implantou o instituto denominado Judicial
Review, exportando o método de controle constitucional difuso pelo mundo, inclusive
no Brasil.
Desse modo, Mendes (2007) afirma que se pode entender que a técnica
criada polos estadunidenses não se reduz ao controle difuso, pois foi em função
de sua aplicação que outro conceito passou a receber corpo, constituindo o que se
denomina de stares decisis, isto é, "ficar com as coisas decididas". Tal expressão
é utilizada para se referir à doutrina segundo a qual as decisões de um órgão judicial
criam precedentes (jurisprudência) e vinculam as que vão ser emitidas no futuro.
Portanto, concebem-se duas máximas: a de que o Supremo Tribunal seria o
guardião da constituição e de que suas decisões ratificadas subsidiam a
jurisprudência.
O stare decisis, dessa forma, concebe a confirmação do modelo
jurisprudencial da common law. Sendo que o controle de constitucionalidade deveria
ser exercido pelo mais alto Tribunal do sistema judiciário estadunidense, de tal
sorte que a partir desta decisão os demais tribunais deveriam manter o mesmo
encaminhamento jurídico. Em conformidade com essa premissa, Barroso
(2006) lembra que no emprego do controle difuso, como ocorre em outros países,
o alcance da sentença que declara inconstitucionalidade diz respeito apenas as
partes litigantes.
Porquanto, os modelos discutidos consolidam informações de relevante
importância na medida em que viabilizam ao árbitro o emprego de procedimento
análogo em seu julgamento. O árbitro ao declarar inconstitucionalidade de uma
norma elencada pelas partes, alegando conflito, estará assegurado pela doutrina,
todavia não se pode concluir que sua decisão ensejaria uma jurisprudência capaz
de vincular demais instâncias decisórias, visto que os resultados da deliberação
limitam-se apenas às partes contendoras. Com o intuito de melhor fundamentar o
entendimento sustentado nesse trabalho, abordar-se-á no item subsequente
procedimentos internacionais, em particular o precedente italiano, como fonte de
Direito Comparado.
5 O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ARBITRAL: A NATUREZA
JURÍDICA DA ARBITRAGEM SOB A ÓTICA DO DIREITO COMPARADO
Conforme Braga (2013), o controle esquematizado por Kelsen teve
expressiva aceitação em alguns países da Europa, tais como Áustria (1929), Itália
(1948) e Alemanha (1949). Os Estados que adotaram o modelo Kelseniano
desenvolveram o sistema de acordo com suas peculiaridades regionais inserindo
alterações, porém sem perder o cerne da teoria. As mudanças proporcionaram aos
órgãos de qualquer jurisdição a competência de submeter assuntos de cunho
constitucional à apreciação final do Tribunal Constitucional.
Conforme Cerri (2012), a postura do judiciário italiano determina que a
conduta a ser adotada pelo juiz que se deparar com uma causa onde constatar
notória afronta ao texto constitucional teria a incumbência de, movido pelo
princípio do poder-dever, suspender o processo e encaminhar a situação para
análise do Tribunal Constitucional, sendo que somente este teria a competência de
declarar a inconstitucionalidade.
Por fim, emerge como solução adotada pela Corte Constitucional italiana
confiar ao árbitro poderes equiparados ao juiz ordinário, desse modo, admitindo que
o árbitro é provido do poder-dever de despachar para o Tribunal
Constitucional a responsabilidade do julgamento de determinado caso de conflito
normativo que se verificou no processo de arbitragem.
De acordo com Cerri (2012) o episódio prático na Corte Italiana teve origem
em uma situação contenciosa, na qual a Corte Arbitral debelou a Corte
Constitucional questionamento sobre a sua própria legitimidade constitucional para
tal atuação. A Corte Constitucional ao analisar o caso baseou sua fundamentação
na observância de existir analogia presumível entre o trabalho do juiz e do árbitro,
que ensejasse ao segundo utilizar-se da prerrogativa do primeiro de remeter
indagações constitucionais ao Tribunal Supremo.
Na esteira deste pensamento, o autor acima citado, afirma que o Tribunal
aprontou conclusão indicando que o árbitro, no exercício de seu serviço legítimo
de arbitragem e contido aos pareceres da lei aplicativa ao caso a ser julgado, gozará
do privilégio de poder-dever e, assim, encaminhar possíveis questionamentos de
inconstitucionalidade da lei magna italiana para análise da Corte Constitucional. De
acordo com os apontamentos de Cerri (2012, p. 80) podemos compreender que a
natureza da arbitragem é de caráter judicial, como vemos a seguir:
Em conclusão, portanto, é forçoso constatar, à luz da jurisprudência já citada pelo Tribunal de Justiça, que no exercício de seus rituais, os árbitros podem, aliás, devem levantar questão da legitimidade constitucional das leis que deveriam aplicar, quando é impossível o trabalho de interpretação. (grifo e tradução do autor)
Assim, o Tribunal Constitucional italiano sedimentou a equiparação do árbitro
ao juiz possibilitando que o primeiro, respeitando o modelo concentrado adotado na
Itália, possa agir de forma idêntica ao magistrado no momento que identificar
possibilidade de agressão aos princípios constitucionais, isto é, suspender o
processo arbitral e remeter indagação ao Tribunal para que este decida a respeito
da inconstitucionalidade do ato.
Ao realizar uma associação do caso italiano com a realidade brasileira,
empregando a fonte do Direito Comparado se verificou outra leitura. Em nosso
país, o sistema de controle constitucional vigente é o misto (difuso e concentrado),
portanto possui características que permitem ao magistrado declarar
inconstitucionalidade de uma norma sem necessidade de ter que indagar o Supremo
Tribunal Federal.
Tal manobra estará coadunada com o controle difuso. Esta constatação
aliada ao exemplo italiano conduz o entendimento que, por analogia, o árbitro
poderia exercer o controle de constitucionalidade de forma equivalente ao
magistrado consolidando a questão. No entanto, existe no exemplo italiano outro
reconhecimento que podemos observar: a decisão de igualar o árbitro ao juiz na
condução de seus processos remete a percepção de que ambos desempenham
função jurisdicional.
Na elaboração da norma brasileira os legisladores alinharam-se ao
pensamento da primeira corrente atribuindo ao árbitro poder de natureza jurídica.
Como já é do conhecimento de acordo com o exposto, o constituinte delegou ao
Poder Judiciário o método de controle misto, admitindo características de forma
concentrada e difusa. Cabe acentuar que o controle difuso é efetuado pelo
magistrado de primeira instância ao pacificar o litígio de sua responsabilidade.
Contudo, é importante entender que nem todos os poderes de magistratura
são repassados ao árbitro, um deles é o poder de coercibilidade, típico da jurisdição.
Porém, o instituto da Arbitragem, embora não detendo capacidade de imposição
similar ao poder judicial, pode ser considerado revestido de natureza jurídica.
É mister salientar que o posicionamento não sonega ao Supremo Tribunal
Federal a competência constitucional de realizar o controle “concentrado”, dentro
do sistema misto nacional, que já estabeleceu quem são os legitimados para
exercer. A exemplo dos árbitros, os juízes togados de primeira instância também
são desprovidos de tal possibilidade, portanto, fica notório que a estes cabe o
exercício do modelo difuso confirmando as observações apresentadas.
6 CONSIDERAÇOES FINAIS
A discussão proposta neste estudo reveste-se de importância em virtude da
inovação e atualidade do Instituto da Arbitragem inserido no ordenamento jurídico
brasileiro por intermédio da Lei 9.307/96. Desta forma, procuramos estudar o
desenvolvimento histórico do Instituto até sua importação definitiva para o Brasil,
verificou-se, ainda a possibilidade de empregarmos a fonte do direito comparado
como preceito para embasar argumentação sólida, trazendo para debate o
precedente italiano que trouxe muitos ensinamentos e orientações.
No Brasil, acredita-se que em virtude da Lei da Arbitragem ser fato recente,
da reduzida divulgação para a sociedade, não incidência de antinomia e pela baixa
procura (o brasileiro é resistente a mudar sua concepção de justiça, “quem julga é
o juíz, árbitro só no futebol”, é a frase que impera quando se indaga a população a
respeito do assunto). Embora não tenhamos notícia de ampla discussão no Brasil
tal indagação é assunto rotineiro nos fóruns internacionais, a exemplo do que
esclarecemos ter ocorrido na justiça italiana.
O instituto da arbitragem vem sendo discretamente discutido, porém ganha
espaço e proporções à medida que o próprio poder judiciário brasileiro se incumbe
de estimular o uso do método como forma de reduzir o número de processos a serem
julgados pelo estado. Destarte, ao estudar o assunto por intermédio do direito
comparado e da redescoberta das discussões internacionais tão presentes no
cenário globalizado em que vivemos e a despeito da falta de subsídios
nacionais para explorar o assunto, o que gera dúvidas e indefinições, propõem-se
a certificar que o exercício do laboro arbitral é uma realidade próspera no Brasil.
A escolha da lei do mérito e da lei processual pelas partes deve seguir uma
orientação do árbitro regulada em embasamento teórico, neste ponto o país
necessita de maiores esclarecimentos doutrinários a exemplo do que ocorre em
outros Estados. Quanto aos conflitos normativos não podemos desconsiderar a
primazia da superioridade constitucional com relação ao regramento elencado
pelas partes na arbitragem e é com este respaldo que o controle constitucional deve
ser exercido pelo árbitro.
Por fim, procurou-se desenvolver um pensamento com vistas a confirmar a
viabilidade da compatibilização de jurisdição para aplicabilidade do controle
constitucional. Portanto, ao examinar a natureza jurídica da arbitragem e a
autoridade do árbitro comparado a de um magistrado, concluímos que ambas se
equivalem, contudo, o instituto da Arbitragem se revestiria jurisdicionalidade, bem
como capacidade jurídica para declarar inconstitucionalidade, fazendo uso do
controle misto com sua característica difusa.
REFERÊNCIAS
BARROSO, Luis Roberto. O Controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
BRAGA, Alice Serpa. Sistemas de controle de constitucionalidade. Revista Jus Navegandi, Teresina, ano 18, número 3610, 20 maio 2013. Disponível em:
<http://jus.com.br/artigos/24494>. Acesso em: 16 nov. 2015. CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Os poderes do presidente da República. Coimbra: Editora Coimbra, 1991.
CALAMANDREI Piero. La setenza soggettivamente complessa. Pádua: Cedam, 1930.
CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei n.º 9 307/96. 2 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2004.
CERRI, Alberto. Arbitrato e Constituzione. Napoli: Ed. Edizioni Scientifiche, 2012.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da metodologia científica. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2005.
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 18 ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2014.
MANIÁCI, Arturo. Tutela dele minoranze e rimendi risarcitori nella nuova disciplina dele invaliditá dele deliberazioni assembleri societarie. Curitiba: Revista Jurídica de Curitiba, 2005.
MENDES, Gilmar Ferreira. Arguição de descumprimento de preceito fundamental: comentários à Lei n. 9.882, de 3.12.1999. 1 ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2007.
PALU, Oswaldo Luiz. Controle de Constitucionalidade: conceito, sistemas e efeitos. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001.
PERLINGIERI, Pietro. Arbitrato e Mediazione. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2002
SAMARTANO, Mauro Rubino. Il Diritto dell’arbitrato. 6 ed. Napoli: Ed. CEDAM, 2010.
SOROMENHO-PIRES, Antonio Carlos de Sousa. Arbitragem: evolução histórica e algumas questões fundamentais. Blumenau: Revista Jurídica da FURB, 2010.
TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. A Arbitragem na Era da Globalização. São Paulo: Ed. Forense,1997.
TIBÚRCIO, Carmen. A lei aplicável às arbitragens internacionais. São Paulo: Ed. LTr, 2002.