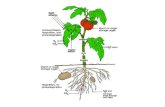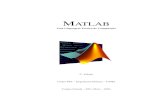Papéis - Rev. Letras UFMS Campo Grande, MS v. 2 n. 3 p. 1...
Transcript of Papéis - Rev. Letras UFMS Campo Grande, MS v. 2 n. 3 p. 1...

1
Papéis - Rev. Letras UFMS Campo Grande, MS v. 2 n. 3 p. 1-88 jan./jun. 1998

2
UNIVERSIDADE FEDERAL DEMATO GROSSO DO SUL
ReitorJorge João Chacha
Vice-ReitorAmaury de Souza
CÂMARA EDITORIALAlda Maria Quadros do CoutoAna Maria Pinto de Oliveira
Ana Maria Souza Lima FargoniDercir Pedro de OliveiraJosé Batista de Sales
Maria Adélia MenegazzoPaulo Sérgio Nolasco dos SantosRita Maria Baltar Van Der Laan
Ronaldo AssunçãoVânia Maria Lescano Guerra
Papéis revista de letras UFMS. Vol. 2, n. 3(jan-jul. 1998)- . -- Campo Grande, MS :Ed. UFMS, 1997-
v. : 27 cm.
Semestral.
1. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Ficha Catalográfica preparada pelaCoordenadoria de Biblioteca Central-UFMS

3
APRESENTAÇÃOO presente número de PAPÉIS, revista de letras da Universidade Federal de Mato Grosso doSul (UFMS) traz ao leitor, em edição especial, a primeira publicação do Programa deMestrado em Letras do Centro Universitário de Três Lagoas.
O programa, iniciado em março deste ano, oferece dez (10) vagas, distribuídas em duas (02)áreas de concentração: Lingüística e Teoria Literária, as quais se dividem nas seguinteslinhas de pesquisa: na área de Lingüística - Variação da Linguagem; Lingüística do Texto eDescrição do Português; na área de Teoria da Literatura: Crítica e História Literária eComparativismo e Crítica Literária.
Este volume representa, portanto, um dos marcos relevantes do esforço que aUniversidade Federal de Mato Grosso do Sul em geral, e o Centro Universitário de TrêsLagoas, em particular, fizeram para se consolidar como instituição pública de ensinosuperior no seu mais amplo sentido, ou seja, ensino superior articulado com o ensino, apesquisa e a extensão.
Por outro lado, é bom ressaltar que se é a inauguração deste Programa de Mestrado, não épara vários dos colaboradores aqui presentes. Os trabalhos ora publicados constituem-sede temas desenvolvidos ou em desenvolvimento em salas de aula do Programa, deresultados de pesquisa ou de reflexões levadas a cabo quando ainda contávamos apenascom o Curso de Especialização em Língua Portuguesa; além disso contamos também com asteses de doutoramento dos professores integrantes do nosso corpo docente, e o trabalhode professores especialmente convidados, como: Gilberto Mendonça Teles, Edgar CézarNolasco e Rosana Cristina Z. dos Santos.
Significa assinalar, de igual modo, que a implantação do Programa de Mestrado e estapublicação representam o coroamento de nossas atividades em ensino, pesquisa e extensãoe, por que não? da nossa procura pela capacitação docente, nem sempre facilitada pelaconjuntura da vida universitária nesta Universidade Federal.
Antes de encerrar esta apresentação, registramos nosso profundo agradecimento aosprofessores Alfredo Peixoto Martins e Orlando Antunes Batista, por seus trabalhospioneiros para a implantação deste Programa no Centro Universitário de Três Lagoas, pelatomada de decisão dos altos dirigentes da Instituição e pelos estímulos de colegas deoutras universidades de prestígio internacional.
Até o próximo semestre!
José Batista de SalesCoordenador do Programa de Mestrado
em Letras - CEUL/UFMS

4
Publicação da
Projeto Gráfico e Editoração EletrônicaEditora UFMS
RevisãoA revisão lingüística e ortográfica é de responsabilidade dos autores
Impressão e AcabamentoDivisão de Produção Gráfica - ACS/UFMS
DistribuiçãoLivraria UFMS
‘‘Só...’’Acrílica sobre Papel
23 x 35 cm
Artista plásticaLúcia Monte Serrat Alves Bueno
Professora do Curso de Educação Artísticada UFMS, Especialista em Arte Educação(USP), Mestranda em Educação (UFMS).
‘‘Janela do Tempo’’Acrílica sobre Papelão23 x 35 cm
Rua 9 de Julho, 1922CEP 79.081-050 - Campo Grande-MS
Fone: (067) 746-1335 - Fax: (067) 746-1463e-mail:[email protected]

5
DICÇÃO E POESIA NA LÍRICABRASILEIRA DO SÉCULO XXOrlando Antunes Batista
A POSIÇÃO DO SUJEITOCOM VERBOS COPULATIVOSRosane de Andrade Berlinck - Dercir Pedro de Oliveira
DISCURSO, IDEOLOGIAE REPRESENTAÇÃOSílvia Helena Barbi Cardoso
AS REPERCUSSÕES DA POÉTICA CLÁSSICANO SÉCULO XVI EM PORTUGALRosana Cristina Zanelatto Santos
CRÍTICA E HISTÓRIAGilberto Mendonça Teles
CLARICE LISPECTOR:UM AUTOR QUE SE INSCREVEEdgar Cézar Nolasco
A CASA ASSOMBRADA DEVIRGÍNIA WOOLFPaulo Sérgio Nolasco dos Santos
DO VERBO AO TEXTO:UMA LEITURA DE ANGÚSTIA (GRACILIANO RAMOS)Marlene Durigan
O DISCURSO METAPOÉTICODE JORGE DE SENAJosé Batista de Sales
SUMÁRIO
54
46
3430
22
16
6
62
78

6
O estudo analisa o uso do poema longo na lírica brasileirado século XX. Enfoca-se o relacionamento do poeta comeste tipo de poema e sua utilidade na estrutura do livro depoemas. Em momentos críticos vividos por uma Sociedade,o poema longo tem potencial didático, que é explorado pelosgrandes poetas. Este tipo de texto tem posição definida noexercício poético realizado em dois momentos históricos.
Palavras-chave:Teoria literária; Literatura Brasileira;
História Literária.
This work analyses the use of the long poem inbrazilian lyric of the 20 th century. It focues therelationship of the poet with this kind of poem and itsutility in the structure of the poems’ book. At criticmoments lived by a society, the long poem has didaticpotential, that is explored by big poets. This kind oftext has a defined position at the poetic exerciseperformed in two historic moment.
Key-words:Literary theory; Brazilian Literature;
Literary History.
* Doutor em Letras –Livre-docente em TeoriaLiterária. Professor-visitante no mestradoem Letras da FundaçãoUniversidade Federalde Mato Grosso do Sul.Texto integrante deProjeto de PesquisaHistória LiteráriaBrasileira no período de1964-1984.

7Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 6-15, jan./jun., 1998.
DICÇÃO E POESIANA LÍRICA BRASILEIRA
DO SÉCULO XXOrlando Antunes Batista*
É tempo de meio silêncio,de boca gelada e murmúrio,palavra indireta, aviso naesquina. Tempo de cinco sentidosnum só. O espião janta conosco.É tempo de cortinas pardas,de céu neutro, políticana maçã, no santo, no gozo,amor e desamor, cólerabranda, gim com água tônica,olhos pintados,dentes de vidro,grotesca língua torcida.A isso chamamos balanço.
Drummond - In:Nosso Tempo (A rosa do povo)
1 - Introdução1.1 - Ordenamento teórico
Ver que ninguém na rua umacanção cantou de amorchamando à rebeldia parao trabalho amargo da alegria.
Thiago de MelloPoema da praça desterrada.
No ensaio pretendemos abordar a presença dolivro de poemas na lírica brasileira do Século XX
sob o prisma das relações entre o Intelectual e oEstado.
Para a estruturação do ensaio vamos nos servir deum elemento básico, considerado dentro do contextodas tipologias textuais. É nosso objetivo apresentar al-guns questionamentos sobre a presença do livro depoemas e a sua ação sobre o imaginário da sociedadebrasileira neste século.
Enquanto forma de resistência na luta contra o Es-tado procuraremos abordar a história literária do livrode poemas, procurando enfocar alguns dados internosque poderiam oferecer uma outra leitura de mundo dasociedade brasileira dentro dos Períodos da Era Vargase da Revolução de l964.
Vamos procurar sintetizar alguns parâmetros quevenham a delimitar a consciência criadora existentena sociedade brasileira e de que forma ela veioreagir contra o Estado. Considerando o livro de po-emas como uma estrutura mais complexa do que oromance, deveremos evocar no estudo as relaçõesentre alguns livros que consideramos importantespara a compreensão da temática do diálogo entrea inteligência nacional e o Estado. Para tanto, va-mos nos servir das obras A rosa do povo, deDrummond, editada em 1945 mas composta entre1943 e 1945; Dentro da noite veloz, escrito porFerreira Gullar ( escrito no período 1962-1974),Saciologia Goiana, de Gilberto Mendonça Teles (editado em 1982) e Auto do Frade, de João Cabralde Mello Neto (1984).

8
Para a composição desta lei-tura de mundo existente em épo-cas fechadas por um discurso to-talitário vamos nos servir da liçãodeixada por José GuilhermeMerquior no texto A volta do po-ema (editada inicialmente no Jor-nal do Brasil, em 22.11.1980. Aoproblematizar o retorno do poemalongo, enquanto tipo de texto líri-co, o crítico em questão procura-va valorizar em tal dimensãodiscursiva a presença de valoresque não apareciam nas manifestações modernistas,mais envolvidas com o poema-minuto ou com arevitalização do soneto.
Dentro destas tensões lingüísticas é que procura-remos avaliar a presença da ação poética de váriosautores. E na tentativa de ampliar a contribuição dei-xada por Merquior ainda inseriremos em nossa leitu-ra poemática a questão da dicção lírica inserida notexto Musa morena moça: sobre a nova poesiabrasileira (In: Poesia brasileira hoje, Tempo Brasi-leiro, nº 42/43
1.2 - Problemas deOrdenamento da Leitura
Para a composição do ensaio vamos nos servir datipologia da dicção, dividida em estilo puro, alegóri-co, denúncia e mesclado.
Procurando avaliar a validade da proposta deMerquior, vamos compará-la com a de outros au-tores para, na medida do possível, visualizar umquadro conceitual mais rígido e possibilitador desistematizações coerentes para a compreensão daHistória Literária dentro do Estado Novo e Regi-me de 64.
A questão do estilo, enquanto tipo de dicção/modusnarrandi deve ser interpretada dentro do ponto de vis-ta salientado por Georg Lukács no texto Narrar oudescrever? Diz-nos o ensaísta que
Compreender a necessidade social de um dadoé algo bem diferente de fornecer uma avaliaçãoestética dos efeitos artísticos desse estilo.
Por esta esta razão devemos considerar que otipo de dicção deverá fornecer um tipo de leitura darealidade e em função de dominar o tipo de dicção oescritor poderá abarcar uma maior ou menor parce-la da realidade que deseja analisar. Retomando ain-
da Lukács encontraremos nesteautor a indicação de que
Sem uma concepção do mundonão se pode narrar bem, isto é,não se pode alcançar uma com-posição épica ordenada, variadae completa.
A presença do poema longo eo tipo de dicção que sustenta aconstrução da obra de arte servepara que o tipo de ideologia ganherelevo e os tipos de textos, elabo-
rados segundo a diversidade elencada abaixo, sirvampara delimintar as fronteiras entre o narrar ou des-crever a realidade. O texto, segundo o tipo de dicção,aparece como modo de revelação da realidade inter-pretada, indicando a presença de um direcionamentoda verdade a ser imposta ao leitor. Se narrar derivade “dar a conhecer”, nada mais natural do que ob-servar a divisão dos tipos de textos para o anda-mento do ensaio:
Para uma visualização do quadro lingüísticoexistente dentro do contexto em que forampublicadas as obras A rosa do povo, Dentro danoite veloz, Saciologia Goiana e Auto do fra-de , necess itamos de ver em que sent ido oordenamento dos textos procura guiar a percep-ção do leitor. Pela análise dos livros, levando-seem consideração a utilização do poema longo, serápossível e plausível observar os parâmetros queestavam regendo a conduta da pragmática textu-al de cada autor. A forma de resistência do escri-tor na estrutura social é então delimitada pelo tipode composição que está sendo empregada peloescr itor. Tem certas propriedades a visão deLukács quando assevera:
Toda estrutura poética é profundamente de-terminada, exatamente nos critérios de com-posição que a inspiram, por um dado modode conceber o mundo.
Walter Benjamim, no ensaio O autor como pro-dutor (1934) coloca a situação do escritor dentro dasociedade e abre perspectivas para as colocações quedesejamos realizar quando do enfoque do discurso dopoeta em face de regimes totalitários:
O texto, segundo o tipode dicção, aparece como
modo de revelação darealidade interpretada,
indicando umdirecionamento da
verdade a ser impostaao leitor.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 6-15, jan./jun., 1998.

9
Conhecemos o tratamento re-servado por Platão aos poe-tas em sua República. No in-teresse da comunidade, eleos exclui do Estado. Platãotinha um alto conceito dopoder da poesia. Porém jul-gava-a prejudicial, supér-flua numa comunidade per-feita, bem entendido. Desdeentão, a questão do direito àexistência do poeta raramen-te tem sido colocada comessa ênfase: mas ela se coloca hoje. Não secoloca, em geral, nessa forma. Mas a ques-tão vos é mais ou menos familiar sob a formado problema da autonomia do autor: sua li-berdade de escrever o que quiser. Em vossaopinião, a situação social contemporânea oforça a decidir em favor de que causa colo-cará sua atividade.
A questão da tendência e da qualidade pare-cem valorizar a presença da obra literária paraBenjamim. O convívio de uma obra com outras obrasdentro de um determinado contexto é quem vai de-terminar a sobrevivência de uma obra em relação àsdemais. Pretende o autor chamar a atenção do críti-co para o fato de que a técnica é quem pode estabe-lecer a eficácia de um texto numa dada comunidade.No caso de nossa investigação, por exemplo, centra-lizamos a leitura das obras em certo contexto políticolevando-se em consideração a presença do poemalongo como questão relacionada à qualidade do tex-to e sua funcionalidade, enquanto textos portadoresde uma técnica que vai propiciar a reflexão dos leito-res para encontrarem um sistema referencial paraordenarem a sua leitura de mundo num determinadosistema político.
Caberia lançar uma indagação sobre a literariedadedo poema longo e na divisão da abordagem do poemalongo dentro da questão dos estilos puro, mescla-do, alegórico e denúncia conseguimos encontrarum procedimento didático para realçar a presençado escritor enfatizar a qualidade de seu discurso. Opróprio contexto do Modernismo no Século XX setornaria um problema para o estudo da Lírica emmomentos totalitários de um sistema político, visto queo verso livre surgiria como um demolidor de um tipode expressão, abrindo um vácuo para o próprio tra-balho do artista. A dinamização da informação atra-
vés de outros veículos, tais comoo Jornal, Cinema, Rádio e Televi-são, traria para o exercício literá-rio problemas que iriam afetar aqualidade expressiva da obra dearte verbal, obrigando o escritor ase definir dentro de sua linguagempoética. A diversidade de tipos detextos existentes em A rosa dopovo vem evidenciar a crise queassolava a consciência criadora deDrummond. Ao misturar os poe-mas longos com outros tipos de po-
emas o poeta conseguia, além de driblar a Censura,demonstrar todo o conhecimento de uma Poemáticae de que modo se locomovia no clima da Poética Maior,intitulada Modernismo, para lançar as bases da suaPoética Menor, centralizada, mais especificamente emA rosa do povo, por uma sutil preferência pelo poe-ma longo.
O diálogo entre Autor e Público se daria, portantodentro de certas rupturas que, a nosso ver, podemser observadas no Período do Estado Novo e da Re-volução de 64. O trabalho produtivo da inteligência,seguindo uma imagem de Walter Benjamim, deixadano ensaio já citado, vai se revelar na competência doescritor em amalgamar o seu discurso dentro de vá-rios estilos, originando uma performance. Ao fazeruma opção pelo poema longo, como recurso ideológi-co para orientar o imaginário dos leitores, o escritornão deixa de seguir uma tendência e de proporcionarqualidade ao seu trabalho intelectual, possibilitandouma leitura aberta da realidade quando o estilo é mes-clado e fechada quando entrega o texto no estilo-de-núncia.
O texto, enquanto produção intelectual, viria, por-tanto, passaria a ser uma forma de compreensão darealidade histórica, e o estilo é quem iria determinar osdestinos do próprio texto em função do estilo e do tipode texto utilizado.
2 - DesenvolvimentoO bom crítico é um leitor que rumina.Por isso deveria ter vários estômagos. Frederich Schellegel
2.1 - A Rosa do PovoA partir de 1940, mais ainda, de l945, verifica-
se uma acentuada queda na produção intelectual.Publicam-se cada vez menos livros, lê-se cada vez
O convívio de uma obracom outras obras
dentro de umdeterminado contexto
é quem vai determinar asobrevivência de umaobra em relação às
demais.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 6-15, jan./jun., 1998.

10
menos. E enquanto a geração dospós-modernistas começa a se repe-tir ou a silenciar, a geração nova, os‘novíssimos”, não apresentam sinaisconvincentes de recuperação inte-lectual e são canalizados, numa pro-porção significativa, para a poesia eo estetismo.
Hélio Jaguaribe
Depois de O testamento deuma geração, escrito por Máriode Andrade em l.942, devemos considerar o textode A rosa do povo, de Carlos Drummond de An-drade como uma atitude estética que procura sinte-tizar as coordenadas na década de l.935-l.945, ondepredominava o Estado Novo ou também conhecidocomo a Era Vargas.
De que forma podemos observar na produção des-te livro uma contribuição para se entender a comuni-cação entre o Intelectual e o Poder? Para analisareste universo lingüístico vamos nos servir do concei-to de poema longo, oferecido por José GuilhermeMerquior.
No livro A rosa do povo encontramos nos cin-qüenta e cinco poemas 69% dos textos líricos vaza-dos na forma do poema longo. Baseados neste dado,devemos considerar que o exercício lírico drum-mondiano nos oferece uma dimensão diferente da-quela que vinha se projetando sobre os poetas queprocuravam se libertar das diretrizes do 1º e 2º mo-dernismo. Qual seria a relação entre o poema longoe o Poder?
Se o estilo, enquanto dicção do poeta, nas coorde-nadas do Século XX, não é mais o estilo puro, ditadopor uma poemática rígida, de que maneira avaliar aação intelectual do poeta brasileiro dentro de um re-gime político anti-democrático? Para tentar esclare-cer este problema vamos atentar para o fato de queo conceito de verso livre é insuficiente para se avali-ar a contribuição do poeta neste Século XX. Talvezrecorrendo ao conceito de estilo poderíamos verifi-car em que sentido a dicção do poeta poderia ofere-cer meios para delimitar a estrutura do seu imaginá-rio textual e estabelecer um horizonte estético queviesse a sintetizar o período político abarcado pelasua produção literária.
De que matéria se faria, então, o livro de poemasnum período totalitário? No caso de A rosa do povopoderemos constatar que a dicção pura vai se diluin-do em outras três dicções: mesclada, alegórica e dedenúncia. A projeção das quatro dicções sobre o ima-
ginário do escritor é o resultado pro-vocado pela desagregação feno-menológica do real. Octávio Pazassim a sintetiza no texto Signosem rotação:Tudo era um todo. Agora o espa-ço se desagrega e se expande; otempo se torna descontínuo; e omundo, o todo, se desfaz em pe-daços. (p.101)
A imagem da citação pode serrelida sob a imagem de que no passado o poemaera o todo e agora o todo passa a ser reestruturadosob vários tipos de textos que entram na composi-ção do livro/todo. A leitura do mundo, lançada nolivro de poemas, é feita de partes des-conexas. Estatransformação da consciência criadora nos é dadapor Octávio Paz no mesmo ensaio, quando afirmaque
Os poetas do século passado e da primeira me-tade do corrente consagraram a palavra com apalavra. Signos em rotação, (p. 121)
As dificuldades para a compreensão da utilidadedo livro de poemas no imaginário do leitor desapa-rece quando o leitor se interessa pela pragmática daobra de arte, isto é, quando o leitor deixa de ser umleitor ingênuo e passa a ser um leitor semiótico. Nãobasta procurar enquadrar a obra de arte drum-mondiana dentro do período construtivista (PériclesEugênio da Silva Ramos, Poesia Moderna).Tampouco a pesquisa para delimitar o número depoemas existente no livro ajuda para esclarecer aação lingüística no texto de A rosa do povo. Deve-se, ainda, tentar descobrir de que forma a tramapragmática dos textos serviu para disfarçar a açãodo poeta dentro de um período de opressão política.Para o estudo da hermenêutica do texto usamos alinha de Paul Ricoeur, quando orienta o leitor parapesquisar no discurso a presença das coordenadas:l - efetuação da linguagem como discurso; 2 - aefetuação do discurso como obra estruturada; 3 - arelação da fala com a escrita no discurso e nas obrasde discurso; 4 - a obra de discurso como projeçãode mundo e 5 - o discurso e a obra de discurso comomediação da compreensão de si. (Interpretação eideologias, p.44).
No caso de A rosa do povo, descobrimos queos cinqüenta e cinco poemas se distribuiriam, en-quanto forma de dicção, na seguinte proporção: es-
As dificuldades para acompreensão da
utilidade do livro depoemas no imagináriodo leitor desaparece
quando o leitor deixa deser um leitor ingênuo epassa a ser um leitor
semiótico.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 6-15, jan./jun., 1998.

11
tilo puro, 3 poemas; estilo denún-cia, l3 poemas; estilo alegórico, 26poemas; estilo mesclado, l3 poe-mas. Percebe-se que a fragmen-tação do livro não só pelo númerode textos inseridos no discurso doautor, pois trata-se, até esta épo-ca, do livro mais longo deDrummond, vai sendo tramadasob outros aspectos. Os tipos dedicções servem para determinarde que maneira o escritor vaidriblar a Censura do Estado Novo e a divisão dospoemas em conjuntos temáticos ainda vai oferecera visão de que o escritor possuía sólida visão da prag-mática textual que devia empregar. Assim, a divi-são da obra em conjuntos temáticos servia para mos-trar que, semioticamente, o escritor conduzia o pla-no da obra dentro das seguintes coordenadas: con-templação da poesia, engajamento, análise do dis-curso, função da memória, posição do indivíduo, va-lores amorosos, simbologia da amizade, o papel dodramático.
A dispersão da consciência criadora surgia paraoferecer para o leitor uma leitura de mundo propor-cionada em primeiro lugar pelo domínio lingüísticodo poeta. Drummond aparecia, então, como HomoFaber, produzindo o seu discurso, e enquanto HomoLudens, jogando com as formações discursivas, pro-curava se revelar um Homo Loquens, interessadoem problematizar a relação entre o Intelectual e oEstado. Esta intenção de encontrar um novo espaçopara se compreender a presença do poeta na socie-dade foi encontrada na leitura de Käte Hamburguer(A lógica da criação literária, p.174):
O gênero lírico é constituído pela intenção porassim dizer “ manifestada” do sujeito -de-enunciação de ser um eu lírico, ou seja, pelocontexto em que encontramos um poema.
Na busca de uma compreensão mais profundado valor de um livro de poemas deve o leitor procu-rar questionar a ação lingüística do escritor paracompor a sua pragmática textual. A trama das idéi-as é quem vai oferecer a real dimensão de sua posi-ção dentro da estrutura social. Serve deembasamento para nossa reflexão as palavras deAlfredo Bosi (O ser e tempo da poesia, p.192)quando o crítico assinala que
O trabalho poético é às vezes acusado de igno-rar ou suspender a práxis. Na verdade, é uma
suspensão momentânea e, bempesadas as coisas, uma suspen-são aparente. Projetando naconsciência do leitor imagens domundo e do homem muito maisvivas e reais do que as forjadaspela ideologias, o poema acendeo desejo de uma outra existência,mais livre e mais bela. E aproxi-mando o sujeito do objeto, e osujeito de si mesmo, o poemaexerce a alta função de suprir o
intervalo que isola os seres. Outro alvo não temna mira a ação mais enérgica e mais ousada. Apoesia traz, sob as espécies da figura e do som,aquela realidade pela qual, ou contra a qual,vale a pena lutar.
Os poemas de A rosa do povo não estão isolados.Se agrupam tematicamente e enquanto formas de dic-ções que vão demonstrar a existência de umcontraponto na leitura de mundo feita pelo poeta e pro-jetada no livro, enquanto manifestação discursiva desua consciência.
2.2 - As Incertezasna Metrópole
A inserção de Ferreira Gullar no ensaio, atravésda obra Dentro da noite veloz (l972-l974 ), servepara reforçar a visão que pretendemos enfocar a par-tir do uso do poema longo como forma deconscientização do leitor.
No caso desta obra, detectamos a presença de seten-ta por cento dos poemas pertencendo à tipologia do poe-ma longo, num total de trinta poemas que dão estruturaao livro. Esclarecendo melhor, verificamos que há umagradação com relação à tipologia de poemas, sendo doiscurtos, sete de tamanho médio e os restantes longos.
A militância política predomina na totalidade dostextos de Dentro da noite veloz e a presença davoz lírica se dá dentro das coordenadas que deno-minamos de tensão crítica, tendo o poeta a necessi-dade de medir forças contra a estrutura social vi-gente. O conteúdo sociológico é dominante na mai-oria dos poemas e o destino da lírica se mede pelatensão entre os pólos estético e político. Transparecenestes textos uma crítica e uma autocrítica com re-lação aos destinos da Vanguarda, extremamenteirracionalizante para os prognósticos dos artistas queviam na Literatura uma força enquanto arma de ex-
Na busca de umacompreensão mais
profunda do valor de umlivro de poemas deve o
leitor procurarquestionar a ação
lingüística do escritorpara compor a suapragmática textual.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 6-15, jan./jun., 1998.

12
pressão para transformar a reali-dade brasileira. Em l.962 é publi-cado o Manifesto da PoesiaPráxis, idealizado por MárioChamie. A trajetória percebidaDentro da Noite Veloz culminacom a publicação do ManifestoParada Opção Tática, tambémescrito por Mário Chamie, já pe-los idos de l972. Para comentara visão oposta de Ferreira Gullarmencionamos a presença do poe-ma longo A bomba suja, escritono Rio de Janeiro, em l.962. Na crítica sobre o usoda Literatura para modificar a estrutura da socieda-de o poeta lança as bases de sua poética menor:
Introduzo na poesiaa palavra diarréia.Não pela palavra friamas pelo que ela semeia.
Quem fala em flor não diz tudo.Quem me fala em dor diz demais.O poeta se torna mudosem as palavras reais.
No dicionário a palavraé mera idéia abstrata.Mais que palavra, diarréiaé arma que fere e mata.
O estilo denúncia vai tomando proporçõesavassaladoras na lírica de Ferreira Gullar e suapoemática faz uma opção pelo poema longo para,através da dimensão do texto, possuir um espaçopara transformar o seu poema numa espécie de pa-lanque visando esclarecer e doutrinar os seus leito-res/ouvintes.
Há que se observar que Ferreira Gullar realiza amesma trajetória que havia feito Drummond em ARosa do Povo, quando estabelecia em sua obra a pre-sença de uma consciência metalingüística sobre o es-paço destinado à poesia. Poderia ser realizada até umacomparação com alguns poemas de A rosa do povoe Dentro da Noite Veloz.
DRUMMOND FERREIRA GULLARConsideração do poema A poesiaProcura da poesia No corpoA flor e a náusea Meu povo, meu poemaÁporo A bomba sujaFragilidade Não há vagas
A diferença fundamental entre aspoéticas de Gullar e Drummond resi-de apenas no fato de que o estilomesclado abre espaço para uma vi-são mais detalhada da realidadevivenciada por Drummond dentro doEstado Novo, enquanto Gullar faz umaopção pelo estilo denúncia. A pre-sença da imagem da Noite, enquantometáfora da Censura, instigantementeacentuada em A Rosa do Povo, nãotem muito destaque no texto Dentroda Noite Veloz.
2.3 - Uma Voz Clama no SertãoCada um com suas armas. A nossa é essa:esclarecer o pensamento e pôr ordem nasidéias.
Antônio Cândido
No estudo da história do livro de poemas na líri-ca brasileira do Século XX devemos salientar a pre-sença da obra Saciologia Goiana (Civilização Bra-sileira, l982), de autoria de Gilberto MendonçaTeles.
Após o amadurecimento estético proporcionado pelolivro A Rosa do Povo, simbolizando uma forma deresistência contra o Estado Novo, por intermédio deum estilo mesclado, e pela utilização de um estilo dedenúncia presentificado em Dentro da Noite Veloz,de Ferreira Gullar, encontramos no trabalho poético deGilberto Mendonça Teles uma grande contribuição paraalargar a compreensão do espaço ocupado pelo Escri-tor na estrutura de uma sociedade. Torna-se necessá-rio dizer que depois da ironia sutil de Drummond ohumour do escritor vai tomando formas mais refina-das de se expressar e o autor de Saciologia Goiana éo mais digno representante da geração 64 dentro dogênero lírico.
Avaliando a produção lírica deste livro vamos ob-servar que a ironia está mais bem operacionalizadaestilisticamente. Em termos da presença de poemaslongos, que é o motivo deste ensaio, encontramos nolivro um percentual de oitenta e dois por cento de poe-mas longos. Explicando melhor, de cinqüenta e setepoemas quarenta e sete se situam no campo datipologia estudada. Distribuindo os tipos de poemas,em ordem gradativa, a seqüência obedece à ordem demédio, sete poemas, curto, dois poemas e minuto, umpoema.
Depois de experenciara rigidez da Censura no
período 64-82,consegue o poeta umestilo mesclado parareanalisar todo o seu
passado pela finesse deseu humor.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 6-15, jan./jun., 1998.

13
Situado dentro do contexto doPeríodo Revolucionário, a abertu-ra do discurso de Gilberto Men-donça Teles corresponde aos ide-ais de abrandamento da Censurano período 64-84. Depois do es-tilo alegórico, vivenciado em So-netos do Azul sem tempo, edi-tado em l.964, quando o poeta seencontrava em Portugal, passa opoeta para o estilo de denúncia,explicitado na obra Arte de Ar-mar (Rio, 1977). Exemplo destecomportamento é o poema Legenda:
Já não somos o ouro negrodesta fábula de terra.
Já perdemos nosso intentode comércio e de amizadee nos armamos, nos dentes,com tesouras e alicates,
toda espécie de bodoqueque os aleijados e órfãosempunharão nesta redede cilada e de algodão.
Rede sem água e sem peixe,sem santo, herói e sem nome:em lugar das malhas têmmil bocas gritando fome.
Rede que veda somenteos ciscos de superfície- leves, porosos, já podresde tanta lama de ofício.
Rede largada nos pastos,cercando léguas de vento,gravando o berro do gadoe urdindo tudo, por dentro.
Rede com jeito e segredode estado, mas sempre redebalançando sobre o mundodas minhas quatro paredes.
A passagem da dicção pura, apresentada em Al-vorada (1955), Estrela D’Alva (1956) e Planície
(1958), para o estilo mesclado, pro-jetado em Saciologia Goiana, dá-se por uma fase de amadurecimen-to, conquistada em Soneto do azulsem tempo (1964), Sintaxe in-visível (1967), A raiz da fala(1972), Arte de Armar (1977) ,que se transformam em obras re-presentativas de um estilo de de-núncia. Depois de experenciar arigidez da Censura no período 64-82, consegue o poeta um estilomesclado para reanalisar todo o
seu passado pela finesse de seu humour.O tempe-ramento de Gilberto Mendonça Teles surge tal qualuma voz que sistematiza todas as correntes já apre-sentadas pela História da Lírica Brasileira e conse-gue, tal qual Drummond já o fizera em A rosa dopovo, avaliar a sua presença dentro de seu tempo.Já assinalamos no ensaio O tempo criador na lí-rica de Gilberto Mendonça Teles (Estrela dePã, 1977) que Saciologia Goiana se insere no tipode narrativa de tensão transfigurada, quando o es-tado anímico do poeta se trans-forma em linguageme não mais usa a Linguagem enquanto escudo parasuas reivindicações.
A procura por novas formas de leitura-de-mundosurge quando o poeta narra o mundo estabelecido pelaCensura:
Canta, canta, meu surrão,deixa ecoar tua voz, esse tecido de nuvensrolando sobre o papel. Bem ou mal, é minha estória.Tem seu começo e seu fim. E tem seu meio e men-sagem.Tem suas rimas, seus pés, mas deixa apenasum rasto,uma pegada canhota, alguma coisa engraçadaque se condensa e dilui antes que os nomesretornemà vala comum e o medo os amplie na pupilade algum ouvinte indeciso. (Invocação, p. 31)
Do mesmo modo que Drummond inicia A rosa dopovo com um poema-crítico ou poema-prefácio sobreo ofício lírico, Gilberto Mendonça Teles abre SaciologiaGoiana com um Prefácio/Programa, indicando ummaior domínio lingüístico que, na maioria das vezes,não é exercitado pelos poetas no estilo denúncia.
Levando-se em consideração que o número depoemas longos é bem maior do que o existente nos
O ideal dedoutrinação e
auto-exposição émais evidente porquea Censura já estava
se amainandono Brasil.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 6-15, jan./jun., 1998.

14
autores estudados neste ensaio, per-cebe-se que o ideal de doutrinaçãoe auto-exposição é mais evidenteporque a Censura já estava se ama-inando no Brasil e iria se extinguircom a campanha política das Dire-tas já.
2.4 - A Alegoria doPassado noPresenteA escuridão estende-se masnão elimina o sucedâneoda estrela nas mãos.
Drummond
O valor do poema longo, dentro da ótica propugnadapor José Guilherme Merchior, pode ser bem analisadocom a obra Auto do Frade, de João Cabral de MeloNeto ( 1984).
Estruturado qual um poema épico, o texto mos-tra o sofrimento de Frei Caneca durante a Revolu-ção de 1817. Entretanto, o texto não segue os rit-mos expostos por Gilberto Mendonça Teles emSaciologia Goiana e Dentro da noite veloz. Em-bora seja referente a um fato político, o estilo deAuto do Frade está mais para a dicção pura doque para a dicção denúncia, sendo a face mais opostadentre todos os livros analisados neste breve ensaioliterário.
Mesmo tendo um cunho político, o endereçamentoda obra se torna outro pelo estilo empregado.Retoricizada, a mensagem de João Cabral serve paracompor o mosaico teorizado por Guilherme Merchior.O texto do crítico é de 1980 e a obra de Cabral foipublicada quatro anos depois. O tempo de homenspartidos e de muitos partidos, tal qual afirmaraDrummond em A Rosa do Povo, já começava a sediluir em 1984.
De que modo, então, avaliar a presença deste poe-ma longo na tradição da tipologia? O documental nes-te texto se torna uma representação mimética tensapelo tipo de dicção empregada. O purismo da dicção,centrada num único tipo de verso, impede que a ironiase acentue e a verve do poeta se revele mais critica-mente.
João Cabral de Melo Neto procura realizar no Autodo Frade uma classicização do moderno, mantendoum tom sagrado para o exercício lírico, diferenciando-
se totalmente das dicções deDrummond, Gilberto MendonçaTeles e Ferreira Gullar.
3. PréviasConclusões:
Sobre o DomínioLingüístico
Ao avaliar a qualidade do tra-balho lírico na sociedade o críti-co Alfredo Bosi enaltece algu-
mas diretrizes sobre o comportamento do poetaem face da linguagem que aprende a empregar:
Nem todo trabalho torna o homem mais ho-mem. Os regimes feudais e capitalistas forame são responsáveis por pesadas cargas de ta-refas que alienam, enervam, embrutecem. Otrabalho da poesia pode também cair sob opeso morto de programas ideológicos: a artepela arte, tecnicista; a arte para o partido,sectária; a arte para o consumo, mercantil.Não é, por certo, dessas formas ocas ou ser-vir que tratam as páginas precedentes, masdaquelas em que a ruptura com a percepçãocega do presente levou a palavra a escavar opassado mítico, os subterrâneos do sonho oua imagem do futuro.
O ser e o tempo da poesia, p.l92.
Pudemos observar que na arte sectária o assuntofoi desenvolvido através da análise de quatro livrosde poemas e que se evidenciou uma divisão quantoao comportamento dos poetas. Visualizou-se, ainda,que a questão do estilo é quem pode dar uma dimen-são mais profunda do que seja o campo da arte sec-tária.
A dispersão da consciência criadora exibida pe-los trabalhos poéticos de Drummond, Ferreira Gullar,Gilberto Mendonça Teles e João Cabral de MeloNeto pode ser melhor compreendida pela visualizaçãodo quadro lingüístico que envolve os poetas analisa-dos. Em tempos difíceis, tais como os explicitadospelos regimes de exceção, o comportamento do po-eta tem de se desligar de alguns preceitos de escolae o poema longo, no caso, serve para que o leitorvenha a ser orientado (in)diretamente pelo discursoque se pragmatiza no poema. Dentro de uma épocaonde a consciência fragmentária aparece comomodus operandi, nãos seria fácil extrair-se uma sín-
Quanto mais selvagemfor a experimentação
lingüística a seroferecida pelo poeta
maior será acapacidade do leitor
estabelecer umamediação social.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 6-15, jan./jun., 1998.

15
tese dos tempos e o poema longosurge como um recurso para dia-metrizar em novos parâmetros apercepção do leitor.
A “agilidade irônica e satíri-ca”, de que fala Guilherme Mer-quior, se fez presente com maiorcontundência em Drummond,Ferreira Gullar e Gilberto Men-donça Teles. A réplica que o po-eta oferece para a sociedade sur-ge em função da questão ideoló-gica que vai ser transposta para ocorpo da Linguagem. Quanto mais selvagem for aexperimentação lingüística a ser oferecida pelo po-eta maior será a capacidade do leitor estabeleceruma mediação social. A ação política, assim, se de-finiria pela qualidade da ação estética a ser pro-blematizada na estrutura do discurso.
À guisa de ilustração enfatizamos o valor do poe-ma longo Iniciação do cárcere, escrito por Thiago deMello e inserido no livro A Canção do Amor Arma-do (Civilização Brasileira, 1979 e 1975 em BuenosAires).
No estudo da lírica não podemos prescindir daquestão levantada por José Guilherme Merchior por-que só a relação do Poeta com a Poética Maior e aelaboração da sua Poética Menor não servem para
Referências BibliográficasANDRADE, Carlos Drummond de - Poesia completa & prosa. R.J., Aguilar,1973.
BATISTA, Orlando Antunes - Estrela de Pã. Três Lagoas, Gráfica Dom Bosco, 1997.
BENJAMIM, Walter - Magia e técnica, arte e política. S.P., Brasiliense,1985
BOSI, Alfredo - O ser e o tempo da poesia. S.P., Cultrix,1983.
DENOFRIO, Darcy França - O poema do poema. R.J, Presença Edições, l984.
GULLAR, Ferreira - Dentro da noite veloz. R.J., Civilização Brasileira, 1979.
HAMBURGUER, Käte - A lógica da criação literária. S.P., Perspectiva,1975.
LUKÁCS, Georg - Ensaios sobre a literatura. R.J., Civilização Brasileira, 1968, edição brasileira.
MELLO NETO, João Cabral de - Auto do frade. R.J., Nova Fronteira,1984.
MELLO, Thiago de - A canção do amor armado. R.J., Civilização Brasileira,1.966
MERQUIOR, José Guilherme - A volta do poema. In: As idéias e as formas.R.J., Nova Fronteira,1981
––––––––. Musa morema moça: notas sobre a nova poesia brasileira. In: Poesia brasileira hoje. R.J., Tempo Brasileiro,l975, no 42/43
MOTA, Carlos Guilherme - Ideologia da cultura brasileira. (1933-1974)
PAZ, Octávio - Signos em rotação. S.p., Perspectiva,1972
RAMOS, Péricles Eugênio da Silva - Do barroco ao modernismo. S.P., SC-SP/Editora da USP, 1979
RICOEUR, Paul - Interpretação e ideologias. R.J., Francisco Alves,1977.
TELES, Gilberto Mendonça - Saciologia Goiana. R.J., Civilização Brasileira,/INL, 1982.
––––––––.Vanguarda européia e modernismo brasileiro. Petrópolis, Vozes, 1985, 8ª edição.
elucidar por completo o compor-tamento do escritor. Existem al-guns procedimentos que podem serutilizados para que o Historiadortenha uma visão mais abrangentee sistematizada diante do quadroliterário que procura interpretar.Ao usar a questão da dicção dopoeta tem o analisa de um tempohistórico a oportunidade de com-por uma leitura mais profunda, pro-curando reler a História da Litera-tura pela visão da História Literá-
ria, esta mais interessada em compreender por den-tro o que realmente servia para ordenar aexpressividade do poeta diante de estágios históricosconsiderados como totalitários.
A análise das formas dentro de determinados pe-ríodos literários tem como pressuposto básico o deprocurar oferecer ao leitor outros parâmetros que nãosejam aqueles oferecidos e ditados pela História daLiteratura Brasileira.
Pela seleção de um tipo de dicção pode o Escritor,enquanto Intelectual, colocar-se a serviço da Socieda-de, procurando orientá-la para encontrar um caminhoonde a reflexão seja mais produtiva e democratica-mente esclareça qual o melhor caminho que deve serseguido pelos cidadãos.
Pode o Escritor,enquanto Intelectual,
colocar-se a serviço daSociedade, procurando
orientá-la paraencontrar um caminho
onde a reflexão sejamais produtiva e
democrática.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 6-15, jan./jun., 1998.

16
O objetivo deste artigo é verificar a posição do sujeitonominal, em construções com verbo copulativo, nívelsentencial, relacionando a estrutura de diferentes tipos desujeito com os copulativos, caracterizando o sujeito de acor-do com os critérios primeira menção e já mencionado, esta-belecidos por Bentivoglio (1986). O corpus é constituídopor entrevistas do Projeto NURC/SP.
Palavras-chave:Lingüística; copulativo; sentencial.
The aim of this article is to verify the position of thenominal subject (s), constructions with copulative verbs,taking into account the “sentencial” / sentence levels,relating several types of subject structure to the differentcombinations of the copulative and discursive verbs,characterizing the subject according to the fist mentioncriteria and the one already mentioned, established byBentivoglio (1986). The corpus is formed by interviewsof the NURC/SP Project.
Key-words:Linguistic; copulative; sentencial.
* Professora Titular daUFMS. Pós-doutoradona UNICAMP.
** Professor AssistenteDoutor pelaUniversidade deBruxelas.

17
A POSIÇÃO DOSUJEITO COM VERBOS
COPULATIVOSRosane de Andrade Berlinck*
Dercir Pedro de Oliveira**
O estudo da ordem de constituintes no portuguêstem tomado o verbo como o seu principal ponto dereferência. Desse modo, os outros componentes nãosó estarão antes ou depois dele, como se deslocam deuma para outra posição.
Nosso objetivo, neste trabalho, é o de analisar aposição do sujeito (S), levando em conta apenas osverbos de cópula (cop), a fim de verificar a ordempreferida - SV ou VS -, explicitar as causas dessa pre-ferência.
A análise, somente para ratificar, tem emba-samento em dois níveis: o da oração (S + V cop) eo do discurso. Nesse, limitar-nos-emos ao aspectoinformacional, caracterizando o sujeito segundo oscritérios PM (primeira menção) e JM (já mencio-nado), estabelecidos por Bentivoglio (1986); naque-le, o estatuto da oração, aos diversos tipos de estru-tura de S e às diferentes combinações dos verboscopulativos.
De antemão, é preciso esclarecer que o verbocopulativo nem sempre é predicativo, pois pode estardesprovido de valor semântico em si mesmo; isto oleva a funcionar, preponderantemente, como suportesintático.
Segundo Rocha (1962:34), verbo copulativo ou có-pula (união, ligação, liame) é o nome tomado da lógicapela gramática, para estabelecer a relação entre o su-jeito e o predicado e exprimir o ato de asseverar: A éB; A não é B. Com isto o verbo “ser” constitui a cópu-la propriamente dita por ser um verbo vazio de conteú-
do, cuja função é exclusivamente relacional. Os de-mais indicam, segundo Rocha Lima (1984:309), varia-ções aspectuais dessa relação.
Feitas essas considerações, discriminaremos, a se-guir, as combinações em que aparecem os verboscopulativos:
cop + adjSV “(...) o negócio é complicado viu ... (...)”1-282-1:366VS “(...) é importante mecânico... (...)”255-1-288-1:60
cop + partSV “(...) e para meu azar a aula de matemática
era feita no domingo à tarde ... (...)”10041:678VS “(...) então é colocado o calcário ... (...)”2-211-2:061
cop + adjSV “(...) mas (...) a gente não é assim ... (...)”1-34-1:218VS “(...) e assim foi nossa vida ... (...)”2-8-2-252-1
cop + pronSV “(...) se a designação é outra ... (...)”475VS “(...) enfim são vários os campos ... (...)”1-522-272-3
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 16-21, jan./jun., 1998.

18
cop + infSV “(...) o bacana era ser bem fininha ... (...)”2-5-1:114VS (não há exemplo)
cop + snSV “(...) carpa é limpeza ... (...)”2-111-101VS “(...) quem faz o serviço de secretaria são os
professores ... (...)”1-288-1:326
As orações do tipo equativo (sm + cop + sn) trou-xeram-nos algumas dificuldades para identificação doS na sentença, por ser possível confundi-lo com opredicador. A solução ficou por conta de um critérioformulado por Borba (1973:258), com base na com-preensão e extensão do significado do S, como noexemplo:
Um oficial é um tenente.+ ext - ext- comp + comp P S
Antes de procedermos ao exame dos resulta-dos obtidos com verbos copulativos, necessário sefaz ressaltar que a natureza desses verbos nosimpede de levar em conta a distinção estabelecidapor Dutra (1986), assumida como relevante paraesse trabalho (cf. Quadro 05, cap. III). Como osujeito do verbo copulativo é sempre não-agentivo,torna-se desnecessária a presença do referido qua-dro neste texto.
Estudando as orações copulativas no espanholfalado na região de Caracas, Bentivoglio (1986)contatou que, nesse tipo de construção verbal, háuma regularidade muito acentuada no que concerneà colocação preposta de S (SV: 91% / VS: 9%), in-dependentemente de fatores lingüísticos eextralingüísticos. Veremos o que dizem nossos da-dos, construídos por 288 orações copulativas, con-forme o quadro 01.
Quadro 01: Ordem do sujeito nominal com verbocopulativo.
A partir desse quadro, teremos um dado constanteque denota - como pode observar o leitor - uma gran-de porcentagem de SV para os copulativos, equivalen-te a 84% da amostra, enquanto para VS, obtivemosum valor correspondente a 16%.
A representatividade percentual de SV para oscopulativos é realçada também pela comparação como resultado geral para variação SV/VS, apresentandona maioria dos quadros do capítulo III, cujo registroevidencia 60% para SV e 40% para VS.
No que respeita ao estatuto da oração, o quadro 02nos mostra que as orações independentes são maisconstantes a ordem SV tem percentual maior.
Vejamos, pois, o quadro 02:
Quadro 02: Distribuição do sujeito nominalsegundo o estatuto da oração.
Pela leitura desse quadro, constatamos que75,7% das orações são independentes (118/288) eque os dados percentuais de SV , proporcionalmen-te, se assemelham , pois a diferença entre um eoutro estatuto oracional é de apenas 4.86% . Noquadro 02 (cap. III)< os independentes cor -respondem a 72% de todas as orações com sujei-tos nominais (680/948).
Feitas as colocações concernentes ao tipo de ora-ção, observamos, a seguir, o S, considerando suas di-mensões sintática e silábica.
Quadro 03: Distribuição do sujeito nominal conformea dimensão sintática.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 16-21, jan./jun., 1998.

19
Exemplos:
SSV “(...) carpa é limpeza ... (...)”2-111-2:101VS “(...) é importante mecânico ... (...)”255-1-288-1:60
N + det SV “(...) o operador é um médico ... (...)”251-1-288:396VS “(...) e naquele caminho é feita a limpeza ...
(...)”2-111-2:109N + 2 det SV “(...) a minha voz era muito bran-
ca ...(...)1-34-1:463VS (não há exemplo)
N + adj SV “(...) as carteiras escolares eramduplas... (...)”
10041:537VS “(...) nesse local foi feito um ... uma praça
muito bonita ...(...)”208-2-252-1
N + sprep SV “(...) o gado de leite é para pro-dução de leite... (...)”
10231:372VS “(...) que estava muito inflacionado o
mercado de trabalho de químicos industriais. . . (...)”
10041:699
N + rel SV “(...) uma pessoa que só tem o cur-so normal hoje é considerada ... (...)”
251-1288:54VS “(...) é rara a grande indústria que tem um
assistente social ... (...)”1522:410
N + n SV “(...) e estação do norte e estaçãosorocabana são duas diversas estradas de ferro...(...)”
549VS (não há exemplo)
Ao examinarmos o quadro 03, verificamos que aestrutura n + det ocorre 151 vezes, em 288,correspondendo a 52.43%. No quadro 03 (cap. III),a porcentagem é de 50%. É preciso frisar que essetipo de estrutura é superior em freqüência às de-mais nas duas ordens: 122/241 (50.6%) em SV e29/47 (61.7%) em VS. A construção que mais seaproxima de n + det, em termos gerais, é n + sprep,
com 17.03%, dado que se assemelha ao quadro 03(cap. III). As demais estruturas estão pouco pre-sentes no corpus: em conjunto representam 30% doscasos.
Os resultados para cada tipo de estrutura, em suamaioria, mantiveram-se fiéis ao índice geral para essetipo de verbo. Os casos das estruturas n + 2 det e n +n não são significativos, uma vez que o número dedados é bastante baixo. O grande intervalo de um índi-ce para outro poderá estar relacionado até certo pon-to, com aspectos como: definido, inferível, dado, fami-liar, já mencionado, mais freqüentes (não-obrigatórios)em S pré-verbal.
Por exemplo:“(...) mas por sorte a revolução foi tão eficiente
e tão rápida ... (...)”2-252-1:209
“(...) lógico que essa mocidade tem que ser dife-rente da minha mocidade ... a dos meus avós ... (...)”
2-252-1:208
Quanto à dimensão silábica (cf. quadro 04), os nú-meros não ratificaram as pressuposições de alguns lin-güistas, já apontadas no cap. II, item 16, segundo asquais um sujeito possuidor de mais de 6 sílabas tende-ria à proposição. assim é que independentemente docaráter extensional de S, sua posição foi, de formadominante, preposta.
Quadro 04: Distribuição do sujeito nominalsegundo a dimensão silábica.
Por esse quadro, observamos que 70.84% dossujeitos da amostra possuem de 1 a 6 sílabas, sen-do que a ordem SV predomina com freqüência de83.33%, enquanto para VS, temos 16.67%. O qua-dro 04 (cap. III) registra 68% para os sujeitos commenos de 7 sílabas na posição VS e 32% para VS.É importante ressaltar que, com relação aos sujei-tos com mais de seis, temos 43% em SV e 57%em VS.
Esses resultados nos permitem concluir que, noportuguês, em sua maioria, tomando por referênciao corpus estudado, o sujeito vem anteposto e comnúmero pequeno de sílabas e, ainda, com oscopulativos, fica descaracterizada a hipótese de que
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 16-21, jan./jun., 1998.

20
os mais pesados se posicionam depois do verbo,como dizem Votre e Naro (1984:195):
“... se há um fator coatuante ou coatuável (...) éo peso, a massa fonética constituinte: sujeitospesados tendem a vir propostos, ou melhor: osconstituintes se ordenam linearmente em termosde seus pesos relativos, e os mais pesados ten-dem a vir à direita dos mesmos pesados”.O último fator que consideramos, a nível da oração,
será o das Combinações dos Copulativos. Conformeos resultados que nos apresenta o quadro 05:
Quadro 05: Distribuição do sujeito nominal conformeas combinações dos copulativos
Nesse quadro, temos dados percentuais significati-vos sobre a posposição de S com cop + part e altafreqüência de adjetivo e de sintagma nominal combi-nados com copulativos , levando em conta os númerosdas outras combinações.
O S posposto com cop + part representa 51.61%(16/47) de todas as outras ocorrências de VS.
Dessa maneira, fica evidenciada a idéia de que aposposição de S põe em relevo o predicado , principal-mente, se o segundo termo da combinação for um par-ticípio. Por exemplo, nas orações:
“(...) é feita a limpeza ... (...)” 2-111-1:109“(...) é feita a silagem ... (...)” 2-111-1:139“(...) é colocado a semente ... (...)” 2-111-2:063“(...) é colocado o adubo ... (...)” 2-111-2: 061
estão salientados o fazer e o colocar e não o estatutode S.
Quanto ao maior percentual de adjetivos e sintagmasna posição SV, parece-nos ser explicado pela constru-ção:
N __________ SER __________ M
que é, de algum modo, uma tendência de ordem comos verbos copulativos, ou seja, o modificador é umtermo mais comumente expresso pelo adjetivo ousistagma nominal. O que reforça, igualmente, esta hi-pótese é o fato de que das 288 combinações co-pulativas, 249 são construídas com o verbo “ser”, quedesempenha somente uma função de elo entre os ter-mos.
Com respeito à posição pré-verbal do sujeito, umaoutra porcentagem a ser considerada é a da combina-ção cop + part em SV. Ocorrem 20% dos casos de SVcom esse tipo de estrutura (48/241). A nosso ver, sãodois comportamentos do particípio, caracterizados, gros-so modo, por uma espécie de trânsito e não trânsito.
Observemos:
“(...) a minha fazenda é considerada (...) pe-quena ... (...)”
2-111-2:004“(..) a nossa casa já estava mais ou menos
construída...(...)”208-2-252-1
No primeiro exemplo, o particípio não fica con-tido em si mesmo, o que ocorre no segundo. Cre-mos que essas manifestações, pouca relação (ounenhuma) tem com a ordem, porém parece ser ra-zoável funcionarem como comentário de algo men-cionado.
Os outros dados, considerando todo o corpus, pou-co dizem. Algumas combinações apresentaram umnúmero muito reduzido de dados, o que torna os índi-ces pouco confiáveis; é o caso de advérbio, pronome,infinitivo e sintagma oracional. Os índices , com pou-cas variações , mantiveram-se próximos dos valoresgerais. Destaca-se, além de cop + part, cop + sprep,cujos resultados apontam uma quase categoricidadede SV (92.3%). Relativamente a essa estrutura, só paracitar diríamos que predominaram as preposições de(matéria e origem (mais constantes)) e para (finalida-de (mais freqüentes)).
Por exemplo:“(...) o Boing deve ser da fábrica ...(...)”“(...) o primeiro é de malha ... (...)”2-5-1:150“(..) e o gado de corte é para a carne ...(...)”10231:019
Como dissemos na introdução desta monografia, arespeito dos níveis de análise, vamos, a seguir obser-var o comportamento dos copulativos no que tange aoaspecto discursivo, de acordo com o quadro 06.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 16-21, jan./jun., 1998.

21
Quadro 06: Distribuição do sujeito nominal conformeos traços específico (PM/JM) enão-específico.
Esse quadro nos confirma, de início, as constataçõesde Bentivoglio (1986:54), com relação ao estudo doscopulativos no espanhol de Caracas, ao dizer que:
“(...) cabe destacar que el mayor percentaje deposposíon se da con las FFNN-YM, lo que estotalmente inesperado y contrario a la hipótesefundamental de que los sujeitos que mencionampor primeira vez favorecem en princípio la pos-posíon ...(...)”
Também nossos dados mostram que o número desujeitos propostos já mencionados é muito superior aosde primeira menção: PM (15/47) 31.9% e JM (28/47)59.5%. Comparando, entretanto, os percentuais combase nos respectivos totais de PM e JM, o número deVS em PM 26.3% é maior que o em JM 15.82%.Fato semelhante ocorre no quadro 05 (cap. III): VS-PM 54% e VS-JM 26%. Portanto, de algum modo, ahipótese tem procedência.
Por outro lado, confirma-se a pressuposição de queo S já mencionado aparece preferencialmente em SV,num total de 149 ocorrências com 84.18%, conside-rando, nesse aspecto, somente a análise dos verbosespecíficos que somam 177.
A distinção ESP/NÃO-ESP não foi relevante parajustificar o posicionamento de S. Surgida, praticamen-
te, da necessidade de melhor identificação do referen-te para estabelecer o conhecimento ou desconheci-mento da informação, foi pouco produtiva, em virtudede ambos terem ocorrido, indistintamente, em maioresproporções em posição pré-verbal.
Acreditamos que, com relação aos não-específi-cos, esse posicionamento de S reflete, talvez, a preo-cupação de tornar o referente mais acessível ao desti-natário. Ressalva-se, no entanto, que tal asserção épuramente especulativa.
Chegamos, por fim, a partir do corpus estudado(NURC-SP) às seguintes conclusões gerais:
a. os resultados da distribuição SV/VS, com verboscopulativos, correspondentes a cada fator considera-do, reproduzem os índices gerais: SV 84% e VS 16%.Isso nos indica que a determinação da ordem com essetipo de verbo não sofre influência significativa dos cri-térios adotados para sua aferição. A preferência é pelaordem SV;
b. no que respeita à menção (JM/PM), a ordemSV se mantém superior a VS. No entanto uma peque-na variação percentual sugere que as hipóteses de quesujeitos em primeira menção tendem a vir pospostosnão é de todo improcedente, dado o resultado obtidona ordem VS (PM: 26.30% e JM: 15.82%);
c. a pressuposição de que SNs pesados, em termosde massa fonética, tendem à posposição não foi con-firmada pelos dados. Para SNs com menos de 6 síla-bas obtivemos um percentual para VS de 16.67%, en-quanto para SNs com mais de 6 sílabas foi de 15.48%para VS;
d. a análise dos dados mostrou que, quantitativamente,verbo copulativo é sinônimo de “ser”. Das 288 ocorrên-cias de nossa amostra 249 são realizações de “ser”(86.4%). Os outros dois verbos encontrados no corpus“estar” e “ficar” representam respectivamente apenas9.7% e 3.8% dos casos. Esse fato vai ao encontro doque afirma Rocha (1962:34), referido na parte intro-dutória, a respeito dos verbos de cópula.
Referências BibliográficasBENTIVOGLIO, P. A. (1986). Estudios sobre la posición del sujeto en el español hablado: problemas de tipologia linguistica. Caracas,
Instituto de Filologia “Andrés Bello”, Universidad Central de Venezuela. Cópia xerográfica.BORBA, F. S. (1971). Introdução aos estudos lingüísticos. 3º ed., São Paulo, Ed. Nacional.DUTRA, R. (1986). The hybrid S category in Brazilian Portuguese: some implications for word order. Cópia xerográfica.ROCHA, A. de A. (1962). Nova análise sintática. Belo Horizonte, Editora Virgília Ltda.ROCHA LIMA, C.H. da (1984). Gramática normativa da língua portuguesa. 24 ed., Rio de Janeiro, José Olympio.
VOTRE, S.J. e NARO, A. J. (1984). Inversão de sujeito na fala carioca. ABRALIN, Boletim nº 6.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 16-21, jan./jun., 1998.

22
Este artigo propõe uma reflexão sobre a relação entresituações materiais e discurso ideológico. De um lado, odiscurso é considerado como um modo de ação, através doqual as pessoas podem atuar sobre o mundo; de outro lado,o discurso é considerado como um modo de representação,isto é, é moldado e determinado pela estrutura social.
Palavras-chave:Discurso; representação; ideologia
This essay proposes a reflection about therelationship between real social world and ideologicaldiscourse. On the one hand, discourse is considered asa mode of action, in which people may act upon theworld; on the other hand, discourse is considered as amode of representation, that is, it is shaped andconstrained by social structure.
Key-words:Discourse; representation; ideology
* Doutora em Lingüísticapela UNICAMP - Profªaposentada pela UFU -Profª do CEUL daUFMS

23
DISCURSO, IDEOLOGIAE REPRESENTAÇÃO
Sílvia Helena Barbi Cardoso *
IntroduçãoAo mesmo tempo que conflitos ideológicos de toda
espécie ocupam as primeiras páginas dos periódicosdo mundo inteiro, o conceito de ideologia, sem deixarvestígios, desapareceu dos escritos pós-modernistas epós-estruturalistas. Esses escritos se apóiam no prin-cípio de que toda ideologia é teleológica, “totalitária” efundamentada em argumentos metafísicos.
A ideologia é um fenômeno discursivo, conformevão afirmar os pós-estruturalistas, tratando-se de umconceito obsoleto, já que, conforme argumentam emsua lógica, se todos os discursos são ideológicos,por articular interesses, marcados pelo jogo do poder edo desejo, que importância pode haver a questão ideo-lógica para o discurso?
Para Eagleton (1991), essa homogenização de atosde discurso (“todos os discursos são ideológicos e ide-ológicos no mesmo grau”), que leva ao abandono daideologia, é um de desserviço às questões político-so-ciais. Há muito a perder politicamente quando estra-tégias discursivas vitais são dissolvidas em uma cate-goria indiferenciada e amorfa de “interesses”. Nemtodos interesses codificados por um modo de discursosão promovidos ou legitimados por esse discurso atra-vés de uma intenção determinada. Certos interessespodem não ter nenhuma relação crucialmente relevantepara a sustentação da ordem social.
Segundo Eagleton, o abandono da noção está relacio-nado com uma hesitação política muito disseminada en-
tre os setores da antiga esquerda revolucionária que, anteum capitalismo temporariamente na ofensiva, iniciou umaretirada constante e envergonhada de questões “meta-físicas” como luta de classe e modos de produção,ação revolucionária e natureza do estado burguês.
Esse abandono está atrelado à lingüística saus-sureana, mais especificamente ao modelo semióticode Saussure, engenhosamente “usado” pelos pós-es-truturalistas e pós-marxistas para validar seus própri-os interesses e tornar sua causa mais respeitável, ummodelo, segundo o autor, inteiramente inadequado parauma compreensão da relação entre situações materi-ais e discurso ideológico.
Neste trabalho, procuramos refletir alguns pontosdessa relação a que nos remete o autor entre discur-so, situações materiais e ideologia. Propomos a re-visão do conceito de representação, assim como arevisão da questão do referente (o terceiro termo ba-nido do signo saussureano), por entendermos que umdos equívocos do modelo semiótico da epistemologia“clássica”, em que se fundamenta o marxismo ortodo-xo, é um certo conceito de representação, assim comoo equívoco do modelo semiótico saussureano, em quese fundamentam os pós-estruturalistas e pós-marxis-tas, é o abandono do conceito de representação.
Defendemos que, sem um conceito de representa-ção, não temos como justificar a nossa intenção deverdade, a mais elementar condição de possibilidadedo conhecimento, ou legitimar nossos próprios atos dediscurso.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 22-29, jan./jun., 1998.

24
O modelo semiótico dopensamento empírico
O pensamento empírico se funda numa perspecti-va epistemológica que se pode chamar de “realista”,ou “clássica”, que nos orienta para a busca de umacorrespondência entre nossos conceitos e a realidade,ou de um ajustamento entre nossos conceitos e a ma-neira como o mundo é. Segundo a epistemologia clás-sica, o mundo se resolve na forma, independentemen-te das descrições que fazemos dele.
Em termos semióticos, seria o mesmo que dizer queo significante decorre do significado, no sentido deque o significado “representa” as coisas como são nomundo. Nossos discursos representam a realidade, ouseja, refletem relações causais com a realidade (pelomenos fazem isso quando são verdadeiros). Ideológi-co é aquele discurso que mascara a realidade ou averdade dos fatos, refrata a representação.
Apoiado nessa perspectiva epistemológica e nessemodelo semiótico de representação, o Marxismo orto-doxo, que prega que o nível econômico é causalmenteprivilegiado ou mais determinante do que os outros ní-veis de uma formação social, acabou por defender,também, a existência de uma relação necessária en-tre uma posição sócio-econômica dada e interessespolítico-ideológicos, no sentido em que a posição políti-co-ideológica é sempre um “reflexo” das condiçõesmateriais. Os interesses políticos acabam sendo inte-resses de classe, já que derivam da localização de al-guém nas relações sociais de uma sociedade de clas-ses, “refletindo” esses interesses. É nesse sentido quese diz que a superestrutura político-ideológica é umreflexo da base econômica.
Contra a epistemologia clássica está o argumentode que ela somente se sustenta através de um disposi-
tivo, que é a metalinguagem, uma linguagem que avalieadequadamente o ajustamento ou não entre nossosconceitos e o mundo. Teríamos de, num recurso infi-nito, lançar mão de uma linguagem “mais poderosa”que garantisse a adequação da linguagem que se ava-lia. Todavia, esse dispositivo é ilusório, não existe.
Outro forte argumento contra a epistemologia clás-sica é a tese (da qual muitos pós-marxistas se apropri-am) segundo a qual os objetos são totalmente interio-res aos discursos, inteiramente constituídos por eles.Essa tese, que se poder dizer “pós-moderna”1 , estáinteiramente de acordo com a velha posição nietzs-chiana de que não existe absolutamente nenhuma or-dem dada na realidade. A realidade é o caos inefável.Nossos discursos não “representam” a realidade, nos-sos discursos significam. É impossível dizer, nessaperspectiva, o que está sendo significado, que anterio-ridade é essa que preside a nossos discursos. A pró-pria realidade, antes que a constituamos, é apenas umX inarticulável. São nossos discursos que ordenam omundo e dão significado às coisas ao mesmo tempoque as constituem.
O modelo semióticoanti-epistemológico
O modelo semiótico que sustenta a tese anti-epistemológica parte de uma certa leitura que se fezdo Cours de Saussure2 . Se no modelo empírico consi-dera-se o significante decorrente do significado, nessesegundo modelo, o significado decorre do significante,no sentido de que não há mundo para representar paraalém da realidade do próprio signo. Ao defender quenão há realidade além do domínio do significante, in-verteu-se, pois, o signo: o significante passa a ser o“produtor” do significado.
1 O “pós-moderno”, segundo Lyotard (1979), enquanto condição da cultura nesta era, caracteriza-se pela incredulidade perante ometadiscurso filosófico-metafísico, com suas pretensões atemporais e universalizantes. Embora não se possa definir com precisão oadvento do pós-moderno, a passagem das culturas para a idade pós-moderna teria começado, segundo o autor, desde o final dos anos 50.Lyotard, concordando com Habermas, fala de uma coexistência de condições pós-modernas com condições modernas neste final deséculo. Mas contrariamente a Habermas, não coloca essa convivência no plano de uma “pragmática universal” ou de uma concepcão dehumanidade vista como um sujeito coletivo, universal, em busca de sua emancipação comum. O pós-moderno, para Lyotard, seevidencia sobretudo numa espécie de “consciência hermenêutica” das ciências sociais. Essa “consciência”, que tem sua raiz em Nietzsche,é fortemente marcada por uma crítica às raízes iluministas do poder absoluto da razão e da ciência, e uma forte compulsão para adesordem, o anarquismo epistemológico à la Feyerbend. Razão e ciência são postas sob suspeita, assim como toda metateoria oumetadiscurso, e também a autoridade do autor. O saber científico não é considerado senão uma forma de discurso. A “consciênciahermenêutica”, contrariamente à pragmática universal de Habermas, considera o consenso como algo inatingível, sendo apenas “umestado de discussões e não o seu fim”, elegendo uma espécie de “saber negociado”, produto de relações dialógicas, nas quais um eu e umtu articulam ou confrontam seus horizontes. Neste contexto de interação é essencial que as vozes do Outro devem ser ouvidas,entendendo-se por “Outro” não somente a outra pessoa (um interlocutor, um leitor, um ouvinte), mas outro discurso.
2 A questão do signo saussureano é bastante complexa, como já nos mostravam Jakobson e Benveniste. Mesmo quando expõe a célebreteoria do valor, defendendo que o valor de um signo resulta tão-somente da presença simultânea de outros, Saussure não abre mão daconvenção. É a coletividade que estabelece os valores “cuja razão de ser está no uso e no consenso geral” (Saussure, 1916:132).
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 22-29, jan./jun., 1998.

25
Com base nessa inversão, pode-se dizer que todo discurso é ideoló-gico. O real ou a situação é apenasaquilo que os discursos definemcomo tal. Essa tese, de início umargumento sobre a epistemologia,transformou-se numa oposição àtese marxista da “determinaçãoeconômica em última instância”.Contra o marxismo, a tese anti-epistemológica vai dizer que nãoexistem hierarquias causais na rea-lidade. A realidade é um produto denossos discursos, por isso não estaria correto dizer quenossos discursos refletem a realidade. Nossos discur-sos, políticos e ideológicos (agora, a política leva van-tagem sobre a base econômica), tecem a trama derelações que bem entenderem. Não existe uma rela-ção necessária entre uma posição sócio-econômica einteresses político-ideológicos. A posição político-ide-ológica não é um “reflexo” das condições materiais.
Segundo Eagleton (1991), essa espécie particularde semiótica (modelo, segundo o autor, totalmente ina-dequado para a compreensão da relação entre situa-ções materiais e discurso ideológico) foi o motor vitalpelo qual todo um setor de esquerda mudou seu funda-mento político do revolucionismo para o reformismo.Em outras palavras, esse modelo semiótico forneceu aideologia desse recuo político, desse período de crisepolítica, ou dessa era em que realmente pode parecerque os interesses sociais tradicionais da classe operá-ria evaporaram da noite para o dia, deixando-nos comnossas formas hegemônicas e pouquíssimo conteúdomaterial. Através de uma manobra idealista, pela quala maneira de compreender o objeto é simplesmenteprojetada no próprio objeto (a linguagem não é um re-flexo passivo da realidade, mas efetivamente constitu-inte dela), a categoria do discurso é inflada a ponto deimperializar o mundo todo, elidindo a distinção entrepensamento e realidade material. O efeito dessa ma-nobra foi solapar a crítica da ideologia. “O novo heróitranscendental” é o próprio discurso, que, aparente-mente, é anterior a tudo mais, “produtor” de objetosreais. Sendo necessariamente ideológicos, os discur-sos constituem nossas práticas.
O autor mostra que essa tese segundo a qual osobjetos são internos aos discursos que os constituem,tanto quanto a tese epistemológica, é difícil de susten-tar-se. Com o descarte de uma metalinguagem quemeça o “ajustamento” dos discursos como o objeto, oucom uma realidade causal, as questões de verdade/
falsidade, correto/incorreto nãomais se colocam. Se “tudo é retóri-ca” (argumento sofista), se “toda alinguagem é necessariamente ideo-lógica”, se “todos os discursos sãoigualmente ideológicos”, tendocomo objetivo a produção de cer-tos efeitos em seus receptores, sen-do emitidos a partir de uma “posi-ção subjetiva” tendenciosa, entãonão há como assegurar a validadeobjetiva da própria tese anti-epistemológica dos discursos pós-
marxistas.Para se validar essa tese, pode-se apelar para os
efeitos políticos numa conjuntura social particular, de-fendendo-se que o que dá validade às interpretaçõessociais são os fins políticos a que os discursos servem.Não podendo haver interesses objetivos “dados” pelarealidade, construímos os interesses através de nossosdiscursos. Se existe algo “dado” são esses fins e inte-resses, os quais não podem ser derivados da realidadesocial ou de um modo de produção (como pensavamos marxistas), já que é a realidade que deriva deles.
Todavia a origem desses interesses é problemáti-ca. Não havendo “matéria-prima” a ser trabalhada pelaideologia e pela política, já que os interesses sociaissão o produto delas e não o seu ponto de partida, apolítica e a ideologia se tornam tautológicas, práticaspuramente auto-constituintes. Sendo auto-referenciais,construídos pelos próprios discursos, como julgar sesão politicamente corretos ou não? Não há nenhumamaneira de julgar se uma perspectiva política é maisbenéfica do que outra, ou se um ponto de vista é maisbenéfico do que outro.
Eagleton acaba, pois, reprovando tanto a perspecti-va epistemológica, já condenada pelos pós-marxistas,quanto a própria “causa” pós-marxista. De um lado, ospós-marxistas parecem estar corretos quando não acei-tam que a mera ocupação de um lugar na estrutura so-cial irá oferecer automaticamente um conjunto adequa-do de crenças políticas e desejos. As condições políti-co-ideológicas não podem ser consideradas um reflexodas condições materiais, já que não existe uma relaçãoorgânica entre o político-ideológico e classe social.Existem muitos interesses políticos que não estão ne-cessariamente ligados a situações de classe. Não há,por exemplo, nenhuma relação orgânica entre políticafeminista, étnica, ecológica, e classe social, como mui-to bem nos mostram os escritos pós-marxistas. De ou-tro lado, os pós-marxistas também estão equivocados
A realidadeé um produto
de nossos discursos,por isso não estaria
correto dizer que nossosdiscursos refletem a
realidade.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 22-29, jan./jun., 1998.

26
quando defendem que os interesses sócio-econômicossão apenas o produto de interesses políticos e ideológi-cos (assim como os significados são produtos dossignificantes), ou que não existe nenhum vínculo entreinteresses político-ideológicos e realidade sócio-econô-mica (assim como os significados não têm relação comos referentes do mundo). Em outras palavras, ao nega-rem que não existe nenhuma relação necessária en-tre formas políticas e ideológicas e interesses de classe,os pós-marxistas acabaram caindo no extremo oposto,ao afirmar que não existe relação alguma, que os in-teresses políticos e ideológicos são independentes de umarealidade que os sustente, porque é a prática políticaque constitui os interesses.
A necessidade doreferente e de um conceito
de representaçãoSemioticamente falando, o signo pós-moderno, que
serve a essa causa anti-epistemológica, além de inver-ter a relação entre significado e significante, exibe umaconfusão semiótica entre significado e referente: o re-ferente é idêntico ao significado, o que equivale a di-zer, que é elidido. O signo deixa de ser compreendidocomo representante do real, perdendo sua funçãosígnea, que é a de estabelecer uma “significação” en-tre algo e algo diferente. No lugar de um referente ouobjeto do mundo sendo significado de maneiras dife-rentes pelos signos da linguagem, fica-se apenas comum significado “produzido” um significante “produtor”.O terceiro termo, ou referente, traria de volta a idéiade representação, com a qual essa concepção de sig-no se choca.
Da mesma maneira, a situação sócio-econômicatotal e os interesses que essa contém, ao invés de se-rem significados de diferentes maneiras pela política eideologia, acabam confundindo-se com o significado, oque equivale a dizer que não existem.
Todavia, enquanto esse novo signo aboliu o refe-rente, o senso comum não desistiu do conceito de re-presentação, e continua a fazer usos legítimos dele,assegurando que os signos de que se serve represen-tam coisas e fatos do seu dia-a-dia. A prática da re-presentação é ainda crucial nas escolas, no aprendiza-do de crianças normais, de surdos-mudos e em todasas outras instituições.
Ninguém irá dizer, por exemplo, que a foto de umacriança desaparecida exibida numa lata de leite é ummero significante a produzir significados, sem referen-te. Muitos significados são, sim, produzidos a partir da
fotografia na lata de leite, mas o referente da fotogra-fia é a criança, e importará muito, na constituição des-ses significados, saber algumas particularidades doreferente, como a classe social a que pertence a cri-ança e o seu país de origem (a estrutura social dessepaís, tipo de governo, etc.).
Representar continua sendo uma prática culturalinteiramente legítima. Não há por que abandoná-la.
Para sair desse impasse, acreditamos ser necessá-rio, ao invés de abandonar o conceito de representa-ção (porque estava incorreta a versão empírica do pro-cesso), fazer uma revisão e, conseqüentemente,reintroduzir a questão referente, ou o terceiro elemen-to, abolido pelo signo saussureano.
O modelo semióticode Voloshinov
Foi Voloshinov que, em 1929, com Marxismo efilosofia da linguagem, criticando todo conceitometafísico de ideologia e buscando um novo conceito,semiótico, colocou a ideologia dentro do processo realde comunicação verbal. Fazendo oposição ferrenhaao Cours de Saussure, e se opondo à celebre dicotomialíngua/fala, nos ofereceu um modelo semiótico alter-nativo, mais adequado para uma compreensão da re-lação entre situações materiais, discurso e ideologia.
Para Voloshinov, o signo é necessariamente ideoló-gico porque nele confrontam-se índices de valor con-traditórios, determinados por diferentes valores soci-ais, e é por isso que se torna “a arena onde se desen-volve a luta de classes”. Posições ideológicas conten-doras podem articular-se na mesma língua nacional,cruzarem-se na mesma comunidade lingüística. A umamesma comunidade semiótica correspondem semprediferentes interesses sociais ou diferentes interessesde classe.
A relação entre a infra-estrutura e a superestrutu-ra, um dos problemas fundamentais do marxismo, so-mente pode ser entendida como deve ser, isto é, comouma relação recíproca, se esclarecida no nível da lin-guagem (pela língua e pelos discursos, ou “interaçõesverbais”, como quer o autor). O processo dialéticodesse mútua influência ou mútua determinação seexplica por uma dupla função do signo ideológico: osigno reflete a realidade (passagem do ser ao signo),ao mesmo tempo que refrata a realidade (passagemdo signo ao ser). O objeto físico (o referente) se trans-forma em signo (ideológico), o qual, fazendo parte deuma realidade material, passa a refletir e refratar umaoutra realidade. Transformar-se em signo é adquirir
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 22-29, jan./jun., 1998.

27
um sentido que ultrapasse suas pró-prias particularidades. É adquirirmais de um sentido (o signo ideoló-gico é polissêmico), porque neleconfrontam-se índices de valor con-traditórios.
A relação entre signo, situa-ções materiais e ideologia, estáexpressa em oito teses, nessa obrade Voloshinov. Com essas teses,inaugura-se uma nova compreen-são do fenômeno ideológico. Aideologia passa a ser concebidacomo “luta de interesses sociais no nível do signo”.
Primeira tese: a materialidade da ideologia. Sendomaterial, a ideologia não se reduz a um simples “refle-xo” da base econômica. Integrante dessa base, nãopode simplesmente ser considerada um fenômeno desuperestrutura, uma entidade destituída de conteúdomaterial, um “modo de pensar da sociedade”.
Segunda tese: a materialidade da ideologia ésígnea. O signo é um fragmento material da realida-de, um fenômeno do mundo exterior. O signo ideológi-co não se situa acima dos conflitos sociais que repre-senta, mas é veículo desses conflitos, sofrendo, aomesmo tempo, os seus efeitos. Por isso os signos exis-tem como uma entidade viva, em permanente evolu-ção, polissêmica, polivante, de significações múltiplas.A forma não se fixa ao conteúdo; há uma nova signifi-cação da forma em cada enunciação.
Terceira tese: o signo é uma realidade que refle-te e refrata outra realidade. A realidade determinao signo, por isso o signo a reflete; mas, ao mesmo tem-po, o signo se torna um instrumento de refração e de-formação da realidade. Esse movimento dinâmico, devia dupla, da realidade ao signo e do signo à realidade,refletir e refratar, é um elemento dos mais importantespara se compreender a determinação recíproca entrea superestrutura ideológica e a base econômica.
Quarta tese: o signo emerge no terreno interin-dividual, na interação social. O ideológico se situaentre indivíduos organizados, sendo o meio de sua co-municação. Ao mesmo tempo que a ideologia não podeser divorciada do signo, o signo “vive” dentro das for-mas concretas de intercâmbio social. Isso equivale adizer, mais uma vez, que os atos de fala de toda espé-
cie, as diferentes formas de enun-ciação, não estão dissociados dabase material. É na infra-estruturaque se deve buscar a materialidadedos discursos, ou seja, nas formasconcretas e organizadas da comu-nicação social, nos meios e nas con-dições dos sistemas de comunica-ção de uma dada sociedade. Nãose podem conceber relações de pro-dução, ou estrutura política e soci-al, sem contatos verbais que osconstituam.
Quinta tese: a consciência é sígnea. A ideologianão é um fato de consciência, já que a compreensãosomente pode manifestar-se através de materialsemiótico. A consciência é um fato sócio-ideológico,porque a consciência somente adquire forma e exis-tência nos signos criados por um grupo social organi-zado no interior de suas relações sociais.
Sexta tese: a realidade da palavra é absorvidapor sua função sígnea. Sem significação, que é afunção do signo, não existe palavra. A significaçãoconstitui a expressão da relação do signo, como reali-dade isolada, com uma outra realidade, por elesubstituível, representável, simbolizável. Uma “palavra”desprovida de significação seria um mero sinal paraser identificado (mas não compreendido), entidadedesignativa de conteúdo imutável, que não pode subs-tituir, nem refletir, nem refratar coisa alguma, entidadeque não pertence ao domínio da ideologia.
Sétima tese: a palavra é o fenômeno ideológicopor excelência. O lugar privilegiado do ideológico é omaterial social dos signos verbais criados pelo homem.O domínio ideológico coincide com o domínio dos sig-nos, o que não quer dizer que palavra e ideologia se-jam uma só coisa3 .
Oitava tese: a palavra é neutra em relação a qual-quer função ideológica específica. Podendo pre-encher qualquer espécie de função ideológica, artísti-ca, política, científica, a palavra é capaz de acompa-nhar toda criação ideológica.
O signo de Voloshinov, concebido em mão dupla,por isso mesmo muito mais complexo, garante, aomesmo tempo, a representação de um terceiro termoou referente (movimento de ida) e a refração do refe-
3 Conforme nos faz ver Eagleton (1991), se num sentido a linguagem e a ideologia são idênticas para Voloshinov, em outro não o são.Posições ideológicas contendoras podem articular-se na mesma língua nacional, cruzando-se na mesma comunidade lingüística. Puxadode um lado para outro por interesses sociais competitivos, um signo é inscrito interiormente por uma multiplicidade de “sotaques”ideológicos.
Representarcontinua sendo
uma prática culturalinteiramente
legítima. Não há por que
abandoná-la.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 22-29, jan./jun., 1998.

28
rente, ou a constituição de significados pelo própriosigno (movimento de volta). O referente transforma-se em signo ao mesmo tempo que adquire significadosque ultrapassam suas próprias particularidades.
No caso do nosso exemplo acima, a fotografia nalata de leite, ao mesmo tempo que representa o seureferente, a criança desaparecida, adquire também sig-nificados no interior de discursos diversos, possivel-mente com índices de valor contraditórios. A consti-tuição desses significados, por sua vez, está sujeita ainteresses político-ideológicos, determinados por valo-res sociais antagônicos.
Com base no trabalho de Voloshinov, podemos di-zer com Eagleton (1991) que, se o pós-marxismo estácorreto em combater um modelo de representaçãoempirista, em que os discursos político-ideológicos sim-plesmente “refletem” ou “representam” passivamen-te interesses sociais pré-construídos, porque de fato aposição político-ideológica não é um “reflexo” das con-dições materiais, está, por outro lado, errado em dizerque as visões ideológicas não possuem relação com ascondições materiais. Essas condições materiais não sãoa causa automática dessas visões, mas razão paraelas. O “real” existe antes e é independente do discur-so se o que se pretende designar como “real” é umconjunto específico de práticas (não discursivas) quefornecem a razão para o que se diz e que constituem oseu referencial. Contudo essas práticas não são está-veis, fixas, mas estão sujeitas a serem transformadasinterpretativamente, a serem moldadas pela prática daprópria representação. Os “significantes” ou os meiosde representação político-ideológicas são sempre ati-vos no que diz respeito ao que significam, não sendoapenas um “reflexo” ou uma expressão obediente decondições sócio-econômicas “dadas”. São, pelo con-trário, instrumentos da luta política.
Questão pendenteUma perspectiva teórica atual bastante interessan-
te, para nos ajudar a refletir essa questão da determi-
nação recíproca entre linguagem e realidade é a análi-se do discurso. Pode-se dizer que com Voloshinov e,mais tarde, com os trabalhos de Michel Pêcheux naFrança, nas décadas de 70 e 80 (especialmente com aobra Semântica e discurso), abriu-se todo um cami-nho fértil de análise do discurso, com tendências vari-adas. Filiando-se à tendência “hermenêutica” de fimde século, a análise do discurso opõe-se à perspectivapós-estrutural e pós-marxista, especialmente porqueseu trabalho consiste fundamentalmente numa refle-xão sobre a significação e as condições sócio-históri-cas de produção do discurso. O enfoque sócio-históri-co do discurso privilegia a relação entre interlocutores,enunciado e mundo. A questão do sentido extrapola ointerior do lingüístico, já que a análise do discurso nãose preocupa apenas com as formas de organizaçãodos elementos que constituem o discurso mas tambémcom as formas de instituição de seu sentido, ou seja,com “as condições de produção do discurso”. Inscre-vendo-se num quadro que articula o lingüístico com osocial, a análise do discurso tem como objeto o discur-so, considerado enquanto um objeto integralmente so-cial e integralmente histórico.
Uma questão, porém, colocada na introdução destetrabalho, necessita ainda ser esclarecida. Parece cer-to dizer, com a análise do discurso, que todas as práti-cas discursivas são ideologicamente investidas e queas relações entre discurso e realidade social são múlti-plas, já que os discursos nos permitem criticar, racio-nalizar, suprimir, explicar ou transformar nossas condi-ções de vida. O que não parece ainda claro é se todosos discursos são ideológicos no mesmo grau. Muitosautores defendem que, sem uma “gradação”, torna-seperigoso afirmar que todo discurso é ideológico. Per-demos um meio de orientar nossas escolhas entre umdiscurso que seja ideológico em maior grau e um queseja ideológico, mas num grau menor.
Propondo-se a fazer uma “análise crítica do discur-so” (ACD), em oposição à análise do discurso fran-cesa (AD)4 , Fairclough (1992a) defende que certos
4 Fairclough critica a análise do discurso francesa (AD), entre outras razões, por ser baseada numa visão estática de relações de poder. Essavisão se deve sobretudo ao compromisso da AD com o estruturalismo de Althusser. Para Althusser (1970), ideologia é um sistema derepresentações, que não tem, na maior parte do tempo, nada a ver com a “consciência”. Essas representações são, em sua grande parte,imagens, e às vezes conceitos. Como estruturas, elas se impõem aos homens, sem passar por suas consciências. A função da ideologiaé interpelar (constituir) indivíduos (concretos) como sujeitos, ao mesmo tempo que lhes dá a ilusão de serem agentes livres. O processoideológico acontece dentro das instituições, como escola, família, lei etc. Em outras palavras: o indivíduo é interpelado em sujeito (livre)para que livremente se submeta às ordens do Sujeito (instituição), para que livremente aceite seu assujeitamento. “Cada sujeito éassujeitado no universal como singular “insubstituível”” (Pêcheux, 1975:156). Todo o funcionamento da ideologia dominante estácentrado nos “aparelhos ideológicos de Estado” (a religião, a escola, a família, o Direito, a política, o sindicato, a cultura, a informação),tentando forçar a classe dominada a submeter-se às relações e condições de exploração. A hegemonia ideológica exercida através dessesaparelhos é importante para se criarem as condições necessárias para a reprodução das relações de produção.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 22-29, jan./jun., 1998.

29
usos da linguagem e certas formas simbólicas são “maisideológicos”, especialmente aqueles que servem, emcircunstâncias específicas, para estabelecer ou sus-tentar relações de dominação. A ideologia, que se ca-racteriza pelas relações de dominação na base de clas-se, sexo, grupo cultural, investe a linguagem de váriasformas e em níveis variados. O autor não acha difícilnos convencer de que o discurso da propaganda é maisinvestido ideologicamente do que o discurso das ciên-cias físicas.
Faircough, nesse aspecto, se aproxima de Eagleton(1991), o qual não aceita, por exemplo, que dizer ashoras a alguém seja tão ideológico quanto mandar al-guém se danar.
Rajagopalan (1995), fazendo uma análise do tra-balho de Fairclough, nos adverte do perigo de se co-locar as diferentes práticas discursivas em diferen-tes pontos de uma escala cujos pontos terminais são,de um lado, a teoria pura (ciência), e, de outro, a pro-paganda. A própria análise crítica do discurso (ACD),uma prática discursiva, se constituiu, desde do princí-pio, numa intervenção ideológica junto a um estadodado de coisas.
Por outro lado, conforme argumenta Rajagopalan, odiscurso acadêmico não deixa de estar, na conjunturaatual, muito próximo do discurso da propaganda emarketing, como bem mostra Fairclough em outro tra-balho (1992b), o que torna a distinção entre ciência epropaganda não muito evidente em termos ideológicos(a não ser que se recupere a oposição antiga entre ciên-cia e ideologia, já superada pela análise do discurso).
Uma resposta para essa questão está no signo deVoloshinov. Se tomamos ideologia no conceito pejo-rativo de “falsa consciência” ou “ilusão”, sentido jáusado por Napoleão, Marx e Engels e tantos outros, écompreensível que considerar os discursos ideológi-cos “no mesmo grau” seja um procedimento perigoso,já que podemos ser conduzidos a um verdadeiro caosético. A velha oposição entre ideologia e ciência podeser, nesse caso, um meio seguro para orientar nossasescolhas (desde que sejam ignoradas, é claro, as difi-
culdades que esse conceito impõe, especialmente aimpossibilidade de um lugar não ideológico para julgaro ideológico). No entanto, se adotamos um sentido“mais neutro” de ideologia, tal como está em Voloshinov,ideologia como “luta de interesses sociais no nível dosigno”, não há por que defender que um discurso émais ideológico ou menos ideológico do que outro.Nossas escolhas são orientadas por nossas ideologias,determinadas por interesses sociais.
Considerações finaisResumindo as considerações acima, com base no
“modelo” de signo ideológico, em que o referente érefletido e refratado, podemos dizer que: 1. existe, sim,representação, mas o que é representado nunca é umarealidade “bruta”, mas uma realidade moldada pelaprática da própria representação (as práticas discur-sivas moldam, transformam as práticas não discur-sivas); 2. os discursos políticos e ideológicos produ-zem seus próprios significados, conceptualizam a situ-ação de maneiras específicas, mas a situação social eeconômica total em questão não é simplesmente defi-nida pelos interesses políticos e ideológicos, sem ne-nhuma realidade por trás deles, porque interesses ma-teriais indubitavelmente existem anterior e indepen-dentemente de interesses político-ideológicos ao mes-mo tempo que são constituídos por eles; 3. a situaçãomaterial é o referencial dos discursos políticos, não osignificado deles; 4. os discursos, necessariamenteideológicos, não governam o nascimento da situaçãomaterial nem são automaticamente “causados” porelas; antes trabalham sobre a situação real de manei-ras transformadoras (os discursos falam de nossas prá-ticas ao mesmo tempo que as transformam); 5. falarde um trabalho transformador do discurso implica emque algo preexiste a esse processo, algum referencial,algo trabalhado, o que equivale a dizer que o significantenão é o “produtor” da situação real; 7.a ideologia édiscurso primariamente retórico, performativo, masprovido de importante conteúdo proposicional.
Referências BibliográficasALTHUSSER, L. (1970) Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado. Lisboa. Presença-Martins Fontes. 1974. trad. do original francês.BAKHTIN, M. (1929) Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec. 1988. 4ª ed. trad. bras.EAGLETON, T. (1991) Ideologia. São Paulo: Unesp. 1997.FAIRCLOUGH N. (1992a) Discourse and social change. Cambridge. Polity Press.––––––––. (1992b) “Critical discourse analysis and the marketization of public discourse: the universities”. Working paper 33. Lancaster.LYOTARD, J.F. (1979) La condition mostmoderne. Paris. Les Éditions de Minuit.PÊCHEUX, M. (1975) Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Campinas: UNICAMP. 1988. trad. bras.RAJAGOPALAN, K. (1995) Critical discourse analysis and its discontents. (draft version)SAUSSURE, F. de (1916). Curso de lingüística geral. São Paulo: Cultrix. 1971, 3a. ed. trad. bras.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 22-29, jan./jun., 1998.

30
Este ensaio aponta os principais componentes da teoriada tragédia desenvolvida por Aristóteles na sua Poética, epor Horácio em sua Epístola aos Pisões, e a possívelinfluência desses textos sobre o teatro do século XVIportuguês. Registraremos, também, a importância de AntónioFerreira como autor da tragédia Castro.
Palavras-chave:Poética; Classicismo em Portugal.
This paper points out the main components of thetragedy theory developed by Aristóteles in his Poética,and by Horácio in his Epístola aos Pisões, and thepossible influence of these texts on the portuguesetheater of the 16th century. The importance of AntónioFerreira as the author of Castro tragedy will be alsoregistered in this study.
Key-words:Poetry; Classicism in Portugal.
* Professora de LiteraturaPortuguesa do CentroUniversitário deDourados da UFMS.Mestre em LiteraturaPortuguesa pela USP.Atualmente, afastadapara cursar doutoradona USP (área:Literatura Portuguesa).Bolsista da CAPES.

31
AS REPERCUSSÕES DA POÉTICACLÁSSICA NO SÉCULO XVI
EM PORTUGAL
Rosana Cristina Zanelatto Santos*
A primeira obra a estudar a teoria da tragédia foi a Poéti-ca de Aristóteles. A Poética não propõe o uso de “fórmu-las” para a composição literária; ela é fruto da análise empre-endida por Aristóteles de obras de seu tempo, a partir dasquais o filósofo criou orientações que pudessem auxiliar naorganização e na composição da obra trágica.
Na Poética aristotélica, a tragédia é assim definida:
“É pois a Tragédia imitação de uma ação de caráterelevado, completa e de certa extensão, em linguagemornamentada e com várias espécies de ornamentos dis-tribuídos pelas diversas partes [do drama], [imitaçãoque se efetua] não por narrativa, mas mediante atores,e que, suscitando o ‘terror e a piedade’, tem por efeito apurificação dessas emoções.”1
Observamos que os elementos básicos para a cons-tituição da tragédia encontram-se presentes na definição deAristóteles: a imitação, a ação, a superioridade dos homensimitados, a linearidade da ação, o cuidado com a linguagem,o diálogo, o equilíbrio, a ausência de narrador, a presença deatores e a catarse.
É a catarse, pois, o objetivo principal da representaçãotrágica. A catarse acontece quando, mediante o terror e a pieda-de, o espectador é levado a um estado de purificação que o elevapara além das emoções cotidianas. O sofrimento pelo qual passao herói trágico e eventualmente sua morte suscitarão no especta-dor emoções purificadoras, como a comoção e o medo.
Esse tipo de purgação é possível graças à presen-tificação dos acontecimentos: no gênero dramático, quemfixa e marca o enredo são as personagens, uma vez que nãoexiste um narrador a interligá-las ao espectador. Dessa au-
sência do narrador, resulta a importância das personagens edos diálogos que estabelecem suas relações. O contato di-reto entre a personagem e o espectador torna o discursoteatral particularmente persuasivo, pois o público sente-seimpelido a crer naquilo que vê e ouve.
Por isso não podemos analisar a obra teatral apenascomo texto literário, sem considerar as especificidades conferidasao texto teatral. Uma dessas especificidades é a força persuasi-va residente nos diálogos, o meio pelo qual conhecemos osantecedentes da ação, isto é, a narrativa anterior e que desen-cadeou os fatos levados à cena, e os objetivos e a caracteriza-ção das personagens, além do conflito e do choque entre duasou mais concepções de vida colocadas sob julgamento.
Para Aristóteles, o herói trágico não deve ser muitobom, nem muito mau, visto que os extremos de bondade oumaldade não despertariam no espectador o terror ou a piedade,os meios através dos quais opera-se a catarse. Assim, o heróitrágico deve ser equilibrado, caindo em infortúnio por conta deum erro seu. Esse erro demonstrará a condição humana doherói, trazendo-o para perto do espectador e despertando suasemoções. O erro que leva ao infortúnio poderá ser historiadono prólogo da tragédia, para, em seguida, pelas falas de umantagonista ser lembrado, estabelecendo-se a partir daí o con-flito que quase sempre terminará com a morte do herói.
O tema da tragédia deve ser histórico e simples. As-sim, a ação deve iniciar o mais próximo possível da catástrofe.No teatro clássico, deve ocorrer o máximo de ação com ummínimo de personagens relacionando-se em cena, num curtoespaço de tempo. Essas regras devem ser respeitadas a fim depermitir ao espectador a fácil compreensão do enredo e seuconseqüente envolvimento com os fatos apresentados.
1 Poética. Trad. Eudoro de Souza. 2. ed. São Paulo: Ars Poetica, 1993. p. 37.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 30-33, jan./jun., 1998.

32
Como a tragédia é uma espécie de imitação, quatronormas são básicas para a sua composição: a verossimilhan-ça, a conveniência do caráter do herói, o maravilhoso e asunidades. A composição desses elementos originou a tragé-dia grega clássica que, por volta do século V a.C., conheceuseus maiores expoentes: Sófocles, Eurípedes e Ésquilo.
Mas, ao que parece, o texto da Poética aristotélicanão teve muita divulgação durante a Antigüidade e nem mes-mo durante o século XV, apogeu do Renascimento italiano. Oconhecimento da obra de Horácio, o teórico clássico maisadotado como modelo pelos escritores renascentistas e queembasou sua Epístola aos Pisões na Poética de Aristóteles,possibilitou um acesso por via indireta à obra do estagirita.
O texto horaciano é uma codificação de normas paraa composição do discurso retórico, especialmente aqueleempregado na tragédia. Horácio inicia a Epístola discorren-do acerca da harmonia entre os elementos que compõem aprodução trágica: se, por exemplo, a ênfase da Castro recaisobre o confronto das “razões de Estado” e as razões doindivíduo, é correto que D. Pedro não contracene com Inêsde Castro, pois isso propiciaria o deslocamento do interessedo espectador para o trágico amor entre ambos.
Quanto ao tema, Horácio assevera que deve estar ade-quado aos conhecimentos do autor, uma vez que àquele quedomina determinado assunto não faltará a eloqüência, sendopreferível construir uma obra com base em temas conhecidos,cujos argumentos já estão prontos, a enveredar pelo terrenocediço do desconhecido. O poeta deve dar preferência à uti-lização do idioma nacional e ter a coragem de abandonar osmotivos gregos para colocar em cena as grandes conquistasde seu povo. A linguagem também deve estar adequada aogênero literário escolhido, embora a esse princípio se façauma concessão: dependendo da situação em que se encon-trem as personagens, há permissão para que elas se exprimamcomo convém ao momento. As falas das personagens devemser ágeis e breves a fim de permitir o acesso à emoção doárbitro da questão, ou seja, o espectador.
Por isso são os diálogos o veículo pelo qual se chegaà catarse:
“A natureza molda-nos primeiramente por dentro paratodas as vicissitudes: ela nos alegra ou impele à cólera,ou prostra em terra, agoniados, ao peso da aflição; de-pois é que interpreta pela linguagem as emoções da alma.”2
A extensão da tragédia não deve ultrapassar o quin-to ato. Segundo Heinrich Lausberg, o discurso dramático ébipartido, isto é, as duas partes que o compõem estão emoposição, apesar de contidas numa mesma totalidade. Nes-sa bipartição, contrapor-se-á o nó da intriga – o enlace – àcatástrofe – o desenlace do nó. O enlace pode aparecer sub-dividido numa situação que exponha o assunto a partir doqual se construirá o drama, a prótase, e n’outra situação quemarque a recrudescência do drama, o desenvolvimento dosincidentes centrais do enredo dramático, a epítase. Por sua
vez, a epítase pode estar subdividida numa epítase dinâmicae na catástase, que retardará o resultado do desenlace do nódramático. Admitindo que à prótase corresponda um ato; àepítase, dois atos; à catástase, um ato; e à catástrofe, umato, teremos, portanto, os cinco atos propostos por Horácioem sua Epístola aos Pisões.3
Nesse desenrolar do tema, Horácio aconselha a nãointervenção dos deuses. As personagens devem guiar-sepor seu livre arbítrio, mesmo que o destino de cada um jáesteja traçado, pois isso criará a tensão trágica que molda ocaráter o herói trágico.
Como a matéria a partir da qual se escreve uma tra-gédia pode e deve ser conhecida, isso não significa quetoda a construção do universo dramático seja simples imi-tação. Cada autor deve esforçar-se para criar algo novo, oque requer estudo, tempo e trabalho, a fim de apuração datécnica e superação da proposta dos antecessores. Porisso a criação deve ser um trabalho longamente engendra-do, até que o crítico mais mordaz seja incapaz de lhe en-contrar arestas.
A figura do crítico exerce importante papel no textode Horácio: o escritor deve sujeitar sua produção à crítica deoutros companheiros, que não devem ser comprados combens materiais. Aconselha-se, ainda, o recolhimento dosoriginais de uma obra por oito anos, espaço de tempo du-rante o qual se farão os reparos necessários ao aprimora-mento da criação. Caso os reparos não produzam resultadospositivos, que os originais sejam jogados fora, pois aquiloque se destrói não deixa vestígios.
Para encontrar a expressão adequada ao tema eleito,Horácio aconselha que se observem a natureza, os homense suas características: com base nessa observação, o poetaserá capaz de construir adequadamente suas personagens ea expressão que melhor as definirá e trará à cena os conflitosinerentes à ação dramática. É a realização, segundo a pro-posta horaciana, do princípio da verossimilhança.
A Epístola aos Pisões é, pois, um misto de normaspara a construção do discurso retórico com preceitos para aconstrução da cena teatral, inspirada na Poética de Aristóteles.
O interesse dos intelectuais e escritores do Renas-cimento pela tragédia clássica foi provocado pela descober-ta e pela divulgação de textos trágicos antigos, o que reabi-litou o estudo de textos teóricos sobre o gênero. As nume-rosas traduções, adaptações e comentários acerca dos tex-tos trágicos greco-latinos contribuíram para a divulgaçãodas obras clássicas durante os séculos XV e XVI. A Poéticade Aristóteles conheceu uma série de traduções e comentá-rios durante esses séculos.
Em Portugal, a Universidade de Coimbra foi o grandepalco para o conhecimento e o desenvolvimento das experi-ências teatrais do século XVI. A vinda de professores“humanistas” estrangeiros proporcionou e contribuiu paraa disseminação do teatro clássico de influência greco-latinaem terras lusitanas.
2 HORÁCIO. Epístola aos Pisões. Trad. Jaime Bruna. São Paulo: Cultrix; EDUSP, 1981. p. 58.3 LAUSBERG, Heinrich. Elementos de retórica literária. Trad. R.M. Rosado Fernandes. 4. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1992.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 30-33, jan./jun., 1998.

33
Segundo Adrien Roig, o teatro clássico portuguêsnasceu no século XVI. Anteriormente o que se conheciaeram as representações medievais de cunho religioso, po-pular e farsesco, excetuando-se a produção de Gil Vicente,publicada postumamente em 1562, sob o título de Compi-laçam de todalas obras de Gil Vicente.4
A primeira tragédia escrita em língua portuguesa foiCleópatra, de Sá de Miranda. Porém, como a obra de Sá deMiranda perdeu-se, o Classicismo português legou-noscomo exemplar único da tragédia clássica a Castro, deAntónio Ferreira, escrita em versos decassílabos e tendocomo mote os trágicos amores de D. Pedro de Portugal eInês de Castro.
A primeira edição da Castro é de 1587 e teve portítulo Tragedia muy sentida e elegante de Dona Ines deCastro a qual foy representada na cidade de Coimbra.Talvez António Ferreira já tivesse escrito a Castro em 1558,mas como a impressão do texto foi posterior, ocorreu a de-núncia de plágio de duas obras de origem espanhola, a Niselastimosa e a Nise laureata, ambas de autoria do FreiJerónimo Bermúdez, publicadas em 1577 em Madri.
Além das evidências oferecidas pelo texto literário –grande parte da ação dramática da Castro acontece emCoimbra; há o coro de moças coimbrãs -, a ligação da tragé-dia de António Ferreira com Coimbra é sugerida pela pre-sença histórica de Inês na cidade e pelo título original daobra, que faz referência ao local de representação da peça. Otítulo Castro surge em edição posterior a de 1587.
Durante algum tempo, criou-se polêmica acerca doverdadeiro autor do texto original da Castro, mas, com baseem estudos histórico-comparativos, chegou-se ao nome deAntónio Ferreira como autor da primeira tragédia sobre asofrida existência de Inês de Castro.
Versado em língua latina, António Ferreira elegeuHorácio como principal fonte teórica: preocupou-se emnão se afastar dos ensinamentos do mestre latino, contri-buindo, entretanto, com a afirmação da cultura nacional,utilizando a língua portuguesa em sua produção poéticae teórica. A par das grandes glórias nacionais, o autorexaltou os grandes mitos portugueses, dentre eles a trá-gica história dos amores de D. Pedro de Portugal e Inêsde Castro.
Por exemplo, na “Carta X”, a “Carta a D. Simão daSilveira”, Ferreira nega a improvisação nas artes poéticas,atribuindo ao estudo, ao engenho e à arte o valor na cons-trução da obra literária.
“Haja estudo, haja uso, não haja cegaOusadia; na fonte beberemos,Donde o doce liquor mil campos rega.”5
Se na “Carta X” encontramos alguns preceitos carosao Classicismo, na “Carta XII”, a “Carta a Diogo Bernardes”,Ferreira redige um tratado poético acerca das característicase da normatização de uma obra literária que se pretenda clás-sica. À luz da “Carta XII” podemos ler e interpretar em quemedida o escritor António Ferreira obedeceu ao doutrinadorAntónio Ferreira.
O que sabemos é que, graças à maestria de Ferreira, atrágica existência de Inês de Castro ficou gravada na Cas-tro, perpetuadora e transmissora da tradição em torno domito, e o mesmo António Ferreira será o primeiro escritorportuguês que, além de seu trabalho literário, exercerá im-portante papel como doutrinador e teórico do Classicismoem Portugal. O autor da Castro foi capaz de assimilar asnovas idéias, respeitando o código horaciano e acrescen-tando-lhe índices de originalidade – como o uso do idiomanacional e o consagração de heróis portugueses.
4 ROIG, Adrien. O teatro clássico em Portugal no século XVI. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1983.5 FERREIRA, António. Poemas lusitanos. Notícia histórica e literária, selecção e anotações de F. Costa Marques. Coimbra: Atlântida, 1961. p. 103.
Referências BibliográficasARISTÓTELES. Arte retórica. Trad. Antônio Pinto de Carvalho. Rio de Janeiro : Tecnoprint, [s.d.].______. Poética. Trad. Eudoro de Souza. 2. ed. São Paulo : Ars Poetica, 1993.ARISTÓTELES; HORÁCIO; LONGINO. A poética clássica. Int. Roberto de Oliveira Brandão, trad. Jaime Bruna. São Paulo : Cultrix;
EDUSP, 1981.BRANDÃO, Junito de Souza. Teatro grego: tragédia e comédia. 4. ed. Petrópolis : Vozes, 1988.BURCKHART, Jacob. A cultura do Renascimento na Itália: um ensaio. Trad. Sérgio Tellaroli. São Paulo : Companhia das Letras, 1991.FERREIRA, António. Castro. Int., notas e glossário de F. Costa Marques. 4. ed. revista, Coimbra : Atlântida, 1974._____. Poemas Lusitanos. Notícia histórica e literária, selecção e anotações de F. Costa Marques. Coimbra : Atlântida, 1961.LAUSBERG, Heinrich. Elementos de retórica literária. Trad. R. M. Rosado Fernandes. 4. ed. Lisboa : Calouste Gulbenkian, 1992.LESKY, Albin. A tragédia grega. Trad. Jacob Guinsburg. 2. ed. São Paulo : Perspectiva, 1990.PICCHIO, Luciana Stegagno. História do teatro português. Trad. Manuel de Lucena. Lisboa : Portugália, 1969.REBELLO, Luiz Francisco. História do teatro português. Lisboa : Europa-América, 1967.ROIG, Adrien. O teatro clássico em Portugal no século XVI. Lisboa : Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1983.SENA, Jorge de. Estudos de História e Cultura. In: Revista Ocidente, 1ª série, v. 1, Lisboa, 1963.SPINA, Segismundo. Introdução à poética clássica. 2. ed. São Paulo : Martins Fontes, 1995.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 30-33, jan./jun., 1998.

34
Reflexão sobre proposições e paradigmas dos estudosliterários, com vistas a uma compreensão dos problemasrelevantes da crítica e da história literárias nos últimos vinteanos, face aos elementos sociais da cultura brasileira e seusprocessos de transformação. Dado o seu caráter pedagógico,as assunções do autor indidcam uma orientaçãometodológica de um trabalho que se quer científico e aomesmo tempo representa uma prática literária.
Palavras-chave:Crítica literária; Literatura Brasileira;
História Literária.
Reflection about propositions and paradigms of theliterary studies, aiming a comprehension of theconsiderable problems of criticism and literary historyin the last twenty years, facing social elements ofBrazilian culture and its transformations processes. Byits pedagogic feature, the assumptions of the authordenotes a methodologic orientation of a work whichaims to be scientific and at the same time represents aliterary practice.
Key-words:Literary criticism; Brazilian Literature;
Literary History.
* Prof. Titular deLiteratura Brasileira naÁrea de Pós-Graduaçãoem Letras-PUC-Rio.

35
CRÍTICAE HISTÓRIA
Gilberto Mendonça Teles *
Para uma visão, ainda que panorâmica, dos proble-mas de crítica literária e das repetições e avanços dostextos de história literária nestes vinte últimos anos,sobretudo no que diz respeito à atuação destes doisgêneros em face dos elementos sociais da cultura bra-sileira, sinto necessidade de começar com algumasobservações teóricas que servirão, a meu ver, ou comoorientação metodológica de um ensaio que se preten-de científico ou como declaração de princípios de umaprática que se quer também literária. Para isso, nadamelhor do que descrever, inicialmente, o sentido destapretensão científica.
1 - A poética como ciênciada literatura
Não participo da opinião dos que ainda negam o es-tatuto de ciência aos estudos da literatura e aceito paraesta ciência o nome de poética, proposto por Jakobsone que tem a suas tradição na Arte poética de Aristóteles,assim denominada devido às suas palavras iniciais1.
A particularização do saber literário e o seu aper-feiçoamento histórico, primeiramente através da sim-ples opinião (dóxa) e, mais tarde, pela constituição daconsciência científica (episteme), acabaram por recor-
tar do campo das outras ciências sociais e da filosofiaem geral um objeto próprio, específico das diversasproduções literárias, o qual se vai aos poucos definin-do e que tem encontrado na sua indefinição uma for-ma de também se caracterizar. O estudo desse objetoque, pela sua natureza estético-social, tem sido feitotambém a partir de outras ciências fins, como a lin-güística, a sociologia, a história, a antropologia e a psi-canálise, além de outras, vai-se conduzindo no sentidode se encontrar não um, mas os métodos mais ade-quados à sua natureza de objeto literário, espécie derealidade ambígua que se fecha numa obra e, ao mes-mo tempo, se abre para o universo de uma cultura epara o imaginário de um leitor teoricamente indefinidoe ilimitado.
À medida que vai recortando o seu objeto e aper-feiçoando os seus métodos, a ciência vai tambémreconstituindo a sua linguagem, ou seja, a constelaçãode termos necessários à sua divulgação. Integra-seportanto nos quadros das ciências sociais ou ciênciashumanas, adjetivo que lhe define não o ser feita pelohomem ou porque tenha como objeto a produção hu-mana. Mas humana, no sentido de que “a sua práticareintroduz no sujeito da ciência aquilo que se haviadiferenciado como seu objeto”, tal como escreve
1 Sendo feminina, téchne determinava a concordância, de modo que, como ensinam J. A. roquete e José da Fonseca, “todas estas palavras,que hoje temos como substantivos, são adjetivos substantivados, pois representam a variação feminina de grammatikós, rhetorikós,poietikós, logikós, dialektikós (...), concordando com o substantivo feminino subentendido téchne, artes”. Note-se, entretanto, que Ars,artis latina provém do grego areté, com o sentido de “aptidão”, de “virtude” de fazer bem feito.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 34-45, jan./jun., 1998.

36
Michel de Certeau em L’écriture del’histoire, de 1982. Sendo o objeto dapoética a literatura em toda a sua ma-nifestação de linguagem (poesia, fic-ção, teatro, etc.) e de metalinguagem(crítica, ensaio, história literária, etc.),além de outros elementos contextuaisligados à vida literária, o estudo desteobjeto depende em muito do rigor comque sejam designados os elementos queo constituem. Daí a necessidade de sefalar sobre essa linguagem que se pre-tende científica, que busca aunivocidade dos termos, mas que não consegue se isentardo fascínio artístico da escrita.
2 - Os “limites” daterminologia
Jakobson fala na sua antiga “doença terminológica”,quando confundia o valor do termo com o dos neolo-gismos desnecessários. No passado, Max Müller fa-lou numa “doença da linguagem”, justificando por aí aformação dos nomes dos deuses e confirmando nosexemplos a teoria platônica do nominalismo e do rea-lismo na linguagem. O certo é que toda ciência, aodelimitar o seu campo de ação (seu objeto), é levadanecessariamente à constituição de uma linguagem es-pecial, formada de palavras e às vezes de signos não-verbais, chegando, como no caso das ciências exatas,à redução das fórmulas matemáticas. Nas ciênciassociais, entretanto, o discurso científico privilegia aspalavras, quer dizer, transforma-as em nomes, emsubstantivos que tendem a se restringir a um só signi-ficado, razão por que passam à categoria de termos.
Assim, aperfeiçoando os seus instrumentos de obser-vação, de experimentação, de análise e de valoração,buscando sempre os métodos mais adequados à essên-cia de seu objeto, a poética procura também fundar a sualinguagem específica - a sua terminologia: conjunto depalavras (de termos) tendentes à denotação e àunivocidade, embora, como parte de uma ciência social eideográfica, abertas à intromissão inevitável do subjetivoe pessoal. O sujeito do discurso científico terá sempre delutar com essa intromissão, mas lutar não para “expulsar”osubjetivo, que é o mesmo que pretender “expulsar-se”,como queriam os positivistas, mas lutar para compreendê-lo e conviver com ele nos seus idílios e contradições.
Ciência cujo objeto é também partilhado por outrasciências, a poética se vê constantemente em luta coma uniformização de sua linguagem, dado que cada teó-
rico, cada estudioso é quase sem-pre levado à criação de termos no-vos ou à plurissemantização de ter-mos tradicionais. A este respeito,pode-se falar de dois núcleosterminológicos da poética: um quetende a ser fixo e que constitui ofundo tradicional que vem acompa-nhando a história das ciências da lin-guagem, a saber: poética, retórica,gramática, filologia, lingüística,estilística e semiologia; e outro queé naturalmente móvel, pertencente
primeiro a outras ciências sociais (história, sociologia,política, antropologia, psicanálise, etc.) e que a poéticaé levada às vezes a utilizar, sobrepondo a esses termosuma significação especial, ligeiramente diferente dasignificação original.
Dentro desses problemas terminológicos, um bomexemplo é o que se passa hoje com o próprio termopoética, empregado a torto e a direito e em sentidosque o restringem, ampliam, comutam e praticamente oanulam, levando-o a significações para além da litera-tura. É o que se pode deduzir das seguintes acepçõessemânticas colhidas em diversos estudiosos da atuali-dade:
a) Teoria geral das artes: ciência que estuda alinguagem de todas as artes: equivaleria, portanto, àsemiologia, abrangendo assim uma “poética” da pintu-ra, da escultura, da dança ou uma poética musical, comoa de Stravinski.
b) Teoria geral da literatura: é o sentido maisusado e corresponde à ciência da literatura. A poéticaengloba aqui as especulações teóricas e práticas, istoé, a produção dos discursos teóricos e epistemológicose a produção dos discursos críticos e analíticos, alémde, no fundo, se preocupar também com os fenôme-nos da criação literária, o de uma poiética, termo quese ajusta bem à definição da própria criação literária.
c) Teoria geral da poesia: acepção usada pelosintegrantes do Grupo m, em Liège, o que está aliás deacordo com uma longa tradição dos estudos literários.
d) Prática e eficácia do discurso literário: con-funde-se aí com a retórica e, a partir daí, com os ma-nuais didáticos.
e) Discurso literário de um autor, de uma épocae até de um país, sendo que neste último caso o termoperde o seu sentido por se confundir com a próprialiteratura.
f) Estudo de um gênero: poética do romance, doconto e, claro, poética da poesia... Há também a “po-ética da metáfora”, da metonímia, etc., em que o ter-
O certo éque toda ciência,ao delimitar o seu
campo de açãoconstitui uma linguagem
especial, formada depalavras e às vezes de
signos não-verbais.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 34-45, jan./jun., 1998.

37
mo poética se torna sinônimo de sim-ples “estudo”.
g) Discurso da metalinguagemem oposição ao da linguagem, re-servando-se para este a denomina-ção de poiética, como em B, supra.
h) Teoria da função do textoliterário, falando-se, tal como emM. H. Abrams, em poética mimé-tica, pragmática, da expressão e ob-jetiva ou imanentista.
Esta série de acepções cor-responde a vários tipos de sentido:o teórico, o crítico, o epistemológico, o estético e otipológico. Na verdade, esta riqueza de acepções re-flete muito bem não só a transformação dos estudosartístico-literários, como também uma complacênciacom a moda decorrente das inúmeras especulaçõesanalíticas desses discursos. É preciso portanto que oestudioso deixe claro o sentido que está usando no seutrabalho, sob pena de contribuir para uma epidemiaterminológica...
3 - As opções da críticaPara atingir o seu objetivo, que é o de estudar e
compreender todos os aspectos da produção, da divul-gação e do consumo da literatura, a poética se valedos discursos teóricos (as teorias literárias) e das prá-ticas analíticas, entre as quais a da crítica e a da his-tória literária. Com relação à crítica, existe hoje umsem-número de correntes que, a partir dos formalistasrussos, se manifestam com o nome de estruturalismode Praga, de “new criticism” americano, de tendênciaheideggeriana, de escola de Frankfurt, de fenomeno-logia, estilística, de psicocrítica, de sociocrítica, de crí-tica marxista, de estruturalismo francês, de semiologia,de semiótica russa, de crítica psicanalítica, enfim, umarede de tendências e complexidades de que a leiturado Magazine littéraire (n. 192, de fevereiro de 1983)dá as devidas proporções.
As definições da crítica envolvem um conjunto deoutras definições e até uma visão histórica do conceitode crítica, já que o conceito atual não deixa nunca deser uma soma analógica dos conceitos que atuaram natransformação do discurso crítico.
É do grego krínein2, julgar, estimar (o valor) queprovém o significado etimológico do termo crítica, apli-cado na avaliação dos méritos e defeitos das obras ar-
tísticas e literárias. Kritikós era o quejulgava bem, com gosto e discer-nimento: o adjetivo kritiké, que su-bentendia a palavra téchne, subs-tantivou-se e concentrou no seu sig-nificado principal o sentido de “ava-liação da obra-de-arte”. A tradiçãoartístico pôs em evidência as trêscondições da crítica: a existência deuma obra, a existência (velada ounão) de uma ideologia estético-cien-tífica que fornece os instrumentos euma filosofia dos métodos de análi-
se e avaliação da obra e, claro, a existência de um sujei-to, o crítico, com habilidade, cultura e bom-gosto sufici-entes para explicar, classificar e julgar as obras, primei-ramente a partir dos elementos extraídos da própria obrae, depois, do confronto dela com as outras obras da mes-ma época ou de épocas diferentes, o que é sempre feitonuma perspectiva sincrônica.
objeto da crítica é a obra acabada e percebida comoum todo textual, um sistema de signos coerentes e al-tamente organizado, isto é uma linguagem e, por issomesmo, um meio de comunicação, mesmo que não setrate de linguagem verbal, cujas “leis” e estrutura me-lhor dizendo, cujos sentidos se deixam depreender, ana-lisar, interpretar e julgar, mas de maneira a resistir sem-pre à última análise, à última interpretação e ao últimojulgamento, estando pois, em permanente disponibili-dade para as novas técnicas e métodos de estudo queforem surgindo. Tratando especificamente da obra, acrítica possui natureza sincrônica e, mesmo quandoabrange toda uma época, o seu objetivo será sempre ode reconstruir, em sincronia, o sistema de relações daobra ou das obras do período determinado.
Isto a separa e ao mesmo tempo a liga intimamenteà história literária, que vai abordar não a obra, masos elementos que estão simultaneamente dentro e foradela, transcendendo-a e, por isso mesmo, propiciandoa perspectiva diacrônica. Neste sentido, a obra é du-plamente ambígua: primeiramente, pela sua referênciaque aponta e não aponta para o real; e em segundolugar, pelas suas formas que, enquanto elementos da ena obra, são estáticas e, enquanto elementos da litera-tura, são dinâmicas e estão sempre em transforma-ção. A obra contém assim elementos a-históricos, fi-xos, impossíveis de serem modificados; e elementoshistóricos, em perpétua modificação. Mas esses ele-mentos não são diferentes: são os mesmos, dentro e
2 Esta parte sobre a crítica é retirada de dois dos meus livros: A retórica do silêncio. São Paulo: Cultrix, 1979 (2ª ed., Rio de Janeiro, JoséOlympio, 1989); e A crítica e o romance de 30 no Nordeste. Rio de Janeiro: Atheneu Cultura, 1990.
É precisoque o estudioso
deixe claro o sentidoque está usandono seu trabalho,
sob pena de contribuirpara uma epidemia
terminológica...
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 34-45, jan./jun., 1998.

38
fora da obra. Dentro, numa alta or-ganização sistêmica; fora, numa or-ganização menos rigorosa, num sis-tema mais amplo, susceptível demobilidade e transformação. É por-tanto a parte móvel e geral desseselementos que deve ser vista emtransformação, de uma para outraobra e de um para outro período,nos limites de uma literatura ou daliteratura em geral.
Sem a crítica, a história literá-ria não poderia selecionar os elemen-tos constitutivos de seu objeto, as formas (incluindo asformas de conteúdo: significados da linguagem comum,temas, emoções, fantasias) sobre as quais exercerá assuas funções particulares de ciência das transforma-ções do discurso literário. E isto separa também a críti-ca da poética, separa e liga, confundindo na regênciaverbal a duplicidade do objeto da crítica no objeto dapoética. Aliás, para Roland Barthes, “a obra detém porestrutura um sentido múltiplo, ela deve dar lugar a doisdiscursos diferentes: já que se pode, por um lado, visarnela a todos os sentidos que ela recobre ou, o que é amesma coisa, o sentido vazio que os suporta a todos; epode, por outro lado, visar a um só desses sentidos. Es-ses dois discursos não devem de modo algum ser con-fundidos, pois eles não têm o mesmo objeto nem asmesmas sanções. Pode-se propor chamar ciência daliteratura (ou da escritura) aquele discurso geral cujoobjeto é, não tal sentido determinado, mas a própriapluralidade dos sentidos da obra, e crítica literária aque-le outro discurso que assume abertamente, às suas cus-tas, a intenção de dar um sentido particular à obra”.3
Cremos que o sentido múltiplo da obra suporta nãoapenas dois discursos, mas tantos quantas forem aspossibilidades científicas de questioná-la. Além dos doisdiscursos apontados por Roland Barthes, e para ficarsomente na literatura, é preciso acrescentar o discur-so da história literária que, como já vimos, tem naobra um dos seus pontos de poio, de afirmação con-creta de uma forma que também se encontra na abs-tração dos gêneros e das concepções literárias domi-nantes numa época. Vista deste modo, a obra se cons-titui no centro mesmo de toda a atividade literária: comoproduto de uma criação artística que partiu da lingua-gem comum, instaurando um caos “original” para daíorganizar o cosmo de uma linguagem especial queconstitui o objeto do exercício crítico; como depositá-
ria de elementos que, tomadosdiacronicamente, constituem o ob-jeto da história literária; e como por-tadora de potencialidades gerais daliteratura, o que é na verdade o ob-jeto da teoria e em última instânciada poética.
Mas a crítica é também literá-ria, pertence a um gênero cujos li-mites são, de um lado, a linguagemda obra e, de outro, a história literá-ria e a poética. Possuindo o seuobjeto (a obra) e os seus objetivos
na leitura, na decifração, na explicação e na avaliaçãoda obra, e nunca na simples “tradução”, a crítica nãose resolve na paráfrase, pois, no dizer de Barthes, elaé uma perífrase, o que nos remete para o sentido dadefinição. Tal como o lexicólogo que traça em tornoda palavra (do verbete uma rede de significados pos-síveis na língua, o crítico também opera em forma deperífrase, traçando em torno da obra (percebida comoum signo) a cadeia de relações que, através da análi-se, ele conseguiu depreender do sistema fechado e semfundo que é a obra literária. A sua linguagem é portan-to uma perífrase, no sentido de um discurso que envol-ve outro discurso para revelar a sua (dela) organiza-ção interna e o seu valor como obra-de-arte literária.
Aspecto interessante na compreensão do estudo dacrítica na atualidade é o lugar de sua produção: a suaplenitude (!) nos rodapés dos jornais, nos suplementosliterários, nas revistas especializadas, dentro e fora dauniversidade. É a crítica informativa, a resenha (60 li-nhas) e, até, a da correspondência que, pelo seu carátersigiloso (!), permanece desconhecida do grande públi-co, a não ser através de trechos selecionados, sempre afavor... Sem levar em consideração a natureza e o lugarda produção crítica, é fácil incorrer em polêmicas gra-tuitas e em antipatias recíprocas e completamente de-testáveis, como as que se pode perceber entre os quetrabalham na universidade e os que se manifestam nojornal ou entre os intelectuais de formação universitáriaadvindos dos cursos de letras e os que, grandes e médi-os escritores, tiveram formação autodidata.
A história da crítica tem sempre de levar em contao seu caráter de posteridade em relação à obra: pri-meiro aparece o discurso literário (poesia, ficção, etc.)e só depois o discurso crítico. Aliás, os estudiosos dopassado, como Hegel, por exemplo, se empenharamna fixação da ordem de aparecimento dos gêneros ou
3 Barthes, Roland. Crítica e verdade. São Paulo: 1970.
As definiçõesda crítica envolvem
um conjuntode outras definições
e até uma visãohistórica doconceito de
crítica.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 34-45, jan./jun., 1998.

39
das espécies: épica coletiva, tragé-dia, lírica, e assim por diante. Ashistórias literárias tradicionais tra-tam sempre de arrumar em perío-dos e escolas apenas o lado tidocomo literário, esquecendo-se dasformas da literatura oral e de que odiscurso crítico passa também porsituações semelhantes, uma vez quetem no fundo o seu lado literário.Além do que, conforme escreveuGérard Genette, “toda reflexão sé-ria sobre a crítica abrange neces-sariamente uma reflexão sobre a própria literatura”4.
Assim, a grosso modo, a literatura ocidental podeser apresentada através de três sistemas estilísticosque se sucedem ao mesmo tempo que se interpenetram- o clássico, o romântico e o da modernidade. Tambéma produção crítica parece corresponder a três siste-mas de valores literários, com bastante analogia comos sistemas de produção literária: um estético, que pre-dominou até o fim do século XVIII, e que punha nabusca da beleza (harmonia/perfeição) toda a sua ra-zão de ser; um semântico, do século passado, que viaa obra como produto de um gênio e este como umemissor de mensagens para a humanidade e cujo sen-tido “devia” localizar-se nalgum lugar da obra: e, final-mente, um sistema que se pode chamar de formal,que procura na atualidade os “sentidos” possíveis naestrutura da obra literária. Cada sistema desses setransformou internamente em relação com os outros,de modo que a crítica de hoje tem de considerar aomesmo tempo os três sistemas de valores, pois ou nasua totalidade ou fragmentariamente podem ser en-contrados nas obras dos principais críticos.
Em A crítica e o romance de 30 do Nordeste op-tamos por estudar a crítica brasileira que tratou do ro-mance de 30, especialmente o do Nordeste, levando emconsideração a sua natureza, a suas função e o seu lu-gar de produção. Vimos assim “A crítica normativa”, a“Monográfica”, a “Universitária” e a “Crítica históri-ca”, a que se fez em nome de uma história literária, eque foi mais crítica do que propriamente história. Comoa temática do romance nordestino foi o núcleo de exer-cício de toda a crítica de preocupação social, não sintonecessidade de mudar essa classificação (a não ser nasampliações do âmbito social e na focalização de algunsnomes mais recentes, mais comprometidos com a obrado que com o seu contexto), mantendo-a portanto comoponto de partida para estudos mais profundos das mani-
festações da crítica brasileira na atu-alidade.
3.1 - A críticanormativa
Pode-se tomar esta expressãocomo o que mais comumente sechama crítica literária, isto é, os ar-tigos escritos em jornais e revistase que são depois reunidos em livros.É normativa porque cada crítico,consciente ou inconscientemente,aplica alguma norma, algum padrão
de juízo que não chega a ser tão rigoroso como asnormas da poética do século XVIII, mas que pode es-tar centrado ou num critério pessoal (que agrade aocrítico ou, como se diz para caracterizar o im-pressionismo, “as aventuras de sua alma entre as obras-primas”, que agrade aos escritores ou, ainda, agradeaos homens em geral) ou em critérios literários e atéextraliterários, como os elementos estruturais da obra,a psicologia do leitor e a visão do mundo do próprioautor. É dessa característica normativa, às vezes cla-ramente mencionada, às vezes ingenuamente incorpo-rada à exigência crítica que provêm os critérios de valor,de toda uma axiologia tradicional que examina o graude utilidade da obra na satisfação do gozo estético. Anoção do que é e do que devia ser, pedra de toque daaxiologia kantiana, é que determina para Kant aquelejuízo de finalidade que, sendo estético, é tambémsubjetivo, uma vez que a impressão de beleza nasceda harmonia de nossas faculdades de conhecimento,do nosso prazer desinteressado. Daí dizermos que acrítica, no seu sentido mais conhecido, é uma críticanormativa e também axiológica, porquanto, clara ouveladamente, ela julga através de critérios de valor,critérios que podem ser bons ou ruins, dependendo dainteligência e da honestidade do crítico. Pois, para Al-ceu Amoroso Lima (Tristão de Athayde), “se os bonscríticos superam, até certo ponto, os maus métodos, osbons métodos não corrigirão jamais os maus críticos”.
Dentro deste tipo de crítica, a mais popular e a maisconstante na prática dos jornais, podem ser examina-das as obras de importantes estudiosos que trataramda problemática social da literatura brasileira nesteséculo. Desaparecidos Tristão de Athayde, AgrippinoGrieco, Mário de Andrade, Álvaro Lins, Sérgio Milliet,Otto Maria Carpeaux e Adonias Filho, desaparece tam-bém a forma dos rodapés ou das colunas de crítica
4 GENETTE, Gérard. Figures III. Paris: Éditions du Seuil, 1972.
Cremos que osentido múltiplo daobra suporta não
apenas dois discursos,mas tantos
quantas forem aspossibilidades científicas
de questioná-la.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 34-45, jan./jun., 1998.

40
que tanto empolgaram o intelectualbrasileiro nas décadas de 20 a 50 aque Wilson Martins, insistentemen-te, tenta dar continuidade. Os gran-des espaços dos jornais foram des-tinados a noticiários mais espetacu-lares (a política, o crime, o escân-dalo, a corrupção na área pública),perdendo-se o sentido de conheci-mento dos problemas culturais bra-sileiros, postos em discussão pelosmodernistas na década de 20. Aresenha (de 60 a 70 linhas, quandonão apenas de 30) ainda existe, mas infelizmente pre-sa ao monopólio dos best-sellers e das grandes edito-ras.
Da estirpe de 1930 ainda se faz presente o nomede Antônio Cândido, com uma série de estudos bri-lhantes e com uma atuação quase mítica na área uni-versitária. Livros como Literatura e sociedade, de1967, Vários escritos, de 1970, e Na sala de aula, de1985, bastante didático, constituem modelos de críticaou de ensaio literário na atualidade. De sua Forma-ção da literatura brasileira, de 1959, falaremos maisadiante, no capítulo sobre história literária, onde trata-remos também do trabalho mais notável de WilsonMartins, a sua História da inteligência brasileira,das pesquisas de José Aderaldo Castello e da históriaconcisa de Alfredo Bosi, além de outros.
Na esteira de Antônio Cândido há em São Paulonomes como os de Roberto Schwartz (A sereia e odesconfiado, 1965; Ao vencedor as batatas, 1977),João Luiz Lafetá (1930: a crítica e o modernismo, de1974), Davi Arigucci Jr. (Achados e perdidos, 1979),José Paulo Paes (Gregos & baianos, 1985) e FábioLucas (O caráter social da literatura brasileira, de1970, e Do barroco ao moderno, de 1989)f. Os doisúltimos não se encontram ligados à esfera universitá-ria da Universidade de São Paulo e desenvolvem, in-dependentemente, os seus projetos de crítica literária.Enquanto José Paulo Paes se reparte entre a criaçãopoética, a tradução e o ensaio, Fábio Lucas se dedicainteiramente ao ensaio e à crítica, numa coerência ad-mirável que o transforma no mais importante críticodas idéias sociais na atualidade. Ainda em São Paulohá que se destacar o trabalho de tradução e de estu-dos de poesia realizado por Haroldo de Campos.
No Rio de Janeiro, merecem ser mencionados, ecom destaque, os nomes de Franklin de Oliveira (Afantasia exata, 1959), de Fausto Cunha (A leituraaberta, 1978), Ivan Junqueira (Prosa dispersa, 1991),
Fernando Py (Chão da crítica, de1983) e José Lívio Dantas (Ro-maneio, 1991). Atuam fora da áreauniversitária, onde há muita produ-ção em nome da “teoria literária” epouca originalidade no que diz res-peito à crítica prática dos livros. Naárea universitária, Afrânio Coutinhonão conseguiu, no Rio de Janeiro, amesma ressonância que envolve aobra de Antônio Cândido, em SãoPaulo. Apesar de suas inúmeras pu-blicações, o seu tom polêmico e a
sua linguagem mais para o científico que para o literá-rio não deixaram discípulos e continuadores de suasidéias literárias. Sobre A literatura no Brasil, de 1959,trataremos adiante, na parte de história, onde poremosem relevo a sua Enciclopédia da literatura brasilei-ra, publicada em 1990. De maior repercussão na áreauniversitária, principalmente em se tratando de teoriada literatura, anota-se o trabalho contínuo de Luiz CostaLima, com uma série de ensaios estruturalistas e liga-dos à sociologia e à psicanálise, destacando-se, pelautilidade, o volume que organizou sobre a Teoria lite-rária em suas fontes, em dois volumes na segundaedição de 1983. Na Pontifícia Universidade Católicado Rio de Janeiro, além de Luiz Costa Lima, apare-cem nos nomes de Affonso Romano de Sant’Anna(Análise estrutural de romances brasileiros, de1973) e principalmente Silviano Santiago, que adquiriumerecido renome com obras como Nas malhas daletra, de 1989. Na área da Universidade Federal doRio de Janeiro se destacam os trabalhos de AnazildoVasconcellos da Silva (Formação épica da literatu-ra brasileira, 1987), Pedro Lyra (O real no poético,1980), Dalma Nascimento (Fabiano, herói trágicona tentativa do ser, 1976), Telênia Hill (Castro Alvese o poema lírico, 1979) e Antônio Carlos Secchin que,depois de João Cabral: a poesia do menos, de 1982,o livro mais importante sobre a poesia cabralina, vem-se notabilizando pelas suas resenhas de poesia no Jor-nal do Brasil.
Iniciando a sua vida literária no Rio de Janeiro, JoséGuilherme Merquior estreou brilhantemente com Arazão do poema, em 1964, com argutas análisesestilísticas e uma forte visão da literatura como lingua-gem, embora, levado pelo contexto político da época,que criticava a geração de 45 sem estudá-la bem, te-nha sido levado a tratar com linguagem vulgar os poe-tas dessa geração. No início da década de 1970, publi-cou A astúcia da mímese, contribuindo, sem o querer,
A literatura ocidentalpode ser apresentada
através de trêssistemas estilísticos -o clássico, o romântico
e o da modernidade.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 34-45, jan./jun., 1998.

41
pelo modismo universitário da“mímesis”, em vez do termo verná-culo mimese. Por essa época, JoséGuilherme Merquior, por força doseu contato com a política brasilei-ra do momento, foi-se enveredan-do pelos ensaios de economia e po-lítica, deixando quase de lado omelhor da sua vocação de críticoliterário. Seus últimos livros, entreos quais O elixir do apocalipse(1983), já não possuem o mesmopoder de concentração analíticacomo em Verso universo em Drummond (1975), umavez que se repartem entre a polêmica e o sentido cul-tural mais vasto, perdendo-se na direção de uma filo-sofia política que o engrandeceu como profissional doMinistério do Exterior, mas que o afastou de sua forçaprimordial, que era a literatura. Falaremos de seu livroDe Anchieta a Euclides (1977) no capítulo sobre his-tória literária.
Por todo Brasil, ligado ou não à universidade, hánomes que vêm se projetando no exercício da críticanormativa e na ensaística literária, entre eles: PauloHécker Filho, no Rio Grande do Sul; Luiz Busatto, noEspírito Santo; Darcy França Denófrio e JoséFernandes, em Goiás; Alcides Pinto e Adriano Espínola,no Ceará; Ângelo Monteiro, em Pernambuco; Sérgiode Castro Pinto, na Paraíba, para citar apenas os quenos parecem mais ativos e importantes para este pa-norama da crítica brasileira.
3.2 - A crítica monográficaUsamos esta expressão como um aprofundamento
da crítica normativa, isto é, como um estudo minuci-oso (feito através de pesquisas, levantamentos esta-tísticos, comparações e análises), publicado em re-vistas ou em livros, já que, pela extensão, não poderiaser divulgado nos estreitos espaços dos jornais. Com-põem-se às vezes de vários estudos sobre o mesmoassunto ou aspectos desse assunto, que pode ser umaépoca, uma geração, as obras de um autor ou mesmouma obra isoladamente. A crítica normativa é, de certaforma, o ponto de partida da crítica monográfica emuitos dos autores que atrás mencionamos se situa-riam melhor neste parágrafo. É certo que as mo-nografias não interessam muito aos editores, mas ates-tam o desenvolvimento dos estudos literários, princi-
palmente nas universidades. Se nacrítica normativa muitos críticossão professores universitários, namonográfica temos esses críticosno processo de sua carreira aca-dêmica ou, então, o aparecimentode mestres e doutores, cujas teses,na sua maioria, têm contribuídopara o enriquecimento dos estudosliterários no Brasil.
3.3 - A crítica universitária
Tocamos rapidamente na questão da crítica univer-sitária quando falamos no lugar e no tipo de produçãodo discurso crítico: nas notas bibliográficas sobre oslivros recém-publicados, nas resenhas dos jornais erevistas, geralmente publicadas nas universidades. Nadécada de 1970 chegou a haver uma (in)compreensívele velada polêmica entre os críticos e estudiosos quemilitam como professores universitários e os que es-tão fora, como jornalistas, escritores, intelectuais, que,de uma forma ou de outra, dão excelentes contribui-ções aos estudos da literatura brasileira. Na verdade,uma coisa é o estudo da literatura feito na universida-de e cujos resultados costumam ser publicados em re-vistas especializadas, em livros, ou mimeografados,como é o que acontece com as dissertações (demestrado) e teses (de doutorado). Há espaço para oexercício aprofundado das novas teorias e motivaçõespara a verificação das estruturas e imanências da obraliterária. Se esses estudos ganham novas dimensões eprofundidade, pois a síntese se vê substituída pelo exer-cício analítico e pelas explicações do texto, perdemquase sempre pela falta de talento crítico, pela adesãoà terminologia da última moda teórica e pela pretensãoda descoberta do óbvio... Entretanto, não se pode ne-gar hoje a importância da produção universitária queinflui não só entre os novos, como atua também comoestímulo de renovação entre os críticos tradicionais.De maneira que, quando se diz, popularmente, queexiste uma “crítica universitária” em oposição à “críti-ca do jornal”, o que realmente se verifica é a tendên-cia natural em ignorar as distinções necessárias, bemcomo os objetivos e o lugar social da atividade crítica,lugar que determina o tipo, a natureza e o objetivo dotrabalho crítico5.
5 Cf. meu artigo “A crítica histórica” em Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, (60): 23-51, jan/fev.
A produção críticaparece correspondera três sistemas devalores literários: o
estético, o semântico eo formal.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 34-45, jan./jun., 1998.

42
Esta “querela” é mais ou menossemelhante ao que ocorreu com acrítica francesa diante da obra deGustave Lanson - o lansonismo queaté hoje (e injustamente) é conhe-cido como o lado acadêmico e tra-dicional da atividade crítica. A mes-ma coisa vem ocorrendo no Brasil,só que em sentido inverso, ou seja,na França a crítica universitária seidentificou com o ideário lansonista,enquanto que os escritores fora dauniversidade empreenderam a re-novação. No Brasil, a renovação parece estar com auniversidade que, entretanto, por não possuir ainda umatradição mais séria nas suas pesquisas humanísticas,tem servido mais como difusora das idéias de uma crí-tica nova (estilística, neocriticista, estruturalista,semiológica, psicanalítica, etc.), enfim, a universidadetem atuado mais no campo teórico, como uma práticaque, com raras exceções, não tem correspondido aoclangor das teorias ruidosamente proclamadas. Amaior objeção que tem sido feita à crítica universitáriaé de que a maioria de suas conclusões (ilustradas comesquemas e gráficos) já haviam sido alcançadas pelacrítica tradicional. Empenhada em mostrar o processocrítico, para ensiná-lo, a crítica universitária não temconseguido, pelo menos nas gerações mais novas,aquela síntese expressiva e aquele julgamento serenoque fazem da linguagem crítica um dos gêneros espe-ciais da poética.
As cadeiras de Teoria literária e de Lingüística (alémde outras congêneres, de acordo com a disponibilidadehumana das faculdades de letras) têm concorrido umtanto negativamente com a cadeira de Literatura bra-sileira, sobretudo no que diz respeito à produção críti-ca. Todo e qualquer estudo de literatura, seja escritopelo professor/aluno de teoria literária, seja escrito porprofessor/aluno de literatura brasileira, é absorvido peloestudioso não-universitário como proveniente de umamesma fonte - o estudioso de literatura brasileira. E ésobre esta cadeira que chovem os comentários pejo-rativos de que se está usando muita teoria e até de quehá em muitos livros universitários desleixos gramati-cais inadmissíveis...
Não restam dúvidas de que em ambos os lados háexageros vaidosos e emocionais. Os estudos universi-tários vêm abrindo perspectivas novas e têm procura-
do colocar nas mãos do crítico uminstrumental mais rigoroso, que nemsempre tem sido bem utilizado. Acrítica tradicional ou não-universi-tária, por força do talento de muitosde seus representantes, nos vêmdando exemplo de excelentes tra-balhos interpretativos, mas em seunome também se publica constan-temente um sem-número de livrosque, embora muitíssimo bem escri-tos, quase nada interessam à críti-ca brasileira.
Para se ter uma amostra da crítica que se pro-duz dentro da universidade é só escolher algumasteses já editadas, que tomaram por assunto algunsromances nordestinos. Desprezamos os estudosfeitos por “brazilianistas”, por considerá-los, na suamaioria, muito abaixo do nível dos estudos feitospor brasileiros. São geralmente teses de doutoradoque não acrescentam nada à nossa produção cien-tífica, mas, por virem escritas em inglês, são ime-diatamente muito mal traduzidas e muito bem edi-tadas no Brasil...
Como é fácil observar, os tipos de crítica normativa,monográfica e universitária não passam, na verdade,de uma mesma forma metalingüística de se abordarsincronicamente o texto literário: mais judicativa noprimeiro caso, mais especializada e analítica no segun-do e, teoricamente, mais epistemológica no caso dacrítica universitária. Esta a razão por que se pode di-zer que, no fundo, toda a atividade crítica se vê reduzi-da a duas formas gerais de pensamento: um, sincrônico,que se volta para o texto para compreendê-lo nas suasvariadas significações: um texto fechado na sua estru-tura e aberto apenas à interpretação; e outro, dia-crônico, que se interessa pelas transformações do dis-curso literário: é a crítica histórica, que considera-mos aqui não como um item das “opções da crítica”,mas como uma forma para além da crítica, como umgênero especial da poética.
4 - A história da literatura6
Os estudos da história literária entre nós prolonga-ram as concepções e os métodos do positivismo que acriou, que a subordinou à história geral, que confundiucoma crítica, que lhe aplicou o método, não provenien-
6 As expressões “História da Literatura”, “História Literária” e “Crítica Histórica” (ou “Historiográfica”) têm sido comumente tomadascomo sinônimas. É, no entanto, conveniente estabelecer distinções:
A crítica é normativaporque o crítico,
aplica alguma norma,que pode estar
centrada ou numcritério pessoal ou
em critérios literáriose até extraliterários.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 34-45, jan./jun., 1998.

43
te de seu próprio material literário,mas o método da história geral, oqual por sua vez, provinha das ci-ências exatas, tidas como modela-res. Em nome da objetividade, quese confundia com quantitatividadeou totalidade, esses estudos, na suamaioria, escamotearam o subjeti-vo e pessoal, mascarando-se numideal de “neutralidade científica”.De um modo geral, as nossas his-tórias literárias não têm passado decoleções de painéis críticos, numasintagmática de crítica: arrumam-se os autores e suasobras sob um; nome-chave (romantismo, parnasia-nismo) e critica-se cada um deles, situando-se por-tanto num nível biobibliográfico que possui o seu inte-resse prático, mas que constitui apenas o primeironível da história literária. Os autores mais importan-tes conseguem articular a esse primeiro nível umavisão cultural, ligando as séries literárias (poesia, fic-ção, teatro, etc.) a outras séries não-literárias: antro-pológica (Sílvio Romero), político-social (JoséVeríssimo), econômica (Nelson Werneck Sodré), es-tética (Afrânio Coutinho e Antônio Cândido) e esté-tico-social (Wilson Martins, Alfredo Bosi e José Gui-lherme Merquior). Cada um desses historiadores con-tribuiu de alguma forma para o conhecimento do dis-curso histórico-literário da literatura brasileira, atin-gindo, algumas vezes, por força do desempenho deum inegável talento crítico, o ponto mais sensível deuma nova concepção de história literária, ou seja, oda transformação dos elementos que estruturaram aobra literária e que se fazem signos de transforma-ções de ordem cultural.
Mas, a bem da verdade, não tivemos ainda umahistória da transformação do discurso literário nem aplena consciência de que a história literária é uma ci-ência diacrônica que se ocupa da história dos elemen-tos da obra literária, dos elementos que estão dentro e
fora da obra, ao mesmo tempo, nãose trata de uma história da criaçãoda obra, numa espécie de psicolo-gia da criação, nem somente dosacontecimentos que rodearam oaparecimento da obra, mas de umestudo que acompanhe a transfor-mação das realizações desses ele-mentos. Eles estão fora da obra,enquanto concepções abstratas,enquanto formas universais, comorima, métrica, imagens, temas; eestão dentro delas, enquanto reali-
zações concretas. Se estão realizados numa obra, es-ses elementos não se modificam, mas “modificam-se”de obra para obra, de um mesmo autor, de uma épocaou de toda uma literatura.
Toda obra literária é, como já dissemos, uma reali-dade duplamente bissêmica: primeiro porque, construídasobre a linguagem comum, retira dessa linguagem umaparte de sua substância semântica - as palavras levampara o texto o seu significado da língua comum e rece-bem significados especiais que fazem apontar, simul-taneamente, tanto para o significado comum como parao especial, que o autor lhe atribuiu. Esta é a primeiraambigüidade. A segunda provém do fato de a obraliterária possuir duas dimensões estruturais: uma está-tica (ou a-histórica), que é a sua realização como sis-tema de signos, a obra tal como a conhecemos, fecha-da na finitude de seu discurso; e uma dinâmica (ouhistórica), “no sentido de que, produzida num tempohistórico determinado, tem a capacidade de seguir pro-duzindo significados fora desse tempo”. Ou como querainda Juán Oleza, “se a ambigüidade essencial do tex-to permite múltiplas interpretações que variam histori-camente, há, entretanto, algo por baixo dessas inter-pretações que permanece numa estrutura significati-vamente estática”7.
Daí podermos falar numa dupla bissemia: a obra éambígua porque se refere e ao mesmo tempo não se
a) História da Literatura: O termo abrange todo tipo de estudo diacrônico, tanto do contexto como do texto, da obra, vista assim numaperspectiva de comparação com idéias e obras anteriores e posteriores. Vem lentamente recortando o seu objeto, estabelecendo os seusmétodos e constituindo a sua terminologia (a sua linguagem). Quer-se separada da História Geral e da Crítica. Por causa da sua amplasignificação tem sido confundida e desgastada por críticos e professores apressados.
b) História Literária: constitui a parte mais radical de História da Literatura. Examina as transformações dos elementos da expressão, doconteúdo e das técnicas retóricas (artísticas) da obra ou de um conjunto de obras, mostrando o que mudou, como e por que mudou equando se deu a modificação (e não simplesmente a evolução).
c) Crítica Histórica: Expressão que aponta para o significado de História da Literatura. Mas quem a usa parte do princípio de que só existeuma forma de exame da obra literária ou de toda a literatura: a velha crítica, a qual, dependendo da matéria examinada, se chamará críticaou crítica histórica.
7 OLEZA, Juán. Sincronia y diacronia: la dialéctica del discurso poético. Valencia: Imprenta Nácher, 1976.
A crítica normativa é oponto de partida dacrítica monográfica...
É certo que asmonografias não
interessam muito aoseditores mas atestam o
desenvolvimento dosestudos universitários.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 34-45, jan./jun., 1998.

44
refere à realidade, num jogo detransparência e opacidade: e é tam-bém ambígua porque é estática (a-histórica) e ao mesmo tempo estásujeita à dinâmica (a historicidade)do vir-a-ser, que é a sua margemde transformações por exigênciasde mudanças culturais ou da auten-ticidade criadora do escritor. Por-tanto, só uma visão metodológicaque dê conta da simultaneidade des-sas bissemias pode construir os ali-cerces de uma história literária nova, talvez inicialmentemonográfica (estudo diacrônico da métrica, da rima,das figuras, das personagens, das descrições, etc.),depois com toda certeza, uma história feita através deequipe, num projeto que encontre o seu lugar e tempode produção.
A obra crítica de Antônio Cândido é, sem dúvi-da, a mais importante na atualidade e a sua Forma-ção da literatura brasileira, de 1959, possui todosos atributos de um livro superior na nossa his-toriografia literária: a concepção segura de que aobra de história é também literária, o que tem muitoa ver com o exercício da lingugagem: e a consciên-cia de que não se pode trabalhar com o todo. Entreos seus “pressupostos” se lê que o seu livro “procu-ra apreender o fenômeno literário de maneira maissignificativa e completa possível, não só averiguan-do o sentido de um contexto cultura, mas procuran-do estudar cada autor na sua integridade estética”8.Como se trata de uma “formação” e dos “momen-tos decisivos”, como está no subtítulo da obra, justi-fica-se o critério de seleção do material estudado eo período escolhido: de 1750 ao final da década de1850. Quer dizer, Antônio Cândido começa a suahistória depois de duzentos e cinqüenta anos de for-mação da cultura brasileira, deixando de lado todosos problemas de linguagem, de gêneros (escritos eorais) e de documentação. Como seguiu muito deperto o esquema proposto por Sílvio Romero (que,por sua vez, se valeu do de Joaquim Norberto), fi-cou preso ao contexto maior da história político-so-cial (da história geral) e, ainda que com brilhantesanálises, não pôde acompanhar de perto as trans-formações intrínsecas da literatura (ou, como disseJoaquim Norberto em 1860, “às próprias evoluções
íntimas da literatura”9. AntônioCândido deixou de lado toda a fer-mentação cultural dos dois primei-ros séculos brasileiros. Problemasdelicados como o da obra deGregório de Matos, a luta dos “bra-sileiros” para sair da linguagem“simbólica”, impositiva, docolonialismo português e espa-nhol, as formas embrionárias dasnarrativas orais registradas pelosviajantes e catequistas, enfim,
tudo aquilo que a visão de um sociólogo da literatu-ra poderia reordenar, dando-lhes novos sentidos evalor, tudo isso ficou de fora da obra de AntônioCândido. Mas o mais grave, a meu ver, é que nãopudemos contar com a sua inteligência crítica noestudo dos autores mais representativos da literatu-ra brasileira, porque sua história termina em 1859.O corte epistemológico foi por demais restritivo eprejudicou o pleno sentido da palavra formação, eli-minando-se as suas raízes e podando as frontes maisaltas do nosso pau-Brasil.
Sobre Afrânio Coutinho já escrevemos que “a crí-tica literária atingiria a sua mais alta realização noBrasil, se a obra de Afrânio Coutinho não houvessenascido de uma contradição entre a teoria, que sequeria sincrônica (o new criticism), e a prática for-çosamente diacrônica (da história literária). Entre osanos de 1953 e 1957, ele agitou vivamente os meioscríticos do país, atuando sobre os críticos tradicionaise despertando nos novos o sentido do apuro técnicono exercício da crítica literária”10. Num dos seus ar-tigos (“Literatura e história”), Afrânio Coutinho pa-gou tributoa um certo dogmatismo oriundo das pró-prias idéias que divulgava, idéias que, vistas de hoje,nos revelam a crença num imanentismo estético quetentava equilibrar alguns (não todos) conceitos dosformalistas russos com o pragmatismo analítico nor-te-americano. E dentro desse pragmatismo era im-possível pensar a renovação dos estudos diacrônicos.Assim, a sua visão de história literária era ainda ados positivistas, principalmente na linha de Brunetière,vendo a história literária apenas como o estudo dosgêneros, achando que a crítica literária, “não sendoum gênero, é o conjunto de métodos de análise e in-terpretação do fenômeno literário” e escrevendo aca-
8 CÂNDIDO, Antônio. Formação da literatura brasileira. São Paulo: Martins, 1959, p.22.9 SILVA, Joaquim Norberto de Sousa e. História da literatura brasileira. In: Revista Popular. Rio de Janeiro, 5(2): 25, jan./ março 1860.10 TELES, Gilberto Mendonça. A crítica e o romance de 30 do Nordeste, p. 88.
Não se pode negar hoje a importância da
produção universitáriaque influi não só entreos novos críticos como
atua também comoestímulo de renovaçãoentre os tradicionais.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 34-45, jan./jun., 1998.

45
nhadamente que “a história literá-ria deve apenas registrar as possí-veis relações desses temas com aliteratura”11. Felizmente, o pensa-mento de Afrânio Coutinho foi maislonge do que o ideário neocriticistae ele pode organizar e dirigir o pri-meiro grande projeto de história li-terária no Brasil. Grande não ape-nas pelos seis volumes de A lite-ratura no Brasil, mas principal-mente pelo sentido de equipe, detrabalho coletivo de que o projeto se beneficiou,fanzendo-se pela primeira vez no Brasil uma histórialiterária estruturada em bases monográficas, com es-pecialistas (ou não) tratando de cada assunto progra-mado. Uma história literária que, sendo por naturezatradicional, conseguia entretanto, por força de suametodologia, atingir o máximo até então imaginadopara a renovação desse tipo de estudos entre nós.Todavia, uma história literária que se transformou,afinal, num painel de crítica, numa série de cortesmonográficos, vistos diacronicamente, mas semprenuma perspectiva sincrônica. Ou seja, os elementosde ordem histórica (cronologia, aparecimento e de-saparecimento de formas e temas) estavam a servi-ço da crítica, e não esta a serviço daquela. Cremosque é com a sua Enciclopédia da literatura brasi-leira, iniciada por J. Galante de Souza, e publicadaem dois volumes em 1990, que Afrânio Coutinho al-cança o melhor de sua contribuição para os estudosde literatura no Brasil.
É o que também se pode dizer de Wilson Martins,com a sua monumental História da inteligência bra-sileira, em sete volumes publicados entre 1977 e 1979.Mais que uma história literária, a sua obra tem o méri-to de trazer à baila os principais problemas da culturabrasileira, nuclearizando-os em torno de uma data paraa qual convergem as séries culturais descritas ou criti-camente apresentadas.
O nome de José Aderaldo Castello ficará para sem-pre no empreendimento a que se lançou, publicandoos quatorze ou quinze volumes de O movimentoacademicista no Brasil (1641-1820/22), editados apartir de 1969. O estudioso conta agora com todoesse material de natureza barroca e neoclássica queconstitui, sem dúvida, o primeiro grande repertório
11 COUTINHO, Afrânio. Da crítica e da nova crítica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1957, p. 159.
literário de que a crítica e a histó-ria literária têm comumente seafastado, talvez por não ter sido ain-da bem estudado por ninguém.
Alfredo Bosi publicou em 1970uma excelente História concisada literatura brasileira, de gran-de interesse na universidade, so-bretudo pelo equilíbrio entre a tra-dição bibliográfica e o julgamentocrítico na apresentação dos escri-tores: poetas e ficcionistas, apre-
sentados com o mesmo rigor crítico e numa lingua-gem que se sabe persuasiva e elegante.
No mesmo sentido se pode dizer que; José Gui-lherme; Merquior cuja; história literária, de Anchietaa Euclides, é de 1977. A grande crítica que se faz àsua história é a mesma que se faz à de Antônio Cân-dido: quando se espera que o estudioso vai nos dar asua opinião ou nos mostrar o desenvolvimento doideário e das formas modernistas, melhor, de todasas transformações ocorridas na literatura brasileirade l900 à atualidade, encontramos apenas o silêncio,o medo de se pronunciar sobre os escritores do sécu-lo XX, grandes e pequenos, numa falha puramente‘‘diplomática”. O curioso é que, nos artigos que es-creveu quando candidato à Academia Brasileira deLetras, Merquior citava oito, dez acadêmicos de umavez só...
Massaud Moisés, especialista em literatura portu-guesa da Universidade de São Paulo, publicou em1989 a sua História da literatura brasileira, emquatro volumes. Estuda os principais momentos já tra-dicionais das histórias literárias: origens, barroco,arcadismo, romantismo, realismo, simbolismo e mo-dernismo. Tem o mérito da clareza e de um certodidatismo de interesse para a iniciação do conheci-mento da literatura brasileira. Mas continua mais crí-tico que historiador, preocupado com o papel desem-penhado pelo escritor e com a sua comparaçãosincrônica com outros escritores.
As observações, sumárias neste texto, visaramsobretudo ao sentido de panorama, não se apro-fundando no estudo das obras mencionadas, o queserá objeto de um livro que estamos preparando arespeito.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 1992.
A obra é ambíguaporque se refere
e ao mesmo temponão se refereà realidade
e é estática e aomesmo tempo estásujeita à dinâmica.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 34-45, jan./jun., 1998.

46
* Mestre em Teoria daLiteratura - Professordas FaculdadesIntegradas de Dourados
Tendo por parâmetro a teoria literária moderna no quetem dito sobre a autoria (autor x leitor), este ensaio disenteo papel e/ou lugar do autor na modernidade.
Palavras-chave:Clarice Lispector; autor; leitor; texto.
Having parameters based on the modern literarytheory, specially concerning to the authory (author xreader), this essay diseusses the author roles in themodernity.
Key-words:Clarice Lispector;author;reader;text.

47
CLARICE LISPECTORUM AUTOR QUE SE INSCREVE
Edgar Cézar Nolasco *
Escrever não é sequer uma reflexão, é um tipo defaculdade que se possui ao lado da personalidade,paralelo a ela, uma outra pessoa que aparece e avan-ça, invisível, dotada de pensamento, cólera, e quepor vezes acaba colocando a si mesma em risco deperder a vida.
DURAS. Escrever, p. 48.
Perdida a imagem paterna do autor enquanto sujeitoque assinava sua obra, mas que na contemporaneidaderetorna através de um corpo que se inscreve na escritu-ra e é reconhecido/reconstruído pela leitura, a figuradesse que escreve – o escritor – entra em cena paraatestar a problemática que permeia o processo de escre-ver na modernidade. Para tanto, o escritor subscreve-sea si nesse processo, apresentando-se como um tema deprodução e ao mesmo tempo questionando a(im)possibilidade dessa produção nos dias de hoje. Tal éo processo de criação de Clarice Lispector. Seus peque-nos textos – crônicas, anotações e fragmentos – são umexemplo dessa questão. Por isso, procuraremos, a partirde agora, rastrear esses textos para ver como se inscre-ve neles o escritor (Persona do autor) e sua perguntasobre o próprio processo de produção que traz em suaconstrução respostas sobre o autor, o leitor e o texto.
No texto-crônica, ou texto-fragmento, publicado em2 de março de 1968 intitulado, precisamente, de “Per-sona”1 , Clarice se propõe a falar da palavra “pessoa”,que é um dos sentidos do termo persona2 . Esse textoparece ser um bom começo porque, ao discutir a res-peito da persona e sua máscara, é uma reflexão sobre opróprio papel do escritor (Clarice) e a “máscara” queele usa no cenário textual, contribuindo para a teatrali-zação que, segundo Barthes, ilimita a linguagem3 . Soma-se a isso o fato de que, ao refletir sobre questões comoessa (persona) e muitas outras relacionadas ao papeldo escritor, do leitor e do texto, Clarice nos permite leruma outra Clarice (escritor) mais pessoal, menosintimista, dialogando em silêncio com seu leitor. Poresse viés de leitura, tem-se um novo escritor (autor) euma obra original a ser lida: ler Clarice Lispector to-mando-se como base seus pequenos textos, meio es-quecidos da crítica em prol dos grandes, é buscar adescoberta de como se constroem, na verdade, essesgrandes textos, sobretudo, e principalmente, as últi-mas obras da autora4.
Essa leitura às avessas nos permite compreender oprocesso de produção escritural clariceano, uma vez queconsidera que esses pequenos textos, além de fundado-res do grande texto, historicizam o sujeito-autor no texto
1 LISPECTOR. A descoberta do mundo, p. 99.2 Costa Lima, no ensaio “Persona e discurso ficcional”, afirma: “A persona não nasce no útero senão que da sociedade. Ao tornar-se
persona, assumo amáscara que me protegerá de minha fragilidade biológica. (...) Não custa esforço entender-se que a persona só seconcretiza e atua pela assunção de papéis. É pelos papéis que a persona só se socializa e se vê a si mesma e aos outros como dotadosde certo perfil, com direito, pois a um tratamento diferenciado.”COSTA LIMA. Anais ..., v.1, p.117.
3 BARTHES. Sade, Fourier, Loyola, p.9.4 Cita-se, como exemplo, os livros Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres (1969), Água viva (1973), Onde estivestes de noite (1974)
e A via crucis do corpo (1974).
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 46-53, jan./jun., 1998.

48
da autora, permitindo que o leitor acompanhe o papel doescritor (sua reflexão crítica) em seu ofício. Através daprática leitural, que não exclui a produção marginal doautor, o leitor acaba construindo vida e obra desse autor,arrolando documentos mais originais, uma vez que vol-tou sua leitura para a origem do corpo escritural.
Em seu texto-crônica “Persona”, já aqui referido,Clarice nos lembra que, no antigo teatro grego, os atores,antes de entrar em cena, pregavam no rosto um máscaraque representava, pela expressão, o que o papel de cadaum deles iria exprimir5 . Mesmo sabendo que as “qualida-des de um ator está nas mutações sensíveis de seu rosto,e que a máscara as esconde”, Clarice indaga-se por queessa idéia dos atores entrarem no palco sem rosto própriolhe agrada tanto. Talvez uma resposta esteja no papel de-sempenhado pelo próprio escritor (Clarice) que, ao repre-sentar o seu papel na cena da escritura, “mascara suamáscara” de escritor, tornando-se, assim, uma figura/atorficcional que se origina na cena especular da escritura.Ocorre aí também, nesse tempo, um descentramento doeu de quem narra6 : o escritor aponta sua máscara com odedo. Esse descentramento, no entanto, não deve ser lidocomo negação do sujeito-escritor porque, nas palavras deHutcheon, “descentralizar não é negar”; antes, descentra-lizar o sujeito escritor é apontar seu lugar provindo daescritura. Derrida afirmou que “o sujeito é absolutamenteindispensável. Eu não destruo o sujeito; eu o situo”.7 Situ-ar aqui deve ser entendido como apontar o lugar ocupadopelo escritor na contemporaneidade.
De acordo com Barthes, o escritor pode ser lido comoum efeito de linguagem, nascendo simultaneamente a seutexto, porque “outro tempo não há senão o da enunciação,e todo texto é escrito eternamente aqui e agora”.8 Nãohavendo outro tempo que não esse da enunciação, é neleque o leitor lê/constrói a escritura, constrói a si e o seuautor e assina o papel de leitor-autor/produtor.
Lendo o texto-crônica “Persona”, ainda podemos di-zer, segundo a própria autora, que o primeiro “gestovoluntário” do escritor é escolher sua própria máscara.Ao escrever, ele está fabricando sua própria máscara,uma vez que ela “é um dar-se tão importante quanto odar-se pela dor do rosto”. Mesmo que amedrontador, oescritor tem consciência de que usar a máscara é “re-presentar um papel” para o Outro e para o leitor. Pode-se dizer, com alguma reserva, que ele só ocupa esselugar de escritor enquanto faz uso da máscara. Tiradaessa máscara, ele deixa de ser. Ao contrário, ao usá-la,
ele representa a si e representa o mundo – escreve aescritura – e, enfim, pode ser: “uso uma máscara”; logo,“sou uma persona”.
Em outro texto-crônica intitulado “A bravata,9 publica-do em 26 de outubro do mesmo ano, como no primeirotexto (Persona), Clarice volta a discutir a questão da persona,ao se referir à persona Z. M.. Essa – como o escritor -humildemente “esquecia que ela mesma era fonte de vida ede criação”. Por outro lado, Z. M. – agora diferentementedo papel do escritor – ao se lembrar que havia uma “festa”para ir, e porque não tinha coragem, “pintou demais osolhos e demais a boca até que seu rosto parecia uma más-cara: ela estava pondo sobre si mesma alguém outro: (...).Esse alguém era exatamente o que ela não era”. Aqui, esseoutro pode ser tomado como o papel desempenhado peloescritor. Esse, diferentemente da personagem da crônica,existe somente por meio de sua máscara, ou melhor, quan-to mais a usa na encenação escritural, mais se dá a ler en-quanto tal. A personagem Z. M. usa a máscara para obteruma coragem que não era dela, mas de uma outra personasua – “Ah persona, como não te usar e enfim ser!”. Oescritor, ao contrário, é esse eu que se dá a ler com base namáscara que não o incomoda nunca. Diferentemente de Z.M. que, na “festa”, sabia que tinha um outro eu (outrorosto) por trás daquele eu/ela que ali se representava falsa-mente, o escritor, valendo-se de uma farsa, se lê a partir daprópria “festa” da escritura. Enquanto a personagem Z. M.“viu a persona afivelada no seu rosto”, o escritor, no espe-táculo da escritura, é “a persona afivelada no seu rosto”. Z.M. observou que “a persona tinha um sorriso parado depalhaço”: o escritor é essa encenação/representação para-da, mas não estática.10
Como a escritura clariceana, o escritor “ficcionista” vol-ta-se sobre si mesmo, em busca de um eu sem máscara,desconfia-se de seu papel e se encontra perdido na constru-ção da escritura. É sabedor – enquanto sujeito-escritor nacontemporaneidade – de que a narrativa chegou a seu limite,isto é, que o narrar narra não só o seu fracasso e a sua perda,como também a sua continuidade, e de que a escritura seconstrói desconstruindo-se. A respeito da crise e da impos-sibilidade de narrar/contar, Barthes assim resumiu ao comentarsobre a narração da novela Sarrasine de Balzac:
A mensagem está parametricamente ligada à suaperformance; não há, de um lado, enunciados e deoutro enunciação. (...) como sentido, o assunto dahistória encerra uma força recorrente que se volta
5 LISPECTOR. A descoberta do mundo, p. 100.6 NUNES, O drama da linguagem, p.151.7 DERRIDA, citado por HUTCHEON. Poética do pós-modernismo, p.204.8 BARTHES. O rumor da língua, p.68.9 LISPECTOR. A descoberta do mundo, p.212.10 As crônicas Persona A bravata aparecem reescritas às páginas 88 e 93 do livro Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 46-53, jan./jun., 1998.

49
contra a palavra e desmitifica,destrói a inocência de sua emis-são: o que é do contado é o con-tar. Finalmente, não existeobjecto da narrativa: a narrati-va não trata senão dela própria:a narrativa conta-se.11
Em se tratando do processoescritural de Clarice Lispector, pode-se dizer que sua escritura é uma es-critura que se escreve, porque, ao seescrever/inscrever uma escritura oufragmento, retoma e reescreve umoutro fragmento/escritura, deixando, assim, um textosempre a recomeçar. Essa prática escritural talvez tenhasua possível completude na prática leitural, em que umacomplementa a outra, tornando-se, por isso,indissociáveis. Pelo processo de ler, o leitor lembra-sede um outro fragmento que, por sua vez, reescreve ou-tro, e, nesse recorte leitural - que é também escritural-,o leitor deixa de inserir outros, distanciando-se, dessemodo, de qualquer noção de texto-origem, mas fundan-do aí, nessa “falta” esquecida e inconsciente, a leitura.Seguindo o pensamento barthesiano, podemos dizer que,quanto mais o leitor esquece de somar os fragmentosescriturais, mais ele lê, uma vez que somar corresponderiaa exatidão, uma totalidade, enfim, uma leitura acabada.A escritura clariciana é, como já dissemos, uma escritu-ra que se escreve, isto é, ela é da ordem da continuidade:“Tudo acaba mas o que te escrevo continua.”12 Dessemodo, podemos reiterar, ainda com Barthes, que essamultiplicidade de fragmentos, que concorre para a es-critura clariceana, é o que permite a permanência do lei-tor na verdade do texto clariceano.
Nesse cenário escritural fragmentário e descontínuo queé o texto clariceano, o escritor encontra-se para sempreperdido, isto é, “sabe” que ele não é mais ele, mas apenasrepresenta um papel em que o seu eu aparece incompleto e“enviesado”. No texto-crônica “Se Eu Fosse Eu”,13 Clariceparece alertar o leitor para o fato de que o eu/ela está sem-pre representando um outro papel (outra pessoa), porque,segundo ela mesma, “se eu fosse eu parece representar onosso maior perigo de viver, parece a entrada nova no des-conhecido”. Nesse mesmo texto comenta: “Já li biografiasde pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas, emudavam inteiramente de vida.” Talvez tudo isso somentepara explicar ao seu leitor “que se eu fosse realmente eu, os
amigos não me cumprimentariam narua porque até minha fisionomia teriamudado”. Somada a questão: “como éque se escreve?”, a pergunta ao eu éuma constante na produção escrituralda autora, que se encaminha para a per-gunta maior, a sua própria escritura.
No texto-crônica “PerguntasGrandes”,14 Clarice registra que seusleitores lhe escreviam dizendo: “Sejavocê mesma.” Segundo ela, a partirdaí vieram perguntas terríveis como:“quem sou eu? como sou? quem sourealmente? e eu sou?” Jamais soube
responder, e sua escritura é uma prova disso. Ela con-clui esse texto da seguinte maneira: “Mas eram pergun-tas maiores do que eu.” Afirmativas como essa, mais asperguntas que estamos propositalmente pontuando nes-te texto vêm reforçar que o eu do escritor sempre estevedisperso nos seus escritos (fragmentos) e disseminadoem sua escritura, não ocupando um lugar nem além nemaquém de sua produção, mas se eregindo ali, no tempode sua produção (enunciação). Vale lembrar aqui a notado livro Uma Aprendizagem, em que a autora confessa:“Este livro se pediu uma liberdade maior que tive medode dar. Ele está muito acima de mim. Humildemente ten-tei escrevê-lo. Eu sou mais forte do que eu.” E assima:“C. L.”. Através dessa nota e do que vimos apontando,podemos arriscar a dizer que a origem do escritor – se épossível falar em origem de escritor – é a sua escritura.Dela, ele se origina e se assina enquanto autor. Com basenesse texto que se escreve (porque eternamenteinacabado; logo, texto da não-origem, mas que vem dasdiferentes leituras/culturas e a elas retorna, diferente),cria-se um espaço para que o escritor inscreva-se a si:“Eu sou mais forte do que eu.”
De acordo com Barthes, esse eu que diz eu nada maisé que o sujeito conhecido da linguagem – jamais umapessoa –, que só existe no tempo da enunciação definidoenquanto tal, e que é sustentado pela linguagem e a man-tém no sentido de exauri-la15 . Esse eu que lemos na es-critura clariceana (que vem dela e a ela retorna), jamaisestaria preso ao eu de uma autobiografia tradicional, por-que se enuncia da escritura, a partir dela enquanto lugarde origem. O que não quer dizer que estivesse por trásda escritura, porque não há possibilidade de que hajanenhum sujeito (autor e/ou leitor) “antes” da escritura.Ele nada mais seria que mais uma citação dessa escritu-
11 BARTHES. S/Z, p. 158.12 LISPECTOR. Água viva, p.96.13 Esse texto-crônica aparece também reescrito nas páginas 139 e 140 do livro Água viva. LISPECTOR. A descoberta do mundo, p. 228.14 LISPECTOR. A descoberta do mundo, p. 267.15 Cf. BARTHES. O rumor da língua, p.67.
Ler Clarice Lispectortomando-se como
base seus pequenos textos,
é buscar a descobertade como se constroem
os grandes textos.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 46-53, jan./jun., 1998.

50
ra. E o sujeito-leitor, ainda segundoBarthes, é o espaço mesmo onde seinscrevem, sem que nenhuma se per-ca, todas as citações de que é feitauma escritura”. Esse leitor impesso-al é o destino mesmo para onde sedirige o todo da escritura (o texto);“ele é apenas esse alguém que man-tém reunidos em um único campotodos os traços de que é constituídoo escrito”16 . Por isso, esse leitor podeser lido como mais uma citação semaspas da escritura: uma citação quese inscreve pela leitura.
Barthes, ao comentar sobre o eu na obra proustiana,é quem mais uma vez nos esclarece o fato de que oautor coloca, em narrativa, não a sua vida, mas “seudesejo de escrever”. Isso vale especialmente para Proustque não contou sua vida mas percebeu que ela tinha asignificação de uma obra de arte, podendo ser tomadocomo o desejo que move qualquer escritor: escrever.Fundamentando nesse desejo, podemos dizer que a vidado autor acaba se extravasando para a obra, mas é, porassim dizer, uma vida “desorientada”. O eu que melhorsintetizaria esse escritor-autor seria aquele eu enviesadoclariceano, isto é, aquele que resume vida e ficção numasó escritura, já citado neste texto.
Se tornarmos o texto em que aparece escrito esse euenviesado, intitulado “Dedicatória do Autor (Na verdadeClarice Lispector)”, poderíamos nos perguntar: QueAutor é esse? Que Clarice é essa? Como lermos essetexto-dedicatória? Quem dedica o quê e a quem? Comolemos esse Autor que se confunde com a autora “(Naverdade Clarice Lispector)”? Na verdade, talvez possa-mos dizer que temos nesse texto um sujeito-escritor es-crevendo a um sujeito-leitor (“vós”) partindo de sua vidapessoal/ficcional: um eu enviesado entre o real e a fic-ção. Mas isso seria reduzir demais uma questão comple-xa como essa: falar do sujeito implica em falar, cada vezmais, de um lugar enviesado, movediço, como falar doescritor implica em perder-se nos meandros de sua es-critura, em busca de traços arcaicos/biográficos(Biografemas) dispersos no cenário escritural à esperaque o leitor, por meio de seu trabalho rudimentar de lei-tura, os situe enquanto parte de um corpo que se escre-ve/nasce da escritura. Correndo o risco de não darmosconta de decifrar esse eu enviesado da “Dedicatória do
Autor”, só nos resta deixá-lo em si-lêncio, porque nos falta resposta, ecopiar o final desta dedicatória de umAutor des/conhecido: “Trata-se deum livro inacabado porque lhe falta aresposta.”17
Livro inacabado, escritura que seescreve, sujeito em processo porquediscurso descontínuo, por aí circulaa filosofia pluralista do sujeito paraBarthes, na qual o homem assume asua multiplicidade, criando uma novaética do signo, contribuindo para umnovo posicionamento face ao mun-
do contemporâneo. Com base nessa escritura que seescreve, tal qual seu sujeito que nela deixa suas marcas,o leitor deseja o autor do “seu” texto: “Eu desejo o autor:tenho necessidade de sua figura...”18 Ainda de acordocom Barthes, “a perda do sujeito na escritura nunca émais completa (tornando-se o sujeito totalmenteinidentificável) do que nesses enunciados cujodespegamento da enunciação se produz ao infinito”,19
como na escritura clariceana e nos seus textos-crônicas(fragmentos escriturais) em que o escritor problematizao “seu” processo de produção.
Pelo que vimos assinalando até aqui, a respeito dainscrição do sujeito na escritura, dela (re)tornando sem-pre em outro lugar, constatamos, num crescendo, que oescritor clariceano não traz consigo uma aprendizagemque preceda o seu ofício; antes, ele investe a si na cons-trução de sua escritura, que é, ao mesmo tempo, a suaconstrução. O escritor vai se inscrevendo – dando-se areconhecer enquanto tal – por toda a escritura, uma vezque ela se escreve descontinuamente. Não é por acasoque, no texto-crônica “Fios de Seda”,20 Clarice sugereum conselho ao leitor: “Avisem-me se eu começar a metornar eu mesma demais. É minha tendência.” Esse “tor-nar eu mesma demais” pode ser entendido como o co-meço de um certo esquecimento inconsciente do eu doescritor ficcional, para um encontro com o eu pessoalsem máscara.
Muitas vezes, esse descarrilamento entre esses “eus”(ficcional/pessoal), essa multiplicidade de sujeitos quevem da escritura e nela se dispersa, leva o escritor aescrever à vontade: “Sem muito sentido, mas à vonta-de”; e, inclusive, a dizer: “Que importa o sentido? O sen-tido sou eu.”21 Como podemos então perceber, essa busca
16 Ibidem. p.70.17 LISPECTOR. A hora da estrela, p.7-8.18 BARTHES. O prazer do texto, p.38.19 BARTHES. Sade, Fourier, Loyola, p.90.20 LISPECTOR. A descoberta do mundo, p. 290-291.21 Ibidem. p.292-293.
Como a escrituraclariceana,o escritor
“ficcionista” volta-sesobre si mesmo,
em busca de um eusem máscara.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 46-53, jan./jun., 1998.

51
– que quase sempre resulta num desespero “sobre-hu-mano de aprendizagem” – do escritor pela palavra“intocada” através da linguagem, essa investida pela ex-pressão perfeita da escritura, acaba devolvendo o escri-tor ao encontro de si mesmo: “E, se houver o que sechama de expressão, que se exale do que sou. Não viamais ser: Eu me expresso, logo sou. Será: Eu sou; logosou.”
Como já dissemos anteriormente, nessa época em queClarice escreve seus textos-crônicas para o Jornal doBrasil (período este de 19 de agosto de 1967 a 29 dedezembro de 1973), um novo escritor se encena deixan-do seus traços nesses fragmentos textuais/pessoais. Se-gundo Nádia Gotlib, “essa atividade trouxe ao públicouma Clarice que já existia – a Clarice-cronista -, masnuma nova postura narrativa”.22 Essa nova postura nar-rativa, por sua vez, vai se estender por toda a produçãoescritural da autora a partir dessa época, sobretudo noslivros Uma Aprendizagem, publicado em 1969, e ÁguaViva, de 1973. Mais adiante, neste trabalho, trataremosespecificamente do processo de construção escrituraldessas obras.
Entretanto, nos interessa adiantar aqui que essas obrasforam escritas e publicadas nessa época, porque quere-mos chamar a atenção para o fato de que essas escritu-ras se tecem e se escrituram enquanto tal, num subtextomais pessoal do escritor que se diz nas suas entrelinhas.Essa constatação nos permite avaliar, ainda, que não setrata mais de escrituras “mestras” ou grandes escritu-ras, uma vez que elas só são reconhecidas enquanto es-crituras, quando desvendamos que suas construções sedão por intermédio de uma infinidade de outras escritu-ras (fragmentos) que se escrevem ao mesmo tempo.
A respeito da construção desses textos-crônicas, po-demos dizer, então, que eles se dão, sobretudo, pelaproblematização do eu que escreve (a pessoalidade), suaidentidade e, por último, sua assinatura nesses textos quetratam do próprio escrever. Erige-se aí, nesses textos forade qualquer gênero, a figura de um novo escritor clariceanoque se permite ler a si de forma mais aberta. SegundoGotlib, “o espaço jornalístico propicia-lhe essa revisão desi”. Desse modo, somando-se esses pequenos fragmen-tos textuais produzidos entre as décadas de 60 e 70, tem-se um escritor (Clarice Lispector) revendo/relendo suaprodução e a si ao mesmo tempo. De acordo com Gotlib,“aí está a Clarice Lispector de agora (...) recolhendo as
várias Clarices de todos os tempos e, em certos momen-tos, revendo-a. Ou melhor: relendo-a.”23 Assim, atravésdessa “procura humilde”, desse “modo de falar que meleve mais depressa ao entendimento”24 , Clarice acaba fa-zendo sua própria autocrítica a respeito de seu novo pro-cesso de escrever: “Eu quero escrever, algum dia talvez.Embora sentindo que se voltar a escrever, será de ummodo diferente do meu antigo: diferente em que? Não meinteressa.”25 Além de autocríticas como essa e de per-guntas a respeito de seu processo de escrever, fazendodisso seu próprio tema de inúmeros textos-crônicas, énesse ano (1969) que Clarice publica o livro Uma Apren-dizagem. Desse modo, baseando-se no contexto que com-preende essa época da autora, sobretudo pelo que ela estáescrevendo no momento, como também a intensidade desua produção, constatamos que ela está lendo a si en-quanto sujeito-escritor e relendo-a por um processo deapropriação/aproveitamento de seus textos já escritos.Numa carta que escreve ao filho Paulo, em maio de 1969,mês da publicação do livro, Clarice escreve: “As crônicasdo Jornal do Brasil não me preocupam porque tenho umpunhado delas, é só escolher e pronto. Além do mais eupretendo me plagiar: publicar coisas do livro A LegiãoEstrangeira, (...)”26 E assim esse escritor não só escrevecomo se reescreve, e se inscreve, como acaba propician-do que suas “personagens” participem dessa aprendiza-gem escritural que é a sua escritura. Muito apropriada-mente Nádia Gotlib observou como se dá a construção dolivro Uma Aprendizagem: “Por histórias que são conta-das, mininarrativas enxertadas no romance, pois aí tam-bém ambos são contadores: falam, lêem e escrevem.”27
De acordo com o que vimos tratando, e segundoGotlib, os textos publicados no Jornal do Brasil podemser considerados um extenso diário de Clarice Lispector.Acrescentando-se a isso o discurso da personagem Lórique se aproxima do “diário íntimo” ou “autocomentáriolírico”, constata-se, num crescendo, que, nessa des/cons-trução de linguagem, um eu se transforma em outro, eesse novo escritor, em reverência, quase deixa sua más-cara cair, um pouco sem medo que seu eu pessoal seapresente por completo para o ouvinte.
Através do seu processo de escrever, o escritor vaise descobrindo, constrói uma linguagem para ser imedi-atamente ultrapassada em função de sua busca para di-zer a última linguagem que desemboca no silêncio daescritura. Não é por acaso que, para Clarice, “escrever é
22 GOTLIB. Clarice: uma vida que se conta, p.374.23 GOTLIB. Clarice: uma vida que se conta, p.377.24 LISPECTOR. A descoberta do mundo, p.361.25 Ibidem. p.303. Essa citação faz parte do texto-crônica “Autocrítica no entanto benévola”, publicada em 14 de julho de 1969, ano da
publicação do livro Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres.26 Cf. GOTLIB. Clarice: uma vida que se conta, p.386. (Grifo nosso)27 GOTLIB. Clarice: uma vida que se conta, p.390.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 46-53, jan./jun., 1998.

52
procurar entender”, assim comoqualquer compreensão possível se dá“através do processo de escrever”.É essa tentativa, por sua vez, quemove a prática escritural clariceana:“Escrevo porque não quero as pala-vras que encontro: por subtração.”28
Em vista disso, podemos dizer queseu processo de escrever se consti-tui, basicamente, em uma desapren-dizagem não só do sujeito-escritor, do“saber” organizado, mas, sobretudo,a partir de um não-entender, um não-saber: “Entender é sempre limitado.Mas não entender pode não ter fronteiras. Sinto que soumuito mais completa quando não entendo. Não entender,do modo como falo, é um dom.”29 Não é por acaso que odom maior desse escritor foi trabalhar sua linguagem (alinguagem) até uma não-linguagem: “O indizível só mepoderá ser dado através do fracasso de minha linguagem.Só quando falha a construção, é que obtenho o que elanão conseguiu.”30 Essa “desistência” pela linguagem,alcançada pelo escritor claricenao, é o estado pleno delinguagem. O silêncio que emerge aí, dessa linguagem/escritura que não se comunica, é produtor de sentido (eleé o sentido), uma vez que esse silêncio não significariajamais o vazio. Tratando aqui diretamente do uso da lin-guagem do texto clariceano, constatamos, de acordo comOctávio Paz, que a autora usa uma linguagem que nãoseria linguagem: “O duplo do mundo e não sua traduçãonem seu símbolo.” Ainda segundo Paz, “o caminho daescritura poética resulta na abolição da escritura: no final,ele nos obriga a enfrentar uma realidade indizível”.31 Essarealidade indizível, no texto clariceano, equivaleria, porassim dizer, ao silêncio que não corresponde ao fracassoda linguagem, mas à própria significação escritural. E porser um silêncio fundador de sentido e ser o indício de umatotalidade significativa, segundo Eni Orlandi, esse silên-cio, por sua vez, acaba atestando que não há só umaincompletude da linguagem como também do próprio su-jeito.32 O silêncio significativo que se nomeia e se diz notecido da escritura clariceana existe, porque a autora nãoacreditava nem um pouco na capacidade da linguagempara dizer o que quer que fosse. Nas palavras de Leyla
Perrone-Moisés, “ela operava emer-gências de real na linguagem, urgên-cias de verdade.” Por isso, continuaLeyla, “resta ao leitor receber suasmensagens em branco, e ouvir o quede essencial se diz em seus silên-cios.”33
Se a linguagem literária de Claricese constrói nesse silêncio escritural,não muito diferente, seu sujeito-es-critor faz de seu “processo de es-crever” uma reflexão incessante so-bre o escrever no momento mesmoque o pratica. Não é por acaso que
Barthes, em Aula, vai afirmar que entende por literatura“o grafo complexo das pegadas de uma prática: a práticade escrever”,34 e define um escritor como o sujeito des-sa prática. A prática escritural de Clarice autêntica que aescritora faz de sua busca pela linguagem sua própriaprática, de forma que o monumento escritural se eregisseali, diante do olhar desse leitor-escritor, e fora de qual-quer tempo, a não ser o tempo dessa leitura-escritura.Com isso o escritor-Clarice reforça que sua prática deescrever se encaminha para uma “escritura que se es-creve”, porque sempre inacabada, descontínua como seusujeito, fragmentária desde sua não-origem, enfim, con-denada eternamente a recomeçar. Afinal, como muitobem nos advertiu Barthes, “só a escritura, enfim, podedesdobrar-se sem lugar de origem”.35
Através desses textos-crônicas clariceanos, concluí-mos que nos é permitido mapear sua teoria poética. Aoescrever sobre o papel e/ou lugar do escritor, sobre seu“próprio método de trabalho” e sobre o escrever/contar,Clarice acaba nos revelando o seu processo de produçãoescritural. No texto-crônica “Lembrança da Feitura deum Romance”,36 chega mesmo a dizer que não sabe “re-digir”, não consegue “relatar” uma idéia, enfim, que nãosabe “vestir uma idéia com palavras”. O que só vemreforçar, entre outras coisas que, para a autora, escrevere viver sempre foram um processo único e indissociável– como ela mesma assim o definiu: “viveria, não usariapalavras”. Esse escrever, ao se aproximar mais do viverdo escritor, aqui pode ser entendido como uma práticade escrever que se afasta da concepção clássica ou tra-
28 BARTHES. O prazer do texto, p.54.29 LISPECTOR. A descoberta do mundo, p.253-254.30 LISPECTOR. A paixão segundo G.H., p.172.31 PAZ. O mono gramático, p.119.32 Cf. ORLANDI. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos, p.70.33 PERRONE-MOISÉS. Flores da escrivaninha, p.177.34 BARTHES. Aula, p.17.35 BARTHES. O rumor da língua, p.127.36 LISPECTOR. A descoberta do mundo, p.438.
Através dessestextos-crônicas
clariceanos,concluímos que nos é
permitido mapearsua teoria poética.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 46-53, jan./jun., 1998.

53
dicional de fazer romance (de escrever),uma vez quenão mais se ocupa da “descrição” e da “moldura”.37 Atra-vés dessa prática de “escrever por intermédio de dese-nhar na madeira”, o escritor clariceano desenha “linhase linhas, uma cruzando a outra”, como um texto rees-creve outro texto, formando, assim, o verdadeiro tecidoescritural clariceano – o texto -, longe de qualquer “mol-dura” que o delimite enquanto texto. Sobre isso, a autorase questiona: “Escrever não é quase sempre pintar compalavras”.38 Clarice tentou trabalhar essa prática na cons-trução da escritura do livro Água Viva. Nele, escrever epintar são uma mesma e constante aprendizagem. AliClarice inventa o seu próprio método de escrever/dese-nhar com palavras. O que a autora disse não propria-mente sobre o livro, mas sobre o “Escrever”39 é aquisumamente oportuno: “Eu tinha que eu mesma me er-guer de um nada, tinha eu mesma que me entender, eumesma inventar por assim dizer a minha verdade.” Ain-da nesse texto, no qual a autora fala da época em quecomeçou a escrever, encontramos uma explicação paraa compreensão de seu processo de escrever descontínuoe fragmentário: “Comecei, e nem sequer era pelo come-ço. Os papéis se juntavam um ao outro – o sentido se
contradizia, o desespero de não poder era um obstáculoa mais para realmente poder.” Não nos esquecendo queviemos mapeando esses “dizeres” fragmentados do es-critor com uma certa reserva, como se estivéssemos, otempo todo, desconfiando dele, constatamos que escre-ver, para o escritor clariceano, sempre foi “um esforçoquase sobre-humano de aprendizagem, de autoco-nhecimento”. Talvez, por esse motivo Clarice tenha re-sumido sua vida desta forma: “minha vida tem que serescrever, escrever, escrever?”40 Sim, responderíamoscom base em sua escritura. Ao que ela completaria: “Opersonagem leitor é um personagem curioso, estranho.Ao mesmo tempo que inteiramente individual e com re-ações próprias, é tão terrivelmente ligado ao escritor quena verdade ele, o leitor, é o escritor.”41
A mise-en-scène que o sujeito-escritor-clariceano en-cena no palco de sua escritura concorre para a figura-pessoa Clarice que ela trouxe consigo por toda sua vida:“Um estar ali e não estar ali, simultaneamente, num en-contro desencontrado”,42 como o eu enviesado que es-creve e é inscrito, ao mesmo tempo, entre o real e aficção, a escritura e a vida – lugares limítrofes – e, porisso, para sempre dissituado.
Referências BibliográficasBARTHES, Roland. Aula. Trad. e posfácio Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Cutrix, 1980. 89 p.–––––––––. Roland. O prazer do texto. Trad. J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 1977. 86 p. (Coleção Elos).–––––––––. Roland. O rumor da língua. Trad. Mário Laranjeira. São Paulo: Brasiliense, 1988, 372 p.–––––––––. Roland. S/Z. Trad. Maria de Santa Cruz e Ana Mafalda Leite. Lisboa: Edições 70, 1980. 199 p.–––––––––. Roland. Sade, Fourier, Loyola. Trad. Mário Laranjeira. São Paulo: Brasiliense, 1990. 171p.COSTA LIMA, Luís. Persona e sujeito ficcional. In: CONGRESSO ABRALIC – Associação Brasileira de Literatura Comparada, 2,
1990, Belo Horizonte. Anais...Belo Horizonte: [s.n.], 1991.v.1.p.114-133.GOTLIB, Nádia Battella. Clarice: uma vida que se conta. São Paulo: Ática, 1995. 493 p.HUTCHEON, Linda. Poética do pós-modernismo: história, teoria, ficção. Trad. Ricardo Cruz. Rio de Janeiro: Imago, 1991. 330p.LISPECTOR, Clarice. A descoberta do mundo. 2 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 791 p.–––––––––. Clarice. A hora da estrela. 7.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 98 p.–––––––––. Clarice. A paixão segundo G.H. 7.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1979. 175p.–––––––––. Clarice. Água viva. 5.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. 97p.NOLASCO, Edgar Cézar. Clarice Lispector: nas entrelinhas da escritura. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 1997, 249 p.
(Dissertação, Mestrado em Letras – Teoria da Literatura) (No prelo).NUNES, Benedito. O drama da linguagem. Uma leitura de Clarice Lispector. 2.ed. São Paulo: Ática, 1995. 175p. p.77-82: Do monólogo ao diálogo.ORLANDI, Eni Pulcinelli. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. 2. ed. Campinas – São Paulo: Editora da UNICAMP, 1993.
189 p. (Coleção Repertórios).PAZ, Octávio. O mono gramático. Trad. Lenora de Barros e José Simão. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988. 153 p.PERRONE-MOISÉS, Leyla. Flores da escrivaninha. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 190p.
37 LISPECTOR. A descoberta do mundo, p.412.38 Ibidem. p.296.39 Ibidem. p.439.40 LISPECTOR. A descoberta do mundo, p.419.41 Ibidem. p.97.42 GOTLIB. Clarice: uma vida que se conta, p.382.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 46-53, jan./jun., 1998.

54
Este artigo propõe uma homenagem à escritora VirginiaWoolf. Tomando como paradigma o romance Mrs.Dalloway, busca-se relações de homologia entre esseromance e os contos reunidos em Uma casa assombrada.
Palavras-chave:Virginia Woolf; escritora; crítica.
This article proposes a reverence to the writer VirginiaWoolf. Taking her romance Mrs. Dalloway as aparadigm, we tried to establish homology relationsbetween this romance and the tales gathered in Umacasa assombrada.
Key-words:Virginia Woolf; writer; critic.
* Doutor em Letras,Professor de TeoriaLiterária e LiteraturaComparada na UFMS.

55
Paulo Sérgio Nolasco dos Santos*
A CASA ASSOMBRADADE VIRGÍNIA WOOLF
Uma Casa Assombrada1 é a coletânea de contos escri-tos por Virginia Woolf. A publicação desses contos des-perta a atenção pelo trajeto sinuoso que eles percorreramaté a sua reunião, hoje, em coletânea. A primeira publica-ção dos contos aparece em 1921, quando sua autora ain-da vivia. Em 1940, Leonardo Woolf, esposo e compa-nheiro de Virginia Woolf, à frente da Hogarth Press, deci-de pela republicação e inclui, então, nessa seleção, outrostextos, alhures publicados, numa revista ou noutra.
Esse trajeto sinuoso aponta para a natureza mesmadesses pequenos textos, ou “notas”, que é como gosta-ríamos de “rebatizar” essa prosa de ficção que mais tema feição de uma escrita- “fragmento” do que a forma deconto propriamente dito. Quero dizer que Virginia Woolfnão foi o “perfeito contista”, ou que ela não foi nenhummestre do conto, o que pode ser compreendido median-te a vontade e o processo criador da autora: primeiro,Virginia Woolf não quis ser nenhum mestre, seguidor oupromotor de um “decálogo do perfeito contista”2 (v.Horário Quiroga), e, em segundo lugar, seu exercício doconto é um continuum da sua prática literária, de seu atocriador, que vai do romance até esses fragmentos, tam-bém “notas”, de Uma Casa Assombrada. A origem e anatureza dos textos de Uma Casa Assombrada reforçam
a atitude de pronta resistência que a criação woolfianaendereça a toda teoria dos gêneros, o que vai ao encon-tro, e confirma, no decurso de sua vasta produção lite-rária, a vigência de uma “intertextualidade”, que nos im-pele não mais ao cotejamento, puro e simples, mas àconstatação do que se prolonga de um texto a outro.
Assim, nosso propósito é verificar a relação – resso-nância do movimento e da tensão que animam Mrs.Dalloway, mas que ressurgem nos textos de Uma CasaAssombrada –, o prolongamento da consciência da nar-radora Dalloway nos sete textos-fragmentos que inte-gram a coletânea, buscando-se a amplificação do mun-do narrado de Mrs. Dalloway, na tentativa de ver repe-tir-se o movimento erradio e fragmentário, que caracte-rizam o conteúdo do pensamento da narradora.
Um dos sete textos de Uma Casa Assombrada intitula-se “Mrs. Dalloway na Bond Street”.3 É significativo quetanto nesse conto quanto no romance Mrs. Dalloway onome Clarissa Dalloway assuma uma função de título,com o acoplamento de um título no outro, desvelandonão só o caráter flaneur de Mrs. Dalloway, que passea-va sinuosamente pela Bond Street, sendo, ainda, o strand4
o seu espaço fantasmagórico, mas, também, situando olugar específico para a criação de uma “cena” – a cria-
1 WOOLF, Virginia. Uma casa assombrada. Trad. José Antonio Arantes. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 207p.2 Sobre as circunstâncias singulares da natureza e divulgação desses “contos”, confira-se o “Prefácio” que Leonardo Woolf escreveu para
Uma casa assombrada.3 “Mrs Dalloway na Bond Street” configura o primeiro esboço de um projeto mais amplo, o romance Mrs. Dalloway, que Virginia Woolf
antecipou na forma de sete “contos”. Estes “contos”, selecionados da coletânea de Uma casa assombrada são os seguintes: “O VestidoNovo”, “O Homem que Amava seu Semelhante”, “Unidos e Separados”, “Um Resumo”, “A Apresentação” e “Ancestrais”.
4 É significativo o fato de o Strand ter sido considerado o bairro mal freqüentado, pelo menos à época de Skakespeare.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 54-61, jan./jun., 1998.

56
ção de “cenas” é que dá certa orien-tação e compasso aos conteúdos psi-cológicos de Mrs. Dalloway.
Na realidade, é a Festa de Mrs.Dalloway que estampa o desenhoficcional (espécie de imagem maior;pano de fundo) para a criação de “ce-nas” intercambiáveis no espaço tex-tual, seja esse espaço o do romanceMrs. Dalloway ou o desses contos-fragmentos de Uma Casa Assombra-da. Com efeito, a Festa de Mrs.Dalloway é a conversão metafóricado “Êxtase” psicológico com que anarradora faz espiralar inúmeras cenas fragmentáriascomo se a sua mão secreta estivesse espargindo no ar,em aluvião, fragmentos inumeráveis de “objetos sólidos”que configuram a matéria desses contos – a invariantecomum que une, por similaridade, a forma singularíssimadesses contos à forma de um fragmento de vidro compontas irregulares, mas inconfundíveis.
Logo, como texto-fragmento, “Mrs. Dalloway na BondStreet” é a criação de uma “cena” que já anuncia o dramá-tico estado psicológico da narradora, Dalloway, que seperde, se extravia, na medida em que assiste à vida que serepresenta na Bond Street, que também é a representaçãode sua própria vida. “Mrs. Dalloway na Bond Street” é,por assim dizer, o globo transparente do qual germinamreflexos esmaecidos, imagens em dissolução, cambian-tes, no redemoinho do tempo; pois é o tempo, ainda, amatéria e tema dominante desses textos-fragmentos deUma Casa Assombrada. Assim é uma alusão ao tempo –às batidas do Big Ben – que anuncia, em todo o primeiroparágrafo, a saída de Mrs. Dalloway para a rua.
Já nesse parágrafo, o “ritmo vagaroso” do Big Ben éo contraponto ao tempo psicológico que, no segundoparágrafo, moldura a consciência da narradora: num rá-pido flash-back aos meses de junho e outubro lê-se aevocação da infância pela narradora, cuja lembrança/ima-gem emerge à sua consciência associada à visão de umbando de gralhas, velozes, que cortaram o céu à frentede Mrs. Dalloway. Os meses de junho e outubro sãonotações que remetem a consciência da narradora, viatempo psicológico, para acontecimentos passados. Com
o tempo psicológico dominando omundo narrado, também o presenteassoma à consciência da narradora,ainda no segundo parágrafo, quandoum detalhe “significante” (a xícarade borda azul exposta numa vitrina),no presente da enunciação, vem com-pletar, desordenadamente, e de ma-neira esmaecida, sua observação dosseres/coisas e dos próprios sentimen-tos/lembranças, porquanto ela osvivência pelas ruas de Londres.
Assim, o tempo cronológico(marcado) no primeiro parágrafo,
sob o testemunho vigoroso do Big Ben registrando apassagem ordenada do tempo, se distente num efeito delupa à medida que Mrs. Dalloway rememora a tradição ea herança presente na forma topológica das Ruas e Ca-sas da cidade de Londres: o Parlamento, O Arco do Al-mirantado, Kensington Gardens, o Palácio deBuckingham, Westminster, Piccadilly, e toda a nobrezade sua classe indicada pelas palavras de Sir Dighton, naembaixada: “Quando quero que um sujeito me segure ocavalo, basta que eu levante a mão.” Também os longospasseios e a vida no campo vêm formar o paradigma deuma herança cultural que informa, analogicamente, oPalácio de Buckingham.
Ademais, os elementos formadores do paradigma cul-tural são oriundos, de um lado, da observação topológicae, de outro, da tradição literária. Um dos poetas de quem anarradora procura lembrar-se, citando alguns versos, en-quanto atravessava Piccadilly, é Shelley; isso, numa for-ma de citação truncada, o que revela o processo de fluxoda consciência da narradora, que se utiliza dos sinais dereticências, reforçadores de seu pensamento e, bem as-sim, da feição fragmentária que o texto “Mrs. Dallowayna Bond Street” assume. O verso de Shelley “Do contágioda lenta mácula do mundo” reaparece, pouco depois, con-trastando com o verso de Shakespeare “Não mais temaso calor do sol...” Esse último, a narradora lera no frontispíciode um livro de memórias enquanto atravessava a BondStreet – num “fluxo sem fim”.5
A apropriação direta, ininterrupta, dos dois versos “Docontágio da lenta mácula do mundo... Não mais temas o
5 A atitude “assassina” em relação às citações é comentada por Virginia Woolf, o que confirma o processo de intertextualidade, na maioriadas vezes inconsciente, como nesta passagem: “Que frase é essa que sempre recordo – ou esqueço? Que o teu último olhar seja para oque é belo.” E a nota do texto da organizadora Anne Oliver Bell, publicado pela Hogart Press, recolhe a citação “Que o teu olhar seja parao que é belo / A cada hora” e informa ser do poeta Walter de la Mare. Cf. WOOLF, Virginia. Diário. Segundo volume: 1927-1941. Trad.Maria José Jorge. Lisboa: Bertrand, 1987, p.515. Nesse contexto, observa Laurent Jenny que os níveis de intertextualidade tornam-seproblemáticos, uma vez que a “estratégica da forma”, excetuando a citação literal, “explícita”, tende a diluir os limites de uma intertextualidade“implícita”. É o que ocorre nos relatos de Virginia Woolf, nos quais a presença da alusão e da reminiscência deixa entrever a recorrênciade um elemento paradigmático. Contudo, o fenômeno intertextual mantém-se no nível de uma “intertextualidade fraca”. Cf. JENNY,Laurent. A estratégia da forma. Trad. Clara Crabbé Rocha. Poétique. Intertextualidade, Coimbra, n.27, 1976.
“Mrs. Dalloway naBond Street” é acriação de uma
“cena” que já anunciao dramático estado
psicológico danarradora.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 54-61, jan./jun., 1998.

57
calor do sol...” ((WOOLF, Mrs.Dalloway, p 185 e 186)6 dos poetasShelley e Shakespeare, respectivamen-te, evidencia a presença de uma“intertextualidade” ao nível da simplesalusão ou reminiscência.7 A citaçãodesses versos não só remete aoparadigma da “leitura” da tradição li-terária e cultural inglesa, mas, antesde tudo, informa o dilaceramento daconsciência de Mrs. Dalloway entre ocotidiano “desmasiadamente humano”,que ela assiste nas ruas, nas lojas, e opeso da tradição da qual ela faz parte. Ou seja: de um ladoo signo da opulência, da tradição, da erudição, claramenteindicado pela narradora como índice da classe social aque os Dalloways pertenciam.8 De outro lado, a “balco-nista” que, de dentro de uma loja, mostrava a Clarissa osbraceletes, as luvas francesas e os anéis, sem que essadeixasse de observar que se tratava da mesma atendenteque, no entanto, parecia estar vinte anos mais velha.
Com isso, muito mais do que o propósito de con-trastar um cotidiano de parcas expectativas, banal etrivial, visivelmente compartilhado na Bond Estreet, oepisódio com a balconista revela uma narradora cujaconsciência está fendida pelas formas atávicas da vida;o que, na perspectiva da narradora significa aceitar o“possível” da atendente – a crença em Deus, o ceticis-mo – que “seria mais infeliz, se não acreditasse...”.Também havia os milhares de jovens que tinham morrido(a guerra) para que as coisas pudessem continuar. Daíque, o acreditar numa ordem mesquinha, na qualClarissa podia reconhecer, pela voz de sua amiga MissAnthusser, o propósito de subjugar a balconista, assim
como a necessidade de crer emDeus impunha-se-lhe enquanto sen-timento de responsabilidade moralou social para com o outro, pois,segundo Clarissa, “ninguém vivepara si mesmo.”
Texto-fragmento, inacabado,aberto e em movimento, “Mrs.Dalloway na Bond Street” atualizauma atividade de reptação em rela-ção a Mrs. Dalloway. Não só suaposição de anterioridade, texto“escriptível”, revelando uma feição“ensaística”, que vai informar a pro-
sa de Mrs. Dalloway, mas, simultaneamente a isso, osrecursos estilísticos utilizados num e noutro texto con-firmam a presença de um narrador cuja perspectiva deve-se constituir em um critério de leitura. Ou, melhor di-zendo, o emprego do estilo indireto livre – que acentuaou que se coloca em paralelo ou em decorrência do flu-xo da consciência, responsável pela polifonia de vozes –serve de base composicional aos pensamentos de umanarradora zelosa e, por assim dizer, enamorada de seuspensamentos.9
Com o que se acaba de dizer sobre a narradora estarenamorada de seus pensamentos, ressalta-se a funçãopreponderante na “matéria” desses contos, que é, preci-samente, a presença “pulverulenta” do contado na for-ma de uma escrita que se poderia chamar de dicçãodesmemorialística. Assim, retomando mais uma vez anoção de sujeito da escrita, Virginia Woolf prolonga nessescontos o procedimento do contar “em reflexo” (Vejam-se as metáforas da cortina e do olhar em soslaio – fazen-do jogar um “possível” devir da reminiscência com um
6 A Citação da elegia de Shelley aparece, primeiro, numa passagem que está na página 185 e, em seguida, reaparece noutra passagem dapágina 187, que reabsorve também os versos de Shakespeare. Cf. WOOLF, Virginia. Mrs. Dalloway. 2.ed. Trad. Mário Quintana. Rio deJaneiro: Nova Fronteira, 1980. 187p.
7 Cabe ressaltar que, tanto nesse conto como nos seguintes, o narrador faz do processo de citação uma constante, ou o seu “Shakespearede bolso”. Essa ativação das reminiscências ao nível do enunciado não visa uma simples “querela” entre antigos e modernos, mas àinterpenetração ativa de passado e presente no fluxo da consciência. Como neste trecho do conto: “Se ao menos hoje em dia as pessoastivessem esse tipo de humor, esse tipo de dignidade, pensou Clarissa, pois lembrava-se das passagens principais; dos finais desentenças; dos personagens – falava-se sobre eles como se fossem de carne e osso. Para encontrar as coisas elevadas era preciso voltarao passado, ela refletiu. Do contágio da lenta mácula do mundo... Não mais temas o calor do sol... E mais não pode lamentar, não podelamentar, repetiu, o olhar perdendo-se na janela; pois isso recorria-lhe à lembrança; a prova da grande poesia; os modernos jamaischegaram a escrever algo de interessante sobre a morte, pensou; e volveu-se.” Cf. WOOLF. Uma casa assombrada, p.186-187.
8 “– O admirável policial levantou a mão e Clarissa, reconhecendo a autoridade dele, aproveitando seu turno, cruzou, andando na direçãoda Bond Street; os fios de telégrafo, grossos e descascados, estendiam-se cruzando o céu. Um século atrás, seu bisavô, Seymour Parry,que fugira com a filha de Conway, descera pela Bond Street. Pela Bond Street desceram os Parry havia um século, e, provavelmente,encontraram-se com os Dalloway (Leigh por parte de mãe), que subiam.” WOOLF. Uma casa assombrada, p.187-188.
9 Quer-se observar, aqui, que a interação dos estilos discursivos exerce, no leitor, um efeito de “desorientação” quanto à perspectiva dasvozes narrativas, fazendo com que esse leitor se entregue à oscilação que emana do próprio texto, e em decorrência do fluxo daconsciência da própria narradora. Assim: “Muitas vezes nem sequer pode-se distinguir um texto tem como perspectiva a introspecçãodo narrador que compreende e interpreta a personagem ou – como estilo indireto livre – a perspectiva da personagem que intervém naação.” Cf. WEINRICH, Harald. Estructura y función de los tiempos en el lenguaje. Trad. Federico Lattore. Madrid: Gredos, 1968. 429p.Capítulo VI: A realidade e irrealidade na linguagem, p.168-193.
A necessidade decrer em Deus
impunha-se-lheenquanto sentimentode responsabilidademoral ou social para
com o outro.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 54-61, jan./jun., 1998.

58
“inevitável” esquecimento; como noincidente em frente ao espelho, quelhe sobrevém à mente e turva sua“visão”.10
Por conseguinte, é sob o rótulode lembranças de coisas passadas,segundo a função simbólica dessaslembranças, que a narradora Mrs.Dalloway busca, tanto na obra ho-mônima quanto em Uma Casa As-sombrada, a desmemória que vaiconstituir a matéria nebulosa des-ses relatos. Relatos que tecem/(des)tecem uma escrita sempredeslizante, sempre em movimento, pois se constrói so-bre o próprio tecido esgarçado da reminiscência, que sedilui entre a evocação (ato reminiscente, alusivo) e a es-crita, que se torna, dessa forma, uma dicção desmemo-rialística.
Assim, algo como uma fermentação-em-crescendo,que não cabe em nenhuma forma (ô), ecoa através daescrita desses contos e dá vida a pequenas lembranças,perdidas e/ou achadas, no tempo, por um narrador quenão tem certeza do Grande Sentido – da memória comoRevelação – antes, pulveriza tudo em minúcias, em ba-nalidades, em desvios e em multiplicações dos sentidos
em inúmeras direções.11 Esse pro-cesso de escrita revelou-se “inaugu-ral” para a própria Virginia Woolf, ba-tizando-o de “processo de galerias”,exatamente quando ela escrevia acentésima página de Mrs. Dalloway.12
Uma atividade “germinativa” quese utiliza do tempo, esse veículosemovente, para tentar recomporcom e nele um “esboço” de lembran-ças passadas ou “em projeto” quepassam pelas mãos da narradoracomo seixos redondos – que, de re-pente, poderiam estender suas gar-
ras e se transformar em outra coisa qualquer –. O “Glo-bo de prata”13 que hipnotiza a narradora é metáfora re-corrente do seu desejo – sentimento e vontade de(res)sentir/se – de reCORdar, no seu sentido forte, aquitambém etimológico: colocar (de novo) no coração. Ora,não era esse também o desejo de Penélope? A esposadevotada de Ulisses, durante os vinte anos14 de ausênciado marido, tecia (de dia) e des/tecia (à noite) sua “ma-lha” numa constante e obstinada evocação ao que o tem-po teimava em roubar-lhe, mas que ela foi recor-CORdando ao longo do tempo e tornou tempo-presenteà hora do reencontro.
10 “Veja-se o incidente do espelho. Embora eu tenha feito o melhor possível para explicar porque eu sentia vergonha de olhar o meu própriorosto, só consegui descobrir algumas razões possíveis; pode haver outras; não acredito que tenha chegado à verdade; no entanto trata-se de um incidente comum; ele aconteceu com a minha pessoa; e não tenho nenhum motivo para mentir a respeito dele; (...) Vou contarum sonho que tive; pois é possível que ele se relacione com o incidente do espelho. Sonhei que estava me olhando num espelho quandouma cara horrível – cara de um animal – apareceu de repente por trás de meu ombro. Não tenho muita certeza se isso foi um sonho, ouse aconteceu realmente. Será que um dia eu estava me olhando no espelho quando alguma coisa no fundo se mexeu e me pareceu viva?Não tenho certeza. Mas nunca esqueci o outro rosto no espelho, fosse ele sonho ou realidade, e nem que ele me assustou. Essas sãoalgumas das minhas primeiras recordações. Mas é claro que, enquanto relato de minha vida, elas são enganosas, porque as coisas que nãolembramos são tão importantes quanto as que lembramos; talvez até mais importantes.” Cf. WOOLF, Virginia. Momentos de vida. Trad.Paula Maria Rosas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 254p.
11 A expressiva incorporação da dúvida e da incerteza é constitutivo do sujeito da escrita; escrita que ondula seguindo o ritmo da “dança”da desmemória desse sujeito. Mas poderia essa performance de escrita caracterizar uma “feminina desmemória”? Parece-nos plausívelfalar em “desmemória” como conteúdo ou enunciações discursivas, independentemente do rótulo de “escrita feminina”. (CASTELOBRANCO, Lucia. O que é escrita feminina. São Paulo: Brasiliense, 1991).
12 “Escrevi hoje a centésima página. Claro que tenho estado apenas a tactear um caminho – foi pelo menos o que aconteceu até agosto.andei um ano inteiro às apalpadelas até descobrir aquilo a que chamo o meu processo de galerias, através do qual conto o passado porpartes, conforme vou precisando dele. Esta é, até agora, a minha descoberta primordial; e ter demorado tanto tempo a descobri-la prova,acho eu, até que ponto é falsa a doutrina de Percy Lubbock – que se pode fazer este tipo de coisas conscientemente. Uma pessoa tacteia,sentindo-se uma desgraçada – até houve uma noite em que me decidi a abandonar o livro –, e então toca-se na fonte oculta.” Cf. WOOLF,Virginia. Diário. Primeiro volume: 1915-1926. Trad. Maria José Jorge. Lisboa: Bertrand, 1985. p 331.
13 “E assim passam os dias, e às vezes pergunto-me se não estarei tão hipnotizada pela vida como uma criança por um globo de prata; (...)Gostaria de pegar no globo com as minhas mãos, tocá-lo devagar, senti-lo redondo, liso, pesado. E segurá-lo depois dia após dia.”WOOLF. Diário. Segundo volume, p.61.
14 Essa referência aos vinte anos, que marca a duração da viagem de Ulisses, expressa menos a duração da “ausência” do herói do que a sua“presença” na vida de Penélope. Nesse sentido, é curioso notar que na maioria dos contos que hora analisamos, o narrador estará aludindo– evocando a atividade recordativa – aos vinte anos passados, num apelo às significâncias do tempo que, à primeira vista parece umasimples e sutil notação, porém não é gratuita. Ao formar o paradigma das recordações dos narradores-protagonistas, essas sutis alusões irãoinformar o estado de ambivalência (alheamento) desses narradores “perdidos” ou “esquecidos de si”. Também, entretidos no tempo, naFesta dos Dalloways – assim como Penélope, eles se distraem na tessitura da “malha” simbólica de seus pensamentos.
Através da escritadesses contos, dá vidaa pequenas lembranças,perdidas e/ou achadas,
no tempo, por umnarrador que não tem
certeza do GrandeSentido – da memória
como Revelação.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 54-61, jan./jun., 1998.

59
Por conseguinte, como leitores,findamos, também, adotando a pers-pectiva do narrador-personagem epensamos segundo seus pensamen-tos. Nesse sentido, a “Reptação” éainda recorrência de um mesmo pro-cesso de análise da consciência –posto em demanda pela narradora –que efetiva uma espécie de suturaentre os pólos da escrita e da leitura:o que não vemos como um mero exer-cício de “impressionismo” crítico,mas como ativação de um ato (escri-ta) que se transforma em expressão (em leitura).
No conto “O Vestido Novo” o leitor compartilha pelaótica do narrador-protagonista, Mabel, da consciência dafutilidade (“A futilidade é um estado violento”, disse o esteta)das aparências que a Festa da anfitriã Dalloway passa arepresentar. A preocupação e a inquietação com o “vestidonovo” para a Festa que Mabel cuidadosamente preparara eprovara várias vezes, acabou levando-a a compará-lo como vestuário dos outros convidados. A impressão de quenão estava vestida adequadamente conduziu a narradora aum sentimento de tormento que a obrigou socorrer-se, comoquem busca um refúgio, nas citações de Shakespeare e nasfrases de livros que escolhia aleatoriamente para repetir àexaustão, e assim recobrar o ânimo/o êxtase para a Festa.Nessa busca frenética das palavras que pudessem socorrê-la, Mabel traduz a vileza de seu sentimento nos versos “Mos-cas rastejando” e “Mentiras! Mentiras! Mentiras!”, que for-mam um estribilho que se interpõe e se sobrepõe aos con-teúdos de sua psique.
Onde teria a narradora lido a história da “mosca vil”?Também a narradora faz essas perguntas em seu fluxode consciência, mas acaba sucumbindo a um sentimen-to de derrota que a empurra, como uma mosca, da bor-da para o fundo de um pires com leite...
É que a derrota da protagonista Mabel passa a represen-tar, no plano da narração, o desmascaramento das “Menti-ras” das aparências e a conseqüente vitória e conquista danarradora, que pôs em cena uma consciência cindida entreo mundo das aparências (Festa: vestuário, convidados) e omundo da pura natureza e significação das coisas do espí-rito envolvente da Festa. Assim, os preparativos para a Festa– “O Vestido Novo” –, bem como o papel social das apa-rências, que se representa em plena Festa dos Dalloways,são apenas “Mentiras” e/ou “Palavras.”15
Ou seja, esse estribilho soa como uma nota indican-do que as palavras são papéis avulsos, que voam, e dosquais todos lançam mão; sentido esse que é reforçado
mediante o valor conotativo que aspalavras finais do relato fazem eco-ar, quando a protagonista se retira“dando voltas e voltas e voltas nacapa chinesa que vinha usando hávinte anos.”(WOOLF, Uma casa as-sombrada, p 72)
O relato de “O Homem que Ama-va seu Semelhante” inicia-se com oreencontro de dois velhos amigos,Prickett Ellis e Richard Dalloway, quehá vinte anos não se viam. É o dia daFesta, e Richard, saudoso, convida oamigo para a Recepção dos Dal-
loways. Nesse relato, a alusão aos “vinte anos passados”,reafirma a ótica de um narrador protagonista – PrickettEllis – que experimenta um sentimento de alheamento emrelação ao momento presente (o salão dos Dalloways =mundo das aparências) e o levantar o véu das máscarasque a imaginação do narrador sustenta até o final: paraPrickett, que comparava a pobreza de seu traje com a opu-lência da Recepção, que lhe parecia “pavorosa”, somente a“Beleza” referendada pela poesia (também esse narrador lêtítulos de uma fileira de livros = poesia = Shakespeare eDickens) poderia tornar suportável seu dia-a-dia.
Estrategicamente, Prickett retira-se com Miss O’Ke-efe para o terraço da casa dos Dalloways, de onde con-templam a Beleza de um pedaço de relva e as torres daAbadia de Westminster, e compartilham do sentimentode Beleza e de Felicidade provindos das pequenas coi-sas: “O essencial de tudo, porém, o que todos temiamdizer, estava em que a felicidade custava uma ninharia.Pode-se tê-la de graça. A Beleza.”(WOOLF, Uma casaassombrada, p 141) Miss O’Keefe auto-censuravaPrickett, que não tinha lido A Tempestade, e ele, por suavez, no seu íntimo, desprezava os sentimentos daquelajovem senhora, bem nascida, que não conhecia suas bra-vatas no Tribunal, nem a luta que a gente humilde tinhaque recomeçar a cada dia para viver.
Tanto Prickett como Miss O’Keefe, cada um a suamaneira, mostravam-se como pessoas que amavam seusemelhante; e ambos sentem-se abatidos diante da Festados Dalloways (honrarias, recepção, discursos, presentes),que, naquela noite, “abriam suas portas” e davam festas...
O desprezo de Prickett por Miss O’Keefe era recí-proco, e ambos compartilhavam do sentimento de re-pulsa àquele mundo que cada um deles deixou para trásde si ao descer a escadaria dos Dalloways, detestando-se e “detestando a casa cheia de pessoas que lhes tinhampropiciado esta noite de dor, de desilusão, os dois aman-
15 O estribilho “Mentiras! Mentiras! Mentiras!” poderia estar formando um paradigma por acoplamento, semanticamente equivalente, àspalavras do Hamlet, de Skakespeare: “Palavras, palavras, palavras.”
Como leitores,findamos, também,
adotando aperspectiva do
narrador-personageme pensamos segundoseus pensamentos.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 54-61, jan./jun., 1998.

60
tes dos seus semelhantes (...) semtrocarem palavras, separaram-se parasempre.”(WOOLF, Uma casa assom-brada, p 143).
Em “Unidos e Separados” é amesma imagem do divórcio dos sen-timentos dos protagonistas, Mr. Serlee Miss Anning, entre si, enquanto elescontemplavam o céu do terraço deMrs. Dalloway (– “Está uma noitetão linda!”) – e do sentimento dealheamento em relação à Festa, mar-cado pela alusão à Cantuária, vinteanos atrás que sustentam a démarchedo relato. Novamente, a Festa de Mrs. Dalloway, quehavia apresentado Miss Anning e Mr. Serle, não escapaao escrutínio do olhar da narradora Miss Anning: a Bele-za daquela noite, vista do terraço, fazia com que tudo omais na Festa parecesse “inócuo” e “banal”.
“Unidos e Separados” confirma o relato de um nar-rador cindido, que busca em sua memória algumas ima-gens da infância passada na Cantuária, repetindo para simesmo, em evocação, o refrão “Avante, Stanley, avante”.Refrão perdido no tempo que fazia o narrador recobrar a“energia” e o “ânimo” para enfrentar os “maçantes luga-res-comuns” da Festa. É o sentimento “reminiscente eromântico”, ou de uma “saudade sentimental” – a alusãoà Cantuária – que une as subjetividades de Mrs. Serle eMiss Anning. Entretanto, essa união só se revela atravésda ótica do leitor que pode acompanhar o fluxo de ima-gens que emergiam à consciência dos protagonistas àsimples alusão à Cantuária. Para Mr. Serle, que gostavade comparar os seus sentimentos com os do poeta ro-mântico Wordsworth, as imagens da Cantuária iam evinham, borbulhando no seu espírito:
Campos e flores e construções cinzentas derrama-ram-se e invadiram-lhe o espírito, formaram gotas pra-teadas na superfície das paredes baças e sombrias deseu espírito e caíram, gota a gota. Com essa imagemseus poemas amiúde começavam. Sentiu o desejo de criarimagens agora, sentado ao lado daquela serena senhora.
A inacessibilidade a essas imagens provindas da lem-brança é a resultante da relação idiossincrática de Mr. Serle,que se surpreendia, de modo estranho, sempre que alguémqueria tocar a borda de suas lembranças – o que, para ele,era algo muito pessoal, incompartilhável. Pois compreendiaque a imagem da Cantuária comparada a “uma cerejeira emflor” era só sua, não havia como compartilhá-la. É esseestranho sentimento sobre a “comunhão humana” a matrizgeradora do divórcio entre Miss Anning e Mr. Serle, porum lado, e a Festa dos Dalloways, por outro. TambémMiss Anning, repetindo o refrão “Avante, Stanley, avante”,só desejava que Serle levasse dela uma imagem ridícula e
distorcida, enquanto refletia: “nada étão estranho quanto o relacionamentohumano.” E ambos concordam, enfim,numa coisa: ninguém conseguiria ar-ruinar a Cantuária.
Em “Um Resumo”, a narrativamenos extensa dessa coletânea, olugar ainda é o mesmo: o jardim deMrs. Dalloway, à hora da Festa. Osprotagonistas, Mr. Bertran Pritcharde Mrs. Latham, conversam sobre asmesmas amenidades projetadas pelaconsciência da narradora:
Isso era o que Sasha Latham pen-sava enquanto ele desandava a falar sobre sua excursãopor Devonshire, sobre estalagens e estalajadeiras, sobreEddie e Freddie, sobre vacas e viagens noturnas, sobrenata e estrelas, sobre ferrovias continentais e Bradshow,sobre pescar bacalhau, pegar resfriado, influenza, reu-matismo e Keats – ela pensava nele em abstrato, comouma pessoa cuja existência era boa, dando-lhe, quandofalava, uma aparência que expressava algo diverso doque ele dizia, e que certamente era o verdadeiro BertramPritchard, mesmo que não fosse possível prová-lo. Comoprovaria que ele era um amigo leal e deveras compreen-sivo e – mas então, como acontecia amiúde ao conver-sar com Bertram Pritchard, ela esqueceu a existênciadele e começou a pensar em outra coisa.
Um sentimento de alheamento é conteúdo recorrentena consciência de Miss Sasha, que procura respostaspara o seu pressentimento de que a “alma” era solitária ese afugentava facilmente como uma “viuvinha” voandosobre as árvores, de galho em galho.
Assim, formando um só conteúdo na mente de MissSasha, sua alma é a “viuvinha” que sobrevoava aqui eali, irrequieta, com o sentimento de estar com um pé nacasa dos Dalloways e outro num antigo barco de pesca(coracles), num pântano, no qual havia salgueiros. Entreuma e outra “visão” – a da casa com a cidade de Lon-dres, que se mostrava a partir da janela dos Dalloways, ea timidez que faz Miss Sasha sentir-se desajeitada, senti-mento inquisidor que a obriga a buscar, na lembrança delivros lidos ou no passado de sua reminiscência, ima-gens alheias ao presente – configura-se uma narradoraque sopesa, num processo analítico, os elementosconformadores da sua ilusão de identidade:
Era a noite na qual esperava, agarrando-se a si mes-ma de alguma maneira, contemplar o céu. Foi o campoque ela repentinamente farejou, a quietude lúgubre doscampos sob as estrelas, mas ali, no jardim dos fundosda casa de Mrs. Dalloway, em Westminster, a beleza –nascida e educada no campo que fora – emocionava-se,provavelmente devido ao contraste; ali o cheiro de feno
Os textos de‘‘Uma casa
assombrada’’ sãocurtos e reconstróem
poeticamente umaexperiência perdida no
passado, às vezesna infância.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 54-61, jan./jun., 1998.

61
no ar, e logo atrás de si a casa cheiade gente(WOOLF, Uma casa assom-brada, p 176).
Em “A apresentação” vai-se con-firmando o caráter de um eu-narradorque vagueia, em excitação (Êxtase),entre os acontecimentos na Festa dosDalloways e a busca de uma imagemdistante, que possa metaforizar o esta-do de dilaceramento da consciência.Aqui, o drama de Lily Everit vinha deum sentimento de ser lançada num sor-vedouro, como um náufrago que seagarra à tábua em alto-mar. Esse sentimento já nascera an-tes, quando Lily Everit começara a sentir necessidade derever, várias vezes, em seu pensamento, o “Ensaio” queescrevera sobre Swift e que o professor avaliou como “ex-celente”. A alusão ao poeta Shelley serve de escudo à pro-tagonista, uma vez que só esse sentimento comum – oamor por Shelley – podia aproximar as subjetividades dosprotagonistas Lily e Brinsley. Assim, uma espécie de confli-to entre o mundo de Brinsley e Lily é o pano de fundo desserelato, no qual Bob Brinsley, que vinha de uma linhagemdireta de Shakespeare, representa a segurança, a lógica, aCasa do Parlamento. A narradora, Lily, manifesta esse con-flito de si para si, em seu diálogo mudo, enquanto se com-parava à mosca de asas capaz de suportar todo o peso domundo, pois o seu “Ensaio” sobre Swift era como um mantocolocado para que Bob Brinsley pisasse. Isso porque elapercebia que o seu gosto por leitura e por escrever “ensai-os” era apenas uma atividade do espírito (“Ensaios eram osfatos da vida”), quase nada, comparado à força e à decisãode Brinsley que liderava grandes realizações no plano con-creto do mundo e dos negócios.
Em “Ancestrais”, mais uma vez é o dispositivo da“reminiscência” que dá o caráter ambivalente do narradorprotagonista, Mrs. Vallance, que revive experiências pas-sadas na “Nortúmbria” longínqua de sua infância e oque ela presenciou na Festa dos Dalloways (“o que seusolhos não veriam mais tarde!”).
Enquanto procurava o que dizer a Jack Renshaw, uminterlocutor quase hipotético, a protagonista, Mrs.Vallance, imagina, produz imagens evocativas de umavida distante, de uma educação diferente, no tempo emque “imagina”, nostalgicamente, ter visto seus pais sen-tados sob um cedro, após o jantar, numa noite daNortúmbria. A narradora não chega a exteriorizar suaslembranças dos “ancestrais” enquanto se debatia, sofre-gamente, para manter o “frame” que a situação discursivae o ambiente exigiam.
No mais, a interpenetração ativa de passado e presentereforça o caráter de um narrador protagonista que sentediluir sob os ruidosos “escombros” da Festa uma (a sua)
semovente natureza de sujeito. O quea narradora “pressupõe” ter vivido res-soa como matéria de um sonho lon-gínquo, perdido no tempo, que, no en-tanto, lhe parecia mais real do que oambiente da Festa dos Dalloways.Aquela multidão falante desperta-lheecos dos poemas de Shelley que elalera e recitava para os pais: com umolho no passado e outro no presente,a narradora se vê, menina – vestidode algodão –, repetindo a Ode to theWest Wind e ironiza sobre “o que seusolhos não veriam mais tarde”. E la-
menta, num rasgo de ironia, o fato de estar ali ouvindo uminterlocutor que dizia “detestar assistir partidas de críquete”.
Pode-se registrar que todos esses textos de VirginiaWoolf esboçam o cenário de um narrador cindido numespaço que o arrasta e tende a prendê-lo no presente,mas também o leva para o passado; todos narradorescompartilham o sentimento de estar pisando em falso.Os textos de Uma casa assombrada não são contos no-táveis segundo o gênero e forma canônica. São, sobre-tudo, textos curtos que reconstróem poeticamente umaexperiência perdida no passado, às vezes na infância,mas que a narradora preserva numa forma de lirismo.
Esse lirismo é plenamente retomado e mantido na obraacabada Mrs. Dalloway. Aliás, há uma relação de ordemgenética entre o projeto de Mrs Dalloway e o dos contosde Uma casa assombrada. Iniciando com o conto “Mrs.Dalloway na Bond Street”, Virginia Woolf intencionava es-crever um livro que não excederia seis ou sete capítulos.Rejeitou essa idéia e escreveu Mrs. Dalloway, absolutamentesem capítulo. Assim que o romance ficou pronto, ela co-meçou a escrever uma série de sete contos, todos ambien-tados na festa de Clarissa Dalloway. Uma casa assombradaé o resultado desse projeto que não se distância de Mrs.Dallowy, sobretudo, pela então recente descoberta da auto-ra de colocar o narrador dentro da mente das personagense apresentar seus pensamentos e emoções à medida queocorriam – uso do monólogo interior que descobrira naspáginas de abertura de Ulisses, que ela estava lendo en-quanto trabalhava nos contos. Isso contribuiu para sua apre-sentação da vida íntima de Clarissa Dalloway.
O adentramento na consciência, a análise de viés docomportamento das personagens são o esforço quaseinsano da escritora na busca de uma forma compósitapara expressar a colagem dos fragmentos e mostrar acomplexidade natural das relações téticas com o mundo.Tudo isso acaba criando e resguardando um horizontede possibilidades a partir do qual ainda se pode acreditarnum projeto viável tanto para a dimensão artística quan-to para a precária existência humana.
O adentramento naconsciência, a análise deviés do comportamentodas personagens são o
esforço quase insano daescritora para mostrara complexidade natural
das relações téticascom o mundo.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 54-61, jan./jun., 1998.

62
Baseado em princípios fundamentais da Teoria Literáriae da Lingüística Aplicada, este trabalho consiste em umaanálise estilística que apresenta ponderações acerca do papelde recursos discursivos (especialmente o emprego dascategorias verbais de tempo, aspecto e modalidade) comosuporte para as estratégias narrativas e as propostastemáticas em Angústia, de Graciliano Ramos.
Palavras-chave:Categorias verbais; estratégias narrativas; leitura.
Based on the fundamental principles of LiteraryTheory and of Applied Linguistics, this work consistson a stylistic analysis which presents ponderations aboutthe role of discoursive resources (specially the use ofthe verbal categories of tense, aspect and modality) asa support for the narrative strategies and the thematicpurposes in Angustia, by Graciliano Ramos.
Key-words:Verbal categories; narrative strategies; reading.
* Marlene Durigan édoutora em TeoriaLiterária e LiteraturaComparada (UNESP,Assis-SP) e professorado curso de Letras(Graduação ePós-Graduação -Especialização eMestrado) no CentroUniversitário de TrêsLagoas da UFMS.

63
DO VERBO AO TEXTOUMA LEITURA DE ANGÚSTIA
(Graciliano Ramos)
Marlene Durigan *
1 - IntroduçãoEsta leitura consiste numa abordagem cujo objetivo
é pôr em destaque o papel dos elementos lingüísticos(especialmente as categorias verbais de tempo, aspectoe modalidade) na configuração do texto de Angústia,romance criado por Graciliano Ramos e publicado em1936. Assim, o que se lerá, aqui, serão consideraçõesacerca do engajamento entre o material lingüístico eas esferas semânticas da obra em questão, mime-tizando a temática, revelando a expressividade dos fa-tos da língua na construção da mensagem literária.
Trata-se de uma análise de natureza estilística, an-corada em contribuições da Lingüística Geral e Apli-cada, da Lingüística Textual e da Teoria da Literatura,campos que nunca se excluem; antes se comple-mentam.
Importante ressaltar que a preocupação básica seráa de levar o leitor à reflexão sobre a utilização intenci-onal da língua como chave para construir e decifrarconteúdos e não ao conhecimento de fatos gramati-cais que funcionam como suporte da matéria literária.
Em Angústia, Graciliano Ramos ultrapassa, como impacto que provoca no leitor, a possibilidade deuma comunicação fluente e de primeira abordagem,pois a obra resiste a uma leitura horizontal, exigindoque o leitor penetre, atentamente, até seu centro paratentar traçar limites entre os tempos que ali se imbri-
cam, entre enunciado e enunciação, para ligar os frag-mentos, para decifrar as entrelinhas, para preencheros vazios.
O primeiro dado que merece destaque no texto ésua estrutura metonímica, observável não só na orga-nização formal da narrativa, mas também no plano dosconteúdos veiculados. A prosa gira em torno de rela-ções de contigüidade, por meio das quais se associamsensações, espaços, tempos, seres, ações, palavras.Disso resulta um enunciado construído aos poucos, emfragmentos, retratando o ir-vir de seres e eventos en-tremeados pela realidade presente do ato da escritura.Tais relações permitem, ainda, que o leitor estabeleçaconexões entre esse romance e outros textos deGraciliano Ramos e penetre, assim, no desafiante jogointratextual.
Outro ponto a ser ressaltado é o fato de não haveruma divisão explícita em capítulos, os blocos não sãonumerados, espelhando as oscilações que se obser-vam no plano temporal do enunciado, a temporalidadedifusa que o caracteriza, pois o personagem-narradormanipula aqueles espaços como hiatos de sua própriaconsciência ou como pausas de sua memória.
Narrada em primeira pessoa, em tom confessional,a obra caracteriza-se pela intersecção de tempos, açõese espaços, o que permite ao narrador-personagemreviver, num espaço-tempo restrito, uma vida inteirade falhas e frustrações, arquitetando o enredo entre as
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 62-77, jan./jun., 1998.

64
“paredes” da mente. O centro vitaldo romance é o processo psicológi-co de um personagem-narrador(Luís da Silva), que caminha da nor-malidade de um burocrata até a exa-cerbação do delírio de criminoso.Observam-se, em Angústia, váriostempos - o presente da escrita, opassado próximo, o passado remo-to, algumas prospecções -, cada umdos quais abrigando traços bastan-te expressivos, porque imbricados,entre si e com o espaço, ou intersec-cionados, em sua atualização, com as categorias doaspecto e da modalidade.
O protagonista de Angústia é, pois, um persona-gem-narrador que, ao aproximar-se da duração interi-or, reapossa-se de si mesmo, de seu “eu” profundo,toma consciência da intemporalidade essencial dascoisas e dos seres e confirma a vocação artística queo destinaria a escrever o livro.
Disso decorrem os movimentos temáticos em tornodos quais se organiza o texto: a consciência daduplicidade existencial (ser x não-ser); a permanênciada situação angustiante no espaço e no tempo; a brevee suposta libertação e o retorno à consciência do duplo.
Também se verifica, nesse romance, que não setraçam limites explícitos entre as duas histórias - a dacomposição e a da trajetória do “herói” -, procedimen-to que individualizava as obras anteriores do autor(Caetés e São Bernardo). O texto assume um cará-ter especular, pois que envolvido pela noção deduplicidade, uma marca constante que individualiza nãosó alguns fatos do enredo (passíveis de duplo enfoque),o espaço, o tempo, o personagem, mas também o pró-prio discurso, em cujo processo de construção se de-tectam duas tonalidades - a objetividade da diegese ea subjetividade das reflexões, interrogações, digressõesdo protagonista -, contaminando a primeira esuperpondo-se a ela.
Os eventos do enredo, ali, não se afiguram tão impor-tantes quanto a ênfase ao interior do homem ou à dialéticavida/arte, que se encontram nas teias do romance. Adiegese passa, pois, a plano secundário, uma vez que odiscurso do narrador-personagem invade a narrativa pormeio da ambigüidade das divagações e das reflexões deLuís da Silva, à procura de si mesmo, questionando apossibilidade/impossibilidade de comunicação com o ou-tro. O leitor só chegará a uma compreensão mais lúcidados elementos significativos que formam a trama dessa
matéria vertente, se conseguir obteruma visão clara da linha do enredo.Assim, o enredo de Angústia repre-senta a tela onde se desenham as re-flexões, elementos não adicionados àhistória, embora inerentes a ela, masque constituem o cerne da obra. Ape-nas quando se busca a compreensãototal do texto é que esse enredo podeser destacado, como um fio da mea-da do conjunto estrutural (os porme-nores da trama, as reflexões e o dis-curso). A fábula é simples: Luís da
Silva, solitário, funcionário mal remunerado, incapaz decomunicar-se, apaixona-se por Marina, a quem entregasuas economias para despesas com o casamento, acer-tado entre eles. Surge, porém, Julião Tavares, ousado efalante, de posição social e econômica superior, que lherouba a mulher. Ela engravida e Luís da Silva, contesta-do em sua capacidade de comunicação e em sua virili-dade, envolve-se consigo mesmo, prendendo-se ao labi-rinto de seu espaço interior e movendo-se por uma ob-sessão: enforcar Julião Tavares. Para tentar compreen-der a si e ao outro, Luís da Silva escreve sua história,num texto que surge como ênfase à subjetividade e àfragmentação do eu.
A progressão temática do texto vai garantir-se, naobra, pela recorrência do personagem, seu discurso,seus tempos, seu tempo-espaço. Fio de ligação entreos diferentes episódios, Luís da Silva é um elementopermanente que sustenta o desenrolar da história. Acoerência textual reforça-se na compatibilidade entreos atributos do personagem central, as ações por eledesenvolvidas, o fluxo-refluxo de sua memória, o seudiscurso enquanto narrador e personagem e o espaçofísico-social em que se movimenta, elementos tão liga-dos entre si que falar em um implica, necessariamen-te, remeter aos outros.
2. Desvendandoestruturas
A tarefa que se propõe Graciliano Ramos, em An-gústia, é a de escrever no corpo da linguagem. Ali, acriação literária elabora-se onde se mesclam palavrase ser, onde a palavra liberta. Articulando-se ao inevi-tável conflito do homem angustiado, à vertigem do vi-ver, entra em jogo (como nas obras anteriores) o inda-gar sobre a criação literária: o drama do homem é
A obra resiste a umaleitura horizontal,
exigindo que o leitorpenetre,
atentamente, atéseu centro para
tentar traçar limitesentre os tempos que
ali se imbricam.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 62-77, jan./jun., 1998.

65
acrescido do drama do escritor, pre-ocupado com sua verdade artística.A linguagem sincopada, entre-cortada, torna-se, às vezes, quaseincompreensível, porque represen-ta, iconicamente, os mistérios e osentrelaçamentos que envolvem asvárias dimensões da vida e da men-te do homem.
Partindo do princípio de que aessência desconexa da vida, seucaráter móvel e provisório, e o mun-do moderno, fragmentário, não po-deriam refletir-se, esteticamente, na velha linguagemde estruturas fixas, o enunciador idealizou um “idio-ma”, em luta contra a linguagem concatenada; um dis-curso enovelado, móvel, entrecortado e ambíguo. Taisdeformações de linguagem são capazes de criar umaexpressão adequada às travessias, aos desencontros,às dualidades da vida, e de sugerirem a futilidade dascoisas exteriores, além de remeterem a um sujeitocontestador, um eu que luta contra valores tradicio-nais: um escritor à procura de motivos, temas e discur-so que façam do texto um testemunho crítico da reali-dade.
Voltado para a exploração de assuntos que evocamemoções fortes como a morte, a angústia, o sofrimen-to, e caracterizado pela valorização da expressão me-diante distorções formais, o romance surge impregna-do de notas expressionistas, desafiando o leitor. Aolado desses abismos da estrutura, este encontra, po-rém, índices da presença daquele que organiza e(re)compõe.
Desse modo, o leitor encontra, no romance, de umlado, uma imprecisão de superfície decorrente de umaescritura que representa, iconicamente, a maneira pelaqual se organiza o imaginário e, desde aí, como os limi-tes do “real” se dissolvem; de outro, um enunciador-narrador que norteia sua fala, dispondo conscientemen-te os eventos, desorganizados lógico-temporalmente,porém organizados conforme o impacto que lhe cau-saram e o princípio de coerência interna da obra, per-mitindo que o leitor identifique a abertura do texto (apre-sentada no presente da escritura, onde se recuperam,pela memória, diversos elementos que vão governar odrama, e que se encerra, por assim dizer, com a “apa-rição” de Marina, povoando o espaço solitário); o seudesenvolvimento (a partir da paixão de Luís da Silvapor Marina até o suposto crime, onde cada cena man-tém relação de dependência com as anteriores e as
posteriores); seu epílogo (o delíriofinal que deixa o drama em aberto,ligando-se à abertura, esclarecen-do-a e esclarecendo-se), além dealgumas orientações acerca dotema, do processo da escritura, dafragmentaridade, da superposiçãode seres e eventos, do esquematemporal, do espaço, da estruturametonímica e dual, da polifonia doromance.
A fim de apreender traços designificação desse discurso no con-
texto da obra, tornar-se-ia necessário, primeiramente,observar “como o texto explode e se dispersa” paradepois, recolhendo partes significantes, procurar(re)compor algumas das inúmeras significações queemanam das estruturas. O texto de Angústia resiste auma verdadeira segmentação, pois seus componentestextuais não se dispersam em unidades autônomas, masem blocos onde se imbricam tempos, espaços, seres eeventos.
2.1 - Do título ao temaO mundo criado pelo texto ficcional não é uma có-
pia fiel do mundo real, mas o mundo tal como é vistopelo produtor a partir de determinada perspectiva, deacordo com determinadas intenções. O criador deAngústia terá tido, antes de mais nada, o propósito deque fosse um texto, com o qual realizaria um outrospropósitos: expressar e comunicar-se. Ao leitor cabe(re)agir cooperativamente, procurando determinar sen-tidos. Para tanto, deve ativar o conhecimento de mun-do, arquivado na memória, trazendo à tona conheci-mentos pertinentes à construção do mundo textual.Tarefa árdua, já que esse romance (comparado aCaetés e São Bernardo), exige-lhe uma participaçãointensa, decorrente da complexidade da matéria nar-rada (voltada para o subjetivo) e do (des)arranjo dasestruturas textuais.
Considerando que o título funciona, de modo geral,como um elo entre o autor e o leitor, à medida que seapresenta como mecanismo que favorece o desenvol-vimento temático contínuo do texto, estabelecendo umfio condutor no interior do espaço textual, comecemospor ele. Do latim angustia, a palavra angústia podesignificar estreiteza, limite, redução, restrição, ansie-dade ou aflição intensa, ânsia, agonia, sofrimento, tor-mento, tribulação. Este o significado de dicionário.
Graciliano Ramospropõe-se a escrever
no corpo dalinguagem. Ali, acriação literária
elabora-se onde semesclam palavras eser, onde a palavra
liberta.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 62-77, jan./jun., 1998.

66
Segundo o filósofo e teólogo dina-marquês Soren Aabye Kierkegaard(1972), a angústia consiste numadeterminação que revela a condi-ção espiritual do homem, caso semanifeste psicologicamente de ma-neira ambígua e o desperte para apossibilidade de ser livre. Já para ofilósofo existencialista alemãoMartin Heidegger (1951), cor-responde à disposição afetiva pelaqual se revela ao homem o nadaabsoluto sobre o qual se configuraa existência.
Ao ativarmos esses modelos, podemos pressuporalgumas ligações entre os semas constitutivos do sig-no angústia e o texto do romance, ligações que se vãoconfirmando no decorrer da leitura. O título aponta paraaquilo que se depreende, em primeiro plano, do texto:a inquietação, a perplexidade, o sofrimento, os limitesde um ser dividido, enredado nas malhas dos interes-ses impostos por um mundo de mitos sócio-econômi-cos e de decadência moral, em que a projeção social eo êxito sufocam a autenticidade, a dignidade, gerandoa angústia de viver, o pensar na morte e, paradoxal-mente, impelindo o ser para a busca da libertação pormeio da escrita. Daí depreende-se a ênfase ao territó-rio interior do homem, a sua essência, diferentementedo que ocorrera nos dois romances anteriores: o exte-rior dos caetés ou da fazenda São Bernardo (decorati-vos) cede espaço, em Angústia, à subjetividade, à es-sência interior. Por detrás do desenvolvimento de todoo romance vão permanecer, latentes ou manifestas, asidéias veiculadas pelo substantivo que se emprestacomo título da obra, razão pela qual não se pode en-contrar uma estrutura linear.
A angústia não estará, portanto, apenas no título doromance: estará no corpo e na alma de Luís da Silva ena estrutura do livro, sem começo e sem fim propria-mente ditos, sem uma noção temporal cronológica su-ficientemente clara, registrando-se, assim, simbolica-mente, no enunciado e na enunciação. Partindo domundo das relações (personagem x mundo circun-dante), o narrador-enunciador Luís da Silva tenta che-gar ao domínio do intemporal, onde o ser se descobre,ou melhor, encontra sua verdade e justifica a condiçãohumana diante da vida.
Ao atribuir este rótulo à obra, Graciliano Ramos tê-lo-á concebido como um misto, envolvendo o sentidoetimológico do termo, as noções de ambigüidade e li-
berdade, preconizadas por Kier-kegaard, e a tripartição proposta porHeidegger (1951): ser em si, sercom o outro, ser para a morte. An-gústia caracteriza-se por um acen-to intimista, à medida que veiculatemas que se agrupam em torno depreocupações essenciais do espíri-to humano. O sentimento de soli-dão, a angústia, a literatura comsíndrome de prisão, o tema da mor-te, a noção de circularidade, o re-flexo da alma no espaço físico, a
comunicação de aspectos da sociedade contemporâ-nea, saturada de objetos mercáveis, a luta entre o eu eo “mim”, a dialética vida/arte, o projeto meta, intra eintertextual, todos esses significados apontam para otexto (e nascem dele), onde se produz uma imagemamalgamada de dois mundos - o interior e o exterior -e do duplo homem de Graciliano Ramos - escritor ehomem -, cujo papel é representado por Luís da Silva -narrador e protagonista -, que se caracteriza pela pro-cura de ser em si, com e no outro.
2.2 - Do parágrafo inicialAs fases do processo de continuidade temática ini-
ciado no título não se vão recuperar facilmente na gra-mática textual, pois que, intencional e coerentemente,esta é dissimulada pelo produtor do texto. A narrativainicia-se com uma cena em que Luís da Silva já estásob o olhar do outro, figurativizado por meio de pro-cessos metafórico-metonímicos que contribuem paraa arquitetura do nível discursivo do romance. A mobi-lidade da linha narrativa faz que Angústia pareça umromance longo demais, exageradamente complicado,inacessível. Os acontecimentos arranjados em tempossuperpostos, conforme a associação seletiva das lem-branças que ressoam no íntimo de Luís da Silva; asreflexões emergentes das experiências vividas por ele;as pulsões interiores de sua memória, num processonatural de associações de idéias, todos esses dados,que constroem o mundo artístico ali criado, constituemuma carga de reflexões densas, a exigirem umareleitura a cada passo. Não se pode, porém, dizer quese cria no texto um mundo imprevisto. Considerando otítulo do romance, o leitor sabe que a linha narrativanão poderá ser linear, nem organizar-se segundo a téc-nica da justaposição de quadros ou da seqüência cro-nológica de fatos do enredo, o que trairia a dinâmica
Voltado para aexploração de assuntos
que evocam emoçõesfortes como a morte, aangústia, o sofrimento,
o romance surgeimpregnado de notas
expressionistas,desafiando o leitor.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 62-77, jan./jun., 1998.

67
da mobilidade, espelho da crise exis-tencial que vive dentro do homem,que parte do interior, sem paradas ecom ritmos diversos.
Logo no primeiro parágrafo doromance, o leitor depara um desafio:
“Levantei-me há cerca de trin-ta dias, mas julgo que aindanão me restabeleci completa-mente. Das visões que me per-seguiam naquelas noites com-pridas umas sombras perma-necem, sombras que se misturam à realidade eme produzem calafrios.” (p. 7)
Ali, os dêiticos e as formas verbais remetem a re-ferentes e a estados anteriores, então desconhecidospor aquele que entra em contato com o texto pela pri-meira vez. Resta ao leitor indagar-se sobre o que ocor-rerá nas etapas seguintes da narração e partir em bus-ca do preenchimento dos vazios intencionalmente dei-xados. Uma das poucas constatações que se pode fa-zer é a de que esse parágrafo inicial surge como umacena que se quer lenta, de andamento vagaroso, e deonde se depreende o senso de presente que a preen-che: trata-se de um agora em relação ao que já foivivido, um agora a partir do qual se espera que a vozdo narrador venha a juntar-se à dos personagens.
Para quem leu São Bernardo, esse início permiteuma leitura intratextual, pois pode ser encarado comouma solução de continuidade em relação àquela obra,em cujo último parágrafo se lê:
“E eu vou ficar aqui, às escuras, até não sei quehora, até que, morto de fadiga, encoste a cabeçaà mesa e descanse uns minutos.” (p. 36, p. 171)
Parece traçar-se, dinamicamente, entre os dois ro-mances, a progressão de um processo: o discurso pa-rece mostrar momentos diferentes de um único ato;uma ilusão criada pela seqüência de enunciados inter-ligados, observável, numa primeira instância, na noçãode progressão temporal veiculada pelas formas ver-bais do fragmento de São Bernardo: do futuro (ex-presso pelo conjunto perifrástico “vou ficar”, com va-lor aspectual de duração indeterminada, reforçada peloenunciado aspectual “até não sei que hora” -, ou como término vagamente marcado por um processo car-regado de nuances modais, expresso pela hipérbole“morto de fadiga” - ao presente do subjuntivo, um tem-po-modo caracterizado pela idéia de expectativa. O
sentido de progressão vai comple-tar-se no primeiro enunciado deAngústia, onde a forma verbal “le-vantei” (pretérito perfeito e aspec-to perfectivo), além de introduzir ofato novo, quebrando a ênfase àduração veiculada no último pará-grafo de São Bernardo, efetua apassagem à ação propriamente ditade Angústia.
Há que se observar, ainda nes-ta perspectiva, as expressões “na-quelas noites compridas” e “umas
sombras permanecem”. Na primeira, o dêitico “naque-las” aponta para um distanciamento em relação a umreferente conhecido, à medida que dá ao receptor ins-truções sobre a localização deste, remetendo ao con-texto precedente ou a elementos da situação comuni-cativa, ou, ainda, ao conhecimento prévio culturalmen-te partilhado. O leitor pode identificar o referente comoaquele “às escuras” de São Bernardo, numa ligaçãometonímica entre as duas obras. Assim, o dêitico fun-ciona como um elemento caracterizador de anáforaprofunda, uma vez que o referente não se encontraexplícito no próprio enunciado, mas é passível de de-dução no contexto, por meio de inferências. Na se-gunda expressão, cabe à forma verbal “permanecem”emprestar ao texto a noção de continuidade, pois osentido do lexema conduz o pensamento a uma faseanterior e sublinha a duração que a flexão de presentereforça.
Numa primeira leitura, torna-se impossível ao leitordesemaranhar os seres e os eventos relacionados; maso valor do texto está exatamente aí: nas vagas formasde seres e eventos, aparentemente não relacionados,que assomam em meio à nebulosidade que circunda osenunciados. Somente quando entramos em contato como texto pela segunda vez, sabemos que o discurso co-meça após o momento culminante do enredo, quandoLuís da Silva delira, misturando “realidade” e ilusão, pre-sente, passado e futuro. Depois do delírio que envolve asuposta morte de Julião Tavares, Luís da Silva vairememorar fragmentos de sua vida, num tecido de re-flexões e questionamentos, onde afloram segmentos dopassado remoto e de um passado próximo, misturadosao presente, além de projeções subjetivas de indaga-ções existenciais: a sensação atual desencadeia ima-gens vivas da lembrança espontânea, trazendo de volta,como se os presentificasse, trechos do passado do per-sonagem, preso ao espaço que o circunda.
O título funciona, de modo geral, comoum elo entre o autor
e o leitor à medida quese apresenta como
mecanismo que favoreceo desenvolvimentotemático contínuo
do texto.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 62-77, jan./jun., 1998.

68
O ato narrativo situa-se numaposição de posterioridade em rela-ção à história, que é dada como ter-minada quanto às ações que a inte-gram, quando o discurso começa.Só então o narrador, colocando-seperante esse universo diegético en-cerrado, inicia o relato, numa pers-pectiva de quem conhece na totali-dade os eventos que narra. Daí apossibilidade de manipulação calcu-lada dos procedimentos dos perso-nagens, dos incidentes e mesmo daantecipação de informações inscritas no corpo da nar-rativa. Para contar a história, ele esperou até conhecê-la na sua totalidade. Assim, de posse do saber, debru-çou-se sobre o passado e determinou a (des)ordem desuas recordações.
Neste sentido, Angústia afigura-se-nos como umaespécie de romance de formação a partir do qual oartista se libera, como que por catarse, para depoisempreender a caminhada de edificação de sua obracom valores nascidos de uma necessidade interior: abusca do pleno conhecimento, figurativizada pelo inte-rior-subjetivo.
Diferentemente das duas obras anteriores, em queo tempo da enunciação surgia sempre sublinhando oprocesso da escritura, em Angústia o enunciado justi-fica a enunciação, diminuindo a distância discursivaentre o sujeito conhecedor e o objeto a conhecer. Tudose passa como se o texto-referente enunciasse, por simesmo, a sua verdade.
Sabe-se que as palavras caracterizam-se por du-plos nexos, podendo adquirir sentidos múltiplos e atécontraditórios. A linguagem costuma ser ambígua emduas coisas: o tempo e o objeto de referência. O usodo pretérito, por exemplo, não especifica o período detempo a que se faz alusão, limitando-se a indicá-lo comoanterior a agora. Obviamente “anterior” é ambíguo,pois pode referir-se a dois minutos (ou segundos) oudois séculos antes. No caso da referência, surge umproblema semelhante: se se menciona “sombras” ou“noites”, não se deixa claro a que objeto particular está-se fazendo alusão. Assim, esse início in ultimas resrevela-se ambíguo: por um lado, pode sugerir uma li-gação com a obra anterior; por outro, remete, coeren-temente, ao que se vai inscrever no corpo da narrativade Angústia, funcionando como uma espécie de pró-logo, também ambíguo, porque, ao mesmo tempo, re-missivo e antecipatório.
A despeito das ambigüidades,o parágrafo que inicia a obra éresponsável pela continuidade dossentidos esboçados no título, alémde caracterizar-se como uma es-pécie de orientação ao leitor: aliestão inscritas estruturas que seencontrarão no romance. A par-tir dali, o leitor tende a perceber,depois de uma primeira leitura, aunidade de sentido, permitindo-seestabelecer relações entre oscomponentes do mundo em que o
texto se insere. Parágrafo coesivo, à medida queremete, anafórica ou cataforicamente, aos elemen-tos do universo textual: a escritura será tecida a partirde uma matéria aparentemente amorfa; a narrativavai desenvolver-se em diferentes planos temporais,segmentos avulsos de narração, recuperação pelamemória, evocações, antecipações, imitando proce-dimentos da estética expressionista e dos movimen-tos de vanguarda.
Quanto à forma verbal “julgo” apresenta-se, noenunciado, como um espelho da enunciação, pois mos-tra como o conteúdo será apresentado ao leitor: onarrador não se engaja totalmente com o conteúdoveiculado; antes realiza uma asserção fraca, atenua-da, ambígua, o que lhe permitirá eximir-se da respon-sabilidade pelo que será narrado. Observa-se, também,que o conector adversativo “mas”, elemento que im-plica a noção de ruptura, introduz uma oração que que-bra a expectativa criada no primeiro enunciado: à for-ma verbal de aspecto perfectivo pontual “levantei-me”(apresentada como uma ação objetiva, rapidamenteesgotada, de modalidade convicta), contrapõe-se umaforma verbal de modalidade dubitativa - “julgo”-, com-pletada, mediante o processo de subordinação, por umaoração que denota processo em andamento (de cará-ter imperfectivo), noção veiculada pelo conjunto de re-lações sintagmáticas em “ainda não me restabelecicompletamente”. Esse metadiscurso revela o que opróprio autor pensa do discurso, de sua finalidade eorganização.
Também merece destaque o sintagma “noites com-pridas”. Do ponto de vista físico, as noites têm a mes-ma duração, porém o estado de alma negativo do per-sonagem-narrador produz-lhe a impressão de prolon-gamento, manifesta, no texto, pelo imperfeito de “per-seguiam” e pelo sentido do lexema, aliado à flexão tem-poral (presente) de “permanecem”.
A mobilidade dalinha narrativa faz
que Angústia pareçaum romancelongo demais,
exageradamentecomplicado,inacessível.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 62-77, jan./jun., 1998.

69
Assim, na alternância temporaldas formas verbais, depreende-seum jogo presente/passado, que sedeixa envolver pelas noções as-pectuais e modais, a refletirem aconstante incidência do passado nopresente. Em outras palavras: asmarcas temporais, aspectuais emodais, inter-relacionadas no enun-ciado, permitem o estabelecimentode uma conjunção/disjunção entre oestado atual e o passado, uma cons-tante que persevera no decorrer detodo o texto. Observe-se que o texto principia pelaevocação de um passado próximo. Em oposição a um“eu” primeiro - o do passado - coloca-se um “eu” dehoje, que se vai definir por meio de imagens dedespojamento, privação, reveladas desde as primeiraslinhas.
A partir desse primeiro parágrafo, começa a suge-rir-se, no texto, uma oposição entre duas fases de pro-dução do discurso: a do discurso realizado - sob a for-ma escrita de um livro e apresentada como um objetoobservável e decifrável - e aquela, anterior, em que odiscurso é compreendido como um processo e se en-contra em estado de atualização; uma atualização len-ta, truncada, difícil, porque indissoluvelmente ligada aointerior angustiado do narrador-personagem. Pelo dis-curso, camufla-se o fazer interpretativo, no qual a obrase funda e se sustenta, revelando-se, ao mesmo tem-po, lugar de um saber incerto e projeto do saber verda-deiro.
2.3 - Da (des)construçãoe da superposição
de planosA intriga de Angústia baseia-se na superposição de
duas séries temporais, em que a primeira - a do tempodo discurso - é o ponto de partida da narrativa. Emboracronologicamente posterior à outra linha - como nosoutros dois romances -, é na linha do tempo vivido (a dotempo da história) que se situam os episódios nodais,dentre os quais o suposto assassinato de Julião Tavares.
A complexidade das linhas temporais da obra de-corre, fundamentalmente, do fato de o autor implícitosubstituir a montagem cronológica por uma montagemem que as imagens se sucedem por associações deidéias e não pela seqüência temporal, fazendo preva-
lecerem as noções modais sobre astemporais e sobre a perfectividade.Assim, o relato flui/reflui numa es-pécie de atemporalidade, como sese estancasse a marcação do tem-po do relógio. Fragmenta-se o tem-po, que se subdivide em momentosde vivência intensa, sucedendo-sede maneira aparentemente desco-nexa. O tempo linear transforma-se num ziguezague, em que o pre-sente é o contar simbólico de comoo real imaginarizou-se e o passado,
o tempo que recupera Luís da Silva criança solitária,Luís da Silva adolescente rejeitado, com sexualidadeabafada, Luís da Silva adulto, pedaços deslocados, serincompleto.
Conforme a narrativa vai-se desenvolvendo, pas-sado e presente vão-se misturando. O constante ir evir de tempos, por meio do rememorar de episódiospróximos, distantes e/ou remotos, provoca a acelera-ção dos conflitos de Luís da Silva, contidos, aqui e ali,pelo autor implícito, que vai “segurando as rédeas” daduração interior do personagem, cujo drama íntimoparece não estabelecer fronteiras entre passado e pre-sente.
Ocorre, porém, que, por detrás da desordem do flu-xo de pensamentos de Luís da Silva - personagem, a“mão” de Luís da Silva - autor implícito reúne, com-põe. Nas primeiras páginas do romance, observa-seque os diferentes tempos surgem coordenados: algunsparágrafos apresentam o narrador no presente da es-critura, marcado por um passado que o leitor aindanão conhece; em seguida, surgem flashes em que sealternam o passado remoto, evocado pela memória doprotagonista, o presente e um passado recente, justa-postos em parágrafos distintos ou apresentados porestruturas temporais definidas didaticamente, median-te formas lingüísticas que orientam o leitor, quer pelosentido dos lexemas, quer pelo processo de manuten-ção temática por campos lexicais.
Desse modo, o texto é marcado pela alternância deformas verbais de presente e de pretérito imperfeito,associadas aos respectivos marcadores temporais easpectuais e por formas que apontam para a lembran-ça do passado (“volto a ser criança”, “revejo”, “recor-dação”, “lembrança”), contaminadas pela noçãoaspectual de duração e cercadas por expressõesmodalizadoras que apontam para a dor, o sofrimento, aangústia, constantes que vão perseverar durante todo
As reflexõesemergentes,
as pulsões interioresconstituem uma
carga de reflexõesdensas, a exigirem
uma releitura a cadapasso.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 62-77, jan./jun., 1998.

70
o desenvolvimento do romance, epôr em relevo a incidência do pas-sado no presente. Os signos distri-buem-se ao longo da narração,aproximando-se nas distorções enos planos temporais diversos que,colocados em proximidade, estabe-lecem uma relação de causa-efei-to, por contigüidade metonímica.
Estampa-se, no texto de Angús-tia, uma situação conflitual recor-rente entre os tempos presente epassado próximo, representada porformas de aspecto iterativo-imperfectivo, que concor-rem, ao lado das noções modais para manifestar a de-sencantada luta empreendida por aquele que escrevee o percurso do personagem angustiado, qualificadopelo não-poder, conforme se verifica em:
(1) ‘‘Em duas horas escrevo uma palavra:Marina. Depois, aproveitando letras deste nome,arranjo coisas absurdas: ar, mar, rima, arma,ira, amar. Uns vinte nomes. Quando não consi-go formar combinações novas, traço rabiscosque representam uma espada, uma lira, umacabeça de mulher e outros disparates.” (p. 8)(2) ‘‘Não consigo escrever. Dinheiro e proprie-dades, [...], as duas colunas mal impressas, cai-xilho, Dr. Gouveia, Moisés, homem da luz, ne-gociantes, políticos, diretor e secretário, tudose move na minha cabeça, como um bando devermes, em cima de uma coisa amarela, gorda emole que é, reparando-se bem, a cara balofa deJulião Tavares muito aumentada. Essas sombrasse arrastam com lentidão viscosa, misturando-se, formando um novelo confuso.Afinal tudo desaparece. E, inteiramente vazio, ficotempo sem fim ocupado em riscar as palavras eos desenhos. Engrosso as linhas, suprimo as cur-vas, até que deixo no papel alguns borrões com-pridos, umas tarjas muito pretas.” (p. 8-9)
Encabeçado pela perífrase modal “não consigo es-crever”, o fragmento (2) surge impregnado por outroselementos modalizadores (“novelo confuso”, “som-bras”), revelando o que o enunciador pensa de seupróprio discurso. Temos ali um “falar não direto” pormeio do discurso do narrador(-personagem), respon-sável pelo enunciado ficcional, um processo demoradoe repleto de vazios, dados que se confirmam em (1).Em ambos os trechos transcritos, observa-se que o
personagem-narrador emerge parareferir-se ao processo difícil de com-por o livro em que conta sua vida, epara revelar o “eu” desintegrado,dividido entre a realidade e a imagi-nação, entre o exterior e o interior,entre o passado e o presente, quese superpõem, prejudicando-lhe aclareza da expressão.
À primeira vista, configura-se,em (1), um mero trabalho com asletras, palavras, objetos; contudo, auma inspeção mais atenta, logo se
revelam as virtualidades internas do texto, sua nature-za mais profunda: espelha a forma como o protagonis-ta vê o mundo que o cerca: um emaranhado de seres,de objetos sem contornos definidos. As letras apaga-das, as palavras e objetos mutilados e as palavras vin-culadas a objetos ou pessoas conduzem a uma inter-pretação, no texto impresso, em favor do dinamismoda gênese dos textos e dos sinais gráficos, apontandopara um processo intra, inter e metatextual. Realça-se, ali, o fato de que o autor-implícito volta-se para aparole, buscando pôr à mostra mecanismos que presi-dem à construção do discurso literário, do texto en-quanto processo. Observe-se que ele, enquantoenunciador, toma um signo já construído (da língua),descontextualizado, e nomeia um de seus personagens.Em seguida, enquanto narrador e personagem,desconstrói este signo, contextualiza-o e, a partir dele,vai propondo signos em construção no discurso, os quaisse vão vincular às significações veiculadas na obra.
Marina (mulher e palavra) vive dentro do narrador-personagem, no presente em que narra sua angústia,configurando-se como uma palavra-tema, à medida quefigura na abertura do texto e depois será incessante-mente retomada, a intervalos mais ou menos regula-res, pelo pensamento recorrente de Luís da Silva.
No que concerne às rasuras e aos borrões, há de sedestacar que há a sugestão de um outro texto sob otexto: Marina e as palavras que surgem a partir de seunome seriam um pré-texto (ou um pretexto), substituídopela desconstrução sugerida nos “borrões” e nas “tarjaspretas”. Revela-se, também, no fragmento (1), a gran-de influência que a palavra escrita exerce na vida doprotagonista, além de que ali se representa, sobretudo, aforte pressão do ambiente exterior sobre seu íntimo.
Efeitos semelhantes, porém mais vivos e mais ex-tensos, o texto de Graciliano Ramos oferece em ou-tras passagens:
Esse passatempoidiota dá-me uma
espécie de anestesia:esqueço as
humilhações e asdívidas, deixo de
pensar.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 62-77, jan./jun., 1998.

71
(1) ‘‘Juntava letras das palavrasmais compridas e formava nomesnovos. Esse exercício tornou-seem mim um hábito de que não meposso libertar. Conto pelos de-dos as combinações que vão sur-gindo, em séries de vinte, corres-pondentes às duas mãos fecha-das e abertas. Quando há mui-tas vogais, consigo arranjar ses-senta, oitenta, às vezes cem pa-lavras ou mais. Faço assim comos letreiros das casas de comér-cio, com os cartazes de cinema, com os títulos dosjornais e dos livros. Esse passatempo idiota dá-meuma espécie de anestesia: esqueço as humilhaçõese as dívidas, deixo de pensar.” (p. 146-147)(2) ‘‘As letras saíam dos lugares, deixavam es-paços em branco, espalhavam-se numa chuvasilenciosa. Apertando as pálpebras, esfregan-do-as, aproximando e afastando o papel, con-seguia conter a dispersão.” (p. 210)(3) ‘‘As letras moviam-se, deixavam espaços queeram preenchidos. Estava ali um tipógrafo emen-dando composição.” (p. 215)
Observa-se, nos fragmentos, além da influência doambiente exterior sobre o pensamento do protagonis-ta, a valorização do discurso como espaço meta, intrae intertextual. A dispersão das letras e sua posteriorrecolha, mencionadas em (2) e (3), permitem ao leitoro estabelecimento de algumas conexões. Se segmen-tarmos a palavra-tema que se empresta como título aoromance, em seus constituintes fônicos, observaremosque estes funcionam como procedimentos de manu-tenção temática: o /a/ e o /i/ figuram nos nomes dospersonagens que formam o triângulo amoroso (Luísda Silva, Marina e Julião Tavares); o /u/ e o /s/ apare-cem nos nomes dos personagens masculinos. Se a obraconstrói-se sob o signo da incompletude, é natural queseu título não se reconstrua integralmente em cada umdos seus elementos estruturadores.
Ao final da obra, no delírio de Luís da Silva, surgeum nome estranho: Fernando Inguitai. Observe-se queali se encontram, à exceção do “s” (já reiterado em “Luísda Silva”), todos os fonemas de “angústia”. Há, semdúvida, em “Fernando Inguitai” - um nome que se cria apartir do título do livro -, a personificação e a intensifica-ção do sentimento de angústia, pois o radical alomórfico- guit (de gutt) ‘garganta’, ‘estreito’ - fica como que
aprisionado entre uma espécie deprefixo - in ‘dentro’, ‘interior’ - euma espécie de sufixo que conotador, sofrimento - ai -. Juntando le-tras dos quatro nomes, podemos re-construir, na íntegra, a palavra queliga todos os fios do texto: angústia.
Em (3), entramos em contatocom uma imagem plástica, que lem-bra a técnica da collage cubista(recurso utilizado também pelos fu-turistas russos), que permite a in-serção de fragmentos de outros ar-
tistas no texto, numa espécie de montagem compo-sicional por meio da intertextualização. É, também,um procedimento de caráter metatextual: no delíriode Luís da Silva, os espaços em branco deixados en-tre um bloco narrativo e outro, no decorrer do texto,e os hiatos da memória, serão preenchidos.
Imediatamente, o fragmento traz à tona outras pas-sagens:
(1)‘‘Agarrava-me ao livro, compreendia vagamen-te o que estava escrito, mas ficava-me a certezade que havia ali, vários trabalhos feitos por mui-tos indivíduos. [...] Muitos livros arrumados, for-mando um livro incompreensível.” (p. 211)(2)‘‘Tenho lido muitos livros em línguas estrangei-ras. Habituei-me a entender algumas. Nunca meserviram para falar, mas sei o que há nos livros.Certas personagens de romances familiarizam-secomigo. Apesar de serem de outras raças, viveremnoutros continentes, estão perto de mim, mais per-to que aquele homem da minha raça, talvez meuparente, inquilino de um Dr. Gouveia, policiadopelos mesmos indivíduos que me policiam.” (p. 160)
Nos segmentos, o destaque é dado ao processointertextual, às influências e aos conhecimentos ne-cessários ao trabalho artístico. Além disso, propiciama evocação de uma figura que se cria no decorrer doromance: ler com o dedo:
“Entrava, ia para a sala de jantar, abria um livro, pu-nha-me a ler marcando os períodos com o dedo. Quan-do terminava um período, baixava o dedo a um lugaronde provável haver ponto final. Parecia-me que esteexercício me fixava a atenção na leitura: às vezes con-seguia compreender uma página inteira.” (p. 95)
Tal figura apela para o desvendamento dos segre-dos da escrita, normalmente tão camuflados: seu es-
Tenho lido muitoslivros em línguas
estrangeiras.Habituei-me a
entender algumas.Nunca me serviram
para falar, mas sei oque há nos livros.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 62-77, jan./jun., 1998.

72
paço laborioso, a rude tarefa de “fa-bricação” que a origina e a man-tém. Além disso, detém um sentidoque remete aos procedimentosintertextuais, apontando para a ab-sorção, pelas obras de arte visuaise/ou táteis, dos signos da escrita evice-versa. A expressividade da“cena” reside, particularmente, emnão sabermos mais ao certo de quemaneira ler e de que sorte ver; atéonde se apela à decifração ou ànecessidade de percorrer com osolhos todo o percurso visual que se configura. Não sedescobre, ali, uma possibilidade de leitura e visão inde-pendentes.
Conforme comentamos, Marina comparece no texto(re)criada pela escritura do narrador Luís da Silva. Nas-ce de e provoca pedaços de palavras, letras montadase figuras desconexas. Para o personagem Luís da Sil-va, a Marina mulher também surge em fragmentos,metaforizando a obra, que se sustenta numa monta-gem metonímica, e sugerindo, pelo discurso, o temapsicanalítico do aflorar constante dos instintos e dosdesejos reprimidos, representados, em diversos mo-mentos do texto, pela cor vermelha, que encarna odesejo do gozo irrefreado, transgressor das ordensestabelecidas. Cor ilimitada e essencialmente quente,age interiormente como um objeto que deixatransparecer uma espécie de maturidade viril, evocan-do força, energia. Marina cortada e a palavraseccionável são montagens que surgem no texto paraoperar com outras lógicas: os pedaços, sem a integri-dade do corpo. Na rua, Luís da Silva não vê os outrosinteiros: vê olho, perna, barriga, sapato, imensos peda-ços metonimizados, resultado do fato de se perder ocorpo inteiro como imagem. Quanto à palavra, é ex-plorada, por um lado, como elemento gasto, corroído,inutilizável enquanto simples instrumento de comuni-cação prática ou de instrução para o consumo, e, poroutro, ao mesmo tempo, como presença de um texto-objeto, que se reveste de um novo sentido à medidaque se metamorfoseia em elemento visual, duplicandosua imagem e metaforizando o ser duplo e fragmenta-do que é Luís da Silva e, metonimicamente, a própriaobra, figuras que se reforçam em:
“Encolhi os ombros, olhei os quatro cantos, fizum gesto vago, procurando no ar fragmentosda minha existência espalhada.” (p. 43)
Além do jogo presente x passa-dos (mais remoto e mais próximo)e da montagem metonímica do tex-to de Angústia, chama a atenção -porque a “espinha dorsal” do roman-ce - o processo de desorganizaçãotemporal a que nos referimos ante-riormente. A realidade aparece-nosmodalizada numa espécie de alego-ria de labirinto (monólogos, expres-são do presente, evocações, digres-sões e analepses de vários níveis depassado), onde a ação se reduz a
projeções subjetivas de fatos e acontecimentos,rememorados uma ou várias vezes.
Nota-se, no texto, um refluxo constante, um re-pas-sar que superpõe momentos temporais e espaços frag-mentários, parecendo abolir o processo-tempo e trans-formar os seres em modelos fixos, lembrando a estéti-ca cubista. Em vez de fazer o tempo “viver”, onarrador-personagem o destrói: “quebra” o relógio paranão saber a hora exata, pois constatar a exatidão dotempo é contestar a verdade textual, já que “no temponão havia horas”, conforme se verifica em:
“A réstia descia a parede, viajava em cima da cama,saltava no tijolo - e era por aí que se via que otempo passava. Mas no tempo não havia horas. Orelógio da sala de jantar tinha parado.”(p. 208)
A passagem do tempo cronológico, mostrada aqui ouali por raros ou imprecisos marcadores temporais, emmomentos esparsos no texto, deixa-se acompanhar pelamudança de raros fatos e seres, porque o que realmenteocorre é a mesmice decorrente da reiteração de cenasinvariáveis, representada, no nível dos fatos do enredo,pela mulher que lava garrafas e o homem que enche dornase pelo pensamento recorrente de Luís da Silva; no nívelformal, por formas verbais de pendor freqüentativo (ge-ralmente no presente e/ou no imperfeito), pela repetiçãode frases e procedimentos estruturais.
As situações de desumanização do homem, repre-sentadas pela deformação das imagens, encontram-seem vários momentos da narrativa, quer nas histórias deassassinatos cruéis, quer na história do lobisomem(rememoradas por Luís da Silva), quer nas descriçõesde Julião Tavares. Há, porém, duas cenas que mere-cem destaque: a da morte de Camilo Pereira da Silva,que volta sempre à memória do protagonista, e a damulher grávida que ele encontrou “numa esquina”, nasquais se observa a utilização de imagens contrárias: morte
As imagens sãolançadas do interior
e projetadas nosseres e espaços que
cercam o eu que vive-narra os fatos.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 62-77, jan./jun., 1998.

73
x vida. A primeira, figurativizada pelobranco do pano, pelo roxo das unhas,pelo preto dos pés de Camilo Perei-ra da Silva, e pela sujeira e inchaçodos pés da mulher; a segunda, pelagravidez, criando-se, no texto escri-to, um caráter visual.
Embora não ocorra uma sintaxedesconexa nem a quebra da logi-cidade do pensamento, porque a pro-posta é de um quadro descritivo,cria-se uma atmosfera de tensão.As imagens são lançadas do interi-or e projetadas nos seres e espaços que cercam o euque vive-narra os fatos. O texto surge como uma sín-tese entre as impressões do mundo exterior e ainterioridade daquele que escreve e entre passado epresente. Revela-se, ali, um complexo estado de almanegativo, que pode ser decifrado a partir de uma inter-pretação daquilo que representam, simbolicamente, obranco e o preto: o momento da morte, situado no pon-to de junção do visível e do invisível, conduzindo à au-sência, ao vazio, ao silêncio absoluto, ao desapareci-mento da consciência e o corpo dividido e o conflitoentre ser e não-ser, ser em si e ser no outro. Assim, aolado dessa síntese interior-exterior, presente-passado,há uma insistência na fragmentação e na desintegra-ção do outro. Tentando não ser o outro, em quem nãose reconhece, Luís da Silva angustia-se e sua angústiavai desembocar no estilhaçamento do eu que narra:
“Encolhi os ombros, olhei os quatro cantos, fizum gesto vago, procurando no ar fragmentosda minha existência espalhada.” (p. 43)
À des-ordem temporal-existencial e ao interior angusti-ado correspondem os espaços específicos em que se moveLuís da Silva, modalizados pelos adjetivos que caracteri-zam o discurso do ser em tensão: o quarto abafado, o bair-ro miserável, os casebres miseráveis, os focos espaçadose nevoentos da iluminação pública, o “círculo estreito delâmpadas”, o “reduzido campo de observação”.
Acompanhando o processo de desintegração dohomem, desmitifica-se e degrada-se o espaço, frag-mentado e modelizado por uma voz que é a expressãosofrida do interior. Aquele que descreve o espaço se-leciona e combina as imagens que quer mostrar. Ima-gens espácio-temporais, um aqui-agora, um espaço-tempo de sofrimento, uma síntese entre o exterior e ointerior. Na tentativa de concretização plástica da rea-lidade, integra-se a experiência visual em uma experi-
ência espácio-temporal. Des-realizam-se as formas, numa con-figuração da deformação domundo e da angústia do homem:
(1) ‘‘O meu horizonte ali era oquintal da casa à direita: as ro-seiras, o monte de lixo, o mamo-eiro. Tudo feio, pobre, sujo. Atéas roseiras eram mesquinhas: al-gumas rosas apenas, miúdas.Monturos próximos, águas estag-nadas, mandavam para cá ema-
nações desagradáveis. Mas havia silêncio, ha-via sombra.” (p. 37)(2) ‘‘De todo aquele romance as particularidadesque melhor guardei na memória foram os montesde cisco, a água empapando a terra, o cheiro dosmonturos, urubus nos galhos da mangueira fare-jando ratos em decomposição no lixo.” (p. 83)
Assim, o texto de Angústia caracteriza-se por umaisotopia temática (o tema da desestruturação do ho-mem, que alinhava os diferentes pedaços do texto) euma isotopia figurativa (redundância de traços figura-tivos, pela associação de figuras e tema), apoiadas numnível descritivo metonímico. Verifica-se um retornoinvariante de motivos e situações, que revela a carên-cia de acontecimentos no plano da história e, paralela-mente, imprime um movimento de marcante lentidão,que resulta do emprego do discurso repetitivo, confi-gurado em formas verbais de aspecto iterativoimperfectivo, retardando o tempo da história.
Na verdade, a única progressão existente no roman-ce é aquela que se constrói desde o desejo de matarJulião Tavares, expresso já na primeira página e povo-ando todo o espaço, até o suposto assassinato; uma pro-gressão cortada por descrições sombrias e digressõesque, ao lado do recurso aos aspectos de naturezaimperfectiva, às modalidades e ao indireto-livre, afrou-xam o ritmo de desenvolvimento da narrativa.
O discurso indireto-livre, interrompendo o relato dosfatos, povoa o texto durante praticamente todo o de-senrolar da narrativa, representando o misturar de fa-tos e seres, as indagações que fluem-refluem no ínti-mo do protagonista. Raramente os outros personagensfalam; poucas vezes se faz ouvir a voz pura do narrador.Este modo de representação da fala dos personagenspresta-se, em Angústia, basicamente, a configurar omonólogo interior de Luís da Silva, destacando os vári-os motivos que desembocam nas situações nodais que
Aquele que descreve o espaçoseleciona e combina
as imagens quequer mostrar.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 62-77, jan./jun., 1998.

74
precedem o clímax. Emergem, nosmonólogos, motivos sócio-culturais(justiça social, opressão x liberda-de), ideológicos (a visão de mundodo protagonista), psicanalíticos(recalques, desejos reprimidos, ob-sessões) e artísticos, os quais, as-sociados por uma relação de cau-salidade interna, vão culminar nosuposto assassinato de Julião Ta-vares.
No texto de Angústia, há umconstante deslizar do exterior parao interior, trazendo em cena o processo mental de Luísda Silva. De modo geral, o adentrar nos pensamentose sensações do personagem faz-se quase impercepti-velmente: a voz do narrador mistura-se à do persona-gem. O contraponto das perspectivas em jogo vai te-cendo os fios da história, fornecendo ao leitor traçosda personalidade do protagonista, representando,iconicamente, a sondagem interior, o ser fragmentadoe dual. Na verdade, nas lembranças misturadas, nosobjetos simbólicos (corda, cano, cobra etc.) que sur-gem, sempre, sublinhando o eu interior, dividido e ob-sessivo, vão-se acumulando as sensações e os moti-vos que movem Luís da Silva. Não conseguindo en-tender nem aceitar o fato de ser encarado pelos outrose por si mesmo como um fraco, um qualquer, um sersob o signo da castração, o protagonista atormenta-secom lembranças e indagações altamente recursivas,que estampam o seu íntimo e dão ao texto profundaintensidade dramática:
“Perguntei naquele tempo ou perguntei depois?Não sei.” (p. 16)“Não, não é o sino da igreja, é o relógio da salade jantar. [...] Assaltam-me dúvidas idiotas. Esta-rei à porta de casa ou já terei chegado à reparti-ção? Em que ponto do trajeto me acho?” (p. 20)“Afinal, para se livrarem de mim, atiram-me esteosso que vou roendo com ódio.- Chegue mais cedo amanhã, Seu Luís.E eu chego.- Informe lá, Seu Luís.E eu informo. Como sou diferente de meu avô!” (p. 26)
Ilustra-se, nos textos, a cumulação de papéis dife-rentes na voz de Luís da Silva, que medita, levantaproblemas e chega por si mesmo às respostas: ele sepergunta e se responde, como se se tratasse de dois(ou mais) eus distintos.
Em algumas passagens do ro-mance, há interrogações que não sedestinam a um receptor concreta-mente presente na situaçãoreproduzida, à medida que este vemreferido como “não-pessoa”. An-tes de se caracterizarem como umachamada ao narratário, represen-tam o desabafo pessoal do perso-nagem, perante um ouvinte des-per-sonificado, que não se manifesta.Depreende-se, porém, por detrás daabsorção do papel do ouvinte pelo
sujeito que enuncia, uma tentativa de despertar o inte-resse do leitor, pois os enunciados permitem a este in-dagar-se sobre o que irá ocorrer nas etapas seguintesda narração.
Angústia é, pois, um romance que se apóia numaconcepção dual: Luís da Silva subdivide-se em perso-nagem e narrador e, ao mesmo tempo, em persona-gem e escritor, narrador e autor implícito, equilibran-do-se nos limites entre ser e não ser. Marina, por suavez, surge, no texto, como símbolo de desejo e traição,amor e ódio. O fazer de Luís da Silva implica o fazerartístico (recriar a realidade pela palavra) e o fazerhumano (conquistar os objetos de desejo: Marina, opoder e o saber). No que concerne ao tempo, encon-tramos o tempo do ser existencial e o do fazer artísti-co, o presente (do enunciado e da enunciação) e opassado (próximo e remoto), além de uma simultanei-dade espácio-temporal. Quanto ao espaço, duelam ointerior e o exterior, cada um dos quais subdividindo-seem espaço do “eu” e espaço do “outro”.
Dessa dualidade decorre que o discurso reveste-sede uma ambigüidade cada vez mais marcante no tex-to, conforme vamos verificar na construção da cenado assassinato de Julião Tavares.
Luís da Silva vive em seu próprio mundo e tem re-duzido contato com o mundo das pessoas normais queo rodeiam. Seu pequeno mundo é freqüentemente ca-racterizado por ilusões e alucinações acentuadas, des-de o início do romance. No decorrer de toda a história,vão sendo deixadas algumas pistas que ora desfazema ilusão, ora apontam para a imaginação fértil e atémesmo para traços de anormalidade do protagonista,criando, no leitor, a dúvida. Além disso, o Luís da Sil-va-narrador “dificilmente poderia distinguir a realida-de da ficção” (p. 27).
Ao contrário do que ocorre nos romances policiais,onde o cenário é, geralmente, marcado pela aglomera-
O adentrar nospensamentos esensações dopersonagemfaz-se quase
imperceptivelmente.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 62-77, jan./jun., 1998.

75
ção, propícia à realização do crimee à fuga do assassino, a façanha deLuís da Silva escolhe um lugar ermo,sem testemunhas. Além disso, des-loca-se, em Angústia, o eixo de in-teresse do leitor, pois ele já sabequem é o (pretenso) assassino. Osmistérios a serem desvendados sãoa identidade do assassinado e a pró-pria consumação do crime. Ressal-te-se, ainda, que, ao final da cena,os fios ficam soltos. A história éinacabada, uma estrutura aberta,que se vai conectar, circularmente, ao início do roman-ce, sem, entretanto, resolver a problemática “matou xnão-matou”. Cabe ao leitor a solução do conflito pelaocupação do silêncio final do texto, ou o questionamentoda verdade da própria narrativa.
Recuperando alguns fragmentos pelos quais se cons-trói o espaço-tempo da história do crime, podemosobservar, primeiramente, que esta aparece ao leitorrecoberta pela névoa e pela escuridão (p. 173-200).
Observa-se, que todos os enunciados surgem en-volvidos pela modalidade dubitativa, configurada pelosentido dos lexemas das formas verbais e nominais,pela flexão de futuro do pretérito. Aliada a estes ele-mentos lingüísticos, surgem frases interrogativas,modalizando os enunciados, reforçando a noção quese instaura no texto. Em nenhum momento, aquele quenarra os fatos assume os enunciados produzidos, dei-xando-os no limite entre o real e o possível ou imaginá-rio. Outro dado que merece destaque é a metáfora danão-pessoa que se cria, no texto, a partir das formaslingüísticas utilizadas para a referência ao virtual as-sassinado: “vulto”, “figura”, “sombra escura”, elemen-tos que concorrem para a configuração da dúvida. Háque observar, ainda, os enunciados: “O rosto encosta-do à terra, naturalmente” e “Distinguia-se agora muitobem a sombra escura na garoa peganhenta”, onde sedestaca a ironia do narrador, que se alia ao sinistro,colocando em xeque a verdade textual: aquilo que nãoé torna-se imagem pela fantasia.
Após a imaginária e imaginada morte de JuliãoTavares, por instantes o narrador-personagem vê dis-sipar-se a névoa: o passado, o presente e o futuro re-velam-se-lhe, fazendo-o descobrir-se e criando a ilu-são de que o assassinato teria realmente ocorrido. Pormeio de sensações estranhas e inquietantes de angús-tia e nojo, o protagonista expressa a rejeição da reali-dade externa e suspende seus compromissos com a
lógica do real, deixando-se envol-ver, gradualmente, pelo sono, pelosonho, pelo desmaio, pelo desvario,até atingir o mistério da condiçãohumana, penetrando na intimidadede si mesmo e das coisas. Emboraa realidade denuncie o falso do apa-rente, a medida do imaginário ga-nha, para Luís da Silva, a dimen-são de verdade.
Nota-se, no texto, que Luís daSilva reconhece que, entre o ser e onão-ser pode existir apenas o des-
lumbramento ou a ilusão, a imaginação, porque conside-ra o homem com olhos adequadamente abertos às suaslimitações, às suas linhas às vezes inevitáveis na dire-ção do não-ser. A linguagem do narrador-personagemé, ali, símbolo do interior, das travessias cruzadas quepor ele se fazem, das perplexidades de Luís da Silvadiante do ser e do não-ser, misturados dentro do homeme no espaço - tempo que o envolve. Na fala de Luís daSilva aparece um conflito profundo e inacabado com apalavra do outro no plano da vida (a palavra do outro aseu respeito), no plano ético (o julgamento, o reconheci-mento/não reconhecimento pelos outros) e no plano ide-ológico (a visão de mundo do personagem como umdiálogo inacabado e interminável). Objetividade e sub-jetividade confundem-se, de onde decorre a ambigüida-de na identificação do sujeito dos enunciados e dasenunciações, dado que se sobressai com maior clarezano enunciado em que desemboca o processo de contes-tação da verdade, anunciado na construção “mas entreos olhos e as mãos havia um nevoeiro que engrossava”:
“- Não fui eu. Escrevo, invento mentiras sem di-ficuldade. Mas as minhas mãos são fracas, enunca realizo o que imagino.” (p. 208)
Revela-se, aqui, uma visão de mundo em que o serambíguo e dividido pelo caos existencial só encontrapossibilidade de se reconstruir pela fantasia e pela ima-ginação. Não se trata, porém, de negar a realidade,mas de ultrapassá-la, possibilitando o aparecimento deuma natureza transfigurada. Expõe-se, desse modo, asuperficialidade do real e revela-se a essência do sernum espaço novo, neutro - o da arte -, em que a verda-de íntima e a loucura ganham conotação de sonho.
A partir daí, Luís da Silva descobre que o ser e onão-ser associam-se por um elo de causalidade: o seré destinado a negar-se incessantemente para perma-necer como tal ou encontrar sua identidade; a essên-
Depreende-se,por detrás da
absorção do papel doouvinte pelo sujeito
que enuncia,uma tentativa de
despertar o interessedo leitor.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 62-77, jan./jun., 1998.

76
cia do “eu” que escreve é, sem ne-nhum paradoxo, ser incompleto. Eo desfecho do texto passa a focali-zar o delírio do protagonista, comose o narrador dele se desprendes-se, soltando-lhe as rédeas do pen-samento.
Ali, o indireto-livre já não se afi-gura mais como estruturador domonólogo interior, mas do fluxo deconsciência de Luís da Silva. Emvez de um fluir de acontecimentos,o narrador-personagem descreveum fluxo de idéias e des-associações; em vez de umanti-herói individual, um ser multiplicado, uma corren-te de consciência sem fim. O que se acentua, no texto,é a simultaneidade dos conteúdos de consciência, aimanência do passado no presente, a amorfa fluidezda experiência interna, a ilimitabilidade da corrente dotempo, o constante e simultâneo fluir dos diferentesperíodos da vida, a relatividade e a simultaneidadeespácio-temporal.
Para este tempo-espaço atemporal convergemquase todos os fios da textura: o abandono do enre-do, a eliminação do homem, o método automático doescrever, reforçado pela supressão de parágrafos. Aintermutabilidade dos conteúdos triunfa sobre o ar-ranjo das experiências vividas. Imagens, idéias, delí-rios, recordações, evocações, erguem-se, juntas, deuma maneira súbita. Fabrica-se, no texto, um imagi-nário palimpsesto. As várias camadas de textossuperpostos fazem que a leitura habitual torne-seimpraticável. A palavra perde sua translucidez e jánão informa; no entanto, apesar disso (e talvez exa-tamente por isso), a composição surge como se todoum passado nela se cristalizasse e, depois de atra-vessar o tempo-espaço, viesse a situar-se no momentoatual.
No delírio ilustra-se a cumulação típica de papéisdiferentes na “pessoa” de Luís da Silva, que medita,levanta questões e chega, por si mesmo, a conclu-sões, porque a vida apresenta-se-lhe como um espe-táculo em que as cenas se sobrepõem desarticulada-mente, onde fragmentos vêm à tona com a rapidez ea clareza do sonho, tornando mais profundas as emo-ções. Ao pretender expressar o interior do homem,transmite uma realidade caótica, onde a palavra ser-ve, simultaneamente, a locutores diferentes: o perso-nagem que fala e o autor implícito, cujas intenções serevelam pela “voz” do narrador. Não se estabelece,
no texto, um nítido contraste entreo plano de consciência do prota-gonista, reproduzido pela técnica doindireto livre, e o plano contíguo danarração.
Enfatiza-se, ali, o papel do leitorcomo entidade co-participante naconstrução dos sentidos desta obracujos vazios não se encontram ape-nas no plano semântico, mas tam-bém nas estratégias textuais (nar-ração fragmentária, cortes e mon-tagens temporais e espaciais,
pluridiscursividade, dialogismo). A voz do autor implí-cito mostra que o processo criador não se esgota nafábula; antes deixa a última etapa a cargo da imagina-ção do leitor. O discurso dialógico estabelece uma re-lação direta entre texto e leitor (e, indiretamente, entreo leitor e o autor), uma vez que pressupõe a antecipa-ção do discurso de outro, como se na própria fala donarrador(-autor implícito) estivesse encravada a répli-ca do leitor, chamado a penetrar no labirinto do mundotextual.
Ao final, o fluxo incessante dos instantes de emo-ção do personagem substitui, no texto, aquilo que,em especial em São Bernardo, era a ação. Alte-rando hierarquias fixas, ressalta-se, no texto de An-gústia, o afloramento continuado e superposto desensações, percepções, preocupações, tempos-es-paços, resultando numa renúncia ao episódico dosromances anteriores e no conseqüente predomínioda categoria da modalidade e da imperfectividadesobre as noções temporais cronológicas e os aspec-tos perfectivos. A instabilidade do personagem mar-ca, na verdade, ao lado do estar num mundo caóti-co, numa realidade flutuante, a participação inevitá-vel do próprio escritor em dois mundos: o real (vida)e o poético (arte), criando-se uma obra que surge,então, como o espaço em que o exterior e o interiorse encontram e se fundem.
Sentindo-se perdido no mundo físico-social, Luís daSilva tenta a recuperação de sua identidade, no planoda arte de escrever. Assim, escolhe uma narrativa quepropõe um novo espaço, onde os referentes concretosda realidade circundante vão-se desfazendogradativamente e mergulhando os seres criados - eaté os leitores - num mundo de associações e repre-sentações livres. As frases já não operam mais comopuros estímulos literários; ao contrário, desafiam-nosa uma complexa visão-leitura, num jogo em que o que
Cabe ao leitor asolução do conflitopela ocupação do
silêncio final do texto,ou o questionamentoda verdade da própria
narrativa.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 62-77, jan./jun., 1998.

77
vale é a des-organização. Assim, por meio da simula-ção de tranqüilidade, representada pela perífrase deinfinitivo com auxiliar no imperfeito e por uma cons-trução nominal, culmina o sentimento abissal de An-gústia:
“Íamos descansar. Um colchão de paina.”(p. 217)
Palavras finaisTodas as significações, apresentadas e analisadas
neste trabalho, decorrem, conforme procuramos de-monstrar, do modo particular pelo qual se selecioname organizam as formas, os vocábulos, as estruturas dalíngua. Os elementos lingüísticos (distinções aspectuais,configurações modais, temporais, discurso direto, indi-reto e indireto-livre, dentre outros) adquirem contor-nos especiais e conotações advindas das estruturassintático-semânticas, realizadas pelo produtor do tex-to, ratificando a temática proposta, adequando-se aosdiferentes segmentos de informação diegética, pois aobra, como um todo orgânico que é, advém dessa ajus-
tagem entre os componentes internos e a mensagemque se quer veicular.
Constata-se, pois, o entrosamento dos procedimen-tos formais na composição do romance e a adequadaaplicação destes na expressão do modo de ser do pro-tagonista. Desponta, no texto abordado, a experiênciado escritor e do homem que soube transformar emromances a inquietante matéria das perplexidades edos componentes de sua verdade interna, convergin-do-a para seu universo literário.
Finalmente, é necessário considerar que as leituras,por mais cuidadosas que sejam, nunca conseguem pre-encher, na sua totalidade, os vazios dos textos e, como oprocesso da escrita, realizam-se pela desmontagem dosfios que o texto entrelaça e oferece ao processo infinitode recepção. Através de aproximações que permitemestabelecer a lógica interna do relato, os espaços embranco, deixados no texto, permitem a entrada do leitore remetem sempre ao aspecto provisório dareconstituição da leitura (e da escrita). Assim, nossotrabalho fica à espera de leitores que lhe (des)fiem asmeadas e lhe preencham os vazios.
Referências BibliográficasBAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e de estética. Trad. Aurora Fornoni Bernardini. 3. ed., São Paulo: Editora da UNESP, 1993.CARVALHO, Lúcia Helena. A ponta de novelo: uma interpretação de Angústia, de Graciliano Ramos. São Paulo: Ática, 1983.CHALHUB, Samira. “(In)passes: Literatura & Psicanálise (A linguagem de Angústia)”. In: Anais do II Congresso Brasileiro de Semiótica.
EDUC., 1988.CRISTÓVÃO, Fernando A.. Graciliano Ramos: estrutura e valores de um modo de narrar. 3. ed., Rio de Janeiro: José Olympio, 1986.DURIGAN, Marlene. Do verbo ao texto: uma leitura de Caetés, São Bernardo e Angústia. Assis, Faculdade de Ciências e Letras -
UNESP. Tese de Doutorado, 1995.ECO, Umberto. Leitura do texto literário-Lector in fabula. Lisboa: Editorial Presença, 1979.GREIMAS, Algirdas J. Semiótica do discurso científico e Da modalidade. Trad. Cidmar Teodoro Paes, São Paulo: Difel/SBPL, 1976.HEIDEGGER, Martin. El ser y el tiempo. Trad. José Goos. México: Fondo de Cultura Económica, 1951.HOPPER, Paul J.. “Aspect and Foregrounding in Discourse”. In: GIVON, T. (org.), Syntax and Semantics. v. 12, 1979, p. 213-241.KIERKEGAARD, Sören Aabye. O conceito de angústia. Trad. João Lopes Alves. Lisboa: Editorial Presença, 1972.KOCH, Ingedore G. V. Argumentação e linguagem. São Paulo: Cortez, 1984.PINTO, Rolando Morel. Graciliano Ramos: autor e ator. Assis, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1962.RAMOS, Graciliano. Angústia. Posfácio de Otto Maria Carpeaux, 18. ed., Rio, São Paulo: Record, 1978.REIS, Carlos e Lopes, Ana A.. Dicionário da teoria da narrativa. São Paulo: Ática, 1988.RISSO, Mercedes Sanfelice. A representação da fala dos personagens em Fogo Morto. (Estatuto lingüístico e literário). Tese de
Doutoramento, São Paulo: USP, 1978.ROSENTHAL, Erwin T. O universo fragmentário São Paulo: Editora Nacional/EDUSP, 1975.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 62-77, jan./jun., 1998.

78
Estudo da poesia de Jorge de Sena (Lisboa,1919; SantaBarbara - EUA - 1978),segundo uma compreensão de umapoética voltada para a metalinguagem e para uma poéticamarcada pelos recursos lingüísticos voltado para o discursoprosaico ou reflexivo. No limite, uma reflexão poética so-bre as especificidades do discurso poético.
Palavras-chaves:Poesia; crítica literária; literatura portuguesa
This is a study of the poetry by Jorge de Sena (Lisbon,1919; Sta Barbara - USA. 1978), according to acomprehension of a poetics turned to a metalanguageand to a poetics marked by linguitics resources, turnedto prosaic or reflexive discourse. In its aim, a poeticreflection about the particularizations of the poeticdisccourses.
Key-words:Poetry, literary criticism, portuguese literature
* Este artigo constitui-senum fragmento adaptadoe desenvolvido deSALES, José Batista de.O discurso teórico napoesia de Jorge de Sena.Assis, 1997, 209 p. Tese(Doutoramento emLetras) Faculdade deCiências e Letras deAssis,Univ. Est.Paulista“Júlio de Mesquita Filho”.
** Professor Adjunto deLiteratura Portuguesa noCentro Universitário deTrês Lagoas, da UFMS.

79
O DISCURSO METAPOÉTICODE JORGE DE SENA*
José Batista de Sales * *
IntroduçãoNum estudo, desenvolvido em nossa tese de douto-
rado, sobre a poesia seniana, notamos um aspectomarcante na produção poética de Jorge de Sena que érelevante para a compreensão global da personalidadeartística do autor de Arte de Música, que designamoscomo discurso metapoético. Buscaremos enfatizar amaneira como o poeta compreende a sua atividade,como a define e como vê a existência da poesia nocontexto histórico-cultural em que está envolvido. Ouseja, trata-se de conhecer as preocupações estéticassenianas registradas no limite de um texto poético ca-racterizado por uma peculiaridade: o discurso teóricodessa mesma poesia. Antecipamos ainda que esta pe-culiaridade é filtrada, digamos assim, pela nossa com-preensão da poesia realizada por Jorge de Sena, o seuaspecto prosaico ou argumentativo
A referência ao córpus do trabalho é importante,embora pareça óbvio, porque serve para delimitar onosso material. Assim, se de um lado há um princípiolimitador – o discurso teórico e o discurso metapoético– de outro, o lapso temporal é bastante largo, pois abran-ge 31anos de produção literária do autor: o primeiropoema, “OS TRABALHOS E OS DIAS”, é de 1942e o último, A DIONÍSIO RIDRUEJO, de 1973.
Este dado cronológico é relevante porque demons-tra, à medida que o discurso se constrói por meio dareiteração de determinados pontos de vista, a linha cons-tante de uma atividade intelectual muito bem
sedimentada. Ou seja, não indica nada fortuito ou casu-al no pensamento seniano no que se refere à poesia, àatividade de poeta e à sua visão de mundo e da condi-ção humana, tendo a poesia como elemento mediador.
De maneira geral, Jorge de Sena foi um poeta quemuito escreveu sobre poesia e sobre poetas, enten-dendo-os como um produto da sensibilidade humana.Para ele, seria imprescindível que a poesia estivesseligada à problemática existencial do homem, como umaconquista da civilização, como um bem cultural a sersempre aperfeiçoado, e certamente, por isso mesmo,a busca incessante pelo original seja um tema cons-tante em sua produção.
Torna-se significativa, portanto, observar fragmen-tos ou versos inteiros como: “Ao fim de um longopoema...” ou “Quando penso que há mais de trintaanos que publico poemas” porque tornam-se clarosalguns pontos do discurso metapoético seniano, segundoos quais o poema pode propiciar momentos ou oportu-nidade de reflexão sobre a condição humana, além deafirmar que é a vida um de seus temas maiores, nosentido mais amplo possível (antropológico, ético,afetivo etc).
É interessante observar que regularmente o poetarecorre a sua condição de poeta como forma introdu-tória da reflexão que pretende desenvolver sobre a si-tuação humana e, deste modo, transforma o poemanum espaço-objeto em que se problematiza a condi-ção existencial do homem e a sua vinculação com a
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 78-88, jan./jun., 1998.

80
construção do poema. Com isso, este não se realizasimplesmente falando da existência humana, mas davinculação da poesia com a vida, tendo por mediador aconsciência poética a alertar sobre os problemas pro-porcionados por este vínculo. É a forma de Jorge deSena esclarecer que não pretende simplesmente trans-formar seus poemas num panfleto a respeito do ho-mem, desprezando o aspecto estético (criativo, origi-nal) que toda obra de arte deve buscar, mas, sim, afir-mar que a “consciência” estético-literária é capaz depermitir, no ato da criação poética, a consciência so-bre a realidade, bem como sobre a nossa existência.
A “consciência” literária de Jorge de Sena susten-ta-se por meio de um dilema ontológico do poeta: deum lado, por buscar a compreensão do mundo, a Ver-dade, sabendo-a volátil, talvez inexistente, e, de outro,por compreender que a arte, a poesia, através de seusinúmeros recursos, é capaz de erigir, de construir ummundo, uma realidade em que se encontre a Verdade.Por conseguinte, cria-se a oposição entre dois mun-dos, duas realidades, e como não há o desejo de refú-gio na realidade agradável, resulta, sim, na contrapo-sição, no conflito entre as duas vivências.
Além disso, podemos aproximar o discursometapoético de Jorge de Sena com a frase de Terêncio— Tudo o que é humano não me é alheio — , que foiassim registrada pelo nosso autor: Tudo quanto é hu-mano me interessa.1 À parte discussões sobre plágioou atualização, é este o pensamento que servirá deorientação para nortear o estabelecimento de uma po-ética seniana. Esta afirmativa terêncio-seniana propi-ciará um sentimento muito claro da premência huma-na, de tal forma que muitos de seus poemas conterãoreflexões sobre a condição da poesia, da sua impor-tância perante o mundo, registros de preocupaçõescotidianas do poeta, a matéria prima da poesia, refle-xões metapoéticas etc. Dito de outra maneira, poderí-amos falar de uma ação humanizadora da poesia, se-gundo Jorge de Sena.
Deste modo, entendemos haver alguns poemasextremamente ricos para traçar linhas ou pontoselucidativos do discurso metapoético de Sena. Des-tacamos quatro poemas que nos parecem suficien-tes para o nosso objetivo. Em cada um, notar-se-ãoalguns aspectos particulares e outros, gerais, que serepetem e enfatizam o que constitui o temário bási-co desta poética: o ser humano, a solidariedade, avida.
Análise dos poemasO primeiro poema nos permitirá compreender o
referido discurso metapoético de Jorge de Sena, des-tacando um aspecto importante de sua arte:
IOS TRABALHOS E OS DIAS
Sento-me à mesa como se a mesa fosse o mundo inteiroe principio a escrever como se escrever fosse respiraro amor que não se esvai enquanto os corpos sabemde um caminho sem nada para o regresso da vida.
À medida que escrevo, vou ficando espantadocom a convicção que a mínima coisa põe em não ser nada.Na mínima coisa que sou, pôde a poesia ser hábito.Vem, teimosa, com a alegria de eu ficar alegre,quando fico triste por serem palavras já ditasestas que vêm, lembradas, doutros poemas velhos.
Uma corrente me prende à mesa em que os homem comem.E os convivas que chegam intencionalmente sorrieme só eu sei porque principiei a escrever no princípio do mundoe desenhei uma rena para a caçar melhore falo da verdade, essa iguaria rara:este papel, esta mesa, eu apreendendo o que escrevo.
Este poema pertence ao segundo livro do poeta2 ejá traz alguns dos pontos que construirão o seu discur-so metapoético: a preocupação com a vida, com a hu-manidade e com a qualidade do poema como obra dearte, ou seja - a busca pelo novo, pelo original. Entreos dois elementos, a ambigüidade exerce função pri-mordial na construção do texto. Neste sentido, o títuloantecipa o pensamento do poeta, pois que o vocábulo“Trabalho” é relevante para a compreensão de seuparadigma, uma vez que traz os significados de esfor-ço, aperfeiçoamento, zelo, para o crescimento interior.A seu lado, ligado por um conectivo, há o vocábulo“Dias”, significando cotidiano, método e regularidade.No conjunto do enunciado, está a idéia de que o traba-lho poético se realiza ininterruptamente, no dia a dia,presente na vida humana.
Entretanto, sustenta um sentido de oposição ou deambigüidade que contribui para ampliar o conceito depoesia, como observamos nos versos dois a quatro, den-tro de uma visão idealista, etérea: como se escreverfosse respirar/ o amor que não se esvai....; ao passoque o segundo pólo procura dirigir o entendimento dapoesia para uma visão ligada à consciência humana deque a realidade é material e não tem alternativa diante
1 WILLIAMS, Frederick. Tudo quanto é humano me interessa. In: JL, Lisboa, 14-2 de maio de 1985, p. 18.2 SENA, Jorge de. Coroa da Terra. Porto: Lello Irmão. 1946. In: ————. Poesia I. 2.ed., Lisboa: Edições 70, 1988.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 78-88, jan./jun., 1998.

81
do fim inevitável: “(...) enquanto os corpos sabem/ deum caminho sem nada para o regresso da vida.
Na segunda estrofe, reitera-se a idéia de criaçãocomo resultado de trabalho diário- “pôde a poesiaser hábito”, mas outra vez a ambigüidade ou mesmoa tensão é notória. Temos a oposição entre os vocábu-los “alegre” e “triste”, principalmente como resultadoda própria atividade de poeta. Ou seja, após constatarque, apesar de tudo, consegue encontrar a poesia eser poeta, esta se realiza (Vem, teimosa,) provocandoalegria no poeta. Em seguida, porém, este mesmo po-eta se entristece, visto que sua produção não passa derepetição de outros poemas já escritos (por ele mesmoou por outros poetas?). Sublinhe-se que a razão datristeza do poeta surge em função de um conceito dotrabalho poético: o da busca incessante pelo novo, aoriginalidade da obra de arte literária.
Vem, teimosa, com a alegria de eu ficar alegre,quando fico triste por serem palavras já ditasestas que vêm, lembradas, doutros poemas velhos.
Saliente-se que o sentimento de tristeza é uma cons-tante no discurso metapoético seniano. Ou seja, entreas implicações de sua condição de poeta, há a de sertriste, infeliz, solitário, embora o sentimento de tristezaexpresso no poeta seja motivado pela consciência deuma falha individual e o que lhe é permanente deve-seao seu sentimento de ser consciente de sua humanida-de. Quero dizer de sua consciência de um mundo falha-do, de sua demanda pela Verdade neste mundo em queos homens felizes parecem indiferentes à humanidade.A terceira e última estrofe mantêm a linha de tensão - emesmo a reforça - principalmente nos versos:
Uma corrente me prende à mesa em que os homens comemE os convivas que chegam intencionalmente sorriem...
O primeiro verso evidencia tensão ou conflito àmedida que o poeta confessa que se encontra ligado adeterminado aspecto da vida graças a uma corrente,está preso à realidade sensível, que é ligada a natureza(os homens comem). O vocábulo ‘mesa’ é uma metá-fora de realidade, de mundo, neste verso, circunscritapela locução adverbial “em que os homens comem”,que, por sua vez, conota o estado material, natural (ins-tintivo) do homem (comer). No conjunto, o verso re-presenta a recusa do poeta em viver numa realidadedelimitada apenas pelo aspecto natural dos homens,sem sua ânima. Já o verso seguinte, além de comple-tar o sentido de desconforto do poeta, serve paraenfatizar, após a recusa do poeta, o distanciamento
entre o mundo (a realidade) recusado e aquele criado(ou desejado) pelo poeta através da linguagem. Alémdisso, neste segundo verso, a oposição também ex-pressa-se no plano da sintaxe, pela colocação de umadjunto adverbial de modo entre dois verbos, o quepode resultar num sentido ambíguo, pois é possívelcompreender que o referido adjunto pode se ligar aoprimeiro ou ao segundo verbo: “chegam intencio-nalmente” ou “intencionalmente sorriem”.
E ainda a compreensão de que a poesia é uma cons-trução e um trabalho é igualmente enfatizada na estrofe.Aqui cabe ressaltar a ocorrência de alguns vocábulos,cujo campo semântico está pleno de sentido de constru-ção, o que pode nos fazer recordar do Primeiro Livro deMoisés, Gênesis: “1. No princípio criou Deus os céus e aterra.”. Note-se, pois, que no primeiro e no segundo ver-sos da primeira estrofe, o poeta diz: “Sento-me à mesacomo se a mesa fosse o mundo inteiro/ e principio aescrever como se escrever fosse respirar/” e no tercei-ro verso da última estrofe, temos: “(...)principiei a es-crever no princípio do mundo”. Ou seja, o poeta colo-ca-se como o fazedor de um mundo, de uma realidade. Éassim que “escrever fosse respirar”, ou seja, escreveré como construir um viver. A idéia de fazedor do mundo,ou de mundo, encontra-se timbrada no vocábulo ‘princí-pio’ (nas formas verbais presente e pretérito perfeito: prin-cipio e principiei, e no substantivo- princípio). Portanto, apoesia é vista pelo poeta como “poiesis”, capaz de cons-trução: de um mundo, de um conhecimento, de uma artee até da Verdade. Ao criar um mundo, uma realidade, opoeta tem a oportunidade de também construir um con-ceito de Verdade, como diz nos versos:
“e só eu sei porque principiei a escrever no princípio do mundoe desenhei uma rena para a caçar melhore falo da verdade, essa iguaria rara:”
Note-se que é a criação de algo que ele mesmoprocura. O poeta busca a Verdade ou algo que lhe dêuma noção de sensação de Verdade, mas na impossi-bilidade de encontrá-la no mundo sensível (e por isso arecusa), ele, o poeta, cria, constrói um mundo e neleinstaura a Verdade (desenhei uma rena) para assimpoder conhecê-la - “para a caçar melhor”. Aqui, ovocábulo “rena” funciona como metáfora de Verdade,sabemos que este vocábulo designa um animal de caça.
Entretanto, nem tudo está resolvido. Primeiro, comojá temos dito, Jorge de Sena é um poeta preocupadocom o lado social, material da realidade e, segundo, opoema traz um sentido de ambigüidade muito forte.Assim, embora o poeta construa uma realidade e umconceito de Verdade para satisfazer sua própria busca,
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 78-88, jan./jun., 1998.

82
ele se conscientiza de que há um afastamento ou dis-tância entre o que é real (sensível) e sua construção.Mas o que é mais importante é o fato de o poeta com-preender que esta sua elaboração consiste na causa deseu próprio aprimoramento existencial: “este papel, estamesa, eu apreendendo o que escrevo.” É, portanto, acompreensão de que seu aprimoramento se dá pelomundo da linguagem, construído pela linguagem.
O poema nos permite identificar um outro aspectoda poesia seniana. Já sabemos que esta se caracteri-za, como linguagem, capaz de criar, de imaginar umaoutra realidade. Sem se caracterizar, todavia, por umaarte desligada dos problemas mais pertinentes à exis-tência humana. Para o poeta Jorge de Sena, a poesiacapaz de criação de uma realidade nova, sem ser alie-nada, se estabeleceria sempre através da vivência li-terária, da experiência esteticamente vivenciada, dasua capacidade de invenção e de transformação.
IIA MISÉRIA DAS PALAVRAS
Não: não me falem assim na miséria,nos pobres, na liberdade.
Se a miséria e a pobrezafossem o vómito que deviam ser postos em palavras,a imaginação possuída e vomitada que deviam ser,viria a liberdade por acréscimo,sem palavras, sem gestos, sem delíquios.
Assim, apenas se fala do que se não fala,apenas se vive do que não se vive,apenas liberdade é uma misériasem nome, sem futuro, sem memória.
E a miséria é isso: não imaginaro nome que transforma a ideia em coisa,a coisa que transforma o ser em vida,a vida que transforma a língua em algo maisque o falar por falar.
Falem. Mas não comigo. E sobretudosejam miseráveis, e pobres, sejam escravos,no silêncio que à linguagem fazimaginar-se mais que o próprio mundo.
O título do poema em epígrafe é categórico e con-tundente no juízo acerca do estado em que se encon-tra o que é básico para a atividade do poeta, a palavra.Entendemos que, enquanto discurso, o primeiro versodo poema guarda um tom categórico, e que essa qua-lidade encontra-se realçada pelo uso do vocábulo “não”em posição inicial, seguido por uma frase categórica,na qual a vírgula e a repetição da preposição “em”(na, nos, na) e da repetição do referido vocábulo “não”,
proporcionam um ritmo cadenciado, próprio para real-çar o já mencionado tom categórico.
O poeta luta, pois, ao rejeitar o uso automatizado daspalavras (neste poema: miséria, pobreza e liberdade), parafirmar sua convicção na força criativa e na capacidadede construção e transformação da poesia e da lingua-gem. Na primeira e segunda estrofes, há uma enfáticanegação do automatismo, da inconsciência, oquestionamento de uma poética que associa certos valo-res a determinadas palavras, sem a vivência ou a devidareflexão sobre o seu verdadeiro significado, dos modis-mos e convenções já estabelecidas, “oficiais”, enfim. Eao problematizar essa prática, “rebaixa” seu valor semân-tico através de palavras, tais como: “vômito” e “imagina-ção possuída”. De tal forma que o automatismo, a pala-vra sem vivência, sem, por exemplo, a memória, não pos-sui valor algum. Para Sena, a poesia deveria ser a mani-festação de uma consciência do existir humano, e pararepresentar essa experiência acreditava ser importante aatuação da memória, associada à imaginação:
apenas liberdade é uma misériasem nome, sem futuro, sem memória.
Na terceira estrofe, o poeta, ao falar o que entendepor ‘miséria’, faz a defesa do que lhe parece ser averdadeira prática com a linguagem, com a poesia. Aonegar às palavras ‘miséria’ e ‘pobreza’ um significadoestritamente material, amplia-lhes o campo semânticopara que alcancem valores subjetivos, espirituais, ima-ginativos. De maneira didática e usando a gradação,elucida o que entende por miséria ou a pobreza: a in-capacidade de se criar, imaginar uma palavra, um“nome” que tenha um poder criador, transformador.
Nesta estrofe reside outra parte significativa do dis-curso metapoético seniano. A linguagem é capaz de trans-formar o imaginado em real, num real suficiente para pôrem questão o mundo sensível e manter-se o vínculo entreeles o bastante para não se caracterizar uma fuga ro-mântica da realidade, e ainda um real em que os valoresalmejados pelo poeta estejam presentes, como por exem-plo a Verdade, que transforma o imaginado numa realida-de convincente, num “concreto verossímil”, que este setransforme em vida plena, consciente de todas as possibi-lidades de riqueza e de seu poder de criação. No que opoeta acredita é mesmo na riqueza da linguagem, no seuato criativo e transformador.
Assim, a quarta estrofe é a ampliação e o refina-mento do pensamento já desenvolvido. Mostra o poetaidentificado com o princípio teórico que confere à ati-vidade poética o poder de, ao nomear um objeto, criaro próprio objeto (o nome é a coisa), o objeto em vida,
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 78-88, jan./jun., 1998.

83
até atingir o ponto de vista que afirma que a língua nãoé apenas um léxico, disposto ao falar inconseqüente emecânico. A língua, para o poeta, é o instrumento queconstrói uma cultura, um sentimento, vida, enfim. É tallegitimidade existencial que procura o poeta para o seufalar, o seu nomear as coisas.
IIIO poema seguinte é uma homenagem a Dionísio
Ridruejo3. Ao mesmo tempo em que há uma identifi-cação com a poesia do poeta-soldado (é importante,neste sentido, a nota de rodapé), Sena indica um novoaspecto de sua poética, ao apontar claramente parauma poética empenhada na vida e com a solidarieda-de. Desta forma, opõe ao senso comum e generaliza-do sobre poesia, o seu discurso metapoético. O autorde Perigrinatio Ad Loca Infecta reconhece que, comomuitos leitores, vários poetas exercitam uma arte poé-tica rica em recursos retóricos e em imagens que re-sultam numa certa alienação ou descompromisso coma realidade e com a qual ele, Sena, não concorda.
A DIONÍSIO RIDRUEJOPoetas disseram: escrever nas águas,passar-se como o vento que não volta,e outras imagens do fugir do tempo(julgavam eles, quando o que nos fogeé ser-se ouvido no convívio humano,e o só dizer-se aquilo é já curvarhombridade e altivez à turba circunvaga).
Outro escrever existe: não com sangue,mas com a tinta de alma, tão ardentesque a água se vitrifica e o ar não passaalém do nosso peito que o respira.O sangue, em tempo de assassinos, nãomerece já respeito. Mas as tintascom que tu escreves de estar só no mundonão tingem água nem escurecem ares —— porém o instante queda por eternonaquele recordar de exaustas vidasqual a nossa perdemos neste espaçode tempo e terra que nos deram fadose onde só água e ar são o que passaentre cadáveres, ruínas, e homens feitosdo que poetas não dizem. Nós dizemos.
O poema apresenta três momentos bastante distin-tos e que ilustram bem o discurso metapoético seniano.Assim, no primeiro instante, representado na primeiraestrofe, o poeta refere-se a uma poética cujo objetivo énegar a realidade e por isso é construída por imagensque conotam um sentido de fugacidade, como “escre-ver nas águas” e “passar-se como o vento”. É umapoética sem consciência alguma da sua importância paraa existência humana e portanto extremamente isolada,afastada dos homens, como podemos entender na ima-gem “fugir do tempo”. De qualquer modo, é uma poé-tica que não conta com o envolvimento do nosso poeta.
(julgavam eles, quando o que nos fogeé ser-se ouvido no convívio humano,e o só dizer-se aquilo é já curvarhombridade e altivez à turba circunvaga).
O segundo momento, na segunda estrofe, contribuipara a delimitação e caracterização do discursometapoético seniano, pois que o poeta define uma outramaneira de se escrever poemas. Tal poética rejeita, porum lado, um descompromisso vivencial, representado pelasimagens contidas na primeira estrofe: “escrever naságuas” e “passar-se como o vento”, e, por outro, recu-sa a poesia feita com sofrimentos e sacrifícios físicos,materiais, do chamado mundo sensível que também po-deríamos identificar como sócio-político, histórico, ou ain-da, talvez a poesia engajada, no seu mais superficial sen-tido. Assim, a poesia deve expressar o que há de maisprofundo ou elevado naquilo que trata da existência doshomens. Esta oposição entre mundos, bem como a recu-sa de ambos, torna-se clara ao notarmos, mais uma vez,uma visão desiludida da realidade degradante - “em tem-pos de assassinos”- . É desta visão desiludida da reali-dade que o poeta retira a compreensão de que uma poe-sia baseada unicamente nos fatos mais imediatos não atin-ge o ponto capital de uma existência:
O sangue, em tempo de assassinos, nãomerece já respeito.
Mas não significa que uma poética nesses mol-des aspire a algo de isolador ou apenas platônico.
3 Dionísio Ridruejo, poeta espanhol, nascido em 1912 e falecido em 1975. Segundo Jorge de Sena, “quer na obra literária, quer na sua vidapública, quer como ser convivente, Dionísio foi, acima de tudo, o que Unamuno dizia que se deveria ser: ‘todo un hombre’. Ligado najuventude ao movimento falangista, Ridruejo tomou parte na Guerra Civil do lado que se chamava ‘nacionalista’, mas prontamente sedistinguiu pela sua independência e pela generosidade com que usou das suas influências para proteger inúmeros perseguidos oucondenados, não só durante a guerra como também nos não menos terríveis anos imediatamente subseqüentes à vitória franquista.Coerente com os seus princípios de então, foi combatente da ‘Divisão Azul’ na frente russa, na Segunda Guerra Mundial. Não tardou,porém, que a sua separação e corte com o regime de Franco se dessem, vindo Ridruejo a assumir eminente e primacial papel na oposiçãodemocrática dentro da Espanha, o que lhe valeu várias prisões e a admiração e o respeito das mais diversas facções pela extrema dignidadedas suas atitudes.” In: SENA, Jorge de. Amor e outros verbetes. Lisboa: Edições 70, 1992. p. 275.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 78-88, jan./jun., 1998.

84
Almeja, sim, que a “experiência vivencial” do poetatorne-se capaz de tocar nos aspectos mais próxi-mos dos homens. E, para realizar tal poética, recor-re, outra vez, a recursos que lhe são caros, como amemória e a imaginação. Através da imaginação opoeta obtém a “tinta de alma”. Observemos quenão é a tinta da alma, onde há a preposição ‘de’ligada ao artigo definido ‘a’, portanto sugerindo a“tinta de uma alma determinada”, específica de umpoeta ou pessoa. Com a retirada do artigo definido,a imagem “tinta de alma” torna-se uma figura abs-trata e ampla, alcançando ainda um maior significa-do de profundidade de sentimento, porque não serefere a um ser em particular, mas à de humanavivência de um momento. Por outro lado, se a no-ção de amplitude torna-se mais significativa por nãodelimitar o percurso que a imagem realiza, enfatizaa importância que Jorge de Sena atribui à preocu-pação com a vida, nos seus aspectos humanos,vivenciados; ou seja: a “tinta de alma” tão ampla,portanto altamente abstrata, paradoxalmente atingeuma realidade bastante concreta, a ponto de vitrificaro ar - é o percurso do abstrato ao concreto:
Outro escrever existe: não com sangue,mas com a tinta de alma, tão ardentesque a água se vitrifica e o ar não passaalém do nosso peito que o respira.
E a memória surge novamente para incrementar odiscurso metapoético de Sena. Se a imaginação nosfaz buscar a mais profunda e significativa das vivências,a memória, o recordar, é capaz de fixar momentos ra-ros, transformando-os numa vida completa, para quepossamos vivenciá-la por inteiro, exaustivamente nosvermos na totalidade de nossa existência, compará-lacom a nossa própria, com o nosso presente. Com issoo poeta nega a poesia de aspectos fugazes em defesade uma poética abrangente, eterna, completa de exis-tência humana.
E isso ocorre através da memória, da capacidadede abstração, da imaginação e da linguagem, quandose realiza verdadeiramente a poesia. Deste modo, opoeta vê, através de um instante de recordação, demergulho na memória, a possibilidade de entender avida, de compreender a nossa permanência e a pre-sença de nossa consciência humana que nos torna,como homens, eternos.
Outro aspecto do discurso metapoético seniano éo da solidão como conseqüência da peculiaridade deser poeta. À medida que Sena põe em questão omundo, a conduta dos homens e a adaptalidade e im-
portância da poesia diante desse mesmo mundo e emcontrapartida almeja uma “vivência ideal” da poesia,ele mesmo se convence desta condição solitária depoeta. O que não é exatamente um pensamento ex-clusivo de Jorge de Sena, mas uma tradição poéticaocidental.
IVO quarto e último poema, Close Reading, possui
elementos relevantes para a compreensão do discursometapoético de Jorge de Sena. É lugar comum na re-cepção da poética seniana a referência ao seuintelectualismo, hermetismo e também à problema-tização dos gêneros prosa e poesia. Neste poema, opoeta, ao elaborar suas indagações sobre a natureza eexistência humanas, sobre valores elaborados pelanossa consciência, ainda desenvolve reflexões a res-peito da especificidade do discurso poético, sobre anatureza da poesia, enfim.
CLOSE READINGAs flores, solícitas, desfolham-se.
Há mais de uma década, ao fim de um longo poema,verifiquei que assim era.Que as flores se desfolhem não é novidade alguma.Que o façam solícitas, tão prontas como tudoa despetalar-se de si mesmas, assumindoo destino implícito na frágil inserçãodas próprias pétalas, eis o que constituipeculiar observação. Masserá que importa muito registaranalogicamente este saber de nada,tão antigo e vulgar, que não se vê,não se ouve, não se considerasenão como imagem de como perdemosde boa mente, de boa vontade, ougostosamente, numa resignação que é[alegria,numa jovial complacência, aquilo mesmoporque sendo, nos somos e vivemos?
Solícitas, as flores deixam-se não seras flores que eram perdidas pétalas.E finalmente, ao fim, no fim das contas,ou no fim de tudo, que floresseremos nós? Eu creio petulância,infantilidade, gosto de confundir,além de irreparável pretensão à delicadeza,esta mania analógica: um tristehábito milenário de ser por conta de outremo medo de não ser por conta própria.
E não é tudo ainda, porque o hábito implicaperigos de grande gravidade. Com efeitoa gente começa por comparar aceitando,por forma oculta ou inconsciente,[o mimetismo
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 78-88, jan./jun., 1998.

85
que o comparar assimilando arrasta;depois, a gente não distingue jáa cor de coisa alguma; e daí a crerque somos mesmo flores solícitassolícitas se dando a desfolhar-se,apenas vai um passo; e, dado o passo,jamais seremos só, como compete, homens.
As flores não se desfolham.As flores são desfolhadas por nós, pelas[brisas,enfim pelo que for a circunstância delas.Não é destino serem-no, porque,para passarem de flor a fruto,elas estão estruturadas taisque perderem as pétalas lhes éperfeitamente consentâneo. Se umas[perdem,e se outras secam sem as ter perdido,não é destino esta alternativaque nem chega a ser de tão ocasional,de tão fortuita, e tão inexorávelcomo morrer fecundo ou estéril,morrendo.Se o destino fosse apenas isto,nada haveria que mecanicamente não fosseum destino fatal.Solícitas as flores. Destino é isto,mas não de flores. A escolha obrigatória,mas livre escolha entre dois passos quesão já milhares de passos livremente dadose limitadamente irreversíveis. Destino é[não sabermosse aquela escolha marca o transmutarde tantos passos noutro ser diverso.Destino é suspeitar, temer, que possairreparavelmente ser-se essa mudança.E dado o passo, quando tal soubermos,não seremos sequer os mesmos jápara sabermos, pois que o que nos foraesse saber tão longo de chegar-se alideixou de ser, e vai recomeçarcomo do nada um novo e tentativosaber aflito que, e todavia,sem ser perdido aquele não recomeçara.E que não é sequer um recomeço:começa onde o outro se acabou, se vistoao nível de se olharem floresperdendo as pétalas no fim do tempo;mas, se visto ao nível do deverobrigatório de escolher, começacomo um salto no espaço para uma outra[órbitaIsto de órbita é porém um aspectoda mesma mania analógica: o átomocomo sistema solar, etc., etc.,tal qual havia o microcosmo, e o macro,e os espíritos vagando no intervalo.Quando, ah quando, os homens deixarão
de crer em tudo, de exigir que tudoseja como tudo? Se tudo é como tudo,o nada é como nada? Mas tautológicoé só o medo, o medo de escolherentre duas coisas, dois entes, dois[momentos,duas coincidências diversas de milhares[de [instantes,de que escolhê-las se nos faz o tempo.
Araraquara, 27.5.62
O título do poema remete-nos a um termo do movi-mento crítico-literário norte-americano, o New-Criticism. Neste movimento, close reading significaum processo de estudo do texto literário, no qual sedispensaria especial cuidado às relações entre os vo-cábulos, sua sintaxe e semântica no interior de um po-ema, e que pode ser traduzido como “leitura micros-cópica”. Deste modo, pois, a atitude de um discursometapoético no presente poema torna-se clara.
Não é difícil encontrar, na crítica de Sena, proposi-ções originariamente apresentadas pelos teóricos doNew Criticism. Entre outras, podemos nos referir àvalorização da exatidão e precisão na descrição, o“combate com a linguagem”. Neste combate com alinguagem, podemos nos recordar que Sena refere-secom insistência ao conceito ou idéia segundo a qual apoesia deve ser uma vivência literária da realidade enão simplesmente uma cópia ou narração das emo-ções, percalços e vicissitudes da vida pessoal do poe-ta. Tal proposição encontramos nos New Critics, se-gundo os quais “o poema não é a transcrição de umaexperiência do poeta, mas uma transformação des-sa experiência; por conseguinte, experiência nova,irredutível.”4 Além disso, podemos encontrar napoesia seniana e no ideário new critic, a proposiçãode que a poesia não é simplesmente um repositório deemoção, não é simplesmente emoção; mas, sim, a deque exerce uma “função de reconhecimento”.
O poema inicia-se, portanto, com uma bela ima-gem, construída por uma seqüência melódica, graçasà aliteração do som /s/ e da figura de linguagem co-nhecida como animismo e que será o ponto de partidapara a construção do poema. Em seguida a esta ima-gem, que é o registro de uma percepção do poeta, numoutro poema5 desenvolve-se um discurso indagativosobre a pertinência desta percepção para o homem.
Neste poema, o poeta realiza a “leitura microscópi-ca” de um seu próprio poema ou de apenas um verso.
4 KOHEN, Keith. O New criticism nos Estados Unidos. In: COSTA LIMA, Luiz. Teoria da literatura em suas fontes. 2.ed. Rio deJaneiro: Francisco Alves, 1983. p. 3-35.
5 Solícitas as flores. In: SENA, Jorge de. Poesia I. Lisboa: Edições 70, 2. ed., 1988. p. 207.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 78-88, jan./jun., 1998.

86
Mas, de qualquer maneira, é um discurso metapoético.E uma vez que se referiu ao New Criticism, comoconcepção de texto literário ou, mais especificamente,da análise de um texto literário, realiza uma exaustiva“dissecação” dos termos, conceitos ou proposições queaquele primeiro verso evoca, como se o poeta proce-desse a um “descascamento” da linguagem, retirandoos resíduos inúteis, sem nenhuma significação6 O po-eta, após reconhecer na sua metáfora razoável cargade ambigüidade, inexatidão ou mesmo mistificação, pro-cura delimitar conceitos, questionar afirmações gené-ricas e especialmente exigir uma precisão efetiva nodiscurso poético. O poema transforma-se numa pro-posta de poética em que a carga semântica de cadapalavra seja reveladora de significados e valores queobjetivamente esclareçam nossa consciência humana.
A leitura microscópica efetuada pelo poeta contri-bui para enfatizar sua própria visão da obra de artepoética, ou seja, uma poesia voltada para a clarifica-ção dos valores humanos, por meio da sobriedade dalinguagem, bem como da importância da participação,da solidariedade e da ética. Sem negar, todavia, a im-portância da transfiguração e da vivência poética.7
Considerações FinaisA poesia seniana, sobrecarregada de valores de
seu tempo, não se prendeu a um único modelo, ou aum único ritmo. Na realidade, colhendo todos os re-sultados do modernino, mostrou-se ávida pela irre-gularidade — quer métrica, quer rítmica — e pelonão-lógico. Além de tudo, a opção deliberada e, àsvezes, perigosa pelo discursivismo. O discursometapoético seniano, aqui referido, por sua vez, podeservir como confirmação desta poética voltada paraos problemas fundamentais do homem, bem comopara as implicações estéticas dela decorrentes.
Chama a atenção, neste sentido, o procedimentode composição usado pelo autor de Arte de Música,que se caracteriza pela problematização do discursolírico convencional, por meio da presença de um dis-curso muito mais reflexivo do que poético.
Uma das proposições senianas, a poética do teste-munho, por exemplo, dar-lhe-á os instrumentos para aprática de uma poesia que, apesar da presença de umeu lírico exacerbadamente egocêntrico, ou seja, queeleva à máxima potência sua problematização subjeti-va pela sua projeção no mundo exterior, deverá sercaracterizada por um discurso notadamente reflexivo,aproximando-se de um conceito de poesia, cuja buscade conhecimento é um fator preponderante.
Para melhor compreender a poesia do autor de Me-tamorfoses, não podemos desconsiderar que a ativida-de do poeta ainda pode ser definida como a voz de umdescontentamento, de uma insatisfação com relação aosvalores de determinado tempo e aos próprios contem-porâneos. Entre inúmeras possibilidades de juízo, é pos-sível compreender que a poesia permite a um sujeito aoportunidade de buscar formas de representar o seusentimento, ou o seu pensamento, e se caracteriza comouma forma artística em que melhor se manifesta a vozdo que se convencionou chamar de “eu lírico”.
A poética seniana é um exemplo de representação deum “eu lírico” particular que, de acordo com uma deter-minada concepção de arte literária, elevou a contestaçãoformal e conceitual, talvez o valor mais caro do moder-nismo, a um ponto extremamente complexo. Jorge deSena percebe, como poucos, a oportunidade de criar ori-ginais propostas formais de arte poética e simultanea-mente registrar o seu descontentamento ou o seu júbilodiante do mundo que lhe foi dado viver. Ou seja, transfor-mar sua visão ou concepção de mundo em movimento eforma verbal. Uma relação de tensão, enfim.
Sabemos como Mário de Sá-Carneiro, autor de AConfissão de Lúcio, fez da própria vida o grande mo-tivo de sua obra, mas precisamos ressaltar a peculiari-dade com que Jorge de Sena fez de sua vivência, de seucotidiano (de cidadão e de poeta) um motivo fundamen-tal para sua criação. Enquanto poeta, chamam a aten-ção dos leitores ou estudiosos da obra seniana a formae a intensidade com que vários elementos, dados, pas-sagens, situações singulares ou cotidianas, personagenshistóricos cruzam-se no interior de sua obra. Além deum procedimento especial, a auto-referencialidade.
6 Vale transcrever a afirmação de Sena em um de seus prefácios: “(...) uma das maiores dificuldades em que se debate a poesia portuguesacontemporânea é a abstracção, o inconcreto, a impossibilidade mental de escrever referencialmente, seja em relação ao que for.” In:SENA, Jorge de. Poesia III, p. 113.
7 “(...) um dos principais objetivos da leitura microscópica (close reading) preconizada pelo New Criticism consiste em ajustar as técnicaspoéticas graças às quais o locutor aparece subitamente sob uma luz dramática. Se a significação de um poema reside nos complexos depontos de vista, torna-se muito importante descobrir quais as tonalidades particulares que definem esses pontos de vista. A tonalidade,por sua vez, deriva da exploração, por parte do poeta, da polivalência das palavras e das associações às quais se prestam, bem como daposição do locutor em relação a cada um dos diferentes níveis de significação.” KOHEN, Keith. O New criticism nos Estados Unidos.In: COSTA LIMA, Luiz. Teoria da literatura em suas fontes. 2.ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1983. p. 17
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 78-88, jan./jun., 1998.

87
Neste sentido, a peculiaridade da poética senianaaqui abordada ganha um certo relevo porque reco-nhecidamente seu autor demonstrou como poucosuma profunda consciência da linguagem, da impor-tância que a criação literária poderia representar en-quanto consciência da linguagem. Quando o autor deFidelidade se reporta a sua compreensão da poesiacomo uma disponibilidade vigilante, um testemunhoda vida e do mundo, ressalta que “é antes de mais
linguagem”. O que nos faz aproximar de uma afir-mação de Pfeifer, ao se referir à autenticidade daobra de arte literária:
A autenticidade é um pressuposto, puramente humano e ético-espiritual, da criação poética; o tom e o gesto autênticos ouinautênticos só se descobrem se o conteúdo exprimido estiverapoiado num estado de ânimo ‘verdadeiro’8
Referências BibliográficasAGUIAR E SILVA, Vítor Manuel de. Teoria da Literatura. 8. ed. Coimbra: Almedina, 1993.BORDINI, Maria da Glória. Fenomenologia e Teoria Literária. São Paulo: Edusp, 1990.BORGES, Jorge Luis. Sete Noites. Trad. João Silvério Trevisan. São Paulo: Max Limonad, 1985. Original espanhol.BÜRGER, Peter. Teoria da Vanguarda. Trad. Ernesto Sampaio. Lisboa: Vega, 1993. Original alemão.CALVINO, Ítalo. Seis propostas para o próximo milênio Trad. de Ivo Barroso. São Paulo: Cia das Letras, 1990. Original italiano.COELHO, Eduardo Prado. Os universos da crítica. Lisboa: Edições 70, 1987.COHEN, Jean. Estrutura da Linguagem poética . T rad. Álvaro Lorencini e Anne Arnichand. São Paulo: Cultrix, 1978. Original
francês.DOLEZEL, Lubomír. A poética ocidental: tradição e inovação. Trad. Vivina de Campos Figueiredo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
1990. Original inglês.DUFRENNE, Mikel. O poético. Trad. Luiz Arthur Nunes e Reasylvia Kroeff de Souza. Porto Alegre: Globo, 1969. Original francês.DUFRENNE, Mikel. Estética e Filosofia. 2. ed. Trad. Roberto Figurelli e Mary Amazonas de Barros. São Paulo: Perspectiva, 1981. Original
francês.EAGLETON, Terry. A função da crítica. Trad. Jefferson Luiz Carneiro. São Paulo: Martins Fontes, 1991. Original inglês.ELIOT, T.S. De poesia e poetas. Trad. e prólogo: Ivan Junqueira. São Paulo: Brasiliense, 1991. Original inglês.ELIOT. T.S. Ensaios. Trad., introd. e notas de Ivan Junqueira. São Paulo: Ars Editora, 1989. Original inglês.FRIEDRICH, Hugo. Estrutura da lírica moderna. Trad. Marisa M. Curione e Dora Ferreira da Silva.. São Paulo: Duas Cidades, 1978. Original
alemão.GUIMARÃES, Fernando. A poesia contemporânea portuguesa e o fim da modernidade. Lisboa: Caminho, 1989.GUIMARÃES, Fernando. Os problemas da modernidade. Lisboa: Presença, 1994.JAUSS, Hans Robert et al. A literatura e o leitor. Trad. Luiz Costa Lima. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. Original alemão.KOHEN, Keith. O New criticism nos Estados Unidos. In: COSTA LIMA, Luiz. Teoria da literatura em suas fontes. 2.ed. Rio de Janeiro:
Francisco Alves, 1983. p. 3-35.KERMODE, Frank. Um apetite pela poesia. Trad. Sebastião Uchoa Leite. São Paulo: Edusp, 1993. Original inglês.LIMA, Luiz Costa. (org.) Teoria da Literatura em suas fontes. 2. ed., Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1983, v. 1 e 2.LISBOA, Eugénio. Poesia portuguesa: do “Orpheu” ao neo-realismo.2. ed., Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1986.LOTMAN, Iuri. A estrutura do texto artístico. Trad. Maria do Carmo Vieira Raposo e Alberto Raposo. Lisboa: Estampa, 1978. Versão francesa
de Henri Meschonnic. Original russo.MARINHO, Maria de Fátima. A poesia portuguesa nos meados do século XX: rupturas e continuidades. Lisboa: Caminho, 1989.MONTEIRO, Adolfo Casais. A poesia portuguesa contemporânea. Lisboa: Sá da Costa, 1977.MONTEIRO, Adolfo Casais. Clareza e Mistério da Crítica. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961.MOURÃO-FERREIRA, David. Vinte poetas contemporâneos. 2. ed., Lisboa: Ática, 1980.MURRY, J. Middleton. El estilo literario. Trad. Jorge Hernández Campos. México: Fondo de Cultura Económica, 1951. Original
inglês.PAZ, Octavio. Los signos en rotación y otros ensayos. Madrid: Alianza Tres, 1986.PAZ, Octavio. O Arco e a lira Trad. Olga Savary. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982. Original espanhol.PFEIFER, Johannes. La Poesía: Hacia la compreensión de lo poético. Trad. Margit Frenk Alatorre. 3. ed., México: Fondo de Cultura
Económica, 1959. Original alemão.PFEIFER, Johannes. Introdução à poesia. Trad. Manuel Villaverde Cabral. Lisboa: Europa-América. S/d. p. 49SARTRE, Jean Paul. As palavras. 5. ed., Trad. J. Guinsburg. São Paulo-Rio de Janeiro: DIFEL, 1978. Original francês.SPINA, Segismundo. Introdução à poética clássica. 2. ed., São Paulo: Martins Fontes, 1995.
8 PFEIFER, Johannes. Introdução à poesia. Trad. Manuel Villaverde Cabral. Lisboa: Europa-América. S/d. p. 49
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 78-88, jan./jun., 1998.

88
SENA, Jorge de. Poesias. I, II, III. Lisboa: Morais, 1983.STAIGER, Emil. Conceitos Fundamentais da poética. Trad. Celeste Alda Galeão. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975. Original
alemão.TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda européia e modernismo brasileiro. 7. ed., Petrópolis: Vozes, 1983.TODOROV, Poética. Trad. de Carlos da Veiga Ferreira. Lisboa: Teorema, 1986. Original francês.TODOROV, Tzvetan et at. O discurso da poesia Trad. Carlos Reis e Leocádia Reis. Poétique, 28, Coimbra: Almedina, 1982. Original
francês.TODOROV, Tzvetan. Poética da prosa. Trad. Maria de Santa Cruz. Lisboa: Edições 70, 1979. Original francês.VALERY, Paul. Variedades. Trad. Maiza Martins de Siqueira. São Paulo: Iluminuras, 1991. Original francêsWILLIAMS, Frederick. Tudo o quanto é humano me interessa. In: J L, Lisboa, 14-2 de maio de 1985, p. 18.YLLERA, Alicia. Estilística, poética e semiótica literária. Trad. Evelina Verdelho. Coimbra: Almedina, 1979. Original espanhol.
Papéis - Rev. Letras UFMS, Campo Grande, MS, 2(3): 78-88, jan./jun., 1998.


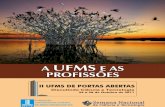
![[Apostila] Tratamento de Efluentes Líquidos - UFMS](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/577ce52b1a28abf1038ffc04/apostila-tratamento-de-efluentes-liquidos-ufms.jpg)