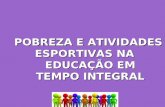pobreza
-
Upload
isabel-medeiros -
Category
Documents
-
view
273 -
download
0
Transcript of pobreza

O livro de Luís Capucha – Desafios da Pobreza – é o resultado de
longos anos de trabalho e investigação sobre o tema da pobreza e
exclusão social e que resultou na tese de doutoramento do autor.
Neste livro, encontramos um estudo pormenorizado sobre as
questões da Pobreza e da Exclusão Social, em Portugal, com extensos
registos de dados empíricos, uma vasta e rica análise documental e
um conjunto muito interessante de indicadores estatísticos que
tentam apoiar a seguinte hipótese de trabalho:
É possível pensar uma sociedade sem pobreza não enquanto utopia, mas enquanto projecto, antes do mais político, e esse objectivo será tanto melhor sustentado quanto mais as políticas nacionais, respeitando as nossas especificidades, se orientarem para modelos mais avançados e coesos.
(Capucha, 2005: 12)
O autor começa por situar a problemática da pobreza e da exclusão
social no quadro histórico da emergência das sociedades modernas
europeias. Segundo Capucha, é a partir da modernidade que se
começa a pensar estas questões sociais fora do domínio dos saberes
da religião e da filosofia. Paralelamente, e como consequência do
capitalismo moderno, o agravamento da situação de pobreza das
massas proletarizadas e a inadaptação de alguns grupos às
estruturas sociais modernas – as designadas “classes perigosas” –
constituem fenómenos que contribuem para o despertar da “questão
social” da modernidade.
Com efeito, o sistema capitalista torna frágil a coerência entre os
ideais da modernidade. A dificuldade em se fazer coexistir liberdade e
igualdade é colocada com maior evidência num quadro de
persistentes e progressivas desigualdades económicas e sociais.
Esta contradição, mas sobretudo a consciência dela, impulsionam a
reivindicação do alargamento dos direitos dos cidadãos. Por um lado,
reclama-se a extensão dos direitos do plano económico e político para
o plano social, fazendo-se o apelo a uma terceira geração de direitos
que deveriam acrescer aos direitos civis e, por outro, a própria
1

promessa de igualdade trazida pela modernidade força a emergência
do estado providência. Tratava-se, antes de mais, de encontrar uma
forma institucionalizada de proceder ao reequilíbrio das esferas
económica e social. Para tal, era necessário transferir parte do
produto social criado, e anteriormente apropriado pela burguesia,
para o estado. Ao estado, cabia agora administrar essa parte e aplicá-
la em políticas de bem-estar colectivo.
Esta é a linha de argumento geral – embora apresentada por Capucha
de uma forma mais extensiva e muito bem fundamentada – que
permite introduzir a ideia de modelo social europeu. Para Luís
Capucha, trata-se de um modelo, surgido na Europa, e que se irá
assumir, mais tarde, a partir da prioridade dada ao objectivo de
erradicação da pobreza, como uma marca identitária da Europa.
Para caracterizar o modelo social europeu, são acentuados alguns
traços políticos e económicos fundamentais: a legitimidade política
assente no estado de direito e na democracia parlamentar; e a
coexistência harmoniosa entre pleno emprego e o objectivo de maior
equidade na distribuição dos recursos, a partir da conciliação entre o
subsistema económico e o subsistema social que assegura o bem –
estar da população. Como o autor esclarece:
Esta coexistência é sustentada por um pacto social aceite pelos representantes dos principais interesses económicos e sociais que concilia o mercado capitalista e as políticas sociais que asseguram simultaneamente eficiência económica e a diminuição das desigualdades sociais, através de esquemas relativamente generosos, de protecção social, da prestação de cuidados de saúde de qualidade e de níveis elevados de educação e formação, garantidos por sistemas públicos e universais.
(Capucha, 2005:20)
Considera-se, no entanto, que é precisamente na efectivação desta
coexistência que residem os maiores problemas que as sociedades
europeias enfrentam. Sem ceder a argumentos fatalistas que
recusam a possibilidade desta coexistência, ou, na linha de Capucha,
2

recusando reservar-lhe um espaço nas utopias, entende-se, na
realidade, que aquilo que se pressupõe coexistir, foi e é considerado,
com muita frequência, como uma contradição. O pacto social, mas
também a emergência do sentido de contradição desse pacto social
na Europa, devem ser compreendidos, com mostra o autor, a partir
de uma abordagem historicamente situada.
Capucha começa por referir, nessa abordagem, o período “glorioso” –
desde a Guerra Mundial II até à crise do petróleo de 1973 – deste
modelo. Na Europa Ocidental e do Norte, o estado assume, de facto,
um papel social de relevo. O pacto social assegurou simultaneamente
a regulação das relações de trabalho e a economia. Por um lado, a
aceitação, por parte dos trabalhadores, das condições e organização
de trabalho próprias do modelo fordista foi facilitada pelo aumento de
consumo que o próprio modelo, dado o aumento de produtividade,
permitia; tornou-se igualmente possível fazer a transferência de
recursos para o estado providência que, por sua vez, vai investir nas
políticas sociais e em outros sectores essenciais como comunicações,
infra-estruturas básicas e investigação científica e tecnológica. A
educação, apoio à formação saúde e a protecção social foram
também assegurados (Capucha, 2005:21).
Tornaram-se evidentes as consequências sociais deste modelo:
ganhos de produtividade; crescimento económico; oferta de emprego
estável, mais bem remunerado e de melhor qualidade; expansão do
consumo, a satisfação das necessidades de sectores cada vez mais
vastos da população, entre outros. Estes foram também os
indicadores que sustentaram as expectativas, crescentes por essa
altura, de ser possível erradicar a pobreza na Europa.
Aquando a crise do petróleo, em 1973, o modelo entra em crise
também. Quer dizer, para além da clara percepção da finitude dos
recursos naturais, a Europa conhece também o desemprego e a
3

incerteza de se poder continuar a financiar as políticas de protecção
social e de saúde. Afinal, o modelo social apresentava sérias
dificuldades em coexistir com as limitações provenientes da
economia.
Um conjunto de transformações globais vai tornar mais visíveis as
limitações do modelo. São transformações do próprio modelo
económico associadas à competição dos mercados internacionais e à
forte concentração do investimento directo estrangeiro na Ásia,
sobretudo na China, e em alguns países da América do Norte e do
Sul, Norte de África e centro da Europa, onde emergem mercados de
mão de obra barata e fácil de explorar Simultaneamente, dá-se a
deslocalização – no mesmo sentido geográfico – das unidades
produtivas que estavam antes em países com economias mais
desenvolvidas (Capucha, 2005:23).
O contexto de globalização torna-se, assim, altamente favorável à
propaganda neoliberal e à apologia do livre funcionamento dos
mercados e do desenvolvimento de economias mais competitivas.
A recessão de 1992/93 vem mostrar a fragilidade dos países europeus
em termos de crescimento económico, sobretudo, quando analisados
em termos comparativos com os EUA. As medidas tomadas na União
europeia -redução dos défices públicos, a descida da inflação e no
sentido de obter estabilidade cambial – na sequência do caminho
para a moeda única, trazem consequências negativas em termos
sociais, nomeadamente no que respeita ao emprego.
As empresas, por sua vez, influenciam os Estados no sentido da
flexibilização das relações laborais, reclamando melhores condições
para a mobilidade de capitais. De acordo com Capucha, os governos
responderam de duas formas: ou revelaram incapacidade para
regular o poder económico; ou assumiram claramente uma política de
desinvestimento nas políticas sociais (Capucha, 2005: 24).
4

Colocam-se outros problemas sociais, alguns novos outros mais
profundos, aos estados-providência europeus. São fenómenos que
acrescem ao risco e de pobreza: envelhecimento e aceleração dos
rácios de dependência; níveis de emprego relativamente baixos e
mudanças nos padrões de organização familiar; erosão das formas
tradicionais de prestação de cuidados sociais e integração dos grupos
primários; a segregação das esferas de realização pessoal e a
individualização das relações sociais; a constituição de novos
territórios suburbanos degradados e crescentes fluxos migratórios.
Tudo isto acontece ao mesmo tempo que a população exige melhores
serviços ao Estado (Capucha, 2005:25).
Pode dizer-se, em síntese, que as sociedades europeias sentem um
conjunto de problemas sociais, económicos, políticos, demográficos e
culturais que colocam em causa a governabilidade da Europa. Estes
fenómenos tornam mais frágeis as condições de vida dos cidadãos e
da sua participação social.
Desde a segunda metade da década de 70 e, em particular na crise
de 90, a consciência da pobreza na Europa é mais aguda. Tanto mais
quanto o problema do desemprego passa a atingir categorias
profissionais que se consideravam estáveis. Mais ainda, acentua-se a
distância entre valores e esperanças partilhadas pelas pessoas e as
condições reais em que viviam. Fazendo-se, muitas vezes, crer que a
resolução de algumas destas questões encontrava-se condicionada
pelas impossibilidades de adaptação à nova economia, tende-se a
ignorar, ou desvalorizar os factores endógenos às próprias sociedades
europeias que podem ser, mas não são, objecto de mudanças
políticas.
A este propósito, Capucha anuncia o paradoxo. As suas palavras são
bem expressivas:
Apesar da capacidade produtiva e de bens e serviços disponível na Europa ser suficiente, talvez pela primeira
5

vez na história, para satisfazer as necessidades de todas as pessoas, continuam a existir segmentos significativos da população que encontram sérias dificuldades ou estão mesmo impossibilitados de aceder aos recursos para uma vida digna.
(Capucha, 2005:28)
Tentando desconstruir o discurso da fatalidade da economia global,
Capucha acredita que as relações entre a Economia e as questões
sociais são bem mais complexas: se é certo que existem
transformações profundas que afectaram particularmente a Europa,
colocando-a numa posição, aparentemente, desvantajosa
relativamente aos EUA - menor desenvolvimento das TIC, menor
acesso à Internet, menor acesso a capitais de risco, menor dinamismo
empresarial, insuficiência de quadros qualificados etc. - importa não
desviar o debate da questão central que é a de saber como
assegurar a qualidade de vida e o financiamento das políticas sociais
aos cidadãos. Para tal, é necessário, para o autor, atentar naquela
outra vertente da globalização, a que pode organizar as
possibilidades/oportunidades de afirmação dos ideais humanistas e,
dentro destes, a solidariedade entre todos.
Denunciados os princípios neoliberais, o autor mostra que “as causas
têm de ser encontradas no seio dos próprios sistemas económicos
dos países desenvolvidos, nomeadamente nas mudanças de
organização de trabalho que a nova economia implica” (Capucha,
2005:33). Conclui, deste modo, que as escolhas são políticas e que o
aqui está em causa não é simplesmente uma questão de gestão
económica.
Este é um argumento, mas também uma posição, recorrente do
autor, e que ele retoma em vários pontos da sua análise,
designadamente quando estuda o caso português e os factores que
intervêm nos contornos e consequências persistentes do
6

desenvolvimento histórico e económico do país. As baixas
qualificações dos empregados, os insuficientes níveis de
escolarização, a escassa formação, entre outros, são também
assumidos como resultados de opções políticas e empresariais ou
económicas que afectaram o país de um modo estrutural.
Neste ponto, o autor aproxima-se da posição teórica de vários
autores, entre os quais destaca-se Guiddens (2007) quando adverte
para o cuidado que se deve ter ao se responsabilizar a globalização
pelas desigualdades sociais. Entre os efeitos do comércio
internacional e a qualificação dos trabalhadores, designadamente a
sua formação nas áreas das tecnologias de informação e
comunicação, Guiddens acredita que o último factor é mais efectivo
uma vez que considera estes trabalhadores “mais vendáveis e
capazes de assegurar maiores vencimentos” (Giddens, 2007: 319).
Não sendo possível apresentar aqui o debate sobre os efeitos e
possibilidades da globalização, parece útil registar que o não
conformismo com as consequências supostamente inevitáveis dos
processos sociais globais traz uma maior força, nestes casos, às
posições que se articulam para reivindicar ao estado uma maior
atenção social.
Mantendo esta posição, o autor vai rever e, em certa medida, avaliar
as escolhas políticas europeias em debate. Destaca, assim, três
grandes opções:
- a persistência do modelo assistencialista /fordista implicando a
separação entre políticas para a competitividade e crescimento
económico e as políticas sociais. Um modelo que, de acordo com o
autor, não é já não é passível de ser reapropriado;
- a opção neoliberal advogando a redução das despesas públicas e
resolução do problema da pobreza de forma “natural” através do
mercado. Como já se viu, é um modelo promotor de maiores
desigualdades;
7

- o modelo com base na noção de “qualidade social” sustentado na
ideia de políticas sociais activas que incluem, entre outras medidas, o
investimento nos recursos humanos, a promoção do emprego, a
aprendizagem ao longo da vida e a participação plena nos processos
de combate à pobreza e exclusão social.
Esta última estratégia de renovação do modelo é apoiada com
instrumentos como o Método aberto para a Coordenação e a
Estratégia Europeia da EU que integram intervenções de tipo
preventivo, de reparação e mobilização e que o autor vai explicar de
um modo mais detalhado.
No segundo capítulo, o autor avança com um debate conceptual
sobre definições de pobreza e exclusão social, apresentando duas
tradições teóricas principais.
– a perspectiva culturalista – assente na ideia de “cultura da
pobreza”- é sustentada por investigações de tipo diverso, mais
associadas às perspectivas qualitativas e estudos intensivos. De um
modo muito genérico, trata-se de uma perspectiva que privilegia nas
suas análises questões como a desertificação das áreas rurais; os
estilos de vida nos espaços urbanos, trajectórias de vida dos grupos
de grupos particulares como os sem abrigo, minorias etc.
- a perspectiva socio-económica – onde se integram os debates sobre
pobreza absoluta e relativa e a pobreza subjectiva. O autor
reconhece que esta é uma perspectiva mais susceptível de apoiar a
análise dos grupos que mais necessitam da intervenção das políticas
sociais activas.
Manifestando-se aqui uma grande maturação do debate em torno
destas duas perspectivas, o que aliás tem a ver com o percurso
académico do autor, surgem duas questões neste capítulo que se
pretende indicar de um modo breve. A primeira relaciona-se com a
crítica aos indicadores de avaliação da pobreza. O autor apresenta
8

um conjunto de trabalhos científicos que revelam o esforço da
definição mais precisa dos indicadores da pobreza, revelando porém
uma certa preocupação por considerar este processo inacabado.
A segunda questão tem a ver com o empreendimento que o autor
realiza para a superação de questões teóricas que surgem como
aparentemente dicotómicas. Será então crucial, para a compreensão
dos restantes capítulos da obra, assinalar a abordagem adoptada por
Capucha.
O autor defende uma abordagem multidimensional da pobreza. Ao
fazê-lo procede a uma revisão crítica do conceito de exclusão social,
opondo-se à demarcação conceptual em relação à noção da pobreza,
presente em algumas análises. A sua posição entende-se melhor, se
atendermos ao conjunto de dimensões que o autor implica para a
análise das questões da pobreza e da exclusão social. São elas:
factores de distribuição dos recursos, acesso às respostas sociais e à
participação social, assim como questões relacionadas com as
percepções culturais, simbólicas e modos de vida de grupos
vulneráveis. Embora o debate em torno dos conceitos fundamentais
para a prossecução da pesquisa seja feito aqui com algum pormenor,
nos capítulos que se seguem, o autor tem o cuidado constante de
definir os termos da discussão, esclarecendo os principais significados
adoptados para cada um deles.
No terceiro capítulo, Capucha faz uma descrição exaustiva dos
factores associados à pobreza e à exclusão social. Este é um
procedimento considerado necessário para a análise das dinâmicas
processuais da pobreza, da sua morfologia e, ainda, para a
caracterização das trajectórias e categorias sociais mais vulneráveis à
pobreza.
A organização destes factores implica um complexo trabalho de
análise interpretativa que constitui, quanto a nós, um dos pontos
altos da sua obra. Num dos eixos de análise o autor pondera o peso
9

dos processos a nível societal – que em última análise determinam as
oportunidades de participação dos agentes; enquanto no pólo
simétrico se colocam em jogo as práticas e os quadros de interacção
que se associam à capacidade do sujeito para articular as
oportunidades.
Num outro eixo de análise são considerados os factores
objectivamente exteriores aos agentes e os factores subjectivos, no
sentido do habitus, proposto por Bourdieu, das representações e
disposições dos indivíduos e das comunidades. O debate sobre o
conceito de habitus de Bourdieu é longo mas inacabado. Para se
compreender a apropriação deste conceito, por parte de Capucha,
neste contexto, considera-se que as palavras de Bourdieu são por si
esclarecedoras:
Ser que se reduz a um ter, a um ter sido, ter feito ser, o habitus é o produto de um trabalho de inculcação e apropriação necessário para que estes produtos da história colectiva para que estes produtos da história colectiva que são estruturas objectivas (eg. da língua , da economia etc.) consigam reproduzir-se sob formas de disposições duradouras, em todos os organismos (a que podemos, se quiser, chamar indivíduos) duradouramente submetidos aos mesmos condicionamentos e portanto colocados nas mesmas condições de existência
(Bourdieu, 2002:182)
De acordo com este quadro interpretativo, o autor prossegue a
análise dos factores susceptíveis de explicar a pobreza e a exclusão
social em Portugal. Na operacionalização desta análise o autor faz
entrar uma noção central da sua abordagem teórica: modo de vida.
De acordo com Capucha, “os modos de vida de vida definem-se pela
interacção entre um conjunto de recursos e constrangimentos
estruturalmente desenhados, por um lado, e o sistema de actividades
reguladas e os modelos de vida adoptados pelos agentes, por outro
lado…” (Capucha, 2005:97).
10

As virtualidades heurísticas desta noção decorrem da possibilidade de
se cruzar os factores associados à pobreza e à exclusão social, e às
oportunidades que estes geram ou recusam, com as orientações
culturais e contextos vividos pelas pessoas.
Ao mesmo tempo, esta noção não cede a posições extremas que se
jogam no debate acção/estrutura permite, permitindo, como
consequência, a síntese teórica entre as perspectivas culturalistas e
as socio-económicas, perspectivas já discutidas no capítulo anterior.
A análise que o Capucha apresenta tem por referência um período
que vai, genericamente, de 1990 até 2000. Sabemos, entretanto,
como as dinâmicas económicas e sociais se alteraram desde então.
Mas tal como nos diz Costa (2008) a propósito de outra análise
posterior, sobre as questões da pobreza e da exclusão social em
Portugal, considera-se que: “a utilização de estudos como este para
apreciação de aspectos conjunturais da pobreza suscita sérias
dúvidas, sendo, por isso, importante tomá-lo sobretudo enquanto
esclarecedor de dimensões estruturais do problema” (Costa et al,
2008: 16). Pensa-se aliás que esta é uma das grandes virtualidades
da obra de Capucha. A sua leitura deixa-nos curiosos sobre os
resultados de uma eventual replicação da sua pesquisa, sem deixar
de se considerar o interesse dos dados que aqui nos apresenta. Neste
ponto, manifestam-se, uma vez mais, as vantagens analíticas da
noção de modo de vida. Ao se articular as estruturas com a
agenticidade dos sujeitos cultural e contextualmente situados,
promove-se um conjunto de novos conhecimentos que são valiosos
para a interpretação dos fenómenos sociais actuais.
Um primeiro conjunto de factores que o autor relaciona com a
pobreza e exclusão social diz respeito à questão da distribuição de
rendimentos. Segundo Capucha, assiste-se, no período em análise,
a uma progressão, embora lenta, nas condições de vida dos
portugueses. Alguns indicadores apontam essa tendência. O
11

cruzamento de dados decorrentes do Inquérito aos Orçamentos
Familiares de 2000 e os resultados do inquérito europeu aos
rendimentos e condições de vida das famílias apoiam algumas das
observações do autor. De um modo muito resumido, é possível
observar uma redução das despesas das famílias com produtos
alimentares e um aumento dessas despesas nas comunicações, lazer,
distracção e cultura, ao mesmo tempo que grande parte da despesa
continua estar associada a gastos com a habitação, água,
electricidade, gás e outros combustíveis. No entanto, e autor sublinha
bem essa questão, a variabilidade dos dados regista-se de acordo
com a idade, o nível de instrução, categoria socio-económica do
representante do agregado familiar. O painel dos agregados
familiares (PAF) mostra que apesar da pobreza relativa ter
decrescido, durante metade da década de 90, Portugal continua
numa posição de maior fragilidade na União Europeia, sobretudo no
que respeita à distribuição dos rendimentos monetários.
O autor dá ainda conta do conjunto de agregados mais vulneráveis à
pobreza, na sua maioria composta por duas pessoas em que um tem
mais de 65 anos e por famílias monoparentais e as de maiores
dimensões. Talvez seja interessante observar que um outro estudo
realizado sobre a pobreza, mas por referência ao intervalo de tempo
2000-2004 (Costa, 2008), acentua aquela tendência:
- Em 2004 os agregados constituídos por uma pessoa - na sua maioria
com 65 anos ou mais - são os mais vulneráveis à pobreza; os
agregados com 6 ou mais elementos, embora em menor número,
apresentam-se numa situação semelhante (Bruto da Costa, 2008:148-
149)
Um outro aspecto, referido por Capucha, e para nós de crucial para a
compreensão da pobreza em Portugal, relaciona-se com a situação
profissional dos pobres em Portugal: a pobreza atinge 10% dos
assalariados e 30% dos trabalhadores por conta própria. Esta é uma
questão complexa pois, ao contrário do que muitas vezes se pensa,
“uma boa parte dos pobres em Portugal trabalha, trabalhou ou
12

pertence a famílias com activos empregados” (Capucha, 2005:117).
Este é um tópico discutido também por Guiddens (2007) que observa
um fenómeno idêntico para a realidade inglesa quando comenta “é
possível que o desemprego seja o factor com maior influência na
pobreza (…), no entanto “ um rendimento fixo não é suficiente para
garantir uma vida livre da pobreza” (Guiddens, 2007:317).
Seja como for, os grupos mais vulneráveis à pobreza são, segundo
Capucha, os reformados, domésticos, incapacitados para o trabalho,
trabalhadores agrícolas e desempregados. Mais importante ainda é
reforçar que os níveis de baixos rendimentos estão associados a um
baixo nível de instrução. Esta relação entre baixa escolarização e
pobreza não é nova em Portugal. Mesmo assim, esta situação tende a
persistir e acentuar-se. Esta ideia é reforçada por Costa (2008)
quando refere que o baixo nível de escolaridade continua a ser uma
característica estrutural da sociedade portuguesa. Se remetermos
esta questão para as sociedades actuais, cada vez mais exigentes em
termos de competências várias, podemos notar a urgência desta
questão.
Um segundo conjunto de factores, com uma influência decisiva nos
níveis de pobreza em Portugal, está relacionado com a história do
desenvolvimento do país e com a estrutura do tecido produtivo
português. Neste domínio, o autor considera existir uma relação,
embora não linear, entre pobreza e o desenvolvimento do país. São
observadas, por exemplo, as diferenças de desenvolvimento entre as
diferentes regiões da Europa e a sua relação com a pobreza. Em
Portugal, diz o autor, estas questões estão intimamente associadas
ao seu “subdesenvolvimento histórico e com falhas de protecção
social e de outros sistemas políticos” (Capucha, 2005:17).
Como se disse acima, uma parte considerável dos trabalhadores em
Portugal é vulnerável à pobreza. São, em geral, trabalhadores em
13

empresas pouco produtivas onde também predominam as baixas
qualificações, baixos salários, condições precárias de trabalho e
empregos instáveis. Este aspecto está, segundo Capucha,
intimamente relacionado com a história de desenvolvimento
económico do país.
Por um lado, a abertura dos mercados ao comércio internacional, à
competição e aos apoios para a modernização provocaram duas
reacções distintas por parte do tecido empresarial. Enquanto um
pequeno número de empresas inovou, outro grupo, muito mais vasto,
manteve-se pouco competitivo e tradicionalista. Por outro lado,
persiste um sector, ainda considerável, de economia informal que
afecta parte do mercado, inclusive o mercado de emprego.
Como consequência, a maioria dos sectores de actividade económica
continua pouco moderna, pouco produtiva, apostando no controlo dos
custos de trabalho, muitas vezes em detrimento da qualidade do
mesmo, e manifestando pouca predisposição para a inovação.
Mais uma vez, estamos perante um conjunto de problemas
estruturais que sobrepondo-se a outros – por exemplo, a pequena e
média dimensão das empresas portuguesas – concorre para manter o
que Capucha designa por tradicionalismo do tecido produtivo
português. Se acrescentarmos a este aspecto, a fraca ou inexistente
responsabilidade social das empresas, a gestão empresarial
resistente à modernização, à inovação e cooperação e, em certos
casos, também às próprias contribuições sociais obrigatórias, é
composto o quadro que mostra, a médio ou a longo prazo, a
fragilização económica da sociedade e a consequente fragilização
social.
Um terceiro factor, apontado por Capucha, relaciona-se com aquilo
que se acabou de expor e tem a ver com as características de
emprego, desemprego e qualificações da população. Já se
14

referiu os principais contornos do mercado de trabalho em Portugal.
Mesmo assim, vale a pena lembrar com Capucha (2005: 125-26) que
o trabalho é um dos elementos estruturadores das identidades dos
indivíduos, pois não permite apenas aceder aos rendimentos, o que
só por si é determinante das condições materiais de existência, mas
também interfere, de modo decisivo, nas relações que os indivíduos
mantêm entre si, com as instituições, com os serviços que apoiam os
seus direitos, e em última análise com os seus sonhos e expectativas.
Não se pode ficar indiferente à baixa qualificação de uma taxa
elevada de profissionais, na sociedade portuguesa e ao elevado
número de trabalhadores analfabetos, ou com baixas qualificações
escolares, a maioria mais velhos, mas também alguns mais novos,
que permanecerão durante algum tempo no mercado de trabalho.
Se é verdade que, durante o período em análise, o mercado de
emprego português manteve-se genericamente positivo, um factor
favorável à redução da incidência da pobreza, não é menos certo que
as características deste emprego, que os níveis de escolarização e
qualificação dos empregados mantêm-se como uma ameaça às
condições de vida da população.
Mesmo com o aumentando o número de jovens com qualificações
elevadas, que o nosso mercado de trabalho tem absorvido com
alguma facilidade, é com maior facilidade ainda que ele absorve os
que abandonaram precocemente a escola ou os que não possuem
uma qualificação.
Persiste o problema grave do desemprego de longa duração mais
pelo problema em si do que pelo número de pessoas que ele afecta.
Em maior ou menor número, os desempregados de longa duração são
particularmente sensíveis a tensões estigmatizantes devido, inclusive,
às particularidades do mercado de emprego referidas anteriormente.
15

Estas situações são tanto mais graves quanto dão origem a situações
de ruptura, sobretudo, quando afectam comunidades mais pobres,
sem relação estável com o trabalho, ou que só experimentaram essa
relação em sectores informais da economia. Geralmente, estão
associados a estes sectores outros problemas relativos à educação,
ao acesso a bens fundamentais, a pertença a comunidades que são
designadas como problemáticas e dependências que são, em última
análise, o resultado de uma prolongada exclusão social e profissional.
Um outro factor de pobreza tem a ver com o desenvolvimento e
dinâmicas das políticas de protecção social. Com efeito, a maior
ou menor eficácia dos sistemas de protecção social condiciona a
capacidade das sociedades modernas em colmatar as assimetrias na
distribuição dos rendimentos primários e, nessa medida, também a
pobreza. O argumento de Capucha é forte: “os países com menores
taxas de pobreza tendem a ser os países com maior investimento em
benefícios sociais. Há uma correlação positiva entre aquilo que o
estado gasta em despesa social, incluindo pensões, e o número de
pessoas a viver abaixo dos limiares de pobreza” (2005: 134).
Dada a centralidade desta questão na obra do autor, justifica-se a
exposição detalhada que Luís Capucha faz do processo de
desenvolvimento histórico do sistema de protecção social em
Portugal. Destacamos, aqui, apenas dois tópicos por ajudarem à
compreensão de outras problemáticas actuais que o autor apresenta.
Um primeiro tema relaciona-se com o facto de ter sido apenas, depois
da revolução de Abril, que se criou um sistema de sistema universal e
obrigatório de protecção social. Uma das principais consequências
desta política, que se considera tardia, é que há hoje um número
considerável de beneficiários que, por terem um passado contributivo
temporalmente curto, se encontram a usufruir de parcos benefícios. A
esta circunstância associam-se as limitações da base contributiva de
grande parte dos beneficiários com baixos níveis salariais. Estes
factores ajudam a compreender o porquê de um dos grupos mais
16

vulneráveis à pobreza e exclusão social ser constituído pelos idosos
pensionistas.
Um segundo ponto, que se julga pertinente mencionar, relaciona-se
com os resultados dessa evolução do sistema e que permite ao autor
indicar, de um modo sintético, alguns dos progressos alcançados
observáveis nos anos 90:
A despesa total subiu e aumentou o peso no PIB, o número de beneficiários cresceu, o leque dos riscos e situações cobertas aumentou, os níveis de substituição aumentou, os níveis de substituição das prestações aumentaram, os requisitos de elegibilidade permitiram a um maior número de pessoas o acesso a benefícios em género e em dinheiro e em dinheiro e aos serviços de assistência.
(Capucha, 2005:147)
Os custos da pobreza e da exclusão social, ou da fuga às mesmas,
têm sido amplamente assegurados pelas famílias e muito
particularmente pelas mulheres. Estas desempenham, com muita
frequência, actividades de subsistência na unidade familiar com o
trabalho doméstico que acumulam às suas actividades profissionais.
Para além disso, são condicionadas a limitar a descendência e a
investir na promoção social, via a escolar, dos seus filhos. Este
esforço parece ser invisível, por um lado, para o Estado que não
assegura nem a organização dos serviços, nem na disponibilidade de
equipamentos – para crianças e/ou idosos – e para as empresas, por
outro, que se demitem das suas responsabilidades sociais e da
atenção que deverão prestar às famílias dos trabalhadores.
Um estudo que aborda, a partir de uma análise multidimensional, a
pobreza no feminino em Portugal conclui que as mulheres são, em
termos de pobreza persistente e transitória superior à proporção da
população total. Não obstante as dificuldades na pesquisa que o
estudo apresenta, esta análise vem chamar a atenção para a
17

necessidade de se focalizar estas questões, articulando-as com
populações mais vulneráveis aos fenómenos da pobreza e exclusão
social (Pereirinha, 2008:3).
Vale a pena notar que as representações, valores e saberes das
populações têm uma influência concreta na formação de imagens e
na desvalorização das populações que experienciam e vivem em
situações da pobreza e exclusão social. António Teixeira Fernandes
explora com muito interesse esta questão:
A segregação como situação de pobreza resulta de processos de afastamento de grupos e é consequência de uma conduta individual/colectiva intencional. A luta contra a pobreza passa, em consequência, como se mostrará mais adiante, pela superação da marginalidade e da segregação, pela vitória do individualismo e pela reconstituição de redes de solidariedade, numa palavra, pela recomposição do tecido social.
(Fernandes, 1991:10)
Na realidade, o preconceito e a marginalização têm um peso
considerável nos processos de pobreza que não é muitas vezes
avaliado. Convém lembrar que existe uma longa história, secular, em
relação às atitudes de “culpabilização dos pobres” pela sua condição.
Trata-se de uma ideologia que, segundo Guiddens (2007), adquire
uma nova força durante os anos 70 e 80, na sequência do enfoque
político é dado à actividade empresarial e à crença nos efeitos
compensatórios da ambição pessoal. Esta ambição teria levado
alguns indivíduos ao sucesso enquanto que outros, por nada fazerem
para mudar a sua situação, se tornam responsáveis pelas
circunstâncias mais precárias em que se encontram (Guiddens,
2007:318).
Não querendo simplificar o debate que estas questões encerram,
importa por agora não subestimar estas representações,
questionando em que medida elas se podem constituir em barreiras
18

concretas à construção de projectos de vida das pessoas e
populações olhadas e pensadas como desfavorecidas.
Há ainda que considerar um último aspecto que é frequentemente
esquecido: muitos dos comportamentos, atitudes e representações
destas pessoas resultam de processos de socialização em ambientes
predominantemente exclusionários. Daí a importância e a aposta que
devam ser feitas nos sistemas de ensino e formação (Capucha, 2005).
Um último factor, exposto por Capucho desperta especial interesse
para a reflexão. Diz respeito à relação entre pobreza e território. Na
sua análise, o autor recusa os dualismos os dualismos cidade /campo;
pobreza rural / pobreza urbana, optando antes por observar a
pobreza numa perspectiva transversal que privilegia as categorias
visibilidade/invisibilidade; contraste continuidade e dispersão
/concentração das categorias vulneráveis à pobreza. É com base
nestas relações que o autor refere um conjunto de dinâmicas
importantes.
Podemos observar a persistência de espaços de concentração de
grupos pobres nas áreas urbanas ou periurbanas. A este propósito, o
autor chama a atenção para o facto de o próprio território, pelas
relações sociais que ele condensa, ser um elemento condicionante
dos trajectos sociais das pessoas que nele habitam e, nesse sentido,
destaca, em relação aos bairros pobres das cidades, o seguinte: “
tendem a constituir-se círculos de pobreza instalada que funcionam
numa lógica auto-reprodutiva das condições de desfavorecimento”
(Capucha, 2005:161).
Um outro conjunto de dinâmicas diz respeito à acentuação da
clivagem entre regiões rurais e periféricas e o litoral. Nestes casos,
observa que a pobreza nas regiões rurais periféricas se manteve. São
regiões mais pobres, afirma o autor. Em algumas aldeias do interior
19

encontram-se regiões predominantemente habitadas por idosos
pensionistas (mas com baixas pensões) e agricultores subsistentes.
Estes são hoje visivelmente mais pobres, enquanto antes essa
pobreza era muitas vezes ocultada dada a vergonha. São ainda
territórios desprovidos de serviços sociais e económicos, marcados
pelo tradicionalismo das suas estruturas, uma agricultura em
decadência negando aos seus habitantes mais jovens as
oportunidades que correspondam às suas expectativas que já são
formadas a partir do contacto com o mundo urbano. Em geral, a
apatia política e a dificuldade de mobilização destas populações
reforçam os mecanismos de desigualdade inter-regional.
Finalmente, a dispersão da localização dos pobres no território acaba
por ajudar a encobrir a condição destes pobres. Alguns dos exemplos
mais expressivos são: idosos pensionistas que mantém a sua casa em
zonas comuns da cidade mas que vivem em situações de privação e
isolamento; trabalhadores da indústria e dos serviços com baixas
qualificações; sem-abrigo e crianças de rua em situação de ruptura
profunda com instituições correntes, e com fracas competências
relacionais e que ocupam muitas vezes os centros da cidade.
Após a discussão detalhada dos factores de pobreza e da forma como
eles afectam, de modo diversificado, as populações, o autor expõe a
ideia de categorias vulneráveis à pobreza. Estas são consideradas
com base na existência de atributos comuns a um conjunto de
pessoas cuja agregação tende a ser socialmente reconhecida,
observando-se nesses grupos uma maior probabilidade de viverem
situações de pobreza e exclusão social.
De novo, o esquema de análise do autor revela-se de grande utilidade
interpretativa. Capucha classifica estas categorias em quatro grandes
grupos situando-as em função de dois vectores fundamentais: por um
lado, tem-se em conta as capacidades possuídas e oportunidades que
se lhes oferecem; e, por outro, é considerado o peso das orientações
20

culturais e relacionais mais ou menos favoráveis à sua participação
social. Com base neste esquema de análise, Capucha considera os
seguintes grupos:
a) Grupos com um handicap específico: têm em comum o
facto de serem afectados por um handicap que impede ou
dificulta a sua participação social e profissional e de serem
também alvo de uma discriminação baseada em preconceitos
acerca das suas potencialidades e capacidades. Incluem-se aqui
as pessoas com deficiência, os imigrantes dadas as escassas
oportunidades de formação e de reorganização da vida pessoal
e familiar.
b) Grupos desqualificados que são constituídos por pessoas
com problemas de participação e inserção social devido aos
baixos níveis de instrução escolar e de qualificação profissional.
São grupos que, de um modo geral, sustentam expectativas de
encontrar uma melhor situação social. Este grupo inclui
desempregados de longa duração, trabalhadores com
qualificações baixas ou obsoletas, idosos e famílias
monoparentais. Este grupo sofre uma relativa desqualificação
dada a ausência de recursos – rendimentos, formação ou apoio
social - devido às suas próprias competências, e às suas
experiências sucessivas de exclusão ou fraca inclusão que
conduzem muitas vezes ao desalento
c) Nos círculos de pobreza instalada, Capucha sublinha os
efeitos dos contextos territoriais degradados onde estes grupos
residem e cujos recursos comunitários, redes relacionais e
estruturas de dominação na ocupação do espaço tendem a
erguer-se como “amarras” à situação de pobreza que as
pessoas vivem. Em termos subjectivos, a desorganização da
vida pessoal, a atitude de desencorajamento e resignação à sua
condição de pobres reforçam as condições de exclusão.
21

d) Grupos à margem que se caracterizam pela predomínio de
modos de vida inadaptados às normas socialmente dominantes.
Incluem-se nestas categorias os toxicodependentes e ex-
toxicodependentes, os detidos e ex-reclusos, sem-abrigo e
menores em situações de risco.
Tendo em conta a noção de modo de vida, discutida teoricamente no
segundo capítulo da sua obra, Luís Capucha explica a
operacionalização desta dimensão tomando como referência a
realidade portuguesa e as vivências de pobreza e exclusão social que
nela se manifestam. Não obstante a pouca evidência empírica, ou
pelo menos a ausência de referência à informação sistematicamente
recolhida pelo autor para a construção desta tipologia, é quanto a nós
a parte mais interessante desta obra. Por dois motivos: primeiro,
porque é possível reconhecer, ou partir de leituras efectuadas ou pela
experiência comum, os “retratos de vida” que aqui se expressam.
Depois, porque num texto, rigorosamente apoiado em indicadores
estatísticos, a observação das práticas e vivências sociais e culturais
é lida com uma curiosidade acrescida e entendida como a dimensão
compreensiva fundamental para a análise das questões da pobreza e
da exclusão social.
Para a exploração dos modos de vida, o autor faz intervir um conjunto
de aspectos, a saber: o sistema de recursos e constrangimentos
estruturais; o sistema de actividades reguladas e os modelos de vida
adoptados mais ou menos conscientes pelos agentes. Segundo o
autor, são observadas as seguintes dimensões: social - onde são
ponderadas a pertença de classe e a relação com redes sociais e
estruturas familiares; a dimensão cultural – símbolos e orientações de
vida; a dimensão espacial – localizações dos contextos de interacção;
e a dimensão temporal - trajectos passados ou virtuais.
22

A abrangência analítica desta noção é evidente. Ela permite dar conta
do modo como as famílias que pertencem a uma dada categoria
social organizam estrategicamente os seus modelos de vida;
aproveitando ou não as margens de manobra disponíveis de acordo
com os critérios que afectam os seus recursos – materiais, temporais,
cognitivos ou relacionais. Trabalhando sobre propostas anteriores, o
autor organiza estas questões segundo dois eixos fundamentais: o
maior ou menor peso da debilidade das competências, da escassez
das oportunidades e dos recursos materiais; e os factores mais
ligados às disposições e orientações culturais relacionais (Capucha,
2005:214-15).
Apresenta-se aqui, de um modo esquemático e necessariamente
simplista, a tipologia construída pelo autor, acompanhada de algumas
observações que pretendem, mesmo de um modo superficial, ilustrar
algumas das características mais comuns cada um destes modos de
vida.
A destituição é o modo de vida mais próximo dos limites da própria
vida, quer dizer, para onde convergem os níveis mais baixos de
pobreza. Estes grupos sofrem de má alimentação, falta de condições
de higiene, saúde e conforto, habitação (o que no caso dos sem-
abrigo nem existe). Existe, com frequência, uma ruptura dos laços
com instituições como a família, trabalho e outras redes de
relacionamento. São, em geral, pessoas que se encontram dispersas
nos espaços das cidades, nos bairros degradados ou nas aldeias do
interior rural.
A destituição não gera recursos que permitam a participação social e,
por essa razão, algumas destas pessoas são incapazes de procurar
apoios. São alvo e vítimas apenas de caridade, encobrimento ou
vergonha. A situação de isolamento pode muitas vezes gerar atitudes
de agressividade face ao meio. Sendo o presente assumido muitas
vezes com resignação, a memória do passado parece encontrar-se
ausente.
23

A restrição é característica de alguns grupos de assalariados de
rendimentos muito baixos, de idosos com pensões muito baixas e
pessoas com deficiências provenientes de famílias com poucos
recursos. Está igualmente associada a um certo tipo de “pobreza
envergonhada”, sendo por vezes invisível, ou ganhando apenas
visibilidade quando as pessoas se encontram integradas em
comunidades empobrecidas. Nestes casos a visibilidade é contínua
em relação ao meio. O quotidiano destas pessoas é marcado pela
grande escassez de recursos económicos e, portanto, a sua vida é
orientada em função das necessidades básicas. As suas condições e
consciência das mesmas são muitas vezes acompanhadas pelo
ressentimento, mas não se gera inconformismo suficiente para
investir na fuga a essas condições. O presente não é valorizado
positivamente, sendo sentido , por muitos, como o prolongamento do
passado pobre. Dado o mercado de trabalho em Portugal, e as suas
características de baixas remunerações, é provável que esta pobreza
seja persistente no futuro
A dupla referência é vivida por referência a duas sociedades
diferentes, por exemplo, pelos imigrantes africanos em Portugal. A
nível territorial tendem a encontrar-se em bairros degradados das
periferias das grandes cidades. São frequentemente vítimas de
racismo e marginalização. Os recursos que possuem são escassos e
muitas vezes dispendidos em comemorações que assinalam, entre
outros, o sucesso da decisão migratória. Se se consideram pobres e
marginalizados, vivem em boa situação em relação aos seus países
de origem. Outras vezes, a restrição decorre da necessidade de
acumular capital económico para o retorno. É dramática a vida dos
imigrantes de segunda geração, nestes casos, uma vez que a
escassez de recursos impede a realização das suas expectativas e
experimentam dificuldades de mobilidade que são de algum modo
condicionadas pelos modos de vida e trabalho dos pais.
24

O passado tendo sido muito pobre do ponto vista material é
valorizado no plano afectivo e identitário. O presente é de restrição e
sacrifício, mas é possível encontrar-se disposições inconformistas
quanto ao futuro.
O modo de vida de poupança é característico do campesinato e
campesinato parcial, sendo também o modo de vida mais incidente
nas zonas de agricultura do interior Norte e Centro. Esta localização
mostra a continuidade entre o espaço camponês e a pobreza. Se é
certo que a obtenção de recursos externos, no caso do campesinato
parcial, permite aumentar a poupança, isso implica também uma
maior penetração dos modelos de vida urbanos, o que poderá
constituir uma ameaça para esta população uma vez que a cidade
continua a ser vista como um mundo oposto e hostil. No caso dos
camponeses parciais, o processo de urbanização penetra facilmente
nos quadros culturais, afastando-se muitas vezes da estratégia da
poupança. A poupança encerra uma forte ligação com o passado – a
tradição. O presente está ligado ao passado na reprodução da família,
envolvendo a representação da continuidade da casa e do seu
património. Ao pensar-se o futuro como a perpetuação do presente,
os projectos de vida orientam-se de um modo mais defensivo do que
transformador.
O modo de vida de conviabilidade é atravessado por “formas de
sociabilidades exuberantes (…) e valorização do prazer convivial”
(Capucha, 2005:224). São grupos que possuem rendimentos incertos,
provenientes muitas vezes de economias comunitárias algumas semi-
legais ou ilegais. Incluem-se aqui redes sociais de predominância sub-
proletária e outras populações pobres ligadas ao pequeno comércio
ambulante e minorias ciganas. Concentram-se em bairros antigos das
grandes cidades e bairros ou barracas e habitação social. A
visibilidade que muitas vezes os caracteriza decorre de algumas
25

atitudes de afirmação simbólica e de intervenção nas comunidades
locais. Impõem, por vezes, de um modo opressor, os seus próprios
critérios de ocupação dos espaços. São também comunidades
fechadas quer porque esse fechamento lhes é imposto pelo exterior,
quer porque isso lhes interessa para manter as suas actividades. Uma
das vertentes interessantes das suas estratégias de vida reside nas
tácticas de “dramatização e simbolização da pobreza” (Capucha,
2005) que lhes permitem obter os subsídios sociais. Gostam de viver
o presente, porque o futuro é percebido como incerto. Por essa e
outras razões, as suas práticas de consumo são peculiares,
excessivas enquanto existe dinheiro e de forte restrição quando este
acaba.
O investimento na mobilidade é uma estratégia comum a
operários e empregados de comércio e dos serviços de emprego
estável, com baixas remunerações e com escolaridades um pouco
superiores à média das restantes categorias. No plano territorial,
quando habitam junto de grupos pobres, marcam fronteiras e
distâncias simbólicas ou encobrem essas situações, por exemplo,
quando estão dispersas nas cidades. Privilegiam o investimento na
carreira escolar dos filhos e poupam dinheiro para ter o conforto
mínimo na habitação ou para mostrar uma outra aparência no
vestuário e modos de estar, muitas vezes em detrimento do lazer e
inclusive da alimentação.
Sendo os que mais se aproximam das possibilidades de romper com a
pobreza, enfrentam obstáculos tais como segmentação dos mercados
de trabalho, e a flexibilização da relação salarial, o funcionamento
institucional do ensino e a surpresa que constitui, ainda hoje, a
desvalorização dos diplomas no ensino superior.
Manifestam, frequentemente, a rejeição do passado enquanto o
presente é para acumular capital escolar e económico com vista a um
futuro possa ser melhor.
26

A transitoriedade refere-se à situação de pobreza de pessoas que
não se encontram há muito tempo na pobreza. Acontece em
situações de ruptura profissional ou familiar com os desempregados
recente ou famílias monoparentais que tinham até então uma
situação económica estável. Incluem-se também nos casos de
pobreza envergonhada, procurando formas de superar esta situação,
transitando ou não para modos de vida de restrição ou destituição
Finalmente, a desafectação refere-se a grupos de pessoas que
adoptam estilos de vida marginais e ruptura com os laços sociais e
com principais instituições de referência. São grupos muito visíveis
em contraste com o meio, ou vivem institucionalizados ou ocupam
espaços públicos numa posição de distância com as regras comuns e
oficiais. Tendem a possuir um profundo sentido crítico em relação às
diferenças sociais e à sua própria condição. Reagem a esta com
revolta ou vergonha, uma vergonha que por vezes é neutralizada
pela partilha de valores alternativos de outros grupos de pares.
Vivem no presente, porque a memória do passado não ajuda à vida
enquanto o futuro é percebido com incerteza.
Após a explicação destes aspectos, Luís Capucha apresenta, no
último capítulo, dois casos, considerados exemplificativos do impacte
das políticas sociais, implementadas com o objectivo de erradicar a
pobreza e da exclusão social.
O primeiro que diz respeito à introdução do Rendimento Mínimo
Garantido (RMG). O autor acentua o carácter de inovação de que esta
medida se revestiu, ressaltando a introdução de um contrato onde
está implícita uma relação de carácter formal e de responsabilidade
mútua e não unilateral, como acontecia anteriormente. Retratando
todos os problemas de eficácia prática e as incongruências que
naturalmente podem afectar este sistema, sobretudo nas suas fases
27

iniciais de implementação, o autor deixa uma nota que é poucas
vezes divulgada e nessa medida pouco influente nas representações
comuns sobre esta medida: um dos efeitos do RMG foi a activação de
muitas pessoas excluídas do mercado de trabalho por vezes durante
gerações. Sabemos que são outros os efeitos e consequências que
são debatidas socialmente e politicamente e essas percepções
também são passíveis de produzir consequências negativas tanto no
plano das políticas sociais, como na activação de preconceitos
amplamente difundidos na sociedade portuguesa.
O segundo exemplo relaciona-se com a reabilitação das pessoas com
deficiência e acesso ao mercado de trabalho O autor considera que
este exemplo representa uma boa ilustração da tese de que a
pobreza e a exclusão social podem ser erradicadas a partir das
políticas públicas de qualidade e mediadas pelas organizações da
sociedade civil. O estudo refere-se à avaliação dos resultados das
políticas de reabilitação socioprofissional, articulando o papel
específico do Fundo Social Europeu a nível do sistema, das
organizações e das pessoas.
Uma das observações que surge como mais pertinência pela
abrangência da perspectiva de inclusão é a de que a reabilitação não
passa apenas pela intervenção junto das pessoas vítimas de
discriminação mas também pela afirmação do princípio da
universalidade de direitos, o que implica que as instituições se
transformem no sentido de se tornarem acessíveis a todos os
cidadãos.
Entre as medidas descritas, contam-se a preparação pré-profissional
com o objectivo de facilitar a transição para a vida activa de crianças
que frequentam instituições de ensino especial; a avaliação e
orientação profissional que apoiam as pessoas com deficiência a
tomarem decisões vocacionais; e a formação profissional ajustada às
28

características de cada utente. A estas medidas acrescentaram-se
outras designadamente, medidas no âmbito de integração no
mercado normal de trabalho, medidas no âmbito do emprego
protegido, majorações e medidas de carácter estruturante e
universal.
O autor mostra, a partir de várias informações recolhidas quer junto
das pessoas abrangidas quer no seio das organizações que
trabalham com estas pessoas, a satisfação com os resultados destas
políticas contrariando as ideias mais preconceituosas que manifestam
a descrença na capacidade dos sujeitos deficientes. Na
impossibilidade de retratar aqui todos os resultados descritos,
destaca-se uma observação de Capucha que parece bem sugestiva
dos passos importantes que foram dados no sentido de uma maior
inclusão destas populações: “ as principais melhorias fazem-se sentir
ao nível dos desempenhos, isto é, daquilo que se pode fazer mesmo
possuindo-se um “handicap” à partida. Por outras palavras, o que
melhorou foi principalmente a capacidade para lidar com os
problemas, e portanto, o desempenho e a autonomia” (Capucha,
2005:312).
Uma última nota dirige-se à posição investigativa de Capucha nesta
pesquisa. O autor começa e termina o seu livro enfatizando o papel
da pesquisa científica na intervenção social em relação aos
fenómenos que analisa. Salientando, inicialmente, que as ciências
sociais actuaram por um lado como “consciência crítica e sistema de
alerta” (Capucha, 2005:29) na denúncia dos problemas da pobreza e
da exclusão social, no final do seu livro ele deixa, de novo, o desafio,
para as ciências sociais, apontando alguns caminhos para o
desenvolvimento da pesquisa a este nível. Exige-se, de acordo com
Capucha, o refinamento dos instrumentos de pesquisa susceptíveis
de produzir uma compreensão mais aprofundada dos fenómenos que
29

articulam os processos e dimensões da pobreza e exclusão social.
Pretende-se uma análise relacional, mais sistemática, entre as
dinâmicas económicas, de emprego, de formação e educação,
demográficas, culturais e geográficas e os problemas de pobreza e de
exclusão social. Apela-se para a necessidade de um aprofundamento
da análise macrossociológica sem esquecer o nível micro dos factores
e categorias da pobreza, e a um estudo mais detalhado destas
problemáticas com base nas referências teóricas associadas às
questões das classes sociais.
Finalmente, é de ressaltar o comprometimento político e social do
investigador com as questões que aborda. Mais ainda, o tom
pragmático, pouco fatalista que atravessa o seus registos discursivos.
Luís Capucha acentua muitas vezes as possibilidades práticas de
superação de alguns dos problemas associados à pobreza e à
exclusão social, enfatizando as oportunidades de intervenção, sem
esquecer as estruturas que contornam as referidas problemáticas.
Fica pois o desafio: à sociologia, às políticas e à coesão social.
30

Referências Bibliográficas
- Bordieu, P. (2002). Esboço de uma teoria da prática. Oeiras: Celta.
- Capucha, L. (2005). Os desafios da pobreza. Oeiras: Celta Editora.
- Costa, A.B (2008). Um olhar sobre a pobreza: vulnerabilidade e
exclusão social no Portugal contemporâneo. Lisboa: Gradiva.
- Fernandes, A. T (1991). Formas e mecanismos de exclusão social.
Sociologia. Porto: FLUP.
- Guiddens, A. (2007). Sociologia. Lisboa: Edições Calouste
Gulbenkian.
- Pereirinha, J. A. (coord) (2008). Género e Pobreza: impacto e
determinantes da Pobreza no feminino. Lisboa: Comissão para a
Cidadania e Igualdade de Género.
31