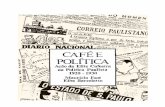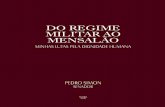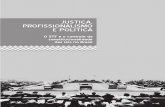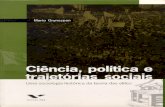Politica e legislacao_web_3_1_.todas_as_aulas
-
Upload
renivan-freitas -
Category
Education
-
view
205 -
download
5
description
Transcript of Politica e legislacao_web_3_1_.todas_as_aulas

Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia
de Pernambuco
2010Recife-PE
Licenciatura em MatemáticaPolítica e Legislação da Educação
Autoria
Yara Maria Leal Heliodoro
Coautoria
Iris Maria Nogueira Libonati
Maria Eliana Matos de Figueiredo Lima

Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES
Este Caderno foi elaborado em parceria entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologiade Pernambuco - IFPE e a Universidade Aberta do Brasil - UAB
Equipe de Elaboração
Coordenação do CursoMaria de Fátima Neves CabralSupervisão de TutoriaSônia Quintela CarneiroLogística de ConteúdoClayson Pereira da SilvaGiselle Tereza Cunha de AraújoMaridiane VianaVerônica Emília Campos Freire
Coordenação InstitucionalReitoria Pró-Reitoria de Ensino Diretoria de Educação a DistânciaPró-Reitoria de ExtensãoPró-Reitoria de Pesquisa e InovaçãoPró-Reitoria de Administração e Planejamento
DiagramaçãoRafaela Pereira Pimenta de Oliveira
Edição de ImagensRafaela Pereira Pimenta de Oliveira
Revisão LinguísticaFátima Suassuna



Sumário
Sumário 5
Palavra do professor-autor 7
Apresentação da disciplina 9
Aula 1 - Educação Escolar: estrutura e funcionamento da educação básica 11
Aula 2 - Educação Básica: educação infantil ou primei-ra etapa da educação básica 29
Aula 3 - Uma modalidade da Educação Básica: Educa-ção de jovens e adultos 47
Aula 4 - Modelos organizacionais de escola e formas de gestão. Princípios e características da gestão esco-lar participativa. 69
Aula 5 - Práticas Organizacionais e Administrativas na escola. Gestão Educacional e desafios do cotidiano escolar. 85
Aula 6 - Profissionais da educação: Formação, Carreira e Organização Política. 105

Licenciatura em MatemáticaUAB 6

Palavra do professor-autor
Estamos iniciando mais uma disciplina – Política e Legislação da Educação –
do currículo do curso de Licenciatura em Matemática. Estaremos com você
enquanto durar a nossa participação na sua formação docente, dando-lhe
apoio e respondendo as suas questões sempre que necessário para que con-
siga alcançar êxito em mais uma jornada de estudo. Vamos ter muito que
dialogar durante esse período, sinta-se, pois, bem acolhido!
Nós, a Eliana, a Iris, você e os demais estudantes já estamos, de certo modo,
capacitados com os princípios e o funcionamento a distancia do trabalho do
Curso de Licenciatura de Matemática, área docente.
Não se esqueça de que, a cada aula deste livro, estará participando de ati-
vidades próprias da educação a distancia, como fórum, chat e questionário.
Para todas elas, você conta com as nossas orientações on line, seja por meio
de e-mail ou no chat, no bate-papo semanal. Além disso, você conta com a
contribuição sempre presente do tutor presencial e do tutor a distancia.
Nesse momento, cremos que você já se encontra bem ciente de seu papel
como estudante de curso a distancia e de como buscar estratégias para o
êxito pleno de sua ação. Não perca, por conseguinte, as oportunidades que
passam em seu caminho escolar.
É legal, desenvolver-se cognitivamente na busca permanente de conheci-
mento docente já que além de contar com os conteúdos matemáticos, você
vai precisar organizar uma ação didática na qual os conteúdos específicos se
cruzam com os conteúdos pedagógicos da base da formação do professor.
Nessa direção, caro (a) estudante, já estamos prontas para lhe dizer que
essa disciplina vai ampliar seus horizontes acerca da legislação educacional
vigente – LDB/96 – voltada exclusivamente para as políticas de educação
básica. Afinal, ainda faltava estudar sobre a Educação Infantil, aprofundar
os conhecimentos da Educação de Jovens e Adultos, Atribuição do Gestor
Escolar, dentre outros temas super interessantes.
Fixe-se desde já na ideia do conceito de educação, articulado com os concei-
tos de base e de direito.
UABPolítica e Legislação da Educação 7

Licenciatura em MatemáticaUAB 8

Apresentação da Disciplina
Olá, estudante!
Mais uma vez, o texto legal da educação é o alvo de nosso estudo. A LDB/96
não foge de nossas mãos, pensará você! Essa disciplina, porém, é mais uma
contribuição ao debate sobre a educação no Brasil sob a égide da legislação
educacional vigente, procurando identificar os temas ainda não estudados
como aqueles relacionados com as políticas públicas voltadas para educação
básica.
No Brasil, os sistemas de ensino terão de adotar mudanças importantes em
diversos âmbitos do ensino, em relação às práticas tradicionais. Em parti-
cular, nós sentiremos na pele a cobrança que será feita na melhoria do de-
sempenho dos professores e na reorganização da oferta da educação bási-
ca, universalizando-a e abrindo as suas portas a todos aqueles que estão à
margem da sociedade. O pensamento de que desejamos passar da fase de
mais estudantes percorrendo toda a educação básica – da educação infantil
ao ensino médio - para um ensino de qualidade é um denominador comum
em todas as políticas públicas que estão em andamento e em outras que se
projetam para o futuro.
O livro está estruturado em torno de seis (6) aulas, cada uma delas com
subitens. Na primeira aula, intitulada EDUCAÇÃO BÁSICA: estrutura e fun-
cionamento da educação escolar - apresentamos os conceitos de base e
de direito que permeiam o conceito de educação contido no texto legal. A
educação é uma aquisição de base, é o chão para a construção da cidadania.
E essa educação de base é um direito de todos os brasileiros, da educação
infantil ao ensino médio. Na segunda aula, faz-se um passeio pela educação
básica iniciada na educação infantil. Seu título diz tudo: EDUCAÇÃO BÁSI-
CA: educação infantil ou primeira etapa da educação básica. A aula começa
refletindo sobre os conceitos que atingem a educação infantil quando ela
passa a fazer parte da educação básica. Depois, seguimos estudando a sua
estrutura, focalizando suas finalidades e faixa etária. Na sequência, vamos
aos documentos curriculares que orientam a prática pedagógica até chegar
à formação de professores. A terceira aula tem como título: Uma modalida-
de da educação básica: educação de jovens e adultos. Apresentamos várias
UABPolítica e Legislação da Educação 9

experiências educacionais inovadoras no Brasil voltadas para a melhoria da
qualidade da educação de jovens e adultos. Na quarta aula, o foco são os
modelos e formas de organização da gestão escolar, com ênfase nos princí-
pios e nas características de uma gestão participativa. Prosseguindo com a
temática da gestão escolar, vamos à quinta aula nos adentrar nas práticas or-
ganizacionais e administrativas na escola, colocando-nos diante dos desafios
do cotidiano escolar, dando destaque para as atribuições do gestor escolar.
Finalmente, na sexta aula, veremos os profissionais da educação: formação,
carreira e organização política. Vamos tocar nas políticas de formação de
professores e demais profissionais da educação.
Para entender todas as seis aulas, é preciso considerar a tônica que permeia
os diversos estudos aqui abordados, pois todos eles têm a dimensão política
dos diferentes níveis e modalidades da educação básica, de sua gestão e da
formação de seus professores. Esperamos, pois, estudante, que não perca
em nenhum momento essa perspectiva, pois foi assim escrevemos esse livro
para você.
Licenciatura em MatemáticaUAB 10

UABPolítica e Legislação da Educação 11

Licenciatura em MatemáticaUAB 12

Aula 1 - Educação Escolar:
estrutura e funcionamento
da educação básica.
Objetivos
Geral: analisar a estrutura e o funcionamento da Educação Escolar
no Brasil.
Específicos:
• analisar a Educação Básica como conceito e como direito;
• discutir os aspectos legais e pedagógicos da organização da es-
colaridade em ciclos de aprendizagem, no contexto da Educação
Básica, identificando seus avanços, desafios e implicações positivas
e negativas.
Assuntos – Educação Básica: conceito e direito.
– Níveis da educação básica: educação infantil, ensino fundamental e
ensino médio. Modalidades da Educação Básica: educação infantil,
educação de jovens e adultos, educação profissional.
– Organização da escolaridade em ciclo de aprendizagem.
IntroduçãoNesta aula 1, analisaremos como a construção da Educação Básica, enquan-
to conceito e enquanto direito, trouxe repercussão em toda a sua organiza-
ção e funcionamento. Para isso, discutiremos os conceitos, suas implicações
no rompimento de estruturas e organizações cristalizadas por legislações
anteriores; ao mesmo tempo, traremos à tona impasses sociais e culturais
que impediam a democratização do acesso e da permanência das demandas
UABPolítica e Legislação da Educação 13

sociais na escola, como os preconceitos e as discriminações sociais. Como a
lei apresenta diversas formas de organização da escolaridade (já conhecidas
por você), aprofundaremos, em detalhes, a discussão da organização da
escolaridade em ciclos de aprendizagem. Isso certamente lhe interessa, não
é? Pois, então, comecemos nosso estudo!
1.Educação Básica, Níveis e Modalidades de Educação e EnsinoA expressão educação básica, no texto da nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB/96 –, é um conceito, por sinal, novo; é, ainda, um
direito e uma forma também nova de organização nacional em relação às
leis anteriores.
Como conceito, a educação básica veio esclarecer e gerir um conjunto de
realidades novas, urgida pela busca de um espaço público novo para atender
as suas finalidades.
Já como direito, a educação básica significa um recorte universalista próprio
de uma cidadania ampliada e ciosa por encontros e reencontros com uma
democracia civil, social, política e cultural.
Finalidades da Educação BásicaNa Seção I, do Capítulo II, Art. 22 da LDB/96, que trata das Disposições Ge-
rais da Educação Básica, podemos encontrar as suas finalidades, com des-
taque para a garantia de uma formação voltada para o pleno exercício do
cidadão e a criação de oportunidades de continuidade no trabalho e estudos
posteriores. Examine o que, na íntegra, esse artigo nos diz:
A educação básica tem por finalidade desenvolver o edu-
cando, assegurar-lhe a formação comum indispensável
para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para
progredir no trabalho e em estudos posteriores
A educação básica entendida como um conceitoComo princípio conceitual, genérico e abstrato, a educação básica vem para
organizar o real existente em novas bases e administrá-lo por meio de uma
política que seja coerente ao espírito da lei. Veja como podemos interpretar o
próprio entendimento do que se pode ter do termo político nesse contexto.
Licenciatura em MatemáticaUAB 14

A capacidade de mobilização de uma ideia política reside
justamente nos seus conteúdos abstratos. Aliás, a abstra-
ção é fonte fundamental de sua força, porque permite
que os conteúdos de determinados princípios gerais pos-
sam ganhar redefinições inesperadas, e, portanto, a ques-
tão dos direitos será sempre uma construção. imperfeita e
inacabada (REGO, 2006, p. 184).
Agora, voltemos ao entendimento, também, do próprio termo conceito.
Todo conceito corresponde a um termo: etimologicamente, base, de onde
tem origem a palavra básica, confirma essa acepção de conceito e etapas
conjugadas sob um só todo.
Por seu turno, base provém do grego básis, eós e corresponde, ao mesmo
tempo, a um substantivo: pedestal, fundação; e a um verbo: andar, pôr em marcha, avançar.
Donde se pode inferir que a Educação Básica, como conceito novo, traduz
uma nova realidade gestada de um processo histórico que se realizou e de
uma atitude transgressora de situações preexistentes, urgida de caráter não
democrático.
Nesse ponto é que reside o papel crucial do novo conceito, ou seja, como
uma nova forma de organização escolar nacional se faz.
Já a educação básica enquanto direito se localiza no papel crucial de introdu-
zir uma nova forma de organização de educação escolar nacional. Essa nova
forma que a LDB/96 propôs atingiu o pacto federativo quanto à organização
pedagógica das instituições escolares.
Passou a reunir as três etapas que a constituem: educação infantil, ensino
fundamental e o ensino médio.
Níveis da educação básica e modalidades de Educação de EnsinoDe acordo com o Art. 21º, da educação escolar fazem parte três níveis de
ensino, apresentados no quadro a seguir:
UABPolítica e Legislação da Educação 15

O Art. 21 afirma que a educação escolar compõe-se de:
I. Educação básica, formada pela educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio;
II. Educação superior.
Passamos, então, a ter, primeiramente, a educação infantil: ela é a raiz da
educação básica; o ensino fundamental consideremos como o seu tronco;
o ensino médio é a sua finalização.
Um pouquinho de históriaEsse dispositivo legal veio ao encontro de uma tendência de ideias, segundo
as quais o ensino fundamental era um conceito insatisfatório e inadequado
para a compreensão da educação básica. Já existia, à época da promulgação
da LDB/96, uma construção do tema nas sociedades mais modernas, consi-
derando, por exemplo, a avaliação do êxito das políticas de educação escolar
dos países mais desenvolvidos do mundo.
Era, pois, pauta dos debates que, na educação básica, se introduzisse a
criança na comunidade experiencial institucional denominada pré-escola,
para lhe disponibilizar um conjunto de mecanismos intencionais educativos,
como: a socialização e condições escolares de contato com o mundo do
desenvolvimento de capacidades e habilidades cognitivas e linguísticas, da
participação das iniciativas nas zonas de formação do pensamento autôno-
mo e da curiosidade científica e da expressão humana pela arte.
Aliadas a essas intenções, enfatizavam-se, também, os primeiros passos da
formação do pensamento científico, seus métodos, além de, mais intensa-
mente, vínculos com a literatura infantil. Por seu turno, a história e a geogra-
fia fariam parte, também, do elenco das conquistas dos conceitos de espaço
e de tempo. Tudo isso imerso no processo infantil de constituição de sua
identidade como cidadão.
Licenciatura em MatemáticaUAB 16

A educação básica no contexto da sociedade brasileiraA educação básica é um conceito mais do que inovador para o nosso país,
já que, por muitos séculos, nossa sociedade, imersa num horizonte elitista e
seletivo educacional, negou a seus cidadãos o direito ao conhecimento pela
ação sistemática da organização escolar. Da perspectiva holística de base ou
básica é que se pode ter uma visão sequencial das partes.
A partir desse conceito, porém, estabelecem-se as bases legais do conceito
de educação básica, incorporando nova semântica e responsabilidades pú-
blicas ao Estado brasileiro. Assim, a educação infantil é a primeira etapa da
educação institucional pública; o ensino médio se reveste da responsabilida-
de de concluir a formação básica e o ensino superior é a etapa de terminal
pleno da educação escolar. A compreensão dessa organização do ponto de
vista legal interessa a todos e, principalmente, ao licenciando que vai, num
futuro próximo, atuar de modo profissional em escolas de educação básica.
A lei, contudo, parece ambígua ao se referir aos termos níveis e modalida-
des. Os níveis a que se refere no Art. 21 ficam obscuros quando se analisa
o seu artigo 5º. Vejamos como ele expõe essa ambiguidade que Machado
comenta (2009):
[...] em toda a esfera administrativa, o poder público asse-
gurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório
nos termos deste artigo, contemplando, em seguida, os
demais níveis (por que os demais?) e modalidades de ensi-
no, conforme prioridades constitucionais e legais.
Sendo o ensino fundamental um dos níveis da educação escolar, a educa-
ção básica aparece, neste artigo, confusamente tratado como um nível. Essa
ambiguidade, argumenta Machado (2009), estende-se a outras inúmeras
UABPolítica e Legislação da Educação 17

referências inadequadas ao termo nível, já constadas entre professores e
alunos de graduação.
A origem do conceito de educação básicaA origem do novo conceito e da nova forma de organização está no espírito
do texto constitucional de 1988, que nutre a nação brasileira de um alento
universalista de vários direitos.
Que direitos são esses? A educação básica incorporou para si, legalmente, a
diferença como direito. A legislação fez, então, a crítica às situações próprias
de minorias discriminadas e buscou um princípio ético mais elevado: noutras
palavras, a nova ordem jurídica incorporou o direito à diferença no momento
da ação educacional escolar.
E a educação básica, nesse momento excepcional em que cruza equidade
com igualdade, tomou para si a defesa e a formalização legal do atendi-
mento a determinados grupos sociais, como as pessoas portadoras de ne-
cessidades educacionais especiais, os afrodescendentes, os jovens e adultos
(que não tiveram a oportunidade de se escolarizar na idade própria) e as
comunidades indígenas.
O reconhecimento das diferenças, neste momento da escolaridade, é fac-
tível com o reconhecimento da igualdade e impõe, em seu Projeto Político
Pedagógico, e, evidentemente, nas orientações curriculares destinadas às
propostas curriculares da escola, um combate aos preconceitos a que esses
grupos de brasileiros são vítimas na e pela sociedade brasileira, entre adultos
e crianças. Essa luta ocorreria mediante a ação socializadora da escola e pela
sua ação de transmissão do conhecimento científico no enfrentamento à dis-
criminação e ao preconceito aos afrodescendentes, comunidades indígenas,
mulheres, idosos, crianças, portadores de necessidades especiais, dentre
outros.
Em suma, a igualdade e equidade, consequentemente, abriram a educação
básica para as seguintes modalidades de ensino: Educação Especial (Art. 58);
Educação de Jovens e Adultos (Art. 37); Educação Profissional (Art. 39).
Vejamos, a seguir, alguns verbetes do dicionário organizado por Perly Cipria-
no, Subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos do Ministé-
rio, orientado pelo historiador Jaime Pinsky, que denominou os preconceitos
nossos de cada dia.
Licenciatura em MatemáticaUAB 18

Verbetes ilustradosAnalfabeto: condição de quem não sabe ler nem escrever, alvo de grande
preconceito e discriminação social no País, o que é sintetizado, por exemplo,
na frase: “Vá estudar para ser alguém na vida!”
Coisa ficou preta: a frase é utilizada para expressar o aumento das dificul-
dades de determinada situação, traindo forte conotação racista contra os
negros.
Maria vai com as outras: expressão preconceituosa contra as mulheres,
consideradas de caráter fraco ou sem personalidade.
Ceguinho: expressão de menosprezo, que estigmatiza os cegos.
UABPolítica e Legislação da Educação 19

Mongol ou mongoloide: termos ofensivos aos portadores da síndrome de
Down, cujas feições faciais lembram as dos habitantes da Mongólia.
Diferentemente dos textos legais anteriores da LDB, a nova lei toca na rele-
vância do tema, à medida que a própria sociedade descobriu que os porta-
dores de necessidades especiais são educandos. Noutras palavras, etimolo-
gicamente, devem ser educados. Além disso, compreendeu-se que pessoas,
com alguma limitação biopsíquica (em oposição à impressão deficiente) es-
tão potencialmente aptas à aprendizagem. Para que o êxito desse ensina-
mento seja alcançado é necessário que haja na escola um bom acolhimento
para esses aprendizes, professor preparado para atuar junto a eles e uma
oferta de ensino adequado a essa especificidade educacional. Reveja o art.
58 que trata a Educação Especial no Capítulo V da LDB/96.
Índio: designação genérica de qualquer indivíduo cujos ancestrais habita-
vam as Américas antes da chegada dos europeus, no século 16. O termo foi
cunhado pelos navegadores da esquadra de Cristóvão Colombo, quando
aportaram no continente, em 1492.
Licenciatura em MatemáticaUAB 20

As crianças, os jovens e adultos das comunidades indígenas também ganha-
ram o direito de serem sujeitos de um modelo próprio de escola, apoiado
por recursos próprios e com a garantia de sua identidade cultural e vivencial
peculiar.
Velho: as pessoas idosas preferem ser tratadas pelo termo “idoso” no lugar
de “velho”, por causa da carga pejorativa associada a essa última palavra,
relacionada a obsoleto, inútil, fora de moda.
Os jovens e adultos que perderam a oportunidade de se escolarizar na idade
própria, podem, também, ser objeto de um modelo pedagógico próprio e
apoiado com recursos que os façam recomeçar e continuar sua escolaridade
sem a sombra de um novo fracasso (Art. 37).
Essa população de necessidade de atendimento educacional tardio se distri-
bui em três grupos distintos: os reconhecidos como sem nenhum acesso à
leitura e à escrita; os que foram à escola, mas não tiveram tempo de apren-
der a ler e a escrever em diversas situações de letramento, embora possuís-
sem algumas habilidades básicas de leitura e de escrita; por fim, contamos
com aqueles que estiveram na escola em momentos intermitentes, vez por
outra.
UABPolítica e Legislação da Educação 21

A educação básica como direito ampliou-se com a aprovação da Lei n.
11.274/06, que ampliou o ensino fundamental obrigatório para nove anos,
iniciando-se aos 6 anos de idade.
A emenda Constitucional 53/06 do fundo de manutenção e desenvolvimen-
to da educação básica e valorização dos profissionais da educação – FUN-
DEB –, já aprovada, veio para financiar todas as etapas da educação básica.
Reveja mais informações sobre o FUNDEB na Aula 4 do livro Estrutura e
Funcionamento do Ensino Médio, bem como na Aula 5, no livro Estrutura
e Funcionamento do Ensino Fundamental, que tratam, respectivamente, do
financiamento ao Ensino Médio e ao Ensino Fundamental.
Concluindo esse primeiro tópico, afirmamos que a função social da edu-
cação, em nosso país, assumiu, conforme texto legal, a igualdade como
pressuposto fundamental do direito à educação, produzindo consequências
nos anseios democráticos da sociedade, desejosa de maior igualdade entre
as classes sociais e os indivíduos que a formam e expressam, à proporção
que as escolas se reorganizaram nessa nova perspectiva, sob a égide das,
também, novas políticas educacionais.
2. A organização da educação básicaNo art. 23 da LDB/96, reza que a educação básica poderá ser organizada
em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos
de estudo, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em
outros critérios, sempre que o interesse do processo de aprendizagem for
reconhecido.
Destacaremos, a seguir, a experiência de organização da escolaridade em
ciclos, mais testada após a LDB/96, em substituição à organização anterior
em série.
Os ciclos de aprendizagem como alternativa de organiza-ção escolarA concepção inicial de ciclo de aprendizagem não tem a mesma concepção
pedagógica de hoje. Ela surgiu por volta dos anos 80, em vários países, in-
clusive, no Brasil. No nosso estado e no município de Recife, essa questão
foi posta em prática desde o início do período da redemocratização política
do Brasil.
Glossário
A SEDEC de São Paulo implantou, a partir de 1984, o Ciclo Básico. Correspondia aos dois primeiros anos de escolaridade, devendo o aluno ser avaliado, para fins de promoção, ao final do segundo ano.
No livro a seguir, você encontra informações sobre a experiência do Ciclo Básico de São Paulo.
Licenciatura em MatemáticaUAB 22

A questão central que deu partida aos ciclos decorreu dos estudos sobre o
fracasso escolar nas escolas públicas. No conjunto desses estudos, desta-
cam-se os trabalhos pioneiros dos sociólogos franceses Pierre Bourdieu e
Jean-Claude Passeron sobre as disparidades socioculturais em seu país. A
diferenciação sociocultural foi, portanto, a gênese da formulação de uma
escolaridade em ciclos, que se expandiu por vários sistemas de ensino no
Brasil, sob diversas versões pedagógicas.
Na visão de vários educadores da época, os ciclos seriam a resposta ide-
al para atender as diferenças entre os aprendizes, uma vez que as crian-
ças oriundas da base da pirâmide socioeconômica brasileira, matriculadas
na escola pública, não concluíam sua escolaridade. Eles acreditavam que
apenas aumentando um ou dois anos de escolaridade, os aprendizes da
escola pública seriam bem-sucedidos na escola. Supunham, também, que
com mais tempo num ciclo de estudo (em oposição a um ano de uma série)
haveria melhor sintonia entre ensino e as etapas da evolução sociocognitiva
da criança.
O que se tem aprendido com diversas experiências de ciclo?Boa parte dos estudos conduzidos em nosso país, como em outros, mostra
que é preciso continuar a trabalhar em ciclos, mas assegura, também, a
necessidade de garantir outras políticas educacionais voltadas para a experi-
ência já iniciada, com prioridade em algumas ações pedagógicas, expressão
de novas políticas públicas, tais como as seguintes:
• A primeira ação está relacionada à necessidade de avaliações sucessivas
das aprendizagens, durante os ciclos e no interior do ciclo, pelo coletivo
de professores e demais educadores da escola, em função de seus dife-
rentes ritmos de desenvolvimento (cognitivo, psicomotor, sociocultural e
afetivo) e idades.
• A segunda ação, articulada com a primeira, relaciona-se ao entendimen-
to das vivências culturais diversificadas dos alunos. Tais vivências desem-
penham papel importante na temporalidade e ocupação do espaço na
escola, em decorrência das diversas maneiras de entender e valorizar um
determinado conhecimento, como, por exemplo, a competência leitora
e a competência matemática.
• Uma terceira ação seria a prática da avaliação formativa, associada às
atividades de ensino e de aprendizagem. Essa ação procuraria superar
Glossário
A Secretaria de Educação de Olinda (SEDO) iniciou a discussão sobre ciclo de aprendizagem, que foi implantado a partir do ano de 2000.
UABPolítica e Legislação da Educação 23

um quadro em que, por não valorizar ou por não conseguir acompanhar
as atividades em equipe dos aprendizes, nem sempre tem sido possível
ao professor identificar, independentemente das idades, as diversidades
de condutas afetivas, socioculturais, psicomotoras e dos desempenhos
cognitivos dos estudantes no interior de seus grupos e da turma como
um todo. Em decorrência disso, é difícil para o professor administrar os
diversos perfis de aprendizagem em tempo real, reorganizando novos
agrupamentos de alunos em torno de atividades aceleradas de seus tem-
pos de aprender, tendo em vista os objetivos de ensino.
• A quarta ação refere-se às demandas de formação continuada por parte
dos professores e demais profissionais da escola. Essa formação deveria
alimentar-se de temas centrais voltados para o trabalho de recriação cur-
ricular de cada ciclo, de modo a favorecer atuações docentes cada vez
mais afirmativas, contribuindo, em particular, para a renovação de seus
planos de ensino e de suas práticas de sala de aula.
• Por fim, o reconhecimento da importância da gestão escolar como uma
ação democrática, concretizada pela articulação de ações de natureza
administrativo-pedagógica, em torno da atualização permanente do Pro-
jeto Político Pedagógico.
Como podemos entender o ciclo de aprendizagem hoje?Os ciclos são períodos de escolarização que ultrapassam as séries anuais; são
organizados em blocos, cuja duração varia de dois a três anos, podendo atin-
gir até a totalidade de anos prevista para um determinado nível de ensino.
Eles representam uma tentativa de superar a excessiva fragmentação do cur-
rículo, própria do regime seriado.
A ordenação do tempo se faz em unidades maiores e mais flexíveis, não per-
dendo as exigências acadêmicas para aquele período, levando, contudo, em
consideração, especialmente, o ritmo de aprendizagem de cada aprendiz.
Os ciclos, então, atenderiam de modo mais adequado aos diferentes rit-
mos de desenvolvimento psicomotor, cognitivo, sociocultural, afetivo e estilo
cognitivo, resultantes de diferenças socioeconômicas – expressas em repre-
sentações culturais, étnicas, que são parte desse desenvolvimento.
Seria um equívoco considerar o ciclo como uma proposta exclusiva voltada
àqueles que não aprendem ou que fracassam. Não se trata de inventar algo
Licenciatura em MatemáticaUAB 24

para evitar a repetência pela repetência. Educação por ciclo de aprendiza-
gem é uma organização do tempo escolar, de forma a se adequar melhor às
características biológicas e culturais do desenvolvimento de todos os estu-
dantes. Não significa, portanto, dar mais tempo para os mais fracos, mas dar
mais tempo adequado a todos.
Uma das consequências desse argumento, o currículo na escola que im-
plante o ciclo, seria concebido e organizado, considerando que a principal
função da escola é promover o desenvolvimento humano na sua inteireza,
visando à inserção de seus aprendizes na sociedade como cidadãos escolari-
zados, autônomos e críticos.
Nesse horizonte, o conteúdo de um currículo escolar trataria de tudo o que
se espera ser ensinado e aprendido, segundo uma ordem de programação
e sob a responsabilidade da escola. Estamos falando do conjunto dos con-
teúdos cognitivos e simbólicos (saberes, competências, habilidades, repre-
sentações, tendências, valores, relações pessoais, incluindo aí os conteúdos
universais das diversas áreas do conhecimento humano). O modo de tornar
disponível esse conjunto de conteúdo aos aprendizes seria, claro, pelas prá-
ticas desenvolvidas por cada professor em sua sala de aula.
No Brasil, como também em outros países, onde existem grupos de origens
étnicas e sociais diversas e que nem sempre compartilham com os mesmos
modos de vida nem os mesmos valores, as diferenças individuais se acentu-
am. Por isso mesmo, o ensino deve ser endereçado a uma público cultural-
mente plural, e a escola deve compor seu currículo com os conhecimentos
científicos e do cotidiano.
Algumas perguntas que devem ser respondidas para montagem de uma proposta curricular de organização de ciclos de aprendizagens• Quais as principais ações que orientariam a organização do trabalho pe-
dagógico? A avaliação periódica deveria ser uma das ações prioritárias
que apontariam mudanças a serem observadas nas atividades de ensino.
• Qual seria a duração do ciclo? O primeiro ciclo poderia ser de três anos,
incluindo a faixa etária de 6 a 8 anos; o segundo seria oferecido a crian-
ças de 9 a 10 anos.
Glossário
No Estado de Pernambuco, precisamente em Recife, no contexto de democratização, foi implantado o Ciclo de Alfabetização que, assim como as demais experiências vivenciadas no país, surgiu no contexto de um amplo movimento político que lutou nas ruas pelo fim do regime militar.
UABPolítica e Legislação da Educação 25

• Como seria a organização grupo-classe? Os diversos agrupamentos dos
aprendizes poderiam ser feitos em função da aprendizagem revelada
pela avaliação sistemática, o que evitaria que os ritmos de aprendizagem
ficassem demasiadamente afastados entre si.
• Quais os objetivos de ensino de cada ciclo? Situar os aprendizes em re-
lação ao conjunto de objetivos de ensino implica em identificar o que
eles aprenderam ou ainda precisam aprender em vários aspectos de seu
desenvolvimento.
• Quando avaliar? Em que período? Embora haja um tempo mais elástico
para aprender, é necessário ter clareza de uma base mínima inegociável a
ser alcançada a cada ano, considerando o conjunto de objetivos de ensi-
no propostos a serem avaliados no dia a dia da sala de aula e em períodos
regulares que não sejam apenas os bimestrais.
• Que instrumentos utilizar para a realização nas avaliações? As atividades
do cotidiano escolar, ficha de acompanhamento, uma prova semelhante
provinha do Brasil, ao final de cada bimestre.
Balanço da organização escolar em ciclos, na visão de Mainardes (2001)• Implicações positivas:
– necessidade de se repensar a escola, suas práticas educativas, conte-
údos curriculares e trabalho pedagógico;
– agilidade do fluxo escolar dos aprendizes;
– descongestionamento do sistema, possibilitando o ingresso da popu-
lação que está fora da escola;
– garantia aos aprendizes de maior tempo de permanência na escola,
elevando a média de escolaridade;
– exigência de maiores recursos para a educação, a fim de garantir as
condições adequadas;
– sugestão de mudanças na percepção das famílias, que passam a se
preocupar não apenas com a aprovação, mas com o conhecimento
que seus filhos adquirem na escola.
Licenciatura em MatemáticaUAB 26

• Implicações negativas:
– a organização das turmas utilizadas apenas como solução formal para
diminuir os índices de repetência, sem com isso elevar a qualidade do
ensino;
– descontinuidades das políticas educacionais e a falta de sustentação
acarretam danos maiores para a escola e para os alunos;
– alta de um trabalho coletivo e projeto pedagógico bem definido po-
dem inviabilizar a proposta.
Resistência e desistênciaOs períodos letivos mais longos ainda sofrem muita resistência da parte de
pais, mestres e gestores e até de outros setores da sociedade. Atualmente,
algumas redes públicas municipais e estaduais brasileiras estão recuando da
experiência da organização da escolaridade em ciclos. Mesmo assim, alguns
especialistas preferem estudar melhor o tema, analisando os fatores internos
e externos à escola que incidem sobre as duas modalidades de organização
da escolaridade (série e ciclo) a interromper o período mais longo, evitando,
assim, privilegiar o fator interno, que, isolado, não reflete a vasta, variada,
heterogênea, mas, também, estruturada realidade em que as crianças estão
inseridas.
ExercícioOrganize um resumo no qual você deve incluir as seguintes informações,
relacionadas entre si:
a) Educação Básica: conceito e direitos.
b) Preconceitos e discriminação sociais como impedimento ao direito à edu-
cação. Exemplos.
c) Composição da Educação Básica: níveis de ensino e modalidade de ensino.
d) Formas diversas de organização da escolaridade da Educação Básica.
e) Ciclos de aprendizagens: aspectos fundamentais.
Resposta comentada - O conceito de Educação que a LDB/96 defende está
irrigado por dois conceitos fundamentais: o conceito de básico e de direito.
O significado de básico qualificando a educação vem urgido pela busca de
UABPolítica e Legislação da Educação 27

um espaço público novo para atender as suas finalidades de formação cida-
dã por excelência - ideia do que é básico nessa acepção mostra que a educa-
ção é indispensável para a constituição da identidade de jovem que inicia sua
escolaridade na educação infantil, passa pelo ensino fundamental, segue no
ensino médio e pode mesmo chegar ao ensino superior. Esse percurso esco-
lar é, pois, básico para a construção da cidadania. Mas quem vai fazer esse
percurso? Essa é outra questão. A educação básica é também um direito. A
educação básica enquanto direito significa um recorte universalista próprio
de uma cidadania ampliada e ciosa por encontros e reencontros com uma
democracia civil, social, política e cultural. Pela LDB/96 a sociedade brasileira
clama por justiça, pela quebra dos preconceitos amputados aos homossexu-
ais, aos afrodescendentes, aos portadores de dificuldades especiais, aos que
não frequentaram a escola e se evadiram; aos jovens, aos adultos idosos,
mulheres, enfim, a todos que são discriminados socialmente. A Educação
Básica da LDB/96 prevê uma construção escolar de longo percurso destinada
a todos os brasileiros. A forma de organizar tal Educação Básica pode ser
diversa. O ciclo de aprendizagem é uma forma que parece apresentar bons
frutos, mas que precisa ser aperfeiçoada.
Resumo
A aula 1 está organizada em dois tópicos. O primeiro trata dos conceitos
básicos que orientam o entendimento do conceito mãe da educação básica:
o que vem a ser esse conceito? É básico para a constituição da cidadania de
crianças, jovens, adultos, pobres, ricos. Todos, enfim. Porque o que é básico
é direito, direito de todos, apesar das discriminações que imperam na socie-
dade. Cabe à escola contribuir para que elas desapareçam dia após dia. O
segundo tópico trata da forma da organização dessa educação básica para
todos. Há várias formas de organização da escolaridade. Vimos aqui, em
detalhes, como o ciclo de aprendizagem pode ser organizado, seus impasses
e suas possibilidades.
Referências
BARRETO, E,S.; MITRULIS, E. Trajetória e desafios dos ciclos escolares no Brasil. Revista de Estudos Avançados, v.15, n.42, 2004, p.101-142.
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
_______CNE. CEB. Resolução nº 02, de 19 de abril de 1999. Institui as Diretrizes Curriculares.
Licenciatura em MatemáticaUAB 28

BRZEZINSKI, I. (Org.) LDB Dez anos depois: reinterpretação sob diversos olhares . 2ª edição. São Paulo: Cortez, 2008.
CURY, C.R.J. A educação básica como direito. Cadernos de Pesquisa. V. 38, n. 134, p. 293-303, maio/ago, 2008.
FIGUEIREDO, M.E.M. (Org.) Cadernos de Atividades – Ciclo I. Recife: Fundação Antônio dos Santos Abranches. 2008.
LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J.F. de; TOSCHI, M.S. Educação Escolar: políticas, estrutura e organização. São Paulo: Cortez Editora, 2003.
MACHADO, L.B. A atual LDB: do processo de discussão às implicações para a estrutura e funcionamento do ensino. In: BOTLER, A,H. Organização, financiamento e gestão escolar: subsídios para a formação do professor. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2009, p.15-35.
__________ Os ciclos de aprendizagem como alternativa de organização escolar: contextualização e desafios. In: MACADO, L.B.; SANTIAGO, M.E. Políticas e Gestão da Educação Básica. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2009, p. 109- 123.
MAINARDES, J.A. A organização da escolaridade em ciclos: ainda um desafio. In: FRANCO, C. (Org.) Avaliação, ciclos e promoção na educação. Porto Alegre: Artmed, 20011, p.34-
54.
Links Consultadoshttp://.revistaescola.abril.com.br/eja/
http://www.mec.gov.br
UABPolítica e Legislação da Educação 29


Aula 2 - Educação Básica:
educação infantil ou primeira
etapa da educação básica
Objetivos
Geral: analisar a estrutura e o funcionamento da Educação Infantil
como primeira etapa da Educação Escolar no Brasil.
Específicos:
• analisar a Educação Infantil como educação básica e direito das
crianças pequenas;
• discutir os aspectos legais e pedagógicos da organização da es-
colaridade da Educação Infantil no contexto da Educação Básica,
identificando seus avanços, desafios e oscilações.
Assuntos – Educação Infantil: conceito e direito.
– Educação Infantil: finalidades, atendimento de zero a cinco anos, lo-
cais de atendimento e avaliação.
– Documentos curriculares.
– Formação do Professor de Educação Infantil.
IntroduçãoNesta aula, recuperaremos a construção da Educação Básica como conceito
e como direito na Educação Infantil e a repercussão em toda a sua organi-
zação e funcionamento. Inicialmente, trataremos da faixa etária de aten-
dimento da criança pequena, aludindo à LDB/96 e, posteriormente, à lei
nº 11.274/2006, que, ao instituir o ensino fundamental de nove anos de
duração, reduz a duração da Educação Infantil para cinco anos. Em seguida,
abordaremos a relação fundamental entre a finalidade da Educação Infantil
Glossário
A política educacional funda suas raízes na Ciência Política, adotando suas categorias e seus paradigmas. Enfocada como disciplina, seu campo de interesse é o estudo da influência da política nos sistemas educacionais e o papel da educação na vida política. Nesse sentido, ela delimita os atores (partidos políticos, grupos sociais, governos), analisa as ideologias educativas, os princípios, as diretrizes reguladoras e as linhas de ação (PUELLES BENÍTEZ, 1999).
UABPolítica e Legislação da Educação 31

e a concepção de avaliação que evita qualquer tipo de retenção e impedi-
mento ao ingresso no ensino fundamental. Por fim, lembraremos os desafios
que se apresentam para a Educação Infantil como subsídios para a organiza-
ção do PNE/2011, tais como o financiamento, a formação de professores e
as orientações curriculares. No segundo tópico, estudaremos os documentos
curriculares que são subsídios ao trabalho do professor, como o Referencial
Curricular Para a Educação Infantil (1998) e os Parâmetros Curriculares Na-
cionais de Qualidade para a Educação Infantil (2006) e a Revista Criança.
1. Educação Infantil: estrutura e funcio-namentoCiranda, cirandinha,
Vamos todos cirandá
Vamos dar meia volta
Volta e meia
Vamos dar.
A educação infantil, como primeiro nível escolar da educação básica, passou,
a princípio, com a LDB/96, a ordenar o atendimento educacional de crianças
de zero a seis anos.
A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da crian-
ça até seis anos de idade, em seus aspectos físicos, psico-
lógicos, intelectual e social, complementando a ação da
família e da comunidade.
Mas, em 6 de fevereiro de 2006, a Lei nº 11.274 institui o ensino funda-
mental de nove anos de duração com a inclusão das crianças de seis anos
de idade.
Licenciatura em MatemáticaUAB 32

Doravante o atendimento de crianças de zero a cinco anos
passou a ser incumbência do primeiro nível da educação
básica, ou seja, da educação infantil
A inclusão da Educação Infantil no conceito de educação básica representa
um avanço importante na responsabilidade pública sobre a educação.
A LDB/71 não se pronunciou a respeito. Apenas, no parágrafo 2º do Art.
19, há uma leve alusão à questão: os sistemas de ensino velarão para que as crianças da idade inferior a sete anos recebam conveniente educação em escolas maternais, jardins de infância e instituições equivalentes. Noutras palavras, não disse muita coisa afirmativa.
O texto legal da LDB/96, por outro lado, dá desdobramento ao dispositivo
constitucional (Art. 208, IV), que alega a necessidade da oferta de educação
a crianças de zero a seis anos, ao definir suas perspectivas de atuação edu-
cacional, quando elege o desenvolvimento integral da criança nos aspectos
físicos, psicológicos, intelectual e social, como foco de seu currículo.
O Ministério da Educação, malgrado ter tido, desde 1974, um setor respon-
sável pelo atendimento às crianças pequenas, não desenvolveu uma política
coerente que desse prosseguimento a ações de financiamento, formação de
professor e currículo.
Esquecida por muito tempo, a educação infantil renasce constitucionalmen-
te em 1988 e passa, com a LDB/96, a integrar o conceito de educação básica
cruzada com o conceito de direito.
A luta que se impõe, hoje, é incluir o conceito de direito no bojo das políti-
cas públicas de Educação Infantil, para que a inclusão de todas as crianças
de zero a cinco anos, dentro do espírito do texto legal, seja uma realidade
efetiva.
UABPolítica e Legislação da Educação 33

Educação Infantil: breve históricoAqui, no Brasil, como em muitos países subdesenvolvidos, o atendimento à
infância era caracterizado pela marca da assistência ou amparo aos pobres
e necessitados, gerando, como implícito na LDB/71, a noção de que essa
oferta de serviço se fizesse em estabelecimentos filantrópicos e assistenciais,
completamente desvinculados do sistema educacional e escolar, qualquer
quer fosse seu espaço nele. Veja, a seguir, imagens que expressam o que
acabamos de explicitar.
Na década de quarenta, já era possível encontrar, em São Paulo, Porto Alegre
e Fortaleza, jardins e parques infantis como espaços que garantissem assistir,
educar e recrear as crianças seguindo o modelo assistencial, ainda que os
espaços fossem públicos. Veja, a seguir, uma foto da Cidade da Criança em
Fortaleza, até hoje existente, mas agora com outras finalidades.
Nesse período, as creches eram reconhecidas como necessárias a algumas
famílias, especialmente, as mais pobres, que precisavam deixar suas crianças
em algum lugar para seguir para o trabalho. Essa concepção de guarda da
criança estava distante da concepção de uma pré-escola como um lugar co-
letivo de socialização, além da família
Já no final da década de setenta, o Brasil vê-se marcado pela expansão da
oferta, em larga escala e a baixo custo, de estabelecimentos dedicados à
Licenciatura em MatemáticaUAB 34

educação infantil, tais como a Legião Brasileira de Assistência (LBA), que se
destacou com o Projeto Casulo, considerado um exemplo de atendimento
assistencial infantil, embora de qualidade duvidosa.
No início da década de oitenta, surge a febre da teoria da privação cultural
que projetava programas de caráter compensatório para as crianças denomi-
nadas carentes na educação pré-escolar. Era aceito, entre alguns teóricos da
educação, que o fracasso escolar poderia ser evitado com uma ação de natu-
reza compensatória que preenchesse o vazio cultural observado na pobreza
das crianças frequentadoras de escolas públicas em início de alfabetização.
No seio da pesquisa e da investigação acadêmica, surgiu, também nos anos
oitenta, uma discussão em torno do papel e função da educação infantil
por parte de educadores inconformados com a teoria compensatória. Sur-
gem, então, no âmbito dos movimentos sociais e da sociedade civil, defesas
do caráter pedagógico e educacional da creche e da pré-escola brasileiras,
gerando uma oposição radical ao assistencialismo que ainda imperava na
tradição de atendimento às crianças pequenas. Aparece, assim, a defesa da
educação infantil como um direito, já preconizado no conceito de educação
básica sob a áurea da LDB/96. Examine a foto abaixo, representando o de-
sejo de se verem as crianças pequenas em classes de educação infantil de
escolas públicas e privadas.
Nas décadas de sessenta e setenta do século passado, entram, no cená-
rio social brasileiro, os organismos internacionais, como a UNESCO, Banco
Mundial e a UNICEF, que constroem um discurso a favor da educação
pré-escolar e do desenvolvimento da Primeira Infância como arma contra a
pobreza e como investimento em capital humano futuro.
Na passagem do novo milênio, crescem as discussões em torno dos concei-
tos da infância e de sua educação.
Glossário
Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças - Esse documento compõe-se de duas partes. A primeira contém critérios relativos à organização e ao funcionamento interno das creches, que dizem respeito, principalmente, às práticas concretas adotadas no trabalho direto com as crianças. A segunda explicita critérios relativos à definição de diretrizes e normas políticas, programas e sistemas de financiamento de creches, tanto governamentais como não governamentais. (http:www.mec.gov.br).
UABPolítica e Legislação da Educação 35

Infelizmente, na sociedade contemporânea em que compartilhamos o coti-
diano das crianças pequenas, constatamos que as práticas pedagógicas e a
oferta de vagas nas instituições públicas ainda deixam muito a desejar, em-
bora reconheçamos os avanços legais e os esforços políticos e pedagógicos
alcançados após a LDB/96.
Educação Infantil como direito das crianças pequenasPara atender às normas constitucionais vigentes, o Ministério da Educação
(MEC) coordena políticas públicas voltadas para as crianças de zero a seis
anos, a partir de 1994.
O documento Política Nacional de Educação Infantil estabelece os seguintes
marcos em relação a sua definição de diretrizes básicas:
– expansão da oferta;
– fortalecimento da indissociabilidade entre a educação e o cuidado e
melhoria da qualidade do atendimento nas instituições.
Desse documento nascem quatro ações gerais em plano nacional:
– incentivo à elaboração de implementação e avaliação de propostas
pedagógicas e curriculares;
– estímulo à formação e valorização dos profissionais de creche e pré-
escola;
– apoio aos sistemas municipais para assumirem suas responsabilidades
com a Educação Infantil;
– criação de um sistema de informações sobre a educação da criança
de zero a seis anos.
Ainda na trilha de inserir a Educação Infantil como direito no seio da educa-
ção básica nacional, legalmente, fez-se necessária a organização de estru-
turas regulares de ensino que implica em oferta de vagas, normatizações e
fiscalização pelos sistemas. A lei é, implicitamente, clara sobre esses itens.
Vejamos seu Art. 30:
A educação infantil será oferecida em:
I – creches ou em entidades equivalentes, para crianças de
até três anos;
II – pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de
idade.
Licenciatura em MatemáticaUAB 36

Quanto à avaliação, a lei é também esclarecedora a esse respeito, quando
afirma em seu Art. 31: Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante o acompanhamento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental.
O texto legal, ao se definir por uma avaliação sem fins de promoção, cruza
essa sua concepção de avaliação com a finalidade da educação Infantil que
normatiza no Art. 29 (já mencionado anteriormente), mostrando, assim, a
coerência e coesão entre esses dois itens da organização para o primeiro
nível de escolaridade da educação básica e do direito a ela. A relevância des-
sas referências legais produz novas perspectivas para as crianças pequenas,
indicando a educação infantil como um complemento das ações da família
e da comunidade. Afasta, com isso, também, a implementação de práticas
avaliativas inadequadas, geradoras de retenção até na pré-escola.
Diretrizes Curriculares NacionaisEm 1999, o Conselho Nacional de Educação lança a Resolução nº 1, de 07
de abril, instituindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação In-
fantil. Tais documentos são, nesse período, referências legais e pedagógicas
para a elaboração de propostas para a educação das crianças de zero a seis
anos de idade.
Plano Nacional de Educação (PNE)
Na sequência, surgiu o Plano Nacional de Educação (PNE) – Lei nº 10.172, de
2001 -, abrindo um capítulo para a Educação Infantil com a análise da oferta
e demanda. Esse documento tanto estabelece diretrizes fundamentais no
conhecimento atual das ciências que se debruçaram sobre a criança e seus
processos de desenvolvimento e aprendizagem, quanto nas indicações de
melhoria da prática pedagógica e fixa objetivos e metas nacionais para seus
dez anos de vigências.
UABPolítica e Legislação da Educação 37

O debate do novo PNE, a ser implantado em 2011, está,
atualmente, discutindo o direito à educação infantil e o
financiamento para o atendimento de crianças de zero a
3 anos.
O novo PNE, ao tratar do conjunto da educação nos vários âmbitos das
jurisdições administrativas, expressa, consequentemente, uma política edu-
cacional voltada para todos os níveis, etapas e modalidades da educação e
ensino, na perspectiva do desenvolvimento, da inclusão social, da produção
científica e tecnológica e da cidadania da população brasileira. A educação
infantil enquanto um nível da educação básica se faz presente!
Na esteira de viabilizar a educação infantil, o Instituto Nacional de Pesquisas
Educacionais (INEP) realizou, no ano de 2000, o censo da Educação Infantil,
trazendo informações úteis à elaboração de novas políticas públicas e de
programas específicos para essa área.
Desde a Constituição de 1988, a educação infantil vem percorrendo, não
mais sozinha, um itinerário de abertura às crianças. Olhando as escolas, as
vagas e as salas de aula, parece que tudo já foi conquistado. Nem tanto
assim. Hoje ela faz parte da educação básica e, como básica, é um direito a
continuar a ser plenamente adquirido. No entanto, é preciso atualizar suas
orientações curriculares e repensar seu financiamento e a formação de pro-
fessores.
2. Políticas Públicas de Educação Infantil
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil
Licenciatura em MatemáticaUAB 38

A partir de propostas pedagógicas, surgiram o Referencial Curricular Na-
cional para Educação Infantil (RCNEI-1998). O mencionado documento é
constituído por um conjunto de referências e orientações pedagógicas, não
obrigatórias, objetivando contribuir com a construção de práticas educativas
de qualidade em creches e pré-escolas. Seu público alvo é formado por téc-
nicos, professores e demais profissionais da Educação Infantil em trabalho
nos sistemas estaduais e municipais.
Para garantir a legitimidade e a representatividade do documento em apre-
ço, foram incorporadas as contribuições daqueles que historicamente defen-
deram e fizeram a Educação Infantil nos vários estados da Federação. Duran-
te o ano de 1998, a proposta em elaboração do RCNEI foi à discussão em
vários fóruns educacionais espalhados pelas capitais dos estados federados.
O RCNEI apresenta as novas características e concepções do atendimento
em creches e pré-escolas, agora como parte da Educação Básica. A criança
é tomada como indivíduo que tem uma natureza singular que o põe como
ser humano histórico, diverso e plural, que sente e age com seu próprio jeito
e autonomia.
Com esse horizonte diante de si, a educação se põe como um processo de
constituição dos sujeitos no mundo da cultura, aprendendo-a, transforman-
do-a, produzindo sentidos e criando significados.
Os princípios presentes no RCNEI foram reconhecidos com a definição, pelo
Conselho Nacional de Educação, das Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação Infantil (Resolução CEB nº 1, de 7/4/1999).
UABPolítica e Legislação da Educação 39

Atualmente, o Ministério da Educação publicou, em 2006, os Pa-
râmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil. Eles
atualizaram as referências de qualidade para a Educação Infantil
a serem utilizadas pelos sistemas educacionais que promovam a
igualdade de oportunidades educacionais e levem em conta dife-
renças, diversidades e desigualdades do nosso imenso território e
das muitas culturas nele existentes.
Para sua elaboração, foi feita uma discussão qualificada que contribuísse,
efetivamente, para o avanço da Educação Infantil no Brasil. Instaurou-se um
processo durante o qual foram elaboradas versões preliminares desse texto.
Após a incorporação das várias versões, editou-se uma que traduz um con-
senso difícil, mas possível.
O documento distingue, conceitualmente, parâmetros de qualidade e indi-cadores de qualidade.
• Parâmetros refletem a norma, o padrão ou a variável capaz de modi-
ficar, regular, ajustar o sistema. Podem ser definidos como referência,
ponto de partida, ponto de chegada ou linha de fronteira.
• Indicadores supõem a possibilidade de quantificação, servindo como
instrumento para aferir o nível de aplicabilidade do parâmetro. Parâ-metros são mais amplos e genéricos, indicadores mais específicos e
precisos.
O primeiro volume aborda itens que contribuem para a definição de parâ-
metros de qualidade para a Educação Infantil no país, como, por exemplo:
uma concepção de criança e de pedagogia da Educação Infantil; a trajetória
histórica da qualidade na Educação Infantil, as pesquisas recentes dentro e
Licenciatura em MatemáticaUAB 40

fora do país; os desdobramentos previstos na legislação nacional para a área
e consensos e polêmicas no campo.
No segundo há um elenco das competências dos sistemas de ensino e a
caracterização das instituições de educação infantil a partir de definições le-
gais. São apresentados os parâmetros de qualidade para os sistemas educa-
cionais e para as instituições de educação infantil no Brasil, com o intuito de
estabelecer uma referência nacional que subsidie os sistemas na discussão e
implementação de parâmetros de qualidade locais.
Formação e valorização dos profissionais de educação Infantil
No seio das transformações trazidas pela legislação das décadas de 1980 e
1990, a formação de professores de Educação Infantil surge como uma das
questões mais emergentes a serem enfrentadas. A questão aparece como
emergente, porque, também, é crucial, já que há necessidade de preparar
profissionais para atuar junto à população em atendimento de creche e de
pré-escola. Em decorrência da valorização da criança de zero a seis anos es-
tabelecida pela LDB/96, uma nova medida se impõe em relação à formação
de professores, que precisam de uma graduação de nível superior (licencia-
tura plena) ou habilitação de magistério de nível médio (normal médio) para
atuar na Educação Infantil.
Além disso, a LDB/96 determina em seus artigos 67, 69 e 70 que:
Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos pro-
fissionais que atuam em creches e pré-escolas, no que diz
respeito à formação profissional, condição de trabalho,
plano de carreira e remuneração digna.
UABPolítica e Legislação da Educação 41

Essas exigências, no tocante à formação, levaram à elaboração pelo Con-
selho Nacional de Educação das Diretrizes Curriculares da Educação Infantil
e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em nível médio, na modalidade
normal. Foi a Resolução CEB nº 2, de 19/04/1999.
Em maio de 2001, são aprovadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
formação de professores de Educação Básica, em nível superior, em curso de
licenciatura de graduação plena. Mais uma vez, os profissionais da Educação
Infantil são contemplados com uma normatização para a sua formação.
Conhecendo a realidade dos diversos municípios, o Ministério da Educação
elabora os Referenciais para Formação dos Professores e cria o Programa de
Desenvolvimento Profissional Continuado, envolvendo todos os segmentos
de professores, inclusive os de Educação Infantil.
Surge, então, o programa de formação continuada denominado Parâmetros
em Ação, que consistia em orientações dos Referenciais e dos Parâmetros
Curriculares. O principal objetivo era favorecer a construção de competên-
cias que estavam na base da profissionalização, como o trabalho em equipe,
a administração da própria formação, a competência leitora e a competência
escritora, dentre outras. Os estudos feitos nos municípios eram de estudo da
prática dos professores num espaço de socialização.
Programa de Formação Inicial para Professores
Licenciatura em MatemáticaUAB 42

em Exercício na Educação Infantil - Proinfantil
Os dados do Censo Escolar de 2004 demonstraram a existência de, apro-
ximadamente, 40 mil professores em exercício sem a devida formação. Em
face dessa realidade, o Ministério de Educação (MEC) elaborou, em regime
de colaboração com estados e municípios, um Programa para formar a dis-
tância os professores de Educação Infantil – o PROINFANTIL.
Todos os docentes atuando nas redes pública e privada podem vir a ser o
público alvo dessa formação.
A estrutura do curso tem três módulos:
– Educação, sociedade e cidadania: perspectivas históricas, sociológicas
e políticas da Educação Infantil;
– Infância e cultura: linguagem e desenvolvimento humano; crianças,
adultos e a gestão da Educação Infantil;
– Contexto de aprendizagem e o trabalho docente.
Por se tornar um curso de formação em nível médio, a implementação do
Programa se faz a partir das negociações com as secretarias estaduais de
educação, que se articulam com os municípios.
O desenvolvimento do PROINFANTIL tem se constituído em uma prática
transformadora. Traz, em seu âmago, a possibilidade da Educação Infantil
construir uma identidade própria, à medida que produz qualificação para
toda a estrutura.
A formação dos professores provoca, especialmente, mudanças nas con-
cepções das instituições de Educação Infantil e dos sistemas de ensino. Há,
inclusive, possibilidade do aparecimento de demandas por formação inicial
para outros profissionais, tais como coordenadores e diretores de creches.
UABPolítica e Legislação da Educação 43

Novos desafios, porém, se impõem ao Programa. O mais importante concer-ne ao enraizamento do próprio Programa como um elemento de transfor-mação da realidade infantil nos municípios, tornando-se, assim, o indutor de grandes transformações na Educação Infantil, principalmente nas concep-ções e nas práticas desenvolvidas em creches e pré-escola. Sempre, insisti-mos: ter em perspectiva, a criança como um sujeito pleno de direitos.
A Revista Criança está em circulação há 25 anos. Editada, publicada e dis-tribuída pela Coordenação Geral de Educação Infantil da Secretaria de Edu-cação Básica do MEC, caracteriza-se como um instrumento de disseminação da política nacional de educação infantil e de formação do professor.
Representa uma importante fonte de informação e de formação de profis-sionais que atuam na área. É distribuída diretamente nas escolas públicas que atendem à educação infantil e nas instituições privadas sem fins lu-crativos, conveniadas com o poder público. Também recebem a revista as Secretarias Municipais e Estaduais de Educação e do Distrito Federal, além de entidades que integram o Comitê Nacional de Políticas para a Educação Básica – CONPEB. Tiragem: 200 mil (http:www.mec.gov.br).
Licenciatura em MatemáticaUAB 44

Exercícioa) Quais os principais conceitos que podem afetar a Educação Infantil como
educação básica e direito das crianças pequenas?
b) Indique os principais incentivos à formação de professores de Educação
Infantil?
a) Resposta comentada: as conquistas trazidas com a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação para a Educação Infantil, como fazer parte da educação
básica e a educação infantil ser considerada um direito da criança peque-
na, a definição clara de sua finalidade associada a uma avaliação que não
impeça o ingresso ao ensino fundamental, podem não avançar, se não fo-
rem garantidos um programa de formação continuada aos professores, um
provimento de financiamento permanente e seguro e, por fim, orientações
curriculares precisas e atuais que venham ao encontro da ideia da criança
como sujeito.
b) Resposta comentada: o programa de formação a distância PROINFANTIL
é uma resposta à necessidade de formação de professores de creches e de
escolas de educação infantil. Além disso, há o documento de Parâmetros
Curriculares de Qualidade da Educação Infantil, que é subsídio para uma
prática exitosa na Educação Infantil. Por fim, a leitura dos diversos artigos e
reportagens da Revista da Criança completa o elenco de incentivos à forma-
ção dos professores de Educação Infantil.
ReferênciasBRASIL, MEC. Políticas de melhoria da qualidade da educação: um balanço / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEC, 2002.
_______ MEC. Políticas de melhoria da qualidade da educação: um balanço institucional/SEF. – Brasília: MEC/SEF, 2002.
_______ Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação.
________ Secretaria do Ensino Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática./Secretaria de Ensino Fundamental: Brasília, 1997.
________ Resolução CEB nº2, de 7 de abril de 1998.
________ Secretaria do Ensino Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Introdução./Secretaria de Ensino Fundamental: Brasília, 1997.
________ Secretaria do Ensino Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática./Secretaria de Ensino Fundamental: Brasília, 1997.
BRZEZINSKI, I.(ORG.). LDB dez anos depois: reinterpretação sob diversos olhares. 2ª ed. São Paulo: CORTEZ, 2008.
UABPolítica e Legislação da Educação 45

____________Da nova LDB ao Plano Nacional de Educação: por uma outra política educacional. Campinas/São Paulo: Autores Associados, 1998.
CARNEIRO, M. Leitura Crítico-Compreensiva: Artigo a Artigo. Petrópolis/RJ: Vozes, 1998.
MENDES, R. P.; FARIA, V.L. B. O PROINFANTIL: ontem, hoje e amanhã. Revista Criança do professor de Educação Infantil. Brasília: MEC,nº 41, 2006.
PORTO, Z. G. Participação Social e Políticas de Educação Infantil no Brasil: Lugares de Produção e Circulação de Discursos. Recife: Editora Bagaço, 2009.
SAVIANI, D. Da nova LDB ao Novo Plano Nacional de Educação: por uma outra política educacional. Campinas/ São Paulo: Autores Associados, 1998.
Links consultados:http://portal.mec.gov.br/ideb/
http://www.inep.gov.br/basica/saeb/matrizes/default.htm
http://revistaescola.abril.com.br
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=11445&Itemid=86
Licenciatura em MatemáticaUAB 46

UABPolítica e Legislação da Educação 47

Licenciatura em MatemáticaUAB 48

Aula 3 - Uma modalidade da
Educação Básica: Educação
de jovens e adultos
Objetivos
Geral: reconhecer, em cada marco legal e nos passos históricos, o
longo itinerário da Educação de Jovens e Adultos.
Específicos:
• identificar os aspectos históricos do debate sobre a EJA no Brasil;
• reconhecer a relevância das marcas legais para a construção da
EJA pós a LDB/96;
• descrever diversas experiências de EJA, destacando seus aspec-
tos relevantes.
Assuntos – O debate sobre a EJA no Brasil: seus marcos legais e educacionais e
campanhas.
– Aspectos legais da EJA no Brasil: Constituição de 1988 e LDB/96,
Diretrizes Curriculares para a EJA.
– Experiências de EJA: Brasil Alfabetizado, Alfabetização Solidária, Al-
fabetização de Jovens e Adultos de São Paulo (MOVA), Educação de
Jovens e Adultos no MST.
IntroduçãoEsta aula recupera, inicialmente, um pouco da história da EJA no Brasil,
temática essa já ventilada na aula 2 (Sistema Escolar Brasileiro: estrutura e
funcionamento do Ensino Médio). Abordaremos mais dois assuntos: a legis-
UABPolítica e Legislação da Educação 49

lação educacional e EJA no Brasil.
Por fim, no último tópico, teremos a descrição e análise de algumas experi-
ências de EJA no Brasil, justamente ao final do século passado e no começo
do século XXI.
Esperamos que você compreenda o quanto os marcos constitucionais de
1988 e a legislação educacional de 1996 foram relevantes para a Educação
de Jovens e Adultos
1. O debate sobre a EJA no Brasil: seus marcos legais e educacionais e campanhas.Contexto social, político e cultural no Brasil, ao final do século XIX
Nosso objetivo, nesse tópico, é apresentar os aspectos do contexto social e
cultural de nosso país, antes mesmo do aparecimento de algumas iniciativas,
campanhas e ações de políticas que caracterizaram o percurso vivido pela
educação brasileira de jovens e adultos.
Para compreendermos um pouco mais as desigualdades sociais que sacri-
ficavam a imagem do Brasil, no campo social, econômico e educacional,
lembramos, aqui, a sua concentração de renda e da terra. Vamos, então, re-
cordar alguns itens que nos afligiram e, ainda, com outra feição, continuam
irrigando os nossos contextos de vida. Destacamos: os direitos diferentes;
proibição do voto à pessoa analfabeta; seleção das pessoas votantes em
função da renda anual líquida; discriminação em função da cor, religião ou
raça, dentre outros.
A grande maioria dos pequenos proprietários de terra habita a minoria das
terras agricultáveis do País, enquanto que a maioria de grandes proprietários
tem a posse de 50% dessas terras.
Esse contexto teve repercussão em vários cenários da nossa realidade, a
saber: por muito tempo a população brasileira ficou sem acesso à escola
porque não havia escola; havia concentração da população na zona rural
até a primeira metade do século XX e disseminava-se a ideia de que para
se trabalhar na terra não é preciso estudar; a sociedade brasileira viveu, até
1888, oficialmente, o processo de escravidão; a necessidade de trabalho
Licenciatura em MatemáticaUAB 50

levou muitos alunos à desistência escolar; formação precária dos professores
e prática pedagógica bancária, isto é, não libertária (FREIRE, 1983) geravam
desânimo, desmotivação, especialmente, entre os estudantes do turno da
noite.
A política educacional para o País deu seus primeiros passos com a vinda da
família real para o Brasil, em 1808. A partir daí, surgiram vários debates e
projetos de ação que se focaram na educação popular e na obrigatoriedade
do ensino. Mas, antes, o panorama tinha o retrato que se segue:
A população pobre era a mais atingida pela falta de aces-
so à escola; as mulheres mais pobres não recebiam instru-
ção e as da elite recebiam educação em casa. Enfim, no
século XIX, a educação do povo não era uma necessidade
social e econômica (PAIVA, 1987).
Antecedentes do debate sobre a EJA no Brasil – Século XIXAntes de tratarmos da Educação de Jovens e Adultos, vamos traçar um
ponto na linha do tempo, tocando na educação de adultos como a expres-
são da preocupação política com o segmento social analfabeto emergente
em meados do séc. XIX, eivada da intenção de superação da ignorância da-
queles que não sabiam ler e escrever. Daí, a missão era civilizar a população
analfabeta.
Rui Barbosa, em 1822, manifestou sua preocupação com a educação popu-
lar, ao mencionar a absoluta miséria do ensino popular no País e ao referir-se
aos parcos recursos orçamentários do Império destinados a essa educação
(1,99%), muito aquém das despesas destinadas ao militares (20,86%).
No final do período Imperial (1882), vários projetos foram apresentados
à Assembleia Geral, dentre os quais havia o de Rui Barbosa que fazia um
diagnóstico da situação educacional brasileira referente ao ensino elemen-
tar, explicitando algumas preocupações qualitativas com o ensino em geral,
inclusive o popular, porque havia insistência no combate à ignorância.
Ao final do século XIX, a maior parte da população do País era considerada
analfabeta. O censo de 1890 informava a existência de 85,21% de iletrados
na população total. Sem ações políticas de enfrentamento dessa realidade,
esse índice de analfabetismo passa ser a grande vergonha nacional.
UABPolítica e Legislação da Educação 51

Antecedentes do debate sobre a EJA no Brasil – Século XXA educação de adultos ganha maior peso quando se amplia o debate em torno da educação popular. No pensamento de Freire (1982), o conceito de educação de Adultos vai se movendo na direção do de Educação popular, à medida que a realidade começa a fazer algumas exigências à sensibilidade e competência científica dos educadores e educadoras.
Uma dessas exigências tem a ver com a compreensão críti-
ca dos educadores do que vem ocorrendo na cotidianida-
de do meio popular [...] os conteúdos a serem ensinados
não podem ser, totalmente, estranhos àquela cotidianida-
de (FREIRE, (2009)
Após a Revolução de 1930m, era possível encontrar, no País, movimentos
que discutiam a educação significativa de adultos.
Como exemplo disso, lembramos o Ensino Supletivo que se expandiu no
período pós 1930 e pós a Primeira Guerra Mundial. No debate sobre a ne-
cessidade de ampliar a rede de ensino elementar, evidenciou-se, também,
a educação dos adultos. A primeira ação oficial voltada para a mesma é de
1940, quando foi criado o Fundo Nacional de Ensino Primário (FNEP), em
1942.
Até a Segunda Guerra Mundial, a atenção para com esse segmento educa-
cional estava sempre associando a educação popular com a difusão do ensi-
no elementar. Após esse marco histórico, a educação de adultos passou a ser
pensada de forma independente, em decorrência das tendências mundiais
e da ação dos movimentos populares de educação. Os ventos democráticos
sopraram a favor do debate sobre educação de massas e a organização de
Centros de Cultura Popular, difundindo os interesses das classes trabalhado-
ras.
Licenciatura em MatemáticaUAB 52

Gadotti, no seu livro Educação de Jovens e Adultos: correntes e tendências.
In: Gadotti, M.; ROMÃO, J. E. (Orgs.) Educação de jovens e adultos e pro-
postas. São Paulo: Cortez, 2005, explicita bem esse vínculo da educação de
adultos com o ensino elementar, quando diz:
Até os anos de 40, a educação de adultos era concebida
como uma extensão da escola formal [...]. Na década de
50, duas são as tendências mais significativas na educa-
ção de adultos: a educação de adultos entendida como
educação libertadora, como “conscientização” (Paulo
Freie) e a educação de adultos entendida como educação
funcional (profissional) [...]. Na década de 70, essas duas
correntes continuam.
Apenas a partir da década de 1940, passou-se a falar na existência de uma
política de educação de jovens e adultos analfabetos no Brasil, mesmo que
ainda no Império e durante a Primeira República tenham sido feitas refe-
rências somente ao ensino noturno de adultos, embora, anteriormente, tais
referências já houvessem aparecido em textos normativos. Mas, como disse
Paulo Freire, em citação anterior neste texto, os esforços foram, até então,
pouco significativos para os educandos.
Campanhas de Educação de EJA – início do século XXA primeira Campanha de Educação de Adultos (CEA) ou Campanha de Edu-
cação de Adolescentes e Adultos (CEAA) foi criada em 1947 e extinta em
1963. E tinha como objetivo principal divulgar, entre as massas ruralistas,
os postulados do novo regime político, ou seja, os princípios da democracia
liberal. O material didático era de caráter uniforme e destinado a todos os
adultos residentes no meio rural e urbano.
O CEEA apresentava as seguintes características:
1) tinha o aporte legal da FNEP;
2) respondia bem à proposta de educação popular apresentada pela UNES-
CO;
3) alimentava o anseio de preparar mão - de - obra nas cidades e no campo;
UABPolítica e Legislação da Educação 53

4) era um instrumento de melhoria dos índices de analfabetismo;
5) assumia o sentimento de salvação da nação;
6) associava-se à ampliação de bases eleitorais;
7) combatia a marginalidade social;
8) reconhecia que o estágio cultural do País era um entrave ao seu desenvol-
vimento econômico.
Defendia como concepção de analfabetismo a ideia de que o adulto anal-
fabeto era incapaz ou menos capaz do que o adulto alfabetizado. Por isso,
tinha-se como objetivo integrar o homem marginal aos problemas da vida
cívica e buscar a unificação da cultura brasileira (SOUZA,2007.)
A primeira Campanha Nacional de Educação de Jovens e Adultos, inicia-
da em 1947, capitaneada por Lourenço Filho como política governamental,
inaugurou, no país, um debate pedagógico sobre o analfabetismo.
No final dos anos de 1950, surge a Campanha nacional de Erradicação do
Analfabetismo. O programa previa:
o aprofundamento dos estudos sobre problemas sociais,
econômicos e culturais das áreas selecionadas para a re-
alização do Plano Piloto; a melhoria do ensino primário
[...]; transformação das escolas em centro de reuniões da
população local, o que significava um amplo movimento
de base para a população rural (BELSIEGEL, 1997).
A experiência foi extinta em 1961. Seu principal desafio foi atingir a grande
massa com qualidade!
A Educação de Jovens e Adultos passou, em 1961, às mãos do Movimento
de Educação de Base (MEB), que tratava de um convênio entre o Governo
Federal e o Conselho Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
As aulas eram elaboradas por uma equipe central e transmitida pela via ra-
diofônica a um monitor que estabelecia relação entre o conteúdo das aulas e
a vida dos alunos, debatendo com eles suas questões. Seu objetivo principal
era a conscientização da decisão de participar da vida politizada, ingressan-
Licenciatura em MatemáticaUAB 54

do em sindicatos e em organizações de classe. Podemos encontrar na 2ª
lição de sua cartilha Viver é Lutar, o texto a seguir:
Eu vivo com a família.
Pedro também vive com a família dele.
Todos vivem com a família?
Eu, Pedro e todas as pessoas somos o povo.
O povo de um lugar forma uma comunidade?
A família vive com a comunidade?
O POVO DE UM LUGAR FORMA UMA COMUNIDADE.
Nos anos 60, com a significativa e efetiva participação de Paulo Freire, diver-
sas iniciativas em torno da educação de adultos foram executadas, também
sob a égide da conscientização popular.
Entre essas, citamos o Movimento de Cultura Popular do Recife. O MCP
consistia na criação de escolas para o povo com a utilização de salas de
associações de bairros, entidades esportivas e igrejas. O objetivo desse mo-
vimento era elevar o nível cultural das massas, conscientizando-as paralela-
mente. Além do trabalho de alfabetização, foram abertos núcleos de cultura
popular, teatro, canto, música, dança popular e artesanato.
Com esses mesmos objetivos e organização, foram criados, ainda, a campa-
nha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler, desenvolvida em Natal, RN e
o Centro Popular de Cultura da UNE - CPC (1961-1964, no Rio de Janeiro).
Bem sugestiva a ilustração a seguir, não é?
UABPolítica e Legislação da Educação 55

Nesses centros, os artistas, estudantes e intelectuais, unidos pelo objetivo de
transformar o Brasil a partir da ação cultural capaz de conscientizar as clas-
ses trabalhadoras, fundam o CPC. Inspirado no pernambucano Movimento
de Cultura Popular - MCP, de Miguel Arraes, o CPC, multiplicado em inú-
meros grupos, espalhados pelo país, levava ao povo diversas manifestações
artísticas, cujo objetivo era usar formas da cultura popular para promover a
revolução social. Veja um documento do Centro Popular de Cultura. Analise
a mensagem que a ilustração a seguir sugere.
A influência de Paulo Freire atingia todos esses espaços de educação popu-
lar, de 1960 a 1964. Com a Ditadura Militar, as experiências de educação
de adultos com o objetivo de conscientização sofreram, duramente, com a
repressão e foram extintas. Paulo Freire foi, posteriormente, exilado.
Em 1964, o MEC organizou o Programa Nacional de Alfabetização de Adul-
tos. Iniciaram-se, então, os trabalhos da Cruzada ABC, parceria entre a
Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID),
governos federal, estaduais e agências privadas.
Em 1967, criou o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), que
começou suas atividades em Recife, Paraíba e Sergipe. Tinha duas caracte-
rísticas básicas:
Glossário
O livro O Movimento de Cultura Popular: impactos na sociedade pernambucana, da professora Letícia Rameh Barbosa, traz um longo e exaustivo registro dessa relevante experiência.
(Recife, Editora do Autor, 2009).
Licenciatura em MatemáticaUAB 56

a) independência institucional e financeira perante os sistemas regulares de
ensino e demais programas de educação de adultos;
b) existência de uma Gerência Pedagógica Central que organizava a progra-
mação e execução dos trabalhos desenvolvidos pelas comissões munici-
pais.
O Mobral foi extinto em 1985. Veja e analise a mensagem que a seguinte
ilustração comunica.
Em sua substituição, nasce a Fundação Educar que deveria organizar progra-
mas destinados àqueles que não tiveram acesso à escola ou que dela foram
excluídos. Essa entidade funcionava em sintonia com o MEC e recebia o
apoio financeiro das prefeituras ou de associações da sociedade civil. Atua-
va, basicamente, nos municípios.
No governo Collor, toma o lugar da Fundação Educar o Programa Nacional
de Alfabetização e Cidadania (Pnac), em decorrência das discussões que cir-
cularam na Conferência Mundial sobre Educação Para Todos, realizada na
Tailândia, em 1990, quando se celebrava o Ano Nacional da Alfabetização.
UABPolítica e Legislação da Educação 57

A maior preocupação internacional era com os 900 milhões de analfabetos
existentes no planeta. Nos anos de 1995 e 1996, o nosso país atravessou
uma esteira de mudanças legislativas – já tínhamos passado pela grande
conquista posta pela Constituição de 1988 que nos deu uma nova ordena-
ção jurídica – em apoio à proposição de políticas públicas para Educação.
Finalmente, em 1996, é aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na
qual a EJA passa a ser parte da Educação Básica como uma modalidade de
ensino e reafirma a obrigatoriedade e gratuidade de sua oferta, já prevista
na Constituição Federal de 1988. A lei também definiu, com mais precisão,
a responsabilidade entre as três esferas de governo, cabendo aos municípios
oferecer, prioritariamente, o Ensino Fundamental, inclusive de jovens e adul-
tos, e à União prestar assistência técnica e financeira, em especial a escolari-
dade obrigatória. Reveja os artigos 10 e 11 da LDB/96.
Em 2000, temos as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jo-
vens e Adultos. Elas destacam a exigência do direito à educação escolar para
jovens e adultos (é tão direito como os demais níveis da Educação Básica,
como, por exemplo, a Educação Infantil que você estudou na aula 2), reco-
nhecendo a relevância da formação inicial e continuada de professores e a
elaboração e execução de propostas pedagógicas em sintonia com a identi-
dade dessa modalidade. Coube ao Conselho Nacional de Educação elaborar
toda essa documentação.
Nessa ocasião, o Ministério da Educação elaborou e disponibilizou um elen-
co de material didático e pedagógico aos sistemas de ensino, à formação
continuada de professores, além de apoio financeiro federal às ações de
políticas locais. Vejamos a ilustração a seguir com a capa de um dos docu-
mentos curriculares nacionais voltados para essa modalidade de ensino.
Educação de Jovens e Adultos (EJA) é a forma como a atual Lei 9394/96 se
refere à educação destinada à população, cujo itinerário tem sido pautado
Licenciatura em MatemáticaUAB 58

pela marginalização e falta de acesso e permanência na escola. Novas pers-
pectivas foram, então, trazidas para essa clientela.
Os artigos 37 e 38 da referida Lei definem a EJA como uma modalidade da
Educação Básica, destinada aos jovens e adultos descolarizados ou que mal
se alfabetizaram na idade própria. A legislação em vigor preserva o direito
dos jovens e adultos de prestarem exames supletivos, podendo ocorrer aos
15 anos para a finalização do ensino fundamental e 18 anos para a conclu-
são do ensino médio.
Com o surgimento da LDB/96, a EJA é incluída no Título V (Dos Níveis e
Modalidades de Educação e Ensino), Capítulo II (Da Educação Básica), na
Seção V, denominada Da Educação de Jovens e Adultos, compreendendo os
artigos 37 e 38 com respectivos parágrafos e incisos. Desse modo, a EJA é
uma modalidade da educação básica, na sua etapa fundamental e média. A
seguir, os artigos 37 e 38, conforme estão no texto legal.
Da Educação de Jovens e Adultos
Art. 37º. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles
que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fun-
damental e médio na idade própria.
§ 1º. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens
e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade re-
gular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as
características do alunado, seus interesses, condições de vida e de
trabalho, mediante cursos e exames.
§ 2º. O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a per-
manência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e
complementares entre si.
Art. 38º. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames suple-
tivos, que
compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando
ao prosseguimento de estudos em caráter regular.
UABPolítica e Legislação da Educação 59

§ 1º. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:
I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores
de quinze anos;
II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de
dezoito anos.
Desde 1999 até os dias atuais, ocorrem Encontros Nacionais de Educação
de Jovens e Adultos em todo Brasil, como forma e expressão da luta que a
sociedade ainda empreende para tornar os preceitos legais mais reais, como
também, para que o acesso aos demandantes dessa modalidade de educa-
ção básica seja mais visto pelas políticas públicas de educação.
2. Programas e experiências desenvolvi-dos na modalidade EJAA ação política e o poder dos indivíduos, dos grupos sociais, dos partidos
políticos e das instituições coexistem, uma vez que:
[...] a política não deixa de ser uma atividade humana que
se dirige à consecução dos fins e objetivos de quem de-
tém o poder ou de quem pretende detê-lo, se propõem
como objeto de suas ações, com o que a política se refere
não só à atividade dos governos senão também a dos que
exercem outros grupos, sejam partidos, entidades institu-
cionais etc. (PUELLES BENÍTEZ, 1999, p. 16)..]
Considerando a ideia de que a política pode ser tanto uma ação de governo
como de grupos, instituições ou de quem deseja exercê-la, vamos apresen-
tar, também, numa sequência, a possível trajetória das ações e experiências
de educação de jovens e adultos após a LDB/96 ou final do século passado e
início do séc. XXI. Muitos dos programas que serão aqui descritos são frutos
da parceria entre o poder público e as organizações da sociedade civil.
Programa Brasil AlfabetizadoÉ uma ação política de iniciativa governamental com ponto de partida em
2003, em parceria com os estados e municípios, envolvendo empresas pri-
vadas, universidades, organizações não governamentais e instituições civis,
Licenciatura em MatemáticaUAB 60

todas intentando erradicar essa chaga que se chama analfabetismo. No por-
tal do Ministério da Educação, você pode obter mais informações que as
transmitidas a seguir:
O Brasil Alfabetizado representa um portal de entrada na cidadania, arti-culado diretamente com o aumento da escolarização de jovens e adultos e promovendo o acesso à educação como direito de todos em qualquer mo-mento da vida.
Segundo o IBGE, o cenário social do analfabetismo no Brasil, apontado pelo
Censo de 2000, revela a existência de sessenta e cinco milhões de pessoas
não concluintes do ensino fundamental. Desse total, 33 milhões são reco-
nhecidas como analfabetas funcionais, ou seja, pessoas que possuem menos
de quatro anos de escolaridade e não entendem o que leem. Nesse con-
tingente, encontram-se 16 milhões de indivíduos, com idade superior a 15
anos, analfabetos.
Apoiado nesses dados alarmantes, o atual governo, em 2003, criou o Pro-
grama Brasil Alfabetizado, a fim de contribuir para o ingresso desse seg-
mento populacional no sistema de ensino. A população a ser atingida inclui
indígenas, ribeirinhos, caiçaras e urbanos.
A seguir, seu elenco de objetivos:
– ampliar o período de alfabetização de seis para oito meses;
– aumentar 50% nos recursos destinados à formação dos alfabetiza-
dores;
UABPolítica e Legislação da Educação 61

– estabelecer um piso para o valor da bolsa paga ao alfabetizador, que
poderá ter esse valor ampliado, se aumentar o número de turmas em
regiões com necessidades emergentes;
– articular o monitoramento e a avaliação da experiência;
– estimular a continuidade da escolarização de jovens e adultos.
Esse programa, além de visar à alfabetização, pretende, também, aumentar
a escolaridade de jovens e adultos com vistas à ampliação da escolaridade
no País.
O professor, ainda que participe de uma formação continuada, continua
sendo um bolsista, e não um profissional da EJA inscrito no sistema regular
de ensino, como uma modalidade da educação básica.
Brasil Alfabetizado: uma parceria entre a UFPE e o MECSeu principal eixo foram os princípios éticos da solidariedade, liberdade,
participação, autonomia, igualdade e justiça social. Agregam-se a esses, os
princípios da dialogicidade da educação e dos pressupostos básicos da abor-
dagem sócio-histórica da aprendizagem, da abordagem sociointeracionista
da linguagem e da perspectiva do letramento.
Na ilustração que se segue, podemos ver a capa do livro que registra a parce-
ria que ora apresentamos. Veja detalhes nas referências bibliográficas.
Licenciatura em MatemáticaUAB 62

Em relação à linguagem, seu fio condutor é a perspectiva sociointeracionista
em que ler e produzir textos são concebidos como ação social e cognitiva.
Nessa relação, reconhece-se que o papel do outros é essencial para a re-
construção do discurso, da palavra, da fala (para utilizar um termo do nosso
cotidiano).
Reconhece a importância de organizar a proposta pedagógica de alfabeti-
zação de jovens e adultos, conduzindo à apropriação de alguns gêneros tex-
tuais (crônica, poema, conto, notícia, artigo de opinião, carta, bilhete, relato
pessoal, receita culinária, textos didáticos, dentre outros) para favorecer as
ações de leitura e de produção de textos comprometidas com o contexto
dos educandos em processo de alfabetização.
Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos da Cidade de São Paulo (MOVA)Essa experiência, que teve início em 1990, retrata um dos raros exemplos de
parceria entre a sociedade civil e o Estado, afirma Gadotti, em seu relato da
experiência.
Não houve preferência por um único método de alfabetização, mas prima-
ram pela valorização do pluralismo, recusando, porém, métodos pedagógi-
cos autoritários ou racistas, pois se iluminaram na concepção libertadora de
educação. Vejamos o quadro abaixo que revela exatamente a concepção do
MOVA.
Evidencia o papel da educação na construção de um novo projeto histórico, a nossa teoria do conhecimento, que parte da prática concreta na constru-ção do saber, o educando como sujeito do conhecimento e a compreensão da alfabetização não apenas como um processo lógico intelectual, mas tam-bém, profundamente, afetivo e social.
O projeto evidenciou a parceria entre Estado e sociedade civil ao ser o prin-
cipal articulador da experiência, embora não exercendo uma ação exclusiva.
Nele, cabia a sociedade civil na elaboração e fiscalização das políticas educa-
cionais, bem como na gestão de órgãos responsáveis por sua aplicação em
parceria com o Estado.
O MOVA foi lançado em 1989, pelo Professor Paulo Freire, então, Secretá-
rio Municipal de Educação na gestão da Prefeita Luiza Erundina de Souza,
envolvendo a participação ampla e irrestrita de movimentos populares da
cidade de São Paulo.
UABPolítica e Legislação da Educação 63

Seus autores investiam na defesa de um programa de escolarização bási-
ca de jovens e adultos, atraindo para si a luta geral pela escola pública e
popular. Acreditavam que o MOVA-SP possibilitaria o prosseguimento dos
estudos em nível pós-alfabetização, porque desejavam garantir, também, a
escolarização básica formal. Em 1993, o projeto foi extinto pela nova gestão
municipal.
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA)
O Pronera foi criado em 1998, numa articulação entre o Ministério Extraor-
dinário da Política Fundiária (MEPF) e o Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA).
Ele é uma resposta às demandas dos movimentos sociais do campo que
identificaram um alto número de analfabetos nos assentamentos de refor-
ma agrária. Seu objetivo é fortalecer a educação nesses espaços de Reforma Agrária, utilizando metodologias específicas para os homens e mulheres do campo, contribuindo, assim, para o desenvolvimento rural sustentável no Brasil.
Licenciatura em MatemáticaUAB 64

Sua ideia central era a formação e escolarização dos monitores e a oferta de
formação continuada (média e superior) aos educadores do ensino funda-
mental. Além disso, se preocupavam com a formação técnico-profissional
na área rural.
O trabalho de formação se dava nos assentamentos rurais disponíveis para
receber projetos, muitos deles articulados com as universidades.
Nos encontros de formação e escolarização, os estudantes estudavam e
planejavam suas atividades nos assentamentos e participavam de oficinas
voltadas para as atividades com seus monitores em torno do tema da alfa-
betização.
Educação de Jovens e Adultos no MSTFoi através das próprias crianças da escola, numa experiência em que a es-cola fez a reunião e começou a anotar no caderno:” Teu pai sabe ler e escre-ver?” “Não....”
Foi assim que foi feito o levantamento da necessidade de um programa de alfabetização de jovens e adultos nos assentamentos do MST.
UABPolítica e Legislação da Educação 65

A EJA no MST tem vínculo com os seguintes aspectos:
a) aquisição de conhecimentos por meio do acesso à leitura e à escrita;
b) luta pela emancipação dos próprios assentados;
c) busca de transformação, pela prática social, da realidade vivida por cada
integrante do movimento.
Os mediadores que fazem a EJA têm grande sintonia com os movimentos
sociais.
Cada um dos princípios do MST expressa características da educação dia-
lógica e problematizadora proposta por Paulo Freire, ou seja, a defesa da
transformação, da cooperação e da valorização do homem são eixos para
uma pedagogia diferenciada das oficiais.
Os materiais didáticos são organizados pelo educador/monitor, conforme
seja a sua localidade. Mas todos devem ser próximos da realidade e do coti-
diano dos educandos.
Exigência básica: o profissional que vai trabalhar na EJA no MST deve ter
como saberes: conhecimento das relações de dominação, desigualdade, ex-
ploração e exclusão, pois mesmo que a leitura e a escrita não sejam desen-
volvidas, a leitura do mundo é uma conquista altaneira entre os trabalhado-
res.
Alfabetização SolidáriaEm 1988, foi criada a Associação de Apoio (Aspas) para gerenciar e organizar
a Alfabetização Solidária (Alfasol). Desde 1997, esse programa está em atua-
ção, tentando responder aos apelos de uma realidade e localidades, onde há
altos índices de analfabetismo, indicados por levantamento do IBGE.
Com essa entidade, o ALFASOL ganhou mais autonomia para captação de
recursos e maior agilidade de gerenciamento. Todos os trabalhos são desen-
volvidos em parcerias mantidas pelo MEC, empresas, pessoas físicas, organi-
zações, governos municipais e estaduais.
Licenciatura em MatemáticaUAB 66

Destacamos dois objetivos da Aspas:
1. sensibilizar a sociedade civil e todos os seus organismos para manter vivos
os programas educacionais;
2. manter convênio com várias entidades de ensino para a coordenação de
trabalhos de alfabetização em comunidades carentes.
As ações públicas do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos vinculados
ao ALFASOL se viabilizam em: Projeto Nacional; Projeto Grandes Centros
Urbanos; Alfabetização nas Empresas; Projeto Ver; Projeto de Complemen-
tação Nutricional.
O que essas experiências mostramA educação de jovens e adultos, como modalidade de educação básica, pre-
cisa ser cada vez mais oferecida, visto que, infelizmente (é uma contradi-
ção!), há demanda para participar desse modo educacional de ser.
Segundo Barbosa (2009), há grande procura por educação de jovens e adul-
tos por parte dos movimentos sociais e populares.
As parcerias com o poder público e setores da sociedade civil devem conti-
nuar contribuindo com essa iniciativa educacional, ainda imprescindível, por
todo o séc.XXI certamente.
Iniciativas como as do MOVA, Pronera e MST são experiências que devem ser
apoiadas e registradas em memórias, pela sua singularidade e originalidade.
Iniciativas governamentais em convênio com as universidades, como o Brasil
Alfabetizado, devem ser preservadas, por contribuírem com a concepção da
alfabetização em contextos de letramentos.
UABPolítica e Legislação da Educação 67

ExercícioElabore uma síntese da aula, destacando os seguintes pontos:
– dois aspectos que marcaram as desigualdades sociais observadas an-
tes do séc. XX;
– as campanhas e movimentos sociais que atenderam às demandas de
educação de adultos;
– as recentes conquistas emanadas da Constituição Federal de 1988 e
da LDB/96;
– o que as experiências de Educação de Jovens e Adultos têm em co-
mum.
Resposta comentada: a desigualdade social que atinge o coração dos bra-
sileiros é uma marca que não nasceu hoje. Data de muitas décadas, até de
séculos. Duas marcas sensíveis que sabemos, através da literatura, é a injusta
concentração de terra e de renda que nos persegue desde o séc. XIX. Quan-
to às campanhas e movimentos de educação de adultos, podemos destacar:
a) Campanha de Educação de Adultos (CEA);
b) Campanha Nacional de Educação Rural e o Serviço Social Rural;
c) Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo;
d) Movimento de Educação de Base (MEB);
e) Movimento de Cultura Popular (MCP), Centros Populares de Cultura de
UNE, De Pé no Chão Também se Aprende a Ler;
f) Mobral;
g) Fundação Educar;
h) PNAC.
As grandes conquistas foram provenientes da Constituição Federal de 1988
e da LDB/96, que garantiu a obrigatoriedade e a gratuidade da oferta da
educação de jovens e adultos e a incorporação dessa educação como uma
das modalidades da educação básica.
Licenciatura em MatemáticaUAB 68

As experiências educacionais, ainda que diferentes entre si, guardam em co-
mum o propósito de atender a uma procura de jovens e adultos que ficaram
sem a educação básica, respeitando sua origem e sua vivência cotidiana.
ResumoEsta aula trata de três tópicos. O primeiro diz respeito a todo o percurso
que a educação de adultos percorreu até chegar à condição de educação de
jovens e adultos. Trabalha o marco constitucional de 1998 conjugado com
o texto legal de 1996, que deu uma nova estrutura à Educação de Jovens e
Adultos, reconhecendo-a como uma modalidade da Educação Básica, regu-
lamentando sua obrigatoriedade e fortalecendo o seu financiamento. Tudo
isso foram conquistas que precisam, dia após dia, tornar-se mais expressivas
através das diferentes experiênciais pedagógicas já iniciadas há mais de duas
décadas.
Referências
AGUIAR, JOSÉ Márcio. Diretrizes e Bases da Educação Nacional: leis, decretos, portarias ministeriais, resoluções e pareceres normativos do Conselho Nacional de Educação. Belo Horizonte: Lâncer, 2002.
BARBOSA, L. R. O Movimento de Cultura Popular: impactos na sociedade pernambucana. Recife: Editora do Autor, 2009.
BARBOSA, M. L. F.F. Brasil Alfabetizado do Recife: papéis, concepções e projeto pedagógico. In: (Orgs). MACHADO, M. L.; SANTIAGO, E. Políticas e Gestão da Educação Básica. Recife: Editora Universitária, 2009.
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
_______CNE. CEB. Resolução nº 02, de 19 de abril de 2000. Institui as Diretrizes Curriculares para Educação de Jovens e Adultos.
_______Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação.
_________ Ministério da Educação. Políticas de melhoria da educação: um balanço institucional/ Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2002.
BREZEZINSKI, Iria (Org.). LDB Dez anos depois: reinterpretação sob diversos olhares. 2ª edição. São Paulo: Cortez, 2008.
CARNEIRO, M. Leitura Crítico-Compreensiva: Artigo a Artigo. Petrópolis/RJ: Vozes, 1998.
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 13ª. Ed., Rio de Janeiro, Editora Paz e Terra, 1983.
LEAL, T. F.; ALBUQUERQUE, E. B. C (Orgs.). Desafios da educação de jovens e adultos: construindo uma prática de alfabetização. Belo Horizonte: Autentica/CELL, 2005.
UABPolítica e Legislação da Educação 69

PIERRO, Maria Clara Di. Notas sobre a Redefinição da Identidade e das Políticas de Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Educ. Soc. Campinas, vol.26, n.92, p.1115-1139, Especial- out. 2005.
PIERRO, Maria Clara Di; JOIA, Orlando; RIBEIRO, Vera Masagão. Visões da Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Cadernos Cedes, ano XXI, nº 55, p. 58-77, novembro/2001.
PUELLES BEBÍTEZ. M. de. Política de La educación: viejos y nuevos campos de conocimientos. Revista de Ciencias de la Educación, [S. I), n. 178-179, abr-set., 176-206. 1999. In: PORTO, Z. G. Participação Social e Políticas de Educação Infantil no Brasil: lugares de Produção e Circulação de Discursos. Recife: Editora Bagaço, 2009.
SOUZA, M. A> Educação de Jovens e Adultos. Curitiba: Editora IMPEX, 2007.
VELOSO, F. et al. Educação Básica no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
Link Consultadohttp://www.mec.gov.br
Licenciatura em MatemáticaUAB 70

UABPolítica e Legislação da Educação 71

Licenciatura em MatemáticaUAB 72

Aula 4 - Modelos organizacionais
de escola e formas de gestão.
Princípios e características
da gestão escolar participativa.
Objetivos
Geral: analisar diferentes modelos organizacionais de escola, des-
tacando os princípios e as características da gestão escolar parti-
cipativa.
Específicos:
• identificar as concepções de organização e de gestão escolar;
• discutir os princípios e as características da gestão escolar parti-
cipativa.
Assuntos – Diferentes modelos organizacionais de escola.
– Concepções de organização e de gestão escolar.
– Princípios e características da gestão escolar participativa.
IntroduçãoEsta aula trata dos modelos organizacionais de escola e formas de gestão.
Estudaremos os modelos de organização da instituição escolar que se estru-
turaram nos últimos anos, especialmente, a partir das duas últimas décadas
do século passado, e suas implicações para os sistemas de ensino.
A conquista do princípio constitucional da gestão democrática, em 1988,
em escolas da rede pública de ensino, significou um grande passo para a
UABPolítica e Legislação da Educação 73

vida democrática de nossas escolas e para os próprios sistemas de ensino.
Sob o influxo dessa conquista, a rede pública de ensino no Brasil passou
e continua passando por mudanças muito significativas, processo desen-
cadeado pelo movimento de redemocratização da sociedade brasileira nos
últimos anos do século passado, na tentativa de superar problemas sociais e
educacionais crônicos, como a seletividade e a exclusão social e educacional.
Trataremos, também, nesta aula, da gestão escolar participativa como pro-
cesso que gera contínua articulação entre as várias instâncias da escola, vi-
sando à corresponsabilidade no desenvolvimento de valores, atitudes, habi-
lidades e competências.
Revista Nova Escola. Ano 1, nº 6. Fev/Mar 2010.
Enfatizamos que esse movimento participativo é fruto de muito esforço e
compromisso e é justamente para promovê-lo que a equipe gestora vai in-
vestir no diálogo e no processo coletivo de tomada de decisão, visando o
desenvolvimento da totalidade dos membros da escola.
Assim, aqui, buscaremos desenvolver uma perspectiva ampla e dinâmica da
gestão educacional, priorizando a dimensão coletiva. E você, que tipo de
gestão conheceu no percurso escolar que realizou? Seria interessante apro-
veitar esta discussão para rememorar as suas vivências tanto enquanto estu-
dante, como enquanto profissional, para aqueles que já atuam na docência
da educação básica. Desse modo, nessa viagem ao seu passado escolar re-
cente, você pode estabelecer um paralelo entre a experiência institucional
Glossário
CF/88
Art. 206:Gestão democrática do ensino público na forma da lei.
Licenciatura em MatemáticaUAB 74

vivida e a perspectiva teórica da gestão democrática. Esperamos que aceite
nosso convite!
1. Modelos organizacionais e formas de gestão
Caracterização dos modelos organizacionais e formas de gestãoA escola, enquanto espaço de exercício do poder, tem uma dinâmica pró-
pria, à semelhança das demais organizações sociais e tem, também, diferen-
tes modos de organização e funcionamento.
O jogo de poder na escola tem orientações diversas, podendo expressar-se
de forma negativa, quando o mesmo ocorre enfatizando manifestações indi-
viduais. Mas pode, também, expressar-se positivamente, quando orientado
pela perspectiva do bem-estar coletivo visando o desenvolvimento da totali-
dade dos membros da escola.
Tal fato revela que o poder, assim como a cultura, a democracia, a justiça
e a educação são construções sociais. Nesse sentido, reconhecemos que a
escola tem uma contribuição indiscutível na construção da democratização
da sociedade.
Vamos bordando a nossa vida, sem conhecer por inteiro
o risco; representamos o nosso papel, sem conhecer por
inteiro a peça. De vez em quando, voltamos a olhar para
o bordado já feito e sob ele desvendamos o risco desco-
nhecido; ou para as cenas já representadas, lemos o texto,
antes ignorado. E é então que se pode escrever - como
agora faço - a “história”...
(Magda Soares, Metamemória-memórias)
A escola, através da gestão democrática, deve possibilitar ao estudante ir desenhando o risco, sem conhecer por inteiro o bordado, como diz Magda
Soares (2001).
A ampla discussão de experiências de organização e gestão escolar, observa-
das nos últimos anos, favoreceu a ampliação de estilos de gestão. Segundo
UABPolítica e Legislação da Educação 75

Libâneo, Oliveira e Toschi (2003), dependendo da concepção que se tem das
finalidades sociais e políticas da educação, a organização e os processos de
gestão assumem diferentes características e princípios.
A gestão democrática, enquanto princípio da educação nacional, presença
obrigatória nas instituições escolares, vem sendo objeto de contínuas refle-
xões, questionamentos e debates.
Embasados nos preceitos constitucionais, outros dispositivos legais, tam-
bém, defendem a causa da gestão democrática. É o caso, por exemplo, da
LDB/96, em seu artigo 14, que proclama:
Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão de-
mocrática do ensino público na educação básica, de acor-
do com suas peculiaridades e conforme os seguintes prin-
cípios: (I) participação dos profissionais da educação na
elaboração do projeto político pedagógico da escola; (II)
participação da comunidade
Heloísa Lück (2008) organizou o quadro abaixo onde sintetiza as bases pa-
radigmáticas que orientam o fazer da gestão educacional, mas sem negar
a abordagem da administração que passa a ser uma dimensão do trabalho
do gestor.
Mudança de paradigma de administração para gestão .Pressupostos e pro-
cessos sociais.
Até quando?
Gabriel, o Pensador
“Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente.A gente muda o mundo na mudança da mente.E quando a mente muda a gente anda pra frente.E quando a gente manda ninguém manda na gente.”
[ ... ]
“...Na mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura.Na mudança de postura a gente fica mais seguro.Na mudança do presente a gente molda o futuro.”
Licenciatura em MatemáticaUAB 76

Administração Gestão
• A realidade é considerada como re-gular, estável e permanente e, portanto, previsível.
• Crise, ambiguidade, contradições e incerteza são consideradas como disfun-ções e, por conseguinte, forças negativas a serem evitadas, por impedirem ou cercearem o seu desenvolvimento.
• A importação de modelos que deram certo em outras organizações é consi-derada como base para a realização de mudanças.
• As mudanças ocorrem mediante processo de inovação, caracterizada pela importação de ideias, processos e estratégias impostos de fora para dentro e de cima para baixo.
• A objetividade e a capacidade de manter um olhar objetivo sobre a realidade, não influenciado por aspectos particulares, determinam a garantia de bons resultados.
• As estruturas das organizações, recursos, estratégias, modelos de ação e insumos são elementos básicos da promoção de bons resultados.
• A disponibilidade de recursos a servirem como insumos constitui-se em condição básica para realização de ações de melhoria.
• Uma vez garantidos os recursos, ocor-reria o sucesso das ações.Os problemas são considerados como localizados, em vista dos que podem ser erradicados.
• O poder é considerado como limitado e localizado; se repartido, é diminuído.
• A realidade é considerada como dinâmi-ca e em movimento e, portanto, imprevi-sível.
• Crise, ambiguidade e incerteza são consideradas como elementos naturais dos processos sociais e como condições de aprendizagem, construção de conheci-mento e desenvolvimento.
• Experiências positivas em outras ges-tões servem como referência à reflexão e busca de soluções próprias e mudanças.
• As mudanças ocorrem mediante processo de transformação, caracteriza-da pela produção de ideias, processos e estratégias, promovidos pela mobilização do talento e energia internos e acordos consensuais.
• A sinergia coletiva e a intersubjetividade determinam o alcance de bons resultados.
• Os processos sociais, marcados pelas contínuas interações de seus elementos plurais e diversificados, constituem-se na energia mobilizadora para a realização de objetivos da organização.
• Recursos não valem por si mesmos, mas pelo uso que deles se faz, a partir dos significados a eles atribuídos pelas pessoas, e pela forma como são utilizados, podendo, portanto, ser maximizados pela adoção de óptica proativa.
• Os problemas são sistêmicos, envolven-do uma série de componentes interliga-dos.
• O poder é considerado como ilimitado e passível de crescimento, à medida que é compartilhado.
Heloísa Lück (2010, pp. 102, 103 e 104)
UABPolítica e Legislação da Educação 77

Segundo a LDB 9394/96, o processo de gestão se inicia com a elaboração
do Projeto Político Pedagógico – PPP, tarefa coletiva da comunidade escolar.
Ele está estreitamente articulado a outro princípio constitucional da educa-
ção nacional, que é a garantia do padrão de qualidade, conteúdo do inciso
VII do artigo 206. Na LDB/96, o artigo 75 trata da distribuição de recursos
financeiros, e o artigo 25 reza sobre as condições adequadas de trabalho.
A gestão democrática supõe, além da definição de um projeto pedagógico
coletivo, a participação cidadã dos interessados e a necessidade da prestação
de contas por parte dos gestores. Todos esses requerimentos são indispensá-
veis a uma educação de qualidade social.
No processo de discussão sobre o modelo de escola participativa, conside-
rando que nem todas as escolas têm situações de gestão semelhantes, sur-
gem muitas indagações. Uma delas é saber se a gestão participativa é ade-
quada para todos os tipos de escolas. Outra questão é quando e onde esse
estilo de liderança será apropriado. E finalmente, que outro tipo de liderança
deverá ser usado, quando a participação não for a melhor opção?
Outros dispositivos legais mais recentes também abordam a problemática
da gestão.
A lei nº 10.127/01, mais conhecida como Plano Nacional de Educação – PNE,
já estudada por você nas disciplinas anteriores – Estrutura e Funcionamento
do Ensino Fundamental e Estrutura e Funcionamento do Ensino Médio – trata, explicitamente, da relação entre gestão democrática e financiamento.
Revista Educação - Ano 14, nº157.
Licenciatura em MatemáticaUAB 78

Na introdução ao capítulo da gestão e financiamento, ela afirma que:
Financiamento e gestão estão indissoluvelmente ligados. A transparência da gestão dos recursos financeiros e o exercício do controle social permitirão garantia à efetiva aplicação dos recursos destinados à educação.
Já na meta 42, ela reza: Instituir, em todos os níveis, conselhos de aconse-lhamento e controle social dos recursos destinados à educação não incluídos no Fundef, qualquer que seja a sua origem, nos moldes dos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundef.
Finalmente, a meta 22, do capítulo de gestão do PNE, exige que se cumpra
o princípio da gestão democrática, respeitados o princípio federativo e o da
participação: Definir em cada sistema de ensino, normas de gestão demo-crática do ensino público, com a participação da comunidade.
A escola adquire, desde os anos 90, gradativa autonomia pedagógica, ad-
ministrativa e financeira, crescente poder de decidir sobre seus objetivos e
sobre suas formas de organização, mantendo-se relativamente independen-
te do poder central. Apesar de esse fato ser muito alardeado na literatura e
nos debates acadêmicos, sua autonomia é relativa, pois integra um sistema
escolar que define políticas e diretrizes gerais, que orientam a formação cul-
tural e científica demandada pela sociedade. Ao construir sua própria traje-
tória, a organização escolar passa a atuar como espaço de trabalho coletivo,
envolvendo alunos, professores, pais e comunidade na busca de objetivos
comuns.
A gestão participativa requer, ainda, uma formação continuada a respeito dos
diferentes elementos e desdobramentos desta abordagem, tais como: a dinâ-
mica de grupos, as condições que permitem ou dificultam a boa dinâmica e
relacionamento interpessoal, o processo de comunicação e seus efeitos sobre
essa dinâmica, as consequências do processo de liderança na sua construção.
Constatam-se, assim, através dessa breve caracterização da gestão compar-
tilhada, as implicações e desafios inerentes a este modelo de organização
escolar.
As concepções de organização e de gestão escolarAs características e concepções de organização e gestão escolar vêm sendo
amplamente estudadas na literatura educacional brasileira.
UABPolítica e Legislação da Educação 79

No quadro abaixo, organizado por Libâneo, Oliveira e Toschi (2003), são
apresentadas quatro concepções de organização e gestão escolar: a téc-
nico-científica, autogestionária, democrático-participativa e a interpretativa.
A primeira baseia-se na hierarquia de cargos e funções, nas normas e nos
procedimentos administrativos, visando à racionalização do trabalho educa-
tivo. Ela também é denominada de administração clássica ou burocrática.
Consideramos que essa abordagem é superada, mas não totalmente exclu-
ída pelas demais concepções que correspondem à perspectiva progressista,
chamada abordagem sociocrítica da educação.
Na ótica de Heloísa Lück (2010), as polaridades observadas, nos diferen-
tes modelos de organização escolar, refletem dimensões de uma mesma
realidade, não mutuamente excludentes. Há, portanto, uma circularidade
complementar entre essas diferentes abordagens que se interpenetram e se
influenciam reciprocamente.
O sistema de organização e de gestão da escola: teoria e prática.
Licenciatura em MatemáticaUAB 80

Concepções de organização e gestão escolar
Técnico-científica:
• Prescrição detalhada de funções e tarefas, acentuando a divisão técnica do trabalho escolar.
• Poder centralizado no diretor, destacando-se as relações de subordinação, em que uns têm mais autoridade do que outros.
• Ênfase na administração regulada (rígido sistema de normas, procedimentos burocráticos de controle das ativi-dades), descuidando-se, às vezes, dos objetivos específicos da instituição escolar.
• Comunicação linear (de cima pra baixo), baseada em normas e regras.
• Mais ênfase nas tarefas do que nas pessoas.
Autogestionária:
• Vínculo das formas de gestão interna com as formas de autogestão social (poder coletivo na escola para preparar formas de autogestão no plano político).
• Decisões coletivas (assembleias, reuniões), eliminação de todas as formas de exercício de autoridade e de poder.
• Ênfase na auto-organização do grupo de pessoas da ins-tituição, por meio de eleições e de alternância no exercício de funções.
• Recusa a normas e a sistemas de controles, acentuando a responsabilidade coletiva.
• Crença no poder instituinte da instituição e recusa de todo poder instituído. O caráter instituinte dá-se pela práti-ca da participação e da autogestão, modos pelos quais se contesta o poder instituído.
• Ênfase nas inter-relações, mais do que nas tarefas.
Democrático- Participativa:
• Definição explícita, por parte da equipe escolar, de objeti-vos sociopolíticos e pedagógicos da escola.
• Articulação da atividade de direção com a iniciativa e a participação das pessoas da escola e das que se relacionam com ela.
• Qualificação e competência profissionais.
• Busca da objetividade no trato das questões da organiza-ção e da gestão, mediante coleta de informações reais.
• Acompanhamento e avaliação sistemática com finalidade pedagógica: diagnóstico, acompanhamento dos trabalhos, reorientação de rumos e ações, tomada de decisões.
• Todos dirigem e são dirigidos, todos avaliam e são ava-liados.
• Ênfase tanto nas tarefas quanto nas relações.
UABPolítica e Legislação da Educação 81

Interpretativa:
• A escola é uma realidade social subjetivamente
construída, não dada nem objetiva.
• Privilegia menos o ato de organizar e mais a
ação “organizadora”, com valores e práticas com-
partilhados.
• A ação organizadora valoriza muito as interpre-
tações, os valores, as percepções e os significados
subjetivos, destacando o caráter humano e prete-
rindo o caráter formal, estrutural, normativo.
Libâneo, Oliveira e Toschi (2003, p. 327)
Princípios e características da gestão democráticaOs autores supracitados apresentam, também, inúmeros princípios que
embasam a gestão democrática. A partir da discussão que eles colocam,
apresentaremos aqueles que consideramos mais relevantes, a saber: rela-
ção orgânica entre a direção e os membros da equipe escolar; engajamento
da comunidade no processo escolar; planejamento coletivo das atividades;
formação continuada de todos os segmentos da comunidade escolar; disse-
minação e transparência das informações; autonomia da escola e da comu-
nidade educativa.
Segundo Lück (2010), uma das dimensões mais significativas da atuação do diretor como gestor do trabalho da escola, como organização social, diz respeito à sua habilidade de perceber, compreender e atuar sobre o jogo de poder que existe em seu contexto, de modo a poder direcionar essa ener-gia positivamente e encaminhá-la para as realizações educacionais. Quem determina o quê, em nome de quem ou de quê são questões cruciais a serem levadas em conta, para que se possa promover esse entendimento e ação .Trabalhar a dimensão de poder como fenômeno inerente ao processo educacional a ser utilizado como fator pedagógico é, portanto, um aspecto relevante do trabalho dos gestores escolares.
Licenciatura em MatemáticaUAB 82

Gestão Educacional - Uma questão paradigmática – Heloísa Lück.
Na escola tradicional, predominava, na administração, um jogo de competi-
ção e favoritismo com ênfase em concessões individuais. Esse ambiente de
concessões propiciou o estabelecimento de preferências pessoais, do tipo:
a 5ª série D é da professora Maria; o professor Pedro não dá aula nos três
últimos horários da sexta-feira; o professor João não dá aula nos primeiros
horários do sábado; a 6ª série da manhã é do professor José, etc. Esse clima
favorecia a instalação de uma cultura de privilégios que vai de encontro a
uma prática de gestão que se orienta por valores e princípios democráticos.
Essa tradição de ações isoladas e benefícios pessoais gera muita resistência,
tensões e conflitos que demandam do gestor muito cuidado no processo de
descentralização. Nesse sentido, deve se observar a necessidade do desen-
volvimento de conhecimentos e habilidades específicos na busca da implan-
tação de um ambiente favorável à participação plena no processo educativo.
De acordo com Lück (2009), é importante que os gestores escolares consi-
derem os princípios e ações participativos em sua atuação e adotem ações
voltadas para:
a) Difusão contínua de informações claras e precisas a respeito das questões
essenciais da vida escolar. Na falta de informações, o que se observa como
consequência é o desenvolvimento de ondas de boatos, que, ao surgirem e
se desenvolverem, parecem servir para suprir essa falta. Conjecturas e hipó-
teses geradas passam a ter sentido de veracidade e criam situações, muitas
vezes, problemáticas. É importante reconhecer que, quando não se tem in-
formação, há necessidade de tê-las.
“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,Muda-se o ser, muda-se a confiança;Todo o mundo é composto de mudança,Tomando sempre novas qualidades.
Continuamente vemos novidades,Diferentes em tudo da esperança;Do mal ficam as mágoas na lembrança,E do bem, se algum houve, as saudades.
O tempo cobre o chão de verde manto,Que já coberto foi de neve fria,E em mim converte em choro o doce canto.”
Luís de Camões
UABPolítica e Legislação da Educação 83

b) Estabelecimento de adequação entre a geração e a disseminação de infor-
mações no contexto escolar e as linhas de ação pedagógicas necessárias para
promover objetivos da escola. Nem sempre as informações que são produzi-
das na escola estão de acordo com a demanda de informações necessárias
para fundamentar as ações pedagógicas. Algumas vezes elas são produzidas
a partir de impressões passageiras, de visão limitada e até mesmo distorcida
da realidade. É indispensável que haja transparência nas informações.
c) Desenvolvimento cultural e capacitação técnico-operacional dos professo-
res, para que possam atuar em dimensão profissional, segundo os princípios
da gestão participativa.
Heloísa Lück
É necessário lembrar que a burocracia não é uma entidade em si, com plena
autonomia e colocada acima de todos e de todas as coisas. Ela é consequ-
ência de nosso modo de ver e agir na realidade, a partir de nossos valores,
concepções de mundo e interesses. Se através de nossas ações reforçamos a
burocratização, haverá, necessariamente, um fortalecimento da hierarquiza-
ção. Todos serão estimulados a fortalecer as normas, privilegiando os regu-
lamentos estabelecidos, produzindo a quebra da confiança e fragilizando o
espírito que rege as ações construtivas.
Finalmente, a gestão democrática pode utilizar-se das T.I.C.s, assim como de
outras tecnologias, para facilitar e aumentar a interatividade entre os segmen-
tos que compõem a escola, visando à realização dos objetivos educacionais.
Nessas condições, é preciso atuar desfazendo linearidades e produzindo no-
vas atitudes e reciprocidades.
Licenciatura em MatemáticaUAB 84

Exercícios1. Comente uma das atuações mais importantes do gestor escolar.
Resposta comentada: Trata-se da habilidade de perceber, entender e agir
sobre o jogo do poder que acontece na escola, de forma a direcionar, posi-
tivamente, a energia dinâmica da instituição em favor do PPP, favorecendo a
realização das metas e dos objetivos educacionais coletivamente definidos.
2. Cite características da gestão democrática que favorecem a construção de
uma educação de qualidade social
Resposta comentada: Entre as muitas características da gestão democrá-
tica, destacamos: a importância de uma postura que considere a realidade
como dinâmica, em permanente movimento. Nessa ótica, crises, contradi-
ções e incertezas devem ser encaradas como elementos naturais dos proces-
sos sociais e como condição de aprendizagem e de desenvolvimento coleti-
vo. As mudanças ocorrem mediante processo de transformação, promovido
pela intersubjetividade, negociações coletivas e consensuais, mobilização do
talento e captação da energia do grupo.
ResumoEsta aula tratou de modelos organizacionais de escola e formas de gestão.
Discutiu a gestão democrática como uma prática efetivamente participativa,
articulada a uma mudança paradigmática, baseada numa ótica interativa,
onde predomina a capacidade de trabalhar cooperativamente e de forma
intercomplementar e que vê a realidade como um todo. O primeiro tópico
mostrou que tal perspectiva requer a superação da ótica do perde-ganha
que predomina na tendência clássica da administração, burocrática e hie-
rarquizadora de funções e posições, de modo a construir bases mais sólidas
de poder compartilhado. Em seguida, apresentamos as características e os
princípios da gestão democrática, sintetizados nos quadros elaborados pelos
autores estudados. Enfatizamos, também, que instaurar uma nova cultura
de participação, reflexão e crítica na escola, mobilizando todos os segmen-
tos da comunidade escolar e local, é um dos mais importantes desafios da
gestão participativa. Finalmente, destacamos a gestão democrática como
condição de permanência e sucesso dos alunos, numa educação de qualida-
de para todos.
UABPolítica e Legislação da Educação 85

Referências
AGUIAR, Conceição Carrilho de. Gestão democrática, elementos conceituais e a democratização do acesso, permanência e sucesso escolar In. MACHADO, Laêda Bezerra, SANTIAGO, Eliete (orgs.) Políticas e gestão da educação básica. Recife : Editora Universitária da UFPE, 2009.
BOTLER, Alice Harpp (org). Organização, financiamento e gestão escolar: subsídios para a formação do professor. Recife : Editora Universitária da UFPE, 2009.
CURY, Carlos Alberto Jamil. Os conselhos da educação e a gestão dos sistemas. São Paulo: Cortez, 2000.
FERREIRA, Naura Syria Carapeto. (Org.) A gestão da educação na sociedade mundializada: por uma nova cidadania. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
FORTUNATI, José. Gestão da educação pública: caminhos e desafios. Porto Alegre: Artmed, 2007.
LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J.F. de; TOSCHI, M.S. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2003.
LÜCK, Heloísa et al. A escola participativa: O trabalho do gestor escolar. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.
_______. Gestão educacional: uma questão paradigmática. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.
_______. A gestão participativa na escola. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.
_______. Concepções e processos democráticos de gestão educacional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.
MACHADO, Laêda Bezerra; SANTIAGO, Eliete. Políticas e gestão da educação básica. Recife : Editora Universitária da UFPE, 2009.
MARQUES, Luciana Rosa. A Descentralização da gestão escolar e a formação de uma cultura democrática nas escolas públicas. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2007.
OLIVEIRA, Maria Auxiliadora Monteiro. Gestão educacional: novos olhares, novas abordagens. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.
PARO, Vitor. Gestão democrática da escola pública. São Paulo: Ática, 1997.
SOARES, Magda. Metamemória-memórias: travessia de uma educadora. São Paulo: Cortez, 2001.
Links Consultadoswww.google.com.br
http://www.mec.gov.b
http://letras.terra.com.br/gabriel-pensador/30449/
Licenciatura em MatemáticaUAB 86

UABPolítica e Legislação da Educação 87

Licenciatura em MatemáticaUAB 88

Aula 5 - Práticas organizacionais
e administrativas na escola.
Gestão Educacional e desafios
do cotidiano escolar.
Objetivos
Geral: analisar a gestão educacional e os desafios do cotidiano
escolar.
Específico: discutir a gestão educacional e os desafios do cotidia-
no escolar.
Assuntos – A gestão educacional e os desafios do cotidiano escolar.
– Papel e atribuições do gestor escolar.
– Autonomia e participação como exigências básicas da gestão demo-
crática.
IntroduçãoVamos iniciar a quinta aula relembrando um fato bem significativo e recente
- Copa do Mundo, jun/jul 2010. Nessa Copa, a partir do resultado da sele-
ção brasileira de futebol, no dia 02/07, ficamos em 8º lugar. Provavelmente,
você, como uma parte significativa dos brasileiros, deve ter sentido raiva e
frustração com a classificação obtida. Na educação básica, os resultados do
processo de escolarização dos estudantes oriundos da escola pública são
pífios e nem por isso o Brasil fica triste ou frustrado. Na realidade, observa-
se um desconhecimento e indiferença da sociedade diante dos fatos que os
dados educacionais revelam. Segundo o INEP, o resultado nacional do Ideb
2009, no caso do ensino médio, avançou de 3,5 para 3,6, e, embora tenha
superado a meta nacional de 2009, temos que reconhecer que não foi um
LEIA:
O que falta é vontade política – artigo sobre os resultados do IDEB, publicado na Folha de São Paulo, de 11 de julho de 2010, página A3, assinado por Arnaldo NIskier.
UABPolítica e Legislação da Educação 89

grande resultado. O MEC espera que, em 2022, o nosso Ideb seja igual a
6,0. Será que teremos uma torcida animada para lutar por essa meta?
Perguntamos, então, considerando os resultados obtidos, o que estas dife-
rentes reações emocionais revelam? Qual o valor da educação para a socie-
dade brasileira? Por que um resultado no futebol - seja positivo ou negativo
- tem tanta visibilidade na mídia, enquanto na educação predomina a invi-
sibilidade? Como se explica tudo isso?
Precisamos reconhecer que mais graves do que essas questões são as impli-
cações negativas da indiferença para o desenvolvimento socioeconômico
e cultural da população, historicamente excluída do acesso à escola e da
permanência, com sucesso, nela.
Será que a gestão democrática tem alguma contribuição a dar para a melho-
ria da escola pública? Ela é uma ferramenta importante na modificação des-
te quadro? Vamos navegar neste livro e, mais especialmente, nesta aula, no
intuito de encontrarmos elementos ou pistas que nos permitam tecer novos
fios que possibilitem a construção de políticas públicas voltadas para uma
escola inovadora e democrática, comprometida com melhores resultados.
1. A gestão educacional e os desafios do cotidiano escolarA gestão democrática supõe o conhecimento da importância da participação
ativa das pessoas nas decisões coletivas. Relaciona-se com o fortalecimento
da ideia de democratização do trabalho pedagógico, entendida como par-
ticipação de todos nas decisões e na sua efetivação. Ela implica, portanto,
uma ação coordenada, participativa e coletiva, com controle social.
À semelhança de um maestro, o gestor escolar harmoniza atividade peda-
gógica com a administrativa. Ambos são líderes e coordenam uma equipe.
Enquanto o primeiro se orienta pela partitura e é o responsável pelo fluir
da música, o segundo considera e compartilha leis e normas e coordena
a dinâmica escolar. A diferença é que a plateia da “gestão democrática”
é constituída por uma comunidade que participa, no seu campo próprio,
das decisões e enfrenta, coletivamente, os desafios do cotidiano, na busca
de caminhos que possibilitem a construção de resultados educacionais mais
satisfatórios.
Licenciatura em MatemáticaUAB 90

Enfrentar os problemas postos por nossa difícil realidade educacional é tare-
fa da gestão democrática. Para ter uma ideia da magnitude desses desafios,
analise o gráfico abaixo, reflita sobre as reais causas da evasão escolar, que,
há décadas, marca a história da educação brasileira, e responda por que
apenas 36% dos nossos estudantes concluem a educação básica.
A gestão democrática acontece num processo contínuo de tensões e de
múltiplas e complexas situações. Em todos esses espaços-tempos, aprende-
mos comportamentos e regras sociais. Todo esse movimento não se faz de
maneira linear, sequencial e cumulativa, mas com rupturas, abandonos e
interrupções. O imprevisível, rico de possibilidades, ronda a escola.
As palavras-chave da gestão democrática são participação, inovação, auto-
nomia, flexibilidade, visão partilhada, valores, missão, parceria e cultura. No
Brasil, a educação básica, enquanto componente estratégico que favorece
a melhoria da qualidade de vida do cidadão, com a ampliação das possibili-
UABPolítica e Legislação da Educação 91

dades de emprego e renda, promovendo a redução dos níveis de pobreza, é
fator diferencial de seu processo de desenvolvimento.
Segundo Carrilho (2009), é objeto de estudo da gestão democrática tanto a
coordenação do esforço humano envolvido, quanto a organização e racio-
nalidade do trabalho voltados para os resultados desejados.
É indispensável investir na reflexão sobre as práticas escolares coletivas, pois
esse modo de intervenção crítica sobre a realidade dá sustentação à gestão
democrática e faz avançar a qualidade do trabalho educativo. O cotidiano se constitui num espaço de formação porque nele se dá a relação com o outro, com o saber e com o não saber. Segundo Azevedo (2004, p.15), nele transi-
tam e são operadas múltiplas e complexas negociações e traduções entre as
políticas educacionais e as redes de cada um dos sujeitos do processo, nelas
incluídas as trajetórias escolares, a formação acadêmica, as expectativas e os
desejos.
Atualmente, alguns fatos, segundo Neubauer (2005), possibilitam investir
mais na melhoria da qualidade da educação básica e na formação de profes-
sores. O primeiro é relativo à dinâmica demográfica do Brasil que, segundo
as tendências populacionais da última década, destaca a redução proporcio-
nal do número absoluto de crianças e jovens (dados do Censo Demográfico
2000). O segundo diz respeito à quase universalização do acesso ao ensino
fundamental. Essas evidências favorecem o deslocamento de um volume
maior de recursos do Estado na direção da construção de uma educação de
qualidade.
Reconhecemos que nenhuma formação inicial fornece competência plena
para o exercício imediato da gestão. Todo gestor é, antes de tudo, um pro-
O primeiro mistério
Se a goiabada é feita de goiaba, se de limão é feita a limonada, do que será que é feita a madrugada, a alvorada, a revoada... De nada?
A madrugada é feita dos passeios que as últimas estrelas dão no céu; alvorada é feita de preguiça do sol que acorda e os braços já estendeu; a revoada é feita pelas asas de quem durante a noite adormeceu.
Mas de que é feito o céu? E o sol? E cada estrela? E quem voou antes que houvesse asas e em seu próprio mistério se escondeu?
Licenciatura em MatemáticaUAB 92

fessor/educador e sua prática pedagógica, quando discutida e refletida, tor-
na-se uma ferramenta importante na sua formação e atuação profissional.
Nesse contexto - do cotidiano escolar -, são forjados os dirigentes da escola.
É quando se assume a responsabilidade de dirigir uma instituição de ensino
que se vai aprendendo a ser gestor, com todas as incertezas, conflitos in-
ternos e externos, tensões, dúvidas e inquietações. Na realidade, ousamos
dizer que tão importante quanto o diploma que o gestor recebe, quando
conclui a sua graduação, é o processo de reflexões e debates feitos sobre o
cotidiano. É inegável, portanto, que grande parte da formação do gestor se
dá em serviço, sobretudo quando apoiada no método ação - reflexão - ação.
É fundamental que esse tipo de formação seja objeto de políticas públicas do
Estado e não de ações pontuais de governos.
A formação em serviço, envolvendo diretores de diferentes escolas, discutin-
do sobre problemas concretos relativos à aprendizagem dos alunos, refletin-
do sobre questões contemporâneas e elaborando projetos educacionais, é
um processo valioso de formação profissional.
Entre os principais desafios da gestão democrática, destacamos: descentrali-
zação do poder, elaboração do PPP, autonomia, implementação de iniciativas
inovadoras, representatividade social dos conselhos sociais e colegiados, par-
ticipação, eleição de dirigentes e trabalho coletivo dos professores.
Conforme Lück (2009), com o reconhecimento de que o contexto socio-
cultural está em contínua mudança, a imprevisibilidade relativa ao futuro, à
distância entre a intenção e a ação e assim como a certeza de que a orga-
nização não é um todo homogêneo, fixo, predeterminado, mas que é dinâ-
Ao shopping center
Pelos teus círculos vagamos sem rumo nós almas penadas do mundo do consumo.Cada loja é um novo prego em nossa cruz. Por mais que compremos estamos sempre nus.
José Paulo Paes
UABPolítica e Legislação da Educação 93

mico, novas perspectivas se abriram, superando a ainda vigente tendência
burocrática e centralizadora da cultura escolar.
2. Papel e atribuições do gestor escolarAtualmente, com a escola crescendo em complexidade e sendo cada vez
mais questionada pela sociedade, o gestor vem desenvolvendo uma série de
funções/atribuições, realizando ações que vão desde orientar o processo de
aprendizagem até auxiliar a elaboração e desenvolvimento de projetos com
toda a comunidade escolar.
O perfil do diretor eficaz vem sendo objeto de estudo (LIBÂNEO, 2004; COS-
TA, 2003; PARO, 1997 ) e de debate na comunidade acadêmica. Seleciona-
mos para você o perfil do diretor eficaz que, segundo Lück, Freitas, Girling e
Keith (2008 p. 84), sintetiza as principais habilidades e conhecimentos dos
profissionais da gestão democrática.
Área administrativa:
• Visão de conjunto e de futuro sobre o trabalho educacional e o papel da
escola na comunidade.
• Conhecimento de política e da legislação educacional.
• Habilidade de planejamento e compreensão do seu papel na orientação
do trabalho conjunto.
• Habilidade de manejo e controle do orçamento.
• Habilidade de organização do trabalho educacional.
• Habilidade de acompanhamento de programas, projetos e ações.
• Habilidade de avaliação diagnóstica, formativa e somativa.
• Habilidade de tomar decisões eficazmente.
• Habilidade de resolver problemas criativamente e de emprego de grande
variedade de técnicas.
Águas de março
(...)
É madeira de vento, tombo da ribanceiraÉ o mistério profundo, é o queira ou não queiraé o vento ventando, é o fim da ladeiraÉ a viga, é o vão, festa da cumeeiraÉ a chuva chovendo, é conversa ribeiraDas águas de março, é o fim da canseiraÉ o pé, é o chão, é a marcha estradeiraPassarinho na mão, pedra de atiradeira
(...)
É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rãÉ um resto de mato, na luz da manhãSão as águas de março fechando o verãoÉ a promessa de vida no teu coração
Antônio Carlos Jobim
Licenciatura em MatemáticaUAB 94

Área de relacionamento interpessoal/inteligência emocional:
• Compreensão da dinâmica de relacionamento e comunicação interpes-
soal.
• Habilidade de se comunicar eficazmente.
• Habilidade de mobilizar a equipe escolar e comunidade local.
• Habilidade de facilitar a realização de processos de atuação colaborativa.
• Habilidade de desenvolver equipes.
• Habilidade de negociar e resolver conflitos.
• Habilidade de avaliar e dar feedback construtivo ao trabalho dos outros.
Área pedagógica:
• Compreensão dos fundamentos e bases da ação educacional.
• Compreensão da relação entre ações pedagógicas e seus resultados na
aprendizagem e formação dos alunos.
• Conhecimento sobre organização do currículo e articulação entre seus
componentes e processos.
• Habilidade de mobilização da equipe escolar para a promoção dos obje-
tivos educacionais da escola.
• Habilidade de orientação e feedback ao trabalho pedagógico.
Você conhece o Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar? Ele foi
criado em 1998 e é resultado da parceria entre o Consed, a Undime, a Unes-
co e a Fundação Roberto Marinho. Destaca-se como uma das mais impor-
tantes ferramentas de mobilização das escolas públicas brasileiras, visando
à melhoria da gestão e da qualidade do ensino, tendo como foco o sucesso
do aluno.
UABPolítica e Legislação da Educação 95

O movimento Todos Pela Educação, lançado em 2006, sintetiza um pro-
jeto da nação voltado para a construção de uma educação de qualidade.
Apresenta cinco metas específicas, focadas em resultados mensuráveis, que
devem ser alcançados até 2022, ano do bicentenário da independência do
Brasil:
Meta 1: Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola.
Meta 2: Toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos.
Meta 3: Todo aluno com aprendizado adequado à sua série.
Meta 4: Todo jovem com o Ensino Médio concluído até os 19 anos.
Meta 5: Investimento em Educação ampliado e bem gerido.
Chegaremos lá? Sua contribuição, como futuro educador, é importante na
realização dessas metas! Concorda?
Além dos dispositivos legais CF/88, LDB/96 e o PNE/2001-2010, o ECA �
Estatuto da Criança e do Adolescente - enfatiza “que as crianças e os adoles-centes gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa huma-na, notadamente o direito à educação, constituindo dever do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação desses direitos, proibindo, inclusive, que nenhum adolescente seja objeto de qualquer forma de negli-gência.”
Cabe, portanto, à gestão democrática fazer valer, em suas escolas, o conte-
údo do ECA e dos demais instrumentos legais.
Licenciatura em MatemáticaUAB 96

Além do perfil acima apresentado, estamos explicitando para você, a títu-
lo de complementação, as atribuições do gestor, formuladas por Libâneo
(2001):
1. Supervisionar todas as atividades administrativas e pedagógicas da es-cola, bem como as atividades com os pais e a comunidade e com outras instâncias da sociedade civil, responsabilizando-se por elas.
2. Assegurar as condições e os meios da manutenção de um ambiente de trabalho favorável e de condições materiais necessárias á consecução dos objetivos da escola, incluindo a responsabilidade pelo patrimônio e sua ade-quada utilização.
3. Promover a integração e a articulação entre a escola e a comunidade próxima, com o apoio e a iniciativa do conselho escolar da instituição de en-sino, mediante atividades de cunho pedagógico, científico, social, esportivo e cultural.
4. Organizar e coordenar as atividades de planejamento e do projeto peda-gógico-curricular, juntamente com a coordenação pedagógica, bem como fazer o acompanhamento, a avaliação e o controle de sua execução.
5. Conhecer a legislação educacional e do ensino, as normas emitidas pelos órgãos competentes e o regimento escolar, assegurando o seu cumprimen-to.
6. Garantir a aplicação das diretrizes de funcionamento da instituição e das normas disciplinares, apurando ou fazendo apurar irregularidades de qual-
UABPolítica e Legislação da Educação 97

quer natureza, de forma transparente e explícita, mantendo a comunidade escolar sistematicamente informada das medidas.
7. Conferir documentos escolares, encaminhar processos ou correspondên-cias e expedientes da escola, de comum acordo com a secretaria escolar.
8. Supervisionar a avaliação da produtividade da escola em seu conjunto, do currículo e dos professores.
9. Buscar todos os meios e condições que favoreçam a atividade profissional dos pedagogos especialistas, dos professores, dos funcionários, visando á boa qualidade do ensino.
10. Supervisionar a organização financeira e o conselho da escola, os peda-gogos, especialistas e professores, responsabilizando-se por eles.
3. Autonomia e participação como exi-gências básicas da gestão democráticaA autonomia é um processo complexo, com muitos desdobramentos, e está
presente nos diferentes níveis da atividade educacional realizada na socieda-
de contemporânea. Ela implica em liberdade de decisão e é exercida sempre
num processo de interação e só é significativa e duradoura quando conquis-
tada.
De acordo com Aguiar (2009, p. 86), “A participação e autonomia são ele-mentos indispensáveis à gestão democrática, tornando-se condições para o estabelecimento da estrutura organizacional da escola, que busca uma nova prática educativa respaldada nas relações circulares, assentadas nos eixos da interação, cooperação e solidariedade.”
Licenciatura em MatemáticaUAB 98

Reconhecemos, tanto na teoria quanto na prática, que a escola já mudou
muito, isto é, já conquistou algum grau de autonomia, seja realizando elei-
ções para escolha dos dirigentes, seja possibilitando à comunidade escolar,
interna e externa, desenvolver ações que fortalecem a transformação da
sociedade, numa perspectiva inclusiva e democrática.
A autonomia de uma instituição, para Libâneo (2001, p. 115), “significa ter poder de decisão sobre seus objetivos e suas formas de organização, man-ter-se relativamente independente do poder central, administrar livremente os recursos financeiros.”
Autonomia implica em assumir responsabilidade pelos seus atos, tendo
como base o bem comum, os interesses amplos da sociedade e, no caso da
educação, objetivos, princípios e valores educacionais comprometidos com
uma formação crítica e cidadã dos seus alunos.
Para Luce e Medeiros (2006, p. 21), “A autonomia não dispensa relação e articulação entre escolas, sistemas de ensino e poderes, tampouco é a liber-dade dada por apenas um segmento social. Logo, não se pretende a auto-nomia dos professores, dos pais ou dos estudantes. A autonomia é sempre de um coletivo.”
Participação é o processo dinâmico e interativo, caracterizado pela mobiliza-
ção explícita de todos os esforços individuais, visando à superação de atitude
de acomodação, indiferença, exclusão e individualismo, para a construção
do espírito de solidariedade grupal na efetivação de objetivos institucionais
que norteiam o trabalho educativo. A palavra participação tem diversos sig-
nificados, indo desde a participação como expressão de vontades individuais
até o assumir responsabilidades por ações, diálogos, situações e resultados.
Importante registrar que Di-álogo, na visão de Azevedo (2004, p. 14), sig-
nifica duas lógicas em comunicação na busca de um entendimento mútuo.
A participação, numa perspectiva dinâmica de integração objetivando desen-
volver um espaço educacional mais significativo, não é uma realidade ainda
muito frequente entre as instituições educacionais, destaca Lück (2006)
UABPolítica e Legislação da Educação 99

Na escola, assim como nas demais organizações sociais, a participação assu-
me inúmeras formas e desdobramentos, desde a simples presença física até
a manifestação explícita de engajamento social e institucional, traduzido em
ações concretas, voltadas para o desenvolvimento efetivo e realização dos
objetivos e metas da instituição educacional.
É importante observar o estudo que Lück (2009) faz do processo de parti-
cipação. Veja como você, estudante de um curso de licenciatura, portanto,
com percurso acadêmico relativamente longo, pode intensificar sua partici-
pação no trajeto da sua escolaridade, com base na classificação apresentada
por esta pesquisadora.
– Participação como presença física
De acordo com a compreensão da participação como presença física, é par-
ticipante quem pertence a um grupo ou organização, independentemente
de sua atuação e papel desempenhados nele, como, por exemplo, quem faz
parte de uma escola, de uma religião, de um grupo de lazer, de uma entida-
de profissional, etc. Assim, associar-se, filiar-se e pertencer a um ambiente
são expressões da participação. Sabemos que o comportamento passivo, o
estar apenas presente não dão conta da ação efetiva de contribuição para o
desenvolvimento da organização educacional ou social.
– Participação como expressão verbal e discussão de ideias
Frequentemente observamos, nas escolas, ser dada a oportunidade às pesso-
as de expressarem suas opiniões, discutirem sobre ideias e diferentes visões.
O uso da liberdade de expressão é tomado como manifestação democráti-
ca de participação. Muitas vezes acontecem reuniões na escola que servem
apenas para referendar as decisões tomadas, revelando-se como processo
de falsa democracia. Lembramos alguns depoimentos de professores que
afirmavam não gostar das reuniões formalmente agendadas, porque as de-
cisões já haviam sido tomadas previamente.
O quereres
Onde queres revólver sou coqueiroE onde queres dinheiro sou paixãoOnde queres descanso sou desejoE onde sou só desejo queres não
E onde não queres nada nada faltaE onde voas bem alta eu sou o chãoE onde pisas o chão minha alma salta E ganha liberdade na amplidão
Caetano Veloso
Licenciatura em MatemáticaUAB 100

É preciso muito cuidado com esse tipo de reunião que não possibilita o avan-
ço no processo coletivo de negociações das questões discutidas e de tomada
de decisão, face aos desafios e superação de dificuldades que favoreçam
uma decisão colegiada.
– Participação como representação
As situações em que não é possível a participação direta de todos e em que
a decisão se efetiva pela instituição de organizações formais que necessitam
de voto, tipo conselhos escolares, associação de pais e mestres, grêmios
estudantis, assembleias, são exemplos de organizações constituídas por re-
presentantes escolhidos mediante o voto. Isso supõe, além da delegação
de poderes ao outro para agir em seu nome, a discussão das propostas e
o compromisso de assumir sua parte de responsabilidade pelos resultados
esperados. Vale destacar que, para Lück (2006, p. 43), a eleição de diretores, praticada por vários sistemas de ensino, por si só não garante uma vivência democrática e participativa na escola. Se isto acontecer dissociado de uma prática de participação plena, pode levar a simples substituições de pessoas no poder ou legitimação de sua permanência, sem entrar no mérito da for-ma de atuação democrática.
– Participação como tomada de decisão
Participar implica partilhar responsabilidades por decisões tomadas coletiva-
mente e o enfrentamento dos desafios de realização de avanços, no sentido
da transformação e melhoria contínuas definidas no PPP. O fortalecimento
da prática de envolver todos os segmentos da escola, a fim de serem discuti-
das e decididas questões relevantes acerca do funcionamento da instituição,
requer compromisso permanente com a democracia.
– Participação como engajamento
Esta dimensão representa o nível mais pleno de participação. Significa, por-
tanto, uma atuação baseada na parceria superadora das manifestações de
indiferença e passividade, de um lado, e autoritarismo, burocratização e cen-
tralização, de outro, pontuadas por controle externo e cobranças interminá-
veis. A qualidade da educação e, por conseguinte, do ensino requer o apro-
veitamento pleno das oportunidades de desenvolvimento de competência
profissional e institucional. A atuação competente do gestor escolar implica
assumir responsabilidade política com sensibilidade e bom senso, que lhe
possibilite ter discernimento face às repercussões da tomada de decisão para
a escola como uma coletividade democrática.
UABPolítica e Legislação da Educação 101

A autonomia da gestão escolar permite aos seus profissionais destacar sua
responsabilidade no fazer pedagógico, articulando, inovando, assumindo
riscos conscientes e comprometidos com melhores resultados educacionais.
Ela promove associação entre tomada de decisão e ação, entre avaliação e
prestação de contas, entre resultados alcançados e recursos empregados. É
preciso, ainda, entender a diferença entre “autonomia decretada” e “auto-
nomia construída” para se ter a compreensão e paciência histórica necessá-
rias ao instigante processo que esta última requer.
4. Estratégia de gestão escolar: Projeto Político Pedagógico - PPP.O PPP, além de ser uma condição para a autonomia da escola, fornece ao
coletivo dos agentes educativos perspectiva educacional e política, a ser se-
guida, mas não indica, nem poderia indicar, cada passo desse caminho. Na
realidade, ele sintetiza uma direção para toda a comunidade escolar, sendo
uma ferramenta valiosa no processo de qualificação do funcionamento e do
desenvolvimento da escola.
Vale a pena enfatizar que é incumbência legal do professor, segundo a
LDB/96, Art. 13:
Inciso I - Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabeleci-mento de ensino.
Lembramos que, na aula 06 da disciplina Estrutura e Funcionamento do
Ensino Fundamental, no item 03, trabalhamos as principais estratégias de
gestão colegiada, a saber: Projeto Político Pedagógico, Conselho Escolar e
Regimento Escolar. Sendo assim, aqui, nos limitaremos a apresentar um ro-
Licenciatura em MatemáticaUAB 102

teiro de estruturação do PPP, elaborado por Libâneo, Oliveira e Toschi ( 2003,
p. 361).
1. Contextualização e caracterização da escola:
– aspectos sociais, econômicos, culturais, geográficos;
– condições físicas e materiais;
– caracterização dos elementos humanos;
– breve história da escola (como surgiu, como vem funcionando, admi-
nistração, gestão, participação dos professores, pais e da comunida-
de e visão que eles têm da instituição).
2. Concepção de educação e de práticas escolares:
– concepção de escola e de perfil da formação dos alunos;
– princípios norteadores da ação pedagógico-didática.
3. Diagnóstico da situação atual:
– levantamento e identificação de problemas e necessidades a serem
atendidas;
– definição de prioridades.
4. Objetivos gerais.
5. Estrutura de organização e gestão:
– aspectos organizacionais;
– aspectos administrativos;
– aspectos financeiros.
6. Proposta curricular:
– fundamentos sociológicos, psicológicos, culturais, epistemológicos,
pedagógicos;
– organização curricular (da escola, das séries ou dos ciclos, plano de
ensino e da disciplina): objetivos, conteúdos, desenvolvimento meto-
dológico, avaliação da aprendizagem.
7. Proposta de formação continuada de professores.
UABPolítica e Legislação da Educação 103

8. Proposta de trabalho com pais, comunidade e com outras escolas de uma
mesma área geográfica.
9. Formas de avaliação do projeto.
Finalmente, não esqueça que este é um primeiro roteiro a ser enriqueci-
do com outros dados e informações que você, ao pesquisar, irá encontrar
nas referências indicadas. Outra informação importante é saber que cabe às
secretarias de educação municipal e estadual e ao Ministério de Educação
manter permanentes políticas de formação continuada para os gestores em
exercício na função, de modo a mantê-los no patamar de qualidade desejá-
vel por toda a sociedade brasileira.
Exercício1. Qual a contribuição da gestão democrática para a construção de uma
educação de qualidade?
Resposta comentada: a gestão democrática, ao mobilizar toda a comu-
nidade escolar na construção de uma educação de qualidade, pode e deve
promover mudanças importantes no cotidiano escolar, sendo uma das mais
significativas assegurar aos estudantes da escola básica as ferramentas fun-
damentais do currículo e da cultura.
ResumoIniciamos nossa aula refletindo sobre os resultados recentes do processo
de escolarização da escola básica, segundo dados do INEP. Aproveitamos
o acontecimento da Copa do mundo e sua grandiosa repercussão na mídia
para indagar sobre as razões da invisibilidade da problemática educacional
brasileira. Destacamos, ao analisar aqueles dados, a magnitude dos proble-
mas educacionais com que o Estado, a sociedade e a escola precisam lidar
no processo de construção de uma educação inclusiva e democrática. Em
seguida, discutimos os desafios que estão expressos nas estatísticas educa-
cionais e que precisam ser enfrentados pela gestão democrática no cotidiano
escolar. Logo após, analisamos o papel e as atribuições do dirigente escolar,
considerando a autonomia e a participação como princípios que nortearão
a sua atuação profissional. Finalmente, considerando a incumbência legal
atribuída aos professores e à escola pela LDB/96 de elaboração do Projeto
Político Pedagógico, apresentamos um roteiro para a elaboração do referido
Licenciatura em MatemáticaUAB 104

documento. Além disso, lembramos a relevância de políticas de formação
continuada voltadas para os gestores no exercício da função.
Referências
AGUIAR, Conceição Carrilho de. Gestão democrática, elementos conceituais e a democratização do acesso, permanência e sucesso escolar. In. MACHADO, Laêda Bezerra, SANTIAGO, Eliete (orgs.) Políticas e gestão da educação básica. Recife : Editora Universitária da UFPE, 2009.
AZEVEDO, Joanir Gomes de; ALVES, Neila Guimarães, (orgs.). Formação de professores: possibilidades do imprevisível. Rio de Janeiro, RJ: DP&A Editora, 2004.
LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J.F. de; TOSCHI, M.S. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2003.
LUCE, M. B. e MEDEIROS, I. L. P. Gestão democrática na e da educação: concepções e vivências. IN: ____ (Orgs). Gestão escolar democrática: concepções e vivências. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2006.
LÜCK, Heloísa; FREITAS, Katia Siqueira de; GIRLING, Robert; KEITH, Sherry. A escola participativa: O trabalho do gestor escolar. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.
_______. A gestão participativa na escola. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.
NEUBAUER, Rose, (org.). Ofício de Gestor para dirigentes municipais de educação e suas equipes técnicas. Vol. 1, p.25, Diagnóstico da educação no município. São Paulo: Fundação Victor Civita, 2005.
MACHADO, Laêda Bezerra; SANTIAGO, Eliete. Políticas e gestão da educação básica. Recife : Editora Universitária da UFPE, 2009.
MARQUES, Luciana Rosa. A Descentralização da gestão escolar e a formação de uma cultura democrática nas escolas públicas. Recife: Editora universitária da UFPE, 2007.
PARO, Vitor. Gestão democrática da escola pública. São Paulo - SP: Ática, 1997.
Revista Nova Escola, O X da questão, Evasão escolar, Ano XXV, nº 232. São Paulo - SP: Abril Cultural, Fundação Vitor Civita, maio de 2010.
Links Consultadoshttp://www.inep.gov.br/imprensa/noticias/ideb/news10_01.htm
http://www.fundacaocultural.ba.gov.br/04/revista%20da%20bahia/Imagens/Rodin%20-%20Foto%2004.jpg
http://macacoted.files.wordpress.com/2009/03/maos-juntas.jpeg
http://www.consed.org.br/003/00301009.asp?ttCD_CHAVE=70060
http://www.santoandre.sp.gov.br/bnews3/images/multimidia/images/sim.jpg
http://blogj11.files.wordpress.com/2010/03/gestao_sistemica.jpg
http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2009/05/participa%C3%A7%C3%A3o-social-2.jpg
http://www.mp.pe.gov.br/uploads/images/PHyr1jQx8w7xlRVDYbf8iw/GKT73.jpg
UABPolítica e Legislação da Educação 105

Licenciatura em MatemáticaUAB 106

Aula 6 - Profissionais da educação:
Formação, Carreira e Organização
Política.
Objetivos
Geral: analisar a formação, carreira e organização política dos pro-
fissionais da educação, de acordo com a legislação vigente.
Específico: discutir os aspectos relativos à formação, valorização,
carreira e à organização política dos profissionais da educação,
considerando os dispositivos legais e a prática pedagógica institu-
cional.
Assuntos – Formação e valorização dos profissionais da educação.
– Carreira e organização política dos profissionais da educação.
– Programas e experiências inovadoras de formação continuada dos
profissionais da educação.
IntroduçãoA nossa sexta aula abordará a formação, a valorização, a carreira e a orga-
nização política dos profissionais da educação. Anteriormente, já discutimos
essa temática, no momento em que analisamos a Estrutura e o Funcionamen-
to do Ensino Fundamental e Médio. Navegaremos, agora, nesta disciplina,
buscando construir um novo olhar sobre tais questões, tentando perceber e/
ou descobrir relações e vínculos que permitam uma melhor compreensão do
processo de formação e valorização dos profissionais da educação.
Pretendemos, portanto, à luz da legislação vigente, discutir as políticas que
definiram orientações para a formação inicial e continuada dos profissionais
da educação.
UABPolítica e Legislação da Educação 107

Sabemos que a escola é um amplo espaço de convivência de diferentes pro-
fissionais. Queremos pontuar, embora pareça óbvio, que os profissionais da
educação trabalham com pessoas em diferentes fases de desenvolvimento
social e cognitivo. Logo, profissionais que enfrentam, no seu dia a dia, pes-
soas com diferentes interesses, expectativas, experiências e necessidades. É
indispensável, portanto, ter um profundo respeito por suas diferenças, in-
dependentemente de sua faixa etária, etnia, opção sexual e de seu gru-
po social. Na verdade, essas diferenças convidam para o respeito à ampla
diversidade e supõem, além do conhecimento, criticidade, generosidade e
sensibilidade dos profissionais da educação.
Segundo a professora Eliete Santiago (2009), é no exercício profissional e
na reflexão crítica sobre esse fazer cotidiano que cada pessoa vai construir
a competência e o compromisso profissional com os processos formativos,
a ética humanizadora e a cultura da solidariedade. É possível que aí resida
o maior desafio do exercício da profissão, além das condições concretas de
trabalho. Não podemos subestimar o desafio que é construir relações e prá-
ticas dialógicas na sociedade atual.
Enfim, nesta aula, você, licenciando, vai se debruçar sobre aspectos, desa-
fios e problemas que, num futuro muito próximo, estarão presentes no seu
cotidiano profissional. Sua disponibilidade para conhecê-los, questioná-los e
dialogar com eles é indispensável. Sua atuação profissional poderá ser muito
beneficiada com este mergulho! Portanto, atenção para as questões que
aqui abordaremos relativas à formação, valorização, carreira e à organiza-
ção política dos profissionais da educação, tendo como norte a legislação
vigente.
1. Formação e valorização dos profissio-nais da educaçãoNo Brasil, a formação continuada dos profissionais de educação e, principal-
mente, dos professores é uma prioridade estratégica nas atuais propostas
de política educacional. Ela visa não só suprir as carências e/ou dificulda-
des na formação desses profissionais, mas também ampliar os horizontes
do processo formativo, através de uma ótica mais abrangente de formação
permanente, como processo complexo que incorpora novas visões, concep-
ções e valores, comprometidos com a diversidade cultural e uma perspectiva
cidadã.
Licenciatura em MatemáticaUAB 108

Mais recentemente, a abordagem crítico-reflexiva tem orientado o processo
de formação continuada dos profissionais da educação, especialmente dos
professores, superando a tendência liberal conservadora, que, historicamen-
te, trabalha de forma mais linear, numa perspectiva de transmissão de co-
nhecimentos.
Nessa abordagem, o profissional é identificado como sujeito de sua experi-
ência e é estimulado a refletir sobre sua prática, através do questionamento
das suas ações no cotidiano escolar.
Atualmente, a formação de profissionais da educação e, especialmente, dos
professores, de acordo com o CONAE 2010, vem sendo realizada funda-
mentalmente nos seguintes formatos institucionais:
a) nas escolas normais, que ainda oferecem o curso de magistério/normal de nível médio;
b) nas universidades, que oferecem os cursos de licenciatura compartilhados entre os institutos de conteúdos específicos e as faculdades/centros/departa-mentos de educação, que oferecem o curso de pedagogia e a complemen-tação pedagógica dos demais cursos de licenciatura;
c) nas IES, em geral, ou seja, nos centros universitários, faculdades inte-gradas ou faculdades, institutos, centros, escolas, que oferecem cursos de licenciatura em geral;
d) nos institutos superiores de educação, criados pela LDB, para funcionarem no interior das IES e para assumirem toda a formação inicial e continuada de professores;
UABPolítica e Legislação da Educação 109

e) nos centros federais de educação tecnológica (CEFETs) ou instituições fe-derais de educação, ciência e tecnologia (IFETs), que podem ofertar os atu-ais cursos de licenciatura, além de licenciaturas específicas para a educação profissional
Em uma entrevista dada à Revista Nova Escola de maio de 2010, o professor
e especialista em legislação educacional, Carlos Roberto Jamil Cury, diz que
“a qualidade da educação não virá se não houver uma qualificação de pro-fessores e também melhores atrativos para o exercício da docência (...). Em educação, o ritmo nunca é rápido e as nossas lacunas de ordem administrati-va e de formação ainda são muito grandes. Tenho a impressão de que temos pela frente, pelo menos, uns bons dez anos, para que os efeitos comecem a ser produzidos.”
No que concerne à luta pela profissionalização e qualificação dos profissio-
nais da educação, merece registro o investimento no desenvolvimento de
competências e habilidades para o uso das TICs – Tecnologias da Informação
e Comunicação, incorporando-as ao processo pedagógico, visando favorecer
o desenvolvimento da autonomia, interatividade, criatividade e criticidade.
Segundo ainda o CONAE 2010, há desafios históricos, concernentes à arti-culação entre formação, profissionalização, valorização, elevação do esta-tuto socioeconômico e técnico-científico dos professores e a ampliação do controle do exercício profissional, tendo em vista a valorização da profissão e a construção da identidade profissional, que precisam ser enfrentados pelos governos, sistemas de ensino, universidades públicas e todas as instituições educativas.
Licenciatura em MatemáticaUAB 110

A educação é, sobretudo, hoje, na sociedade do conhecimento, uma ferra-
menta indispensável na construção de uma nova sociedade, comprometida
com a sustentabilidade do planeta. No Brasil, há vários agravantes que di-
ficultam a valorização dos profissionais da educação. Destacaremos dois:
a desvalorização do exercício do magistério como profissão e da educação
como campo de conhecimento.
Nosso objetivo ao explicitar estas mazelas não é desestimulá-lo(a), claro! É,
sim, possibilitar um melhor conhecimento do seu campo profissional, pois
acreditamos que, para agir de modo a contribuir para a mudança educacio-
nal e social, é imperioso conhecer bem a realidade onde você vai atuar.
Há que se destacar, também, o movimento que reconhece a escola, enquan-
to espaço de formação profissional, pela discussão e troca de experiências
continuamente desenvolvidas no cotidiano escolar. Enfatizamos que a con-
solidação de políticas e programas de formação e profissionalização relativos
tanto ao docente quanto aos demais profissionais da educação (especia-
listas, funcionários e técnico-administrativos) deve ter a escola como base
dinâmica e formativa, assegurando, assim, a sua profissionalização.
É indispensável reconhecer que os processos formativos, para todos os que
atuam na educação, devem contemplar a oferta de formação inicial e conti-
nuada para a inclusão e valorização desses profissionais nas carreiras, tendo
como objetivo a melhoria da sua atuação.
Hoje, é consenso que, para o exercício do magistério, não é suficiente o
professor dominar os conteúdos pedagógicos e científicos que a academia
UABPolítica e Legislação da Educação 111

produz e os procedimentos didáticos (o como fazer). O desafio é justamente
como trabalhar com esses conteúdos de forma significativa, contextualiza-
da e voltada para uma prática social transformadora, comprometida com a
perspectiva da cidadania.
É indispensável, neste momento de discussão do processo de formação e
valorização dos profissionais da educação, enfatizar o problema da remune-
ração do trabalho. A luta por salários dignos tem marcado a história dessa
categoria.
Na literatura educacional, a profissionalização, a formação e a carreira dos
profissionais da educação compõem um mesmo campo temático.
A valorização dos profissionais da educação, em especial dos docentes, está
relacionada com o processo de democratização da sociedade brasileira, con-
figurando-se como a questão histórica da categoria, que mobiliza tanto o
meio acadêmico quanto os movimentos sociais.
Segundo Weber (2003, p. 1134), a profissionalização é um (...) processo que transforma uma atividade desenvolvida no mundo do trabalho mediante a circunscrição de um domínio de conhecimentos e competências específicos, calcado nas características de profissões estabelecidas (as profissões liberais) e que nomeia, classifica uma ocupação como profissão, a qual tem reconhe-cimento social, associando-lhe imagens, representações, expectativas histo-ricamente definidas.
A dimensão política do processo de profissionalização dos docentes e de-
mais funcionários da educação (especialistas, funcionários e técnico-admi-
Opine
Indique cinco palavras que expressem a importância do movimento de valorização e profissionalização dos profissionais da educação.
Licenciatura em MatemáticaUAB 112

nistrativos) ultrapassa o debate sobre a docência e a educação escolar, pois
implica na luta por condições mais democráticas e igualitárias para todos.
Passaremos, agora, a investigar como a LDB/96 estabelece a relação entre
formação e valorização do magistério.
Destacaremos, inicialmente, o artigo 13 que trata das incumbências dos do-
centes, fato inédito na história da Educação Brasileira até a LDB/96.
Art. 13º. Os docentes incumbir-se-ão de:
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabeleci-mento de ensino;
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pe-dagógica do estabelecimento de ensino;
III - zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de me-nor rendimento;
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
Merece destaque, também, nesse dispositivo legal, o Art. 12 que define as
incumbências para os estabelecimentos de ensino.
Art. 12º. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;
UABPolítica e Legislação da Educação 113

II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabe-lecidos;
IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendi-mento;
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola;
VII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendi-mento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica.
Isso significa que esses dispositivos normativos, relativos à atuação docente e
à função da escola, são marcos orientadores do trabalho educativo.
ExercícioCite algumas agências formadoras responsáveis pela formação dos profissio-
nais da educação no Brasil.
Resposta comentada: no que diz respeito às agências formadoras, vale
enfatizar a abertura de novos espaços institucionais, a exemplo do Instituto
Superior de Educação e de experiências inovadoras de formação continuada
de profissionais da educação implantadas pelo Ministério da Educação. Aqui
apresentaremos:
1) Os institutos superiores de educação, criados pela LDB/96, para funciona-
rem no interior das IES e para assumirem toda a formação inicial e continu-
ada de professores.
2) Os centros federais de educação tecnológica (CEFET) ou instituições federais
de educação, ciência e tecnologia (IFET), que podem ofertar os atuais cursos
de licenciatura, além de licenciaturas específicas para a educação profissional.
3) As escolas normais, que ainda oferecem o curso de magistério/normal de
nível médio.
Licenciatura em MatemáticaUAB 114

4) As universidades, que oferecem os cursos de licenciatura compartilhados
entre os institutos de conteúdos específicos e as faculdades/centros/departa-
mentos de educação, que oferecem o curso de pedagogia e a complemen-
tação pedagógica dos demais cursos de licenciatura.
Entre as experiências inovadoras, pode-se destacar o pró-letramento, a escola
de gestores e a universidade aberta do Brasil – UAB (Educação a Distância – EaD).
2. Profissionalização e plano de cargos e carreira e organização política dos pro-fissionais da educação.Para alguns autores, Pimenta (1998), Neto (2006), Saviani (2008), no Brasil,
não existirá sociedade democrática enquanto o magistério não for valoriza-
do. Esta questão está colocada na CF/88, através do Art. 206, inciso V, que
reza:
V - valorização dos profissionais da educação escolar, ga-rantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas.
É necessária a criação de um plano de cargos e carreira específico para todos
os profissionais da educação que abranja: piso salarial nacional, jornada de
trabalho, com tempo destinado à formação e planejamento e condições
dignas de trabalho.
Mais uma vez o(a) remetemos ao livro Estrutura e Funcionamento do Ensino
Fundamental, desta vez, à aula três, intitulada “A LDB/96 e a Valorização
dos Profissionais da Educação”. Aqui destacaremos, apenas, aspectos que
UABPolítica e Legislação da Educação 115

complementarão os conteúdos apresentados na referida aula. Neste sentido,
vale a pena retomar o Art. 67, que determina:
Art. 67º. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive, nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público,:
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títu-los;
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licen-ciamento periódico remunerado para esse fim;
III - piso salarial profissional;
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho;
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluí-do na carga de trabalho;
VI - condições adequadas de trabalho.
Parágrafo único. A experiência docente é pré-requisito para o exer-cício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino.
O CONAE 2010 analisa inúmeras questões e desafios relativos à Formação,
Valorização e Profissionalização dos agentes educacionais. Selecionamos
para você, futuro professor, alguns itens enfatizando a necessidade de um
estudo detalhado do documento-referência desse evento:
a) Favorecimento da construção do conhecimento pelos profissionais da educação, valorizando sua vivência investigativa e o aperfeiçoamento da prática educativa, mediante a participação em projetos de pesquisa e exten-são desenvolvidos nas IES e em grupos de estudos na educação básica.
b) Fortalecimento e ampliação das licenciaturas e implantação de políticas de formação continuada de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu),
Licenciatura em MatemáticaUAB 116

sobretudo nas instituições públicas de ensino superior, tornando-as um es-paço efetivo de formação e profissionalização qualificada e de ampliação do universo social, cultural e político.
c) Realização de processos de formação inicial e continuada dos docentes, em consonância com as atuais demandas educacionais e sociais e com as mudanças epistemológicas no campo do conhecimento.
d) Promoção, na formação inicial e continuada, de espaços para a refle-xão crítica sobre as diferentes linguagens midiáticas, incorporando-as ao processo pedagógico, com a intenção de possibilitar o desenvolvimento de criticidade e criatividade.
e) Garantia de que, na formação inicial e continuada, a concepção de educa-ção inclusiva esteja sempre presente, o que pressupõe a reestruturação dos aspectos constitutivos da formação de professores, com vistas ao exercício da docência no respeito às diferenças e no reconhecimento e valorização à diversidade, tendo como compromisso o desenvolvimento e a aprendizagem de todos os alunos, por meio de um currículo que favoreça a escolarização e estimule as transformações pedagógicas das escolas, visando à atualização de suas práticas, como meio de atender às necessidades dos estudantes du-rante o percurso educacional.
f) Instituição de um padrão de qualidade aos cursos de formação dos profis-sionais da educação, em especial, no de formação de professores, em todas as IES.
Em face de todas essas questões e demandas, é imprescindível fortalecer o
movimento de institucionalização de uma Política Nacional de Formação e Valorização dos Profissionais da Educação, que desenvolva ações de
forma articulada das agências formadoras, dos sistemas de ensino e do MEC.
Essa política deve ser estruturada como processo inicial e continuado, como
direito dos profissionais da educação e como dever do Estado.
Entre os inúmeros projetos, programas e experiências inovadoras de forma-
ção continuada dos profissionais da educação, implantadas pelo Ministério
da Educação, escolhemos os mais recentes, a saber:
UABPolítica e Legislação da Educação 117

Pró-funcionárioSegundo o MEC, o Curso Técnico de Formação para os Funcionários da Edu-
cação (Pró-funcionário) é em nível médio e destina-se aos trabalhadores que
exercem funções administrativas nas escolas das redes públicas estaduais e
municipais de educação básica.
O Pró-funcionário é um curso de educação a distância que forma os profis-
sionais nas seguintes habilitações: gestão escolar, alimentação escolar, mul-
timeios didáticos e meio ambiente e manutenção da infraestrutura escolar
Pró-LetramentoO Pró-Letramento - Mobilização pela Qualidade da Educação - é um progra-
ma de formação continuada de professores das séries iniciais do ensino fun-
damental, realizado pelo MEC, em parceria com universidades que formam
a Rede Nacional de Formação Continuada e com incorporação dos estados
e municípios, visando à melhoria da qualidade de aprendizagem, da leitura/
escrita e matemática.
Tem como público alvo os professores do ensino fundamental da escola pú-
blica que estão em exercício. De acordo com o MEC, a carga horária dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo programa é de 120 horas,
com encontros presenciais e atividades individuais com duração de 8 meses.
Licenciatura em MatemáticaUAB 118

Escola de GestoresO Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica insere-se num
conjunto de políticas que vêm sendo implementadas, em regime de colabo-
ração, pelos sistemas de ensino, as quais expressam o esforço de governos
e da sociedade em geral em assegurar o direito da população brasileira à
educação escolar com qualidade social.
Ele surgiu da necessidade de se desenvolver um processo de formação de
gestores escolares que contemple a concepção do direito à educação esco-
lar, em seu caráter público de educação, e a busca de sua qualidade social,
baseada nos princípios da gestão democrática, olhando a escola na perspec-
tiva da inclusão social e da emancipação humana.
Segundo os dados mais recentes (Censo Escolar/2004), no Brasil, a realidade
da gestão escolar é bastante diversa no que se refere à formação dos diri-
gentes. Do total de dirigentes escolares, 29,32% possuem apenas formação
em nível médio, sobretudo nos estados das regiões norte, nordeste e centro-
oeste. O percentual desses dirigentes com formação em nível superior é de
69,79%, enquanto apenas 22,96% possuem curso de pós-graduação lato sensu / especialização. Portanto, evidencia-se a urgência de se dinamizarem
e se efetivarem programas, projetos e ações que alcancem maior número
possível de gestores educacionais, tanto em nível da formação inicial quanto
em nível da formação continuada.
Nesse contexto, é de fundamental importância ampliar as diferentes estraté-
gias e modalidades de formação a serem utilizadas, considerando a diversi-
dade, a realidade educacional em nosso país. A Educação a Distância (EAD)
tem se apresentado como uma modalidade de educação que possibilita uma
contribuição significativa para a mudança no quadro de formação e qualifi-
cação dos professores e, nesse caso, especialmente, dos dirigentes escolares.
UABPolítica e Legislação da Educação 119

Escola Ativa (classe multisseriada)A escola ativa tem como objetivo melhorar a qualidade do desempenho
escolar em classes multisseriadas das escolas do campo. Utiliza como estra-
tégias centrais capacitar professores e implementar, nas escolas, recursos e
procedimentos pedagógicos que estimulem a interatividade e o processo de
construção do conhecimento do estudante.
Universidade Aberta do Brasil (Educação a Dis-tância)A Universidade Aberta do Brasil foi instituída pelo Decreto 5.800, de 8 de
junho de 2006, para “o desenvolvimento da modalidade de educação a
distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e
programas de educação superior no País”. É um sistema constituído por uni-
versidades públicas que oferecem cursos de nível superior para segmentos
da população que possuem limitações de acesso à formação universitária,
por meio do uso da metodologia da educação a distância. Apesar de ser
dada prioridade aos professores que atuam na educação básica, seguidos
dos dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos estados,
municípios e do Distrito Federal, o público em geral também é atendido.
Licenciatura em MatemáticaUAB 120

Visa incentivar a modalidade de educação a distância nas instituições pú-
blicas de ensino superior, bem como fomentar pesquisas em metodologias
inovadoras de ensino superior que utilizam tecnologias de informação e co-
municação. Além disso, estimula a colaboração entre a União e os entes
federativos e contribui para a criação de centros de formação permanentes.
Nesse sentido, o Sistema UAB promove a articulação, a interação e a efeti-
vação de iniciativas que estimulam a parceria das três esferas governamen-
tais com as universidades públicas e demais organizações interessadas. Cria,
também, mecanismos alternativos para o fomento, a implantação e a execu-
ção de cursos de graduação e pós-graduação de forma consorciada. Segun-
do o MEC, ao levar a universidade pública de qualidade a locais longínquos e
isolados, promove o desenvolvimento de municípios com baixos IDH – Índice
de Desenvolvimento Humano - e IDEB - Índice de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica – mais importante indicador da qualidade do ensino no Brasil.
O MEC lançou, recentemente, o primeiro Plano Nacional de Formação de
Professores da Educação Básica, destinado a formar, nos próximos cinco
anos, todos os professores que atuam na educação básica e ainda não são
graduados. Segundo o Ministro da Educação Fernando Haddad, “o objetivo do sistema é dar a todos os professores em exercício condições de obter um diploma específico na sua área de atuação”.
De acordo com o Educacenso 2007, aproximadamente, 330 mil professores
da educação básica pública não possuem graduação ou atuam em áreas
diferentes das licenciaturas em que se formaram. Os cursos serão de forma-
ção inicial e deverão ser oferecidos tanto na modalidade presencial como a
distancia pela UAB.
É, assim, uma ferramenta para a universalização do acesso ao ensino supe-
rior, ao mesmo tempo que promove a valorização e requalificação do pro-
fessor em outras disciplinas, fortalecendo a escola no interior do Brasil e
diminuindo, consideravelmente, o fluxo migratório para os grandes centros
urbanos.
Pró-GestãoO Programa de Capacitação de Gestores – Pró-gestão - tem como objetivo
tornar a gestão escolar cada vez mais qualificada e participativa, propiciando
a capacitação de diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos, secre-
tários e representantes dos colegiados escolares, das redes estadual e munici-
UABPolítica e Legislação da Educação 121

pal de ensino. É uma modalidade de Educação a Distância e tem como objetivo
formar lideranças escolares empenhadas em um projeto de gestão democrá-
tica da escola pública, cujo alvo está no sucesso da aprendizagem dos alunos.
O curso representa uma das bem-sucedidas iniciativas do Conselho Nacional
de Secretários Estaduais de Educação – CONSED - e de seus parceiros, as
Secretarias de Educação.
Tanto a LDB/96 quanto o PNE/2001, entre outros dispositivos legais, incor-
poraram a importância da profissionalização e do reconhecimento público
do Magistério como condição básica para a construção da escola pública de
qualidade.
Na visão de Weber (2003), a LDB/96, ao substituir a expressão profissional
do ensino (dimensão nitidamente conteudística) pela expressão profissionais
da educação, amplia o campo de ação desses profissionais, pois inclui, além
dos conteúdos e de suas tecnologias, a dimensão política e social do traba-
lho educativo e incorpora a dinâmica escolar, o relacionamento da escola
com a comunidade, a avaliação e a gestão.
A ANFOPE – Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Edu-
cação – entidade que você, licenciando, conheceu através dos livros de Es-
trutura e Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio, ao enfatizar que
a atuação docente requer, não somente, formação específica, mas também
a vinculação entre teoria e prática e a definição de patamares mínimos de
acompanhamento, controle e avaliação de desempenho no processo de for-
mação das novas gerações, aponta para o surgimento da docência como
profissão, já que, segundo Weber (2003), uma profissão se desenvolve ou emerge relacionada a uma determinada estrutura social, sendo reconhecida quando a ela se vinculam formas de controle, respeitada a autonomia que lhe é inerente.
ExercícioQual a importância da formação continuada, da valorização e do movimen-
to de profissionalização dos profissionais da educação para os sistemas de
ensino?
Licenciatura em MatemáticaUAB 122

Resposta comentada: é indispensável que aos profissionais da educação
seja assegurado um processo de formação continuada que lhes permita en-
tender as determinações do mundo globalizado que se caracteriza pela ve-
locidade da informação, desigualdade e exclusão, e, a partir disso, através
do trabalho coletivo e solidário, construir estratégias educacionais que pos-
sibilitem a todos e, principalmente, aos segmentos populares uma educação
de qualidade.
ResumoNesta sexta aula, abordamos questões relativas à formação, valorização, pro-
fissionalização e organização política dos profissionais da educação. Desta-
camos, inicialmente, inúmeras demandas que justificam o movimento de
institucionalização da Política Nacional de Formação e Valorização dos Profissionais da Educação, visando qualificar a função docente e a dos
demais profissionais do processo educativo, valorizando sua contribuição e
considerando-os como sujeitos e elaboradores de propostas, e não meros
executores. Em seguida, discutimos alguns projetos e experiências inova-
doras de formação continuada dos profissionais da educação implantados
pelo MEC: Pró-funcionário, Pró-Letramento, Escola de Gestores, Escola Ati-
va, Universidade Aberta do Brasil e Pró-Gestão. Paralelamente, retomamos
alguns artigos da LDB/96 que guardavam relevância direta com a temática
desta aula. Finalmente, colocamos algumas questões e desafios apresenta-
dos no Documento-Referência do CONAE 2010 relativos à profissionalização
e à organização política dos profissionais da educação.
Referências
AGUIAR, Conceição Carrilho de. Gestão democrática, elementos conceituais e a democratização do acesso, permanência e sucesso escolar. In MACHADO, Laêda Bezerra,
BOTLER, Alice Harpp (org.). Organização, financiamento e gestão escolar: subsídios para a formação do professor. Recife : Editora Universitária da UFPE, 2009.
BRASIL. MEC. Resolução CNE/CEB nº 3, de 08 de outubro de 1997. Fixa diretrizes para os novos Planos de Carreira e de Remuneração para o Magistério dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios. Brasília, DF, 1997.
______, Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Estabelece o Plano Nacional de Educação. Brasília, DF, 2001.
_____, Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. Institui o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação. Brasília, DF, 2007.
UABPolítica e Legislação da Educação 123

_____, Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008. Institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. Brasília, DF, 2008.
CONAE – Conferência Nacional de Educação. Documento-Referência, Construindo o sistema nacional articulado de educação: O Plano nacional de educação, Diretrizes e estratégias de ação. Brasília – DF, 2010.
Revista Nova Escola, Fala Mestre! Carlos Roberto Jamil Cury, Ano XXV, nº 232. São Paulo – SP, maio de 2010, Abril Cultural, Fundação Vitor Civita.
SANTIAGO, Eliete (org.). Políticas e gestão da educação básica. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2009.
WEBER, Silke. Profissionalização docente e políticas públicas no Brasil. Educação e Sociedade. Vol. 24, nº 85. Campinas, dez 2003.
Sites consultados:http://www.pmf.sc.gov.br/uab/uab/uab.jpg
http://www.espacociencia.pe.gov.br/espacociencia/sitenovo/imagens/UabComLegenda.png
http://usedez.files.wordpress.com/2009/07/logo_escola_gestores.jpeg
http://3.bp.blogspot.com/_QNnvbOnCuDs/SbPGZcsYQgI/AAAAAAAAABE/M5hJkUee47M/S220/logo+Escola+Ativa2.jpg
http://www.sec.ba.gov.br/iat/conteudo_2007/imgs/logo_profuncionario.png
http://www.es.gov.br/site/files/arquivos/imagem/seduProLetramento30309.jpg
http://nte8barreiras.files.wordpress.com/2009/11/progestao1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_22GoIXIJFLM/SCuAorZxHI/AAAAAAAAAAk/6igTm_7PIIc/s320/TICS+dilcineia
http://2.bp.blogspot.com/_Otf4u-UIiNg/SrqknCgVuTI/AAAAAAAAAAM/V54TqV1hBZs/S1600-R/ead.bmp
http://www.blogbrasil.com.br/wp-content/uploads/2009/05/vale-a-pena-seguir-a-carreira-de-professor.jpg
http://www.camarapel.rs.gov.br/imprensa/noticias/2009/0145/014502.jpg
http://portal.mec.gov.br/index.php/?option=com_content&view=article&id=12365.
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12346&Itemid=698
http://moodle3.mec.gov.br/mdl01/mod/resource/view.php?id=12794
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=259&Itemid=477
http://www.uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6:o-que-e&catid=6:sobre&itemid=18
http://www.educacao.servidores.ba.gov.br/node/169/
Licenciatura em MatemáticaUAB 124

UABPolítica e Legislação da Educação 125