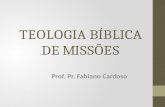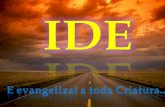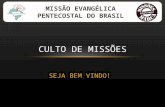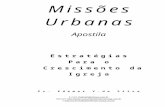PRÁTICAS GERENCIAIS DE TRABALHO SOCIAL EM … II Coninter/artigos/4.pdf · suas missões morais...
Transcript of PRÁTICAS GERENCIAIS DE TRABALHO SOCIAL EM … II Coninter/artigos/4.pdf · suas missões morais...
PRÁTICAS GERENCIAIS DE TRABALHO SOCIAL EM URBANIZAÇÕES DE FAVELA
PULHEZ, MAGALY MARQUES
Universidade de São Paulo. Instituto de Arquitetura e Urbanismo.Av. Trabalhador São Carlense, 400, 13566-590 - São Carlos - SP - Brasil
RESUMO
Testada e aceita a urbanização de favela como modelo de política pública habitacional, o consenso de que não há intervenção física de sucesso sem trabalho social atravessa, da esquerda à direita, governos, terceiro setor, acadêmicos, empresários, comunidades. Em 2004, a Política Nacional de Habitação atribuiu ao trabalho social financiamento e contabilidade próprios. Atrelado às exigências de “participação da comunidade” nos processos de projeto e obra, não faltam manuais de expertise a instruir seus procedimentos. O texto focaliza, pois, a lógica gerencial que define hoje as ações de trabalho social, especialmente em urbanizações de favela. Qual lugar o “gerenciamento social” ocupa nas práticas de amenização da precariedade social e habitacional nas cidades? Em que medida a assistência social gerencial institucionalizada se diferencia, se conflita ou se aproxima das formas de associativismo (movimentos sociais, associações de moradores, ONGs) normalmente presentes nas áreas de intervenção?
Palavras-chave: Trabalho social. Gerenciamento social. Urbanização de favela.
II CONINTER – Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e Humanidades Belo Horizonte, de 8 a 11 de outubro de 2013
“TRABALHO SOCIAL” E HABITAÇÃO
“Já é consenso: o trabalho social não é simplesmente um apoio da obra.
É um componente estratégico da política habitacional e urbana. Com a
escala das intervenções no Brasil e com o financiamento do trabalho
social, hoje não se trata mais de projetos pilotos. O conceito se
consolidou e seus objetivos vão além da moradia. O trabalho social (TS)
busca garantir a organização, a participação e a mobilização popular.”
(MCidades, 2011, p.24)
Entre os dias 31 de agosto e 02 de setembro do ano de 2010, estiveram reunidos,
em Brasília, algo em torno de 45 palestrantes, entre lideranças comunitárias, gestores
públicos, acadêmicos, consultores, etc, sob o patrocínio do Ministério das Cidades, em
parceria com a Aliança de Cidades (Cities Alliance) e o Banco Mundial, para revisitar um
tema que há pelo menos uma centena de anos se faz recorrente no tratamento da questão
habitacional para a população mais pobre no Brasil: o trabalho social.
O que se denomina aqui “trabalho social” trata-se de um conjunto de ações de
assistência social desenvolvidas e/ou promovidas pelo Estado, estruturadas para atuar em
complementação, no caso das intervenções habitacionais, àquilo que se considera “trabalho
físico”, técnico, de projeto e obra. É um ramo profissional historicamente protagonizado por
assistentes sociais, que, pela formação específica, detém um alegado know-how para lidar
com o assunto. Editais de projeto e obra de habitação de interesse social, como é o caso
das urbanizações de favela, sempre solicitam, na composição da equipe, um profissional da
área social (e não raro especificam: “assistente social” ou “sociólogo”, equalizando as duas
carreiras), que seria aquele a garantir os “processos participativos” e a “mobilização
comunitária”.
O chamado Seminário Internacional sobre Trabalho Social em Intervenções
Habitacionais fez render um documento-síntese (MCidades, 2011), disponibilizado via web
pela Secretaria Nacional de Habitação (SNH), que reúne depoimentos e considerações
então levantadas sobre o tema, tratando-o como propriamente um conceito, a amalgamar
assuntos da mais variada gama: mobilização, educação sanitária e ambiental, geração de
trabalho e renda, violência doméstica e violência urbana, inclusão social, desenvolvimento
local.
Em se tratando de um seminário cujo objetivo fosse “ampliar o campo de ação e o
repertório do trabalho social”, não parece estranha a ausência de referências ao desenrolar
histórico daquilo que agora se quer como “conceito”, muito embora o discurso de pretensões
regenerantes dos dias de hoje em pouco se diferencie daquele moldado ainda sob o ideário
estadonovista, nos anos 1930, quando os intuitos de formação do “homem novo”, do
“trabalhador-padrão” – que necessitaria moradia salubre e moralmente adequada para
reproduzir sua força de trabalho – solicitavam do Estado uma postura socioeducativa, de
orientação e reajustamento das massas.
A consolidação do discurso assistencialista sobre habitação popular nos anos 1940 e
50, que reforçava, de um lado, a imagem da favela como espaço imundo, promíscuo e
degradante, carente de recuperação, e, de outro, a aposta na casa da família proletária
como suporte para a mudança almejada, permitiu que se institucionalizasse, sobretudo
através dos profissionais de serviço social1, a prática do “ensinar a morar”, de acordo com
regras de higiene e boa convivência.
Vejamos a semelhança dos discursos de ontem e de hoje, respectivamente:
“Construídas as casas fazia-se necessário preparar os moradores para
nelas habitarem. As condições de moradia em que se encontravam os
havia deturpado de tal modo que precisavam ser ensinados a habitar
em novas casas, para que cada membro pudesse exercer devidamente
suas missões morais (esposa e esposo, mãe e pai) e missões materiais
(dona de casa e chefe de família e profissional). A educação deveria
ser a primeira medida, antes mesmo da mudança. De nada adiantaria
fornecer habitação se os operários não soubessem se servir dela. Para
tanto, antes da entrega das casas deveriam ser ministradas algumas
instruções essências para que o morador estivesse pronto para morar
em ambiente tão diverso do seu, e para usufruir do mesmo”
(Nascimento, 2006, p.55).
“A transferência de um grande número de famílias, oriundas de
diferentes áreas de favelas, para um novo espaço de moradia –
apartamentos em conjuntos habitacionais públicos – gera impactos
nesses moradores, exigindo adaptações de conduta, aprendizado de
novas normas de convívio e responsabilidades que até então não
faziam parte de seu viver cotidiano. Reúnem-se pessoas de condições
diversas de vida, valores, hábitos, perspectivas, e, sobretudo, com
níveis diferentes de motivação para mudanças. Assim, é fundamental a
realização de um trabalho social de acompanhamento sistemático,
1 Nascimento (2004) traça um histórico importante a respeito da institucionalização da profissão de assistente social no Brasil. Com a aproximação do Estado Novo aos ideários de renovação social da Igreja Católica, “ser assistente social não era [mais] dar consolo e conforto aos irremediavelmente pobres, mas, sim, promover a superação de sua condição de atraso. Tal situação era complementar à legislação social, assegurando ao ‘homem novo’ uma situação de vida mais humana e cristã” (Nascimento, 2004, p.49).
visando diminuir esse impacto e desencadear nos moradores um
processo de organização e de participação na vida coletiva, elementos
necessários à convivência em condomínio e à administração do
conjunto habitacional” (França, 2000, p.226).
Ou seja, com menos ou mais força neste ou naquele período, a assistência social
tem ocupado, desde então, papel de destaque no tratamento da questão habitacional,
transitando num campo de ambiguidades, donde fica difícil dar contornos nítidos àquilo que
se assemelha à tutela e ao autoritarismo e àquilo que se aproxima da tarefa pública de
garantir ao cidadão os seus direitos.
Mais recentemente, depois de largamente testada e aceita a urbanização de favela
como modalidade de “solução habitacional”, o discurso convergente em torno da ideia de
que não há intervenção física bem-sucedida sem trabalho social, evocando as virtudes dos
chamados “programas integrados”, em que se combinam diferentes modalidades de
assistência social, para além da pedagogia do habitar (“subprogramas” setoriais de geração
de renda, de microcrédito, de atenção à mulher, ao adolescente, à criança, etc), às obras de
saneamento e melhorias habitacionais, atravessa, da esquerda à direita, governos, terceiro
setor, acadêmicos, empresários, “comunidades”.
Há anos tornado norma em editais de contratação de serviços, a Política Nacional de
Habitação aprovada em 2004 tratou de atribuir ao trabalho social o que lhe faltava:
financiamento e contabilidade próprios e específicos – investimentos da ordem de 2,5% dos
recursos totais de uma obra ficam comprometidos, obrigatoriamente, com tais atividades.
Muitas vezes atrelado às exigências de “participação da comunidade” nos processos
de projeto e obra, não faltam receituários e manuais a instruir seus procedimentos,
incorporando também nesse âmbito instrumentos de gestão entendidos como “eficazes”:
“Perante a crescente complexidade, maior volume de recursos a serem
administrados, e novas tarefas a serem executadas pelo TS,
recomenda-se incluir entre os componentes financiáveis das
intervenções um Componente de Gestão (no molde dos financiamentos
do BID e do Bird). Isso faria com que, inclusive, fosse exigido para o
Trabalho Social pessoal com competências adequadas, a serem
oportunamente estimuladas, seja por meio da articulação com o setor
acadêmico, com iniciativas formativas pelo Ministério das Cidades e
pala Caixa.
Uma das responsabilidades cruciais a serem assumidas por esse
componente de gestão é a implantação de sistemas e procedimentos de
monitoramento e avaliação adequados da intervenção, nas suas
diversas dimensões, inclusive a dimensão socioeconômica dos
beneficiários. É fundamental que a SNH assuma a liderança desse
processo, produzindo diretrizes, manuais e instrumentos para M&A”
(MCidades, 2011, p.41).
PRÁTICAS GERENCIAIS E URBANIZAÇÕES DE FAVELA:
PROCESSOS E DESDOBRAMENTOS
Parece mesmo difícil questionar a tese de que as instituições financeiras
multilaterais, em especial o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco
Mundial (BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI), seriam os grandes porta-vozes do
tema do controle da pobreza no terceiro mundo como garantia de estabilidade social e
econômica, a alcançar-se através de políticas responsáveis, good governance, técnicas
modernas de management, por um setor público competente, cujo ethos burocrático deve
necessariamente substituir-se pelo gerencial.
Embora não se possa afirmar que o consenso ideológico em torno do ajuste e, mais
tarde, do desenvolvimento local tenha se tratado de um movimento de mão única – afinal,
governos e elites locais associaram-se às instituições de governança global de forma
absolutamente interessada nas últimas décadas, não apenas pelos recursos que aportam,
mas por complementarem uma mesma engrenagem política –, não há como não levar em
conta, como no argumento de Maranhão (2009), “a capacidade das organizações
multilaterais de generalização de um novo discurso e de uma nova prática”, moldados por
referenciais normativos que desafiam a possibilidade mesma de distinção, no espectro
político, daquilo que se convencionou “classificar” como esquerda e direita.
Maranhão localiza essa construção normativa num momento pós-reformas, em que a
pobreza passa a ser encarada, de fato, como administrável – mesmo com crescimento
econômico, ainda haveria uma parte vulnerável da população, em franco empobrecimento,
incapaz de estar no mercado, que careceria de atenção, de ações focalizadas, eficientes:
“Como construir a ideia da inevitabilidade das reformas dos serviços
públicos, da privatização das empresas estatais, da abertura das
economias às importações, da flexibilização do mercado de trabalho, se
o resultado a que se assistia era o aumento da pobreza? É nesse
sentido que a discussão sobre a viabilidade política das reformas
passou a ser objeto dos documentos do Banco [Mundial] junto às
propostas de políticas sociais mais eficientes e que focalizassem os
pobres” (Maranhão, 2009, p.73).
Nesse sentido, se tomamos o caso brasileiro, existe por aqui uma convergência
interessante a se notar, muito embora não nos seja exclusiva, sobretudo no âmbito das
políticas urbanas: nos anos 1990, com a parceria do governo FHC, as agências multilaterais
foram personagem importante na implementação das reformas do Estado, com suas
exigências de captação e mobilização de recursos privados, reestruturação no sistema
financeiro habitacional, redução do papel público no fornecimento de serviços urbanos,
incentivos ao mercado, aplicação de conceitos de gestão corporativa à gestão urbana.
Arretche (2002) traça um panorama sobre a agenda reformista defendida por Fernando
Henrique Cardoso para as políticas de habitação e saneamento e ressalta que a principal
justificativa para a “mudança de paradigma” baseava-se numa avaliação negativa dos
resultados do modelo anterior de provisão, estatal e centralizado, herdado do regime militar.
Segundo a autora, “o novo governo avaliava que a corrupção e ineficiência administrativas
dos governos civis anteriores foram possíveis graças à centralização federal; por
conseguinte, era forte a concepção, derivada desta primeira, que associava positivamente
descentralização a formas mais ágeis, democráticas e eficientes de gestão”. Posta em
prática muito rapidamente, a nova política implicou numa investida de crédito ao mutuário
final, que buscaria seu imóvel financiado diretamente no mercado imobiliário, o que
provocou, de imediato, o desmonte de boa parte das Companhias de Habitação (COHABs),
responsáveis por atender a parcela mais pobre da população, sufocadas pelas restrições de
financiamento impostas pelo governo federal.
Concomitantemente, quando o tema da pobreza focalizada ganha ênfase no discurso
defendido pelas agências multilaterais, vivemos no país um momento ímpar de aporte de
recursos e investimentos (de capital nacional e internacional) em urbanização e
regularização fundiária de favelas e programas aí associados, com forte acento no controle
das vulnerabilidades sociais de seus moradores. Arantes (2004) lembra ao menos quatro
grandes iniciativas financiadas pelo Banco Mundial e pelo BID: Favela-Bairro (BID), no Rio
de Janeiro; Cingapura (BID) e Guarapiranga (BM), em São Paulo; e Ribeira Azul (BM), em
Salvador, somando recursos da ordem de um bilhão de dólares, aplicados em pouco mais
de cinco anos.
As urbanizações de favela parecem significativas nesse contexto, justamente porque
constituem uma espécie de elo discursivo, donde cabe blindar as reformas de qualquer
crítica, sob a justificativa de que como se estivesse retirando parte do problema das mãos
de um Estado incapaz, se estaria, mais ainda, valorizando os pobres, “capazes de ajudar a
si mesmos e adotar papéis proativos” 2 (Arantes, 2004).
Em termos estratégicos, os mecanismos de gestão seletiva dos recursos e de
desfinanciamento de empresas públicas de habitação adotados pelo governo FHC,
promoveu, por sua vez, uma redução na produção de novas unidades destinadas à
população de baixa renda, o que, de certa forma, também contribuiu para consagrar a
urbanização de favelas como “boa prática” – de alternativa à solução.
Em 1999, o Banco Mundial anunciou sua principal iniciativa para a melhoria das
condições de pobreza nas favelas urbanas, a Cities Alliance – Aliança de Cidades,
autorreferenciada como “uma parceria global para redução da pobreza urbana e a promoção
do papel das cidades no desenvolvimento sustentável” –, reunindo o próprio Banco e
Organização das Nações Unidas - ONU, através da Agência Habitat, sob o mesmo manto
ideológico, em que a gestão dos níveis de pobreza aparece como estratégia para o avanço
neoliberal, como argumenta Maranhão (2009).
Segundo Arantes (2004), em consulta a documentos da Cities Alliance, a coalizão
baseia todo o seu trabalho no “consenso a respeito do slum upgrading como política urbana
mais eficaz de combate à pobreza urbana” (p.81) e enumera as vantagens de se intervir em
favelas e assentamentos precários:
“a alta visibilidade da intervenção e a forte sensação de mudança na
qualidade de vida (daí ser o tipo ideal de ‘best practice’); o baixo custo,
se comparado à produção habitacional tradicional; a forma eficiente de
mobilização dos recursos locais, estimulando o investimento dos
moradores e o self-help (estima-se que para dólar investido pelo poder
público, os moradores investem outros sete na melhoria de suas casas);
o aumento da segurança da posse; a incorporação das populações no
pagamento pelos serviços e taxas urbanas; o fortalecimento dos laços
comunitários e da identidade local; o aumento da produtividade dos
pobres (‘slums constitute the core of the urban labor force’); e a redução
da violência e da instabilidade social.” 3
As cidades brasileiras, tal como ocorrera em tantas outras pelo mundo, tomaram
para si o cardápio de recomendações da Aliança para a valorização dos assentamentos
populares, colocando-o em prática de maneira estruturalmente associada à reforma
gerencial do Estado, o que se pode notar de forma clara em programas como o Habitar
2 Kessides, Christine e Baharoglu, Deniz. Urban Poverty. Washington: World Bank, 2001. Citado em Arantes, 2004, p.79.3 Cities Alliance. Cities Alliance and Cities without Slums: action plan for moving slum upgrading to scale. Banco Mundial e Habitat/ONU, 2000. Sistematizado por Arantes (2004, p.81).
Brasil, uma parceria do governo federal e o BID, que não apenas pretendia “democratizar” o
acesso à habitação para as populações dos núcleos favelizados sob intervenção, com base
na redução dos custos da oferta (ou seja, reduzindo padrões), como também promover a
melhoria do “desempenho institucional” das administrações municipais responsáveis pela
implantação do programa, de modo a torná-las mais modernas e eficientes (Pulhez, 2007);
ou o Programa de Saneamento Ambiental e Recuperação Urbana da Bacia do
Guarapiranga, da Prefeitura de São Paulo, em que uma sequência de terceirizações de
serviços tornou possível sua implementação, contando com três esferas distintas de
gerenciamento – gerenciamento geral do programa, gerenciamento das obras e
gerenciamento social (França, 2000).
Em seu trabalho, Arantes (2004) joga luz sobre o processo de construção das
relações de dependência entre os bancos multilaterias e as administrações públicas (nos
três níveis) e levanta dois pontos especialmente importantes para o trato da questão
habitacional:
1) ao analisar o padrão de financiamento das políticas urbanas (saneamento,
habitação, programas sociais, etc) pelo BM e BID, o autor apresenta um quadro em que,
claramente, o gasto público se mostra condicionado às exigências e ingerências de tais
instituições: “diretamente, ao estabelecerem o que consideram ou não ‘elegível’ nos projetos
financiados, e indiretamente, ao solicitarem uma reestruturação do órgão ou empresa
pública para que assumam a ‘racionalidade’ de uma empresa privada” (Arantes, 2004,
p.182).
2) por meio da análise do padrão de negociação para a obtenção dos empréstimos
externos, o pesquisador transcreve depoimentos de gestores públicos convencidos de que
de fato “não existe outra opção” para operar os programas, descrevendo “uma máquina
pública em situação de crise e semiparalisia”, cada vez mais dependente não apenas do
dinheiro “barato” obtido junto aos bancos, mas também da lógica gerencial por eles
defendida: “Vários gestores, mesmo os mais críticos em relação a tais instituições,
reconhecem que os bancos multilaterais podem ter uma função positiva, forçando-os
(mesmo que em meio a embates) a realizar novos arranjos institucionais, a adotar uma
expertise de gestão, mais objetividade e clareza no que se empreende, justificativas
tecnicamente fundamentadas, etc” (Arantes, 2004, p.185/6).
Desde aí seria interessante notar como a exigência do trabalho social em toda e
qualquer prática de intervenção habitacional – e mais fortemente nas urbanizações de
favelas – se casa finamente com a agenda reformista: o Banco Mundial se põe a exigir o
trabalho social objetivamente e em primeiro lugar como forma de viabilizar as obras, não
raro complexas e conflituosas, implicando remoções, demolições, reassentamento; daí
constar de editais de contratação de serviços, com regras e procedimentos definidos para
tal; daí o Banco restringir os financiamentos a projetos que contemplem o trabalho social, de
acordo com suas normativas; daí a adoção da lógica gerencial, que em tese garante que
regras e procedimentos sejam cumpridos de forma objetiva, clara e eficiente, reduzindo
fortemente os riscos de que a intervenção não obtenha sucesso4.
EMPRESAS GERENCIADORAS E FAVELAS: UM MERCADO EM
EXPANSÃO
Se, por um lado, as favelas historicamente são encaradas, no Brasil, como um
“problema social”, a solicitar ações de amparo e assistência social, que em tese deveriam
contribuir para a “melhora na qualidade de vida da população, integrando-a à cidade”
(MCidades, 2011, p.34), por outro lado, quando se trata de lidar diretamente com
intervenções físicas (contenção de áreas de risco, implantação de redes de infraestrutura,
canalização de córregos, remoções, reassentamentos, etc), as favelas se transformam num
problema “técnico”, de especialistas em geotecnia, saneamento, meio-ambiente.
Grandes empresas gerenciadoras, tradicionalmente ligadas a setores como
transporte, grandes obras de infraestrutura, saneamento e energia, também ocupam, no
mercado, a fatia dos empreendimentos habitacionais – donde incluídas as urbanizações –,
seja desenvolvendo projetos, planos e estudos; seja gerenciando e implantando obras.
Note-se que não se trata de empreiteiras ou construtoras, que, evidentemente, são
mesmo as responsáveis pela execução das obras: são, na verdade, empresas que atuam
propriamente no ramo consultivo, prestando serviços de “planejamento, estudos, planos,
pesquisas, projetos, controles, gerenciamento, supervisão técnica, inspeção,
diligenciamento e fiscalização de empreendimentos relativos à arquitetura e à engenharia”,
tal como nos informa o Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia
Consultiva (SINAENCO)5, organismo que representa o setor.
Em seus altos escalões, sempre encontramos engenheiros, normalmente da área
civil, encabeçando equipes multidisciplinares inconstantes, montadas ao sabor dos serviços
da vez, variando entre mais engenheiros, alguns geólogos, arquitetos, assistentes sociais,
um profissional ou outro da área administrativa, de economia ou de direito. Atendendo a
clientes dos setores público e privado, seu discurso varia pouco e preza sempre por
ressaltar algumas palavras em específico, próprias do meio em que estão inseridas:
4 Grosso modo, poderíamos entender uma intervenção bem-sucedida como sendo aquela de baixo teor de conflito, boa adaptação da população moradora à sua nova condição de vida (de favelados, tornam-se condôminos e também contribuintes), níveis de vulnerabilidade social controlados (população empregada, capaz de honrar seus compromissos com taxas e prestações). 5 Dados em http://www.sinaenco.com.br/, consulta em 02 de fevereiro de 2013.
solução, qualidade, confiança, conhecimento, agilidade6.
Segundo dados de 2009, disponibilizados pelo SINAENCO, mais de 200 empresas
de engenharia consultiva trabalham, sobretudo atendendo à administração pública, com
atividades de gerenciamento de empreendimentos 7, que implicam, fundamentalmente, em
disponibilizar ao contratante um corpo técnico especializado e capacitado para planejar,
dirigir, coordenar, controlar, fiscalizar e corrigir o andamento de um determinado projeto ou
obra:
“Contrato de gerenciamento (“contract of management”, dos
norteamericanos) é aquele em que o dono da obra, no caso o Poder
Público, comete ao gerenciador a programação, a supervisão, o
controle e a fiscalização de um determinado empreendimento de
engenharia, reservando a competência decisória final e
responsabilizando-se pelos encargos financeiros da execução do
projeto. Nessa moderna modalidade contratual, todas as atividades
necessárias à implantação do empreendimento são transferidas ao
gerenciador – empresa ou profissional habilitado – pela entidade ou
órgão interessado, que apenas retém o poder de decisão sobre os
trabalhos e propostas apresentados (...). O gerenciamento é, pois,
atividade técnica de mediação entre o patrocinador da obra e seus
executores, visto que o profissional ou a empresa gerenciadora não
executa materialmente o empreendimento, mas propicia a sua
execução, indicando os meios mais eficientes e econômicos para sua
realização.” (Meirelles, 1980, p.5).
Prometendo “eficiência e economia”, a prática do gerenciamento vem sendo adotada
em empreendimentos habitacionais no estado de São Paulo pelo menos desde o final da
década de 1980. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) vem
inclusive aprimorando a capacidade de atuação destas empresas, com a adoção de acordos
setoriais de qualidade, que visam o desenvolvimento de programas de qualidade para cada
um dos segmentos representados, dentre eles as gerenciadoras de projeto e obra8.
Já na Superintendência de Habitação Popular (HABI), da Secretaria Municipal de
Habitação da Prefeitura de São Paulo, a presença destas empresas atuando junto ao poder
6 Dados baseados em informações retiradas de sites de empresas de engenharia consultiva. Endereços eletrônicos em “ SITES CONSULTADOS”. Acessos entre 02 e 08 de fevereiro de 2013.7 Segundo dados do SINAENCO, o setor público supera o privado nas contratações de empresas de gerenciamento, consumindo dois terços dos serviços contratados.8 A CDHU conta, desde 1996, com um programa de gestão da qualidade, o QUALIHAB, que, apesar de se tratar de um programa cujo peso está nos setores da construção civil ligados ao fornecimento de materiais e execução de obras, conta com uma relação de empresas gerenciadoras, também qualificadas nos programas setoriais.
público para lidar com as intervenções em favelas remete ao governo Luiza Erundina (1989-
92), quando a urbanização se torna um programa relevante dentro da política habitacional
(Bueno, 2000).
Na prática, a implementação do programa solicitava dos gestores empenho em
normatizar procedimentos, sistematizar diretrizes e normas técnicas, operacionalizar
contratações e assinatura de convênios para levantamentos, projetos e obras, encaminhar
medições e pagamentos (Bueno, 2000) – demandas muitas vezes complexas, relatadas
como altamente burocratizadas, a exigir conhecimentos específicos (gerenciais) e um tempo
enorme de dedicação profissional para que fossem cumpridas. Daí a necessidade de
contratação de gerenciadoras terceirizadas, desde então continuamente presentes na
estrutura da gestão municipal.
A especificidade do “gerenciamento social”
Se um mercado de especialidades técnicas se abre e se multiplica de forma
proporcional aos recursos investidos nos programas de favela, atiçando empreiteiras,
consultorias e gerenciadoras, não há porque imaginar que no caso do trabalho social essa
dinâmica pudesse ser diferente: embora o conteúdo seja outro, a forma de atuação
compartilha do mesmo desenho – o “gerenciamento social”. Parece de fato tratar-se de um
ramo em expansão, aquecido na esteira do alarde em torno das ações de combate à
pobreza, no contexto já aqui relatado.
Em muito impulsionadas no Brasil pelos governos Lula e Dilma, as iniciativas de
“gestão social” e também a profissionalização do trabalho social vêm sendo tema de estudo
de uma imensidão de pesquisas e debates acadêmicos; e muito embora o
empreendedorismo social em suas formas associativas, “comunitárias”, concentre boa parte
das atenções desses pesquisadores (Rizek & Georges, 2008; Georges & Garcia dos
Santos, 2011), parece importante realçar os contornos desse modelo empresarial de
gerenciamento social, não em diferenciação ou mesmo contraposição ao fenômeno da
oferta variada (e tantas vezes despolitizada) de assistência social nas periferias, mas sim
em complementação a ele, já que não se trata de processos unilaterais, evidentemente.
Dentre as empresas que vem atuando no mercado do gerenciamento social em São
Paulo, vale delinear sucintamente o perfil de uma delas, através de informações retiradas de
seu site na rede, de modo a ilustrar a estruturação do discurso que garante a participação
deste segmento no mercado do trabalho social.
Em tempo: esta empresa, que chamarei genericamente de “EGS” (Empresa de
Gerenciamento Social), não é e jamais foi uma organização do terceiro setor, segmento este
que vem, como se sabe, acumulando know-how para lidar com ações sociais; trata-se sim
de uma empresa privada convencional, que se vale do mesmo aporte gerencial que
qualquer outra daquelas já mencionadas, mas o faz de forma branda, amenizando a
agressividade do léxico corporativo, agregando palavras de solidariedade, que carregam
significados mais “humanos”.
De modo contextual, seria importante lembrar que o já citado Programa
Guarapiranga – que envolveu em grande proporção empresas de engenharia consultiva e
empreiteiras de médio porte, com abundantes currículos voltados para obras de
infraestrutura, estradas, barragens etc, nas gestões Maluf e Pitta em São Paulo – foi o
primeiro a contar com a terceirização do trabalho social na metrópole, dadas as dimensões
da intervenção (mais de 20 assentamentos foram atendidos, entre ações de urbanização e
de recuperação urbana e ambiental, remoções, reassentamentos, etc. Conforme França,
2000).
Foi ali, a partir de 1996, que a EGS – fundada em 1990 por engenheiros e
economistas pernambucanos com experiência profissional tanto no setor público quanto no
privado – firmou as bases do tipo de trabalho que hoje a faz reconhecida no mercado,
agregando à questão social outros “conceitos” em voga e que soam importantes à
sociedade, como “desenvolvimento territorial e ambiental” e “sustentabilidade”:
“Parecia uma equação impossível: uma empresa com foco no social.
Uma empresa para desenvolver metodologias e tecnologias que
dessem conta da complexidade da gestão social envolvendo governos,
iniciativa privada e sociedade. Mas o objetivo era trazer uma nova
perspectiva para a gestão empresarial e para a gestão pública, aliando
o desenvolvimento econômico ao social e ambiental, e, a partir daí,
buscar novos horizontes, cidades, estados, países, empresas.”
Por ter como foco o tema da “gestão social”, a EGS incorpora, em seu discurso,
muito do vocabulário solidário-participativo largamente disseminado pelo terceiro setor, em
suas funções de participar dos esforços globais de combate à pobreza. De maneira
justaposta, são ao mesmo tempo facilmente identificáveis os ditames gerenciais que regem
as cartilhas profissionais de qualquer grupo corporativo e que evidentemente se espera que
a empresa defenda e apresente em seu cardápio de serviços:
“Conhecer - O ponto de partida da metodologia da [EGS] é o
conhecimento da realidade do território nas suas diversas dimensões,
por meio de diagnósticos integrados, participativos e territorializados,
valorizando culturas e subjetividades, identificando necessidades,
vocações e potencialidades e produzindo sínteses interdisciplinares.
Dialogar - O diálogo é a forma de integrar todos os atores envolvidos
em um território: dando voz, ouvindo, interpretando, representando.
Estabelecemos, com isso, processos de participação, parceria,
construção coletiva de novas realidades nestes territórios.
Planejar - A partir do conhecimento gerado e dos diálogos construídos,
planejamos as diretrizes, estratégias e prioridades das intervenções
progressivas ou estruturais. Sempre de forma participativa e levando em
conta a Gestão Integrada do Território.
Transformar - O planejamento orienta e estrutura o processo de
transformação do território, baseado em uma dinâmica cotidiana
psicopedagógica, no compromisso com os resultados e sua qualidade,
na construção de indicadores e na prática sistemática de monitoramento
e avaliação. Tudo isso com a premissa da consciência e vivência
coletiva para a sustentabilidade.
Monitorar e Avaliar - Após a implementação e o processo de
transformação, é importante monitorar os resultados, gerir e melhorar
técnicas e processos. Em alguns, casos, o resultado implica em um
novo processo de conhecimento, diálogo, planejamento e
transformação.”
Essa metodologia, comprometida com o controle dos processos e com a
apresentação de resultados, tem capacitado a EGS para trabalhar tanto no setor público
quanto no setor privado, abrangendo uma gama variada do que a empresa chama de
“soluções e serviços” – Gestão Integrada de Territórios, Regularização Fundiária, Ações
socioeducativas e culturais para redução de perdas e inadimplência de serviços públicos,
Soluções para Intervenções Habitacionais e Reassentamentos, para Investimentos e
Programas Sociais, de Urbanização e de Saneamento Integrado, Consultoria e Capacitação,
Licenciamento Ambiental, Tecnologias para Reconhecimento de Territórios.
Tomando como exemplo um caso empírico, durante a urbanização da favela Jd.
Olinda, de cerca de seis mil moradores, na Zona Sul de São Paulo, os serviços que a EGS
prestou ali estiveram divididos em duas etapas, cercando primeiramente todo o processo de
desenvolvimento projetual e, mais tarde, o desenvolvimento das obras (Pulhez, 2007) 9.
Numa urbanização de favela, durante a fase de projeto, espera-se,
fundamentalmente, que as famílias tomem conhecimento das propostas, discutindo
9 A urbanização da favela Jardim Olinda foi parte dos estudos que realizei em minha pesquisa de mestrado (Pulhez, 2007). Integrando o Programa Bairro Legal / Subprograma de Urbanização de Favelas, do governo Marta Suplicy (2001-04), o projeto de urbanização foi desenvolvido entre 2003-4 e as obras foram iniciadas em meados de 2005, já na gestão Serra.
alternativas, e compreendam sua situação na urbanização do assentamento, sobretudo em
casos que apresentam grandes contingentes de removidos e/ou reassentados, para que não
haja, mais tarde, resistência conflituosa ou protestos de moradores que se recusem a deixar
a casa durante a execução das obras. De posse de algum documento que comprove que a
maioria da população está de acordo e adere à proposta de urbanização, a prefeitura fica
legalmente respaldada para intervir no núcleo, mesmo que tenha que lidar com reações
contrárias por parte de algumas famílias.
No Jd. Olinda, portanto, o trabalho da EGS esteve
fundamentalmente relacionado, no decorrer da etapa de
desenvolvimento projetual, ao gerenciamento das discussões
sobre a intervenção – organização e coordenação de
assembleias, reuniões, dinâmicas de grupo, plantões de
atendimento –, de forma a estimular e garantir, segundo
expectativas de HABI, a percepção, a capacitação e a
participação dos moradores no processo (Pulhez, 2007).
Apesar da realização de uma série de reuniões e
plantões de atendimento para esclarecimento e aprovação do
projeto, a formalização da proposta de intervenção em
assembleia, que deveria contar com o consentimento de 50%
+ 1 dos chefes de família dos domicílios cadastrados –
exigência do agente financiador do projeto, o BID –, só foi de
fato realizada depois de iniciada uma verdadeira “campanha” de mobilização dos moradores
para que participassem das “reuniões de esclarecimento da proposta”: a adesão, ainda
baixa, mas suficiente para o encaminhamento do projeto básico, foi de 53% (Pulhez, 2007).
Uma maquete em grande escala foi construída para melhor visualização do projeto.
Antes da assembleia, EGS, assistentes sociais da prefeitura, lideranças e arquitetos saíram
a campo com a maquete em punho, batendo de porta em porta, na tentativa de explicar o
projeto e esclarecer dúvidas sobre remoções e melhorias. Ainda assim, a participação de
780 moradores na reunião de apresentação do projeto foi considerada baixa, o que “motivou
nova estratégia de informação e sensibilização, através de reuniões setoriais por quadras,
com mobilização porta a porta no momento das reuniões, e também da realização de
plantões semanais para atendimento individualizado, dado o grande interesse particular
manifestado pelos moradores em relação à possível remoção de suas moradias”10.
Sob supervisão de HABI, organizadas, coordenadas e conduzidas pela EGS, as
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO; SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO. “Participação popular nas experiências de urbanização de favelas: o caso do Jardim Olinda”. In _______. Atuação Multiprofissional nos Programas Habitacionais de Interesse Social. São Paulo, 2004. Citado em Pulhez, 2007, p.179.
reuniões setoriais foram realizadas frequentemente por cerca de três meses, para que os
moradores pudessem ser orientados, sobretudo, quanto aos impactos nos domicílios, nas
vielas, ruas e quadras, gerados pela concretização do projeto.
Mais tarde, iniciada a execução das obras, a EGS retornou a campo, sobretudo para
conduzir as remoções necessárias para a implementação das frentes de intervenção e
posterior reassentamento: esclarecimento junto às famílias quanto à necessidade da
mudança, vistoria de casas indicadas para abrigar famílias que teriam que ser removidas em
regime de aluguel provisório, vistoria da casa original destas famílias, acompanhamento das
famílias em visitas às moradias que seriam possivelmente alugadas, passando pelo
acompanhamento do processo de embalagem dos móveis e pertences de quem seria
removido, chegada à casa alugada e instalação, até o retorno dessas famílias à nova
unidade habitacional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O programa de urbanização em que estava inserido o Jd. Olinda não previa ações
integradas de assistência social que visassem, por exemplo, processos de geração de
trabalho e renda ou incentivos de microcrédito, contribuindo para amenizar situações de
vulnerabilidade social, tal como recorrentemente se ouve em discursos oficiais, sempre a
ressaltar a importância da estabilidade socioeconômica como mecanismo de inclusão. As
demandas por assistência social eram encaminhadas a outras secretarias, já que não se
tratava de atribuição de HABI atendê-las diretamente.
Nesse sentido, “gerenciar o social” em situações como essa preserva um caráter
essencialmente instrumental, de operacionalização da urbanização, em todas as suas
etapas, com o claro objetivo de torná-la “bem sucedida”, o que, na prática, equivale a
cumprir cronogramas e medir a aplicação de recursos. O grau de envolvimento e
consentimento da população se mede em listas de presença, a comprovar a participação em
reuniões e assembléias tuteladas pelo poder público e terceirizados, como é o caso da EGS.
Sobretudo pela necessidade de se criar um ambiente favorável para viabilização das
obras, nenhuma urbanização de favela dispensa esse tipo de acompanhamento. Daí a
necessidade cada vez maior de se profissionalizar o “trabalhador social”, criando um tipo
híbrido, uma espécie de “gerente comunitário”, o que passa pela esfera comunitária da
mesma forma que passa pela esfera empresarial, ambas integrando um só campo
mercadológico em torno da administração da pobreza. Veja-se que na leitura dos
organismos multilaterais,
“a formação do trabalhador social e as competências necessárias,
mudaram (sic). Atualmente, Villarosa [consultor do BID e Aliança de
Cidades na área de habitação social] avalia que faltam conhecimentos e
práticas gerenciais às equipes sociais. ‘A função da equipe não é
somente a interação com a população, o atendimento, mas a gestão de
processos e recursos’.” (MCidades, 2011, p.14)
Nas palavras de Rizek (2009),
“o empresariamento da participação social, sob os novos rótulos de [...]
gerenciamento social parecem significar a ocupação empresarial de um
reduto que classicamente pertenceu aos domínios da politização e da
atuação de grupos vinculados a uma perspectiva democratizante das
dimensões habitacionais e urbanas. As dimensões participativas
ganham assim um novo estatuto de eficiência, gestão, controle
passando a fazer parte de uma espécie de reengenharia despolitizante
da gestão da cidade e de suas populações”.
Se nas favelas brasileiras, historicamente, o trabalho social sempre cumprira a
função de controlar e administrar tensões, o que agora se vê, diante de sua “tecnicização” e
de sua redução às competências do mercado, parece ser, na verdade, um aprimoramento
das formas de pacificação da população, em que não se percebe um encorajamento real
para a criação de novas formas de solidariedade, que deveriam ser próprias do trabalho
social, mas sim uma exacerbação de relações de concorrência (Rizek & Georges, 2008),
incrementadas ainda por práticas e expertises regradas em cartilhas gerenciais fartamente
presentes no modus operandi do Estado brasileiro, em suas dimensões mais corriqueiras.
BIBLIOGRAFIA
ARANTES, P. O ajuste urbano: as políticas do Banco Mundial e do BID para as cidades
latino-americanas. Dissertação de Mestrado, FAU-USP. São Paulo, 2004.
ARRETCHE, M. Relações Federativas nas Políticas Sociais. Educ. Soc., Campinas, v. 23, n.
80, 2002, p. 25-48.
BUENO, L. Projeto e favela: metodologia para projetos de urbanização. Tese de
Doutoramento, FAU-USP. São Paulo, 2000.
FRANÇA, E. (coord.). Guarapiranga: recuperação urbana e ambiental no Município de São
Paulo. São Paulo: M. Carrilho Arquitetos, 2000.
GEORGES, I. & GARCIA dos SANTOS, Y. “A formatação da demanda: viés institucional e
implicações políticas da terceirização do trabalho social”. Anais do Encontro Anual da
ANPOCS. Caxambu, 2011.
MARANHÃO, T. Governança mundial e pobreza: do Consenso de Washington ao consenso
das oportunidades. Tese de Doutorado, FFLCH-USP. São Paulo, 2009.
MCIDADES. Trabalho Social e Intervenções Habitacionais. Reflexões e aprendizados sobre
o Seminário Internacional. Brasília: Secretaria Nacional de Habitação / Aliança de
Cidades / Banco Mundial, 2011.
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Publicacoes/Ci
dades_Web_Final_02.pdf (acesso em 29 de janeiro de 2013).
MEIRELLES, H. Contrato de Gerenciamento: Novo Sistema para a Realização de Obras
Públicas. Revista dos Tribunais, Ano 69, V. 533, Março de 1980.
NASCIMENTO, F. Entre a estética e o hábito: o Departamento de Habitação Popular (Rio de
Janeiro, 1946 - 1960). Dissertação de Mestrado, EESC-USP. São Carlos, 2004.
_______. Lar e Família: o discurso assistencialista sobre habitação popular nos anos 40 e
5”. Revista Risco, n°. 3. São Carlos, 2006, pp. 43-56.
PULHEZ, M. Espaços de favela, fronteiras do ofício: história e experiências contemporâneas
de arquitetos em assessorias de urbanização. Dissertação de Mestrado, EESC-USP.
São Carlos, 2007.
RIZEK, C. & GEORGES, I. “A periferia do direito: trabalho, precariedade e políticas
públicas”. Anais do Encontro Anual da ANPOCS. Caxambu, 2008.
RIZEK, C. “Intervenções recentes na cidade de São Paulo: processos, agentes, resultados”.
Anais do XIII ENCONTRO DA ANPUR. Florianópolis, 2009.
SITES CONSULTADOS
http://www.cidades.gov.br/
http://www.citiesalliance.org/ca/
http://www.sinaenco.com.br/
http://www.habitacao.sp.gov.br/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/
http://www.jnsecg.com.br/portugues/index.htm
http://www.hagaplan.com.br/index.html
http://www.cobrape.com.br/
http://www.geribello.com.br/portal/
http://www.diagonal.net/