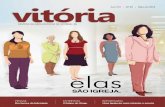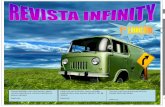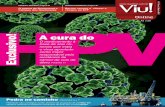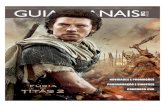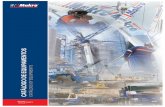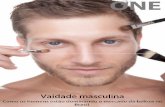Revista LTr - Maio 2014
-
Upload
ilda-valentim -
Category
Documents
-
view
640 -
download
3
Transcript of Revista LTr - Maio 2014
-
PtAW
Aw n
p
le
gis
la
o
Mj
MR
do
tr
ab
al
ho
'
Pub
lica
o M
ensa
l de
Legi
sla
o,
Dou
trina
e J
uris
prud
nci
a
-
2014 - cd. 4861.8 - 440 pgs.
Disponvel tambm em
ADRIANA GOULART DE SENA ORSINI MILA BATISTA LEITE CORRA DA COSTA OYAMA KARYNA BARBOSA ANDRADE
Coordenadoras
Trata-se, a meu ver, de importante contribuio terica para que cada operador do Direito possa atuar de modo a que o Estado Democrtico de Direito brasileiro, constitucionalmente fundado na cidadania, na dignidade da pessoa humana e nos valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa e nossa ordem social, baseada no primado do trabalho e visando sempre o bem-estar e a justia sociais, tornem-se, cada vez mais, uma realidade palpvel na vida diria de todos os brasileiros.
Jos Roberto Freire Pimenta
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho
EVARISTO DE MORAES FILHO ANTONIO CARLOS FLORES DE MORAES
Nascido em 1914, filho de Antnio Evaristo de Moraes e de Flvia Dias de Moraes, Evaristo de Moraes Filho sempre se destacou, desde criana, por sua enorme capacidade de estudo e dedicao ao trabalho e aos seus familiares. Seu pai escreveu o primeiro livro sobre Direito do Trabalho no Brasil, editado pela primeira vez em 1905, tendo a LTr publicado a 2a edio em 1971, no ano comemorativo de seu centenrio. A obra foi publicada com a colaborao da Universidade de So Paulo, quando era Reitor o grande mestre Miguel Reale. Nesta edio, Evaristo de Moraes Filho escreveu a Introduo, com 76 (setenta e seis) pginas que somadas com as Notas totalizaram 82 (oitenta e duas) pginas. Nesta Introduo, Evaristo de Moraes Filho faz uma verdadeira crnica sobre a vida de seu ilustre pai que, apesar de ser muito conhecido como notvel advogado criminal, o principal defensor das ideias do Direito do Trabalho em nosso pas, tendo sido consultor jurdico do primeiro Ministro do Trabalho, Lindolfo Collor. Agora, a LTr tem a oportunidade de publicar a 11a edio desse seu clssico, quando Evaristo de Moraes Filho completa seus 100 (cem) anos absolutamente lcido e capaz de transmitir as suas ideias e pensam entos consagrados como Catedrtico da Universidade Federal do Rio de Janeiro e acadmico da Academia Brasileira de Letras. Como sua filha, Regina Lcia de Moraes Morei, publicou tambm na LTr, em conjunto com ngela Maria de Castro Gomes e Elina Gonalves da Fonte Pessanha, Sem Medo da Utopia , em homenagem a seu pai, Antonio Carlos Flores de Moraes acompanha esta obra desde a 5a edio em 1991, como eterno aluno de seu pai, que foi seu professor em 1969, sua ltima turma, pois foi aposentado naquele ano pela Ditadura Militar.
2014 - 1 Ia ed. - cd. 4986.8 - 592 pgs.
Disponvel tambm em
FAA SEU PEDIDO! FONE/FAX: (11) 2167-1110
RUAJAGUARIBE, 585 - CEP: 01224-001 - SO PAULO - SP
fcil comprar pela internet: www.ltr.com.br
-
LLL-JM LEGISLAO DO TRABALHOPublicao M ensal de Legislao, D ou trin a e Ju risp ru d n cia
Diretor de Redao
Diretor Responsvel
ARMANDO CASIMIRO COSTA FILHO
ARMANDO CASIMIRO COSTAConselho EditorialAMAURI MASCARO NASCIMENTO (Presidente) IRANY FERRARIIVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI
Diretor Financeiro MANOEL CASIMIRO COSTA
Fundador VASCO DE ANDRADE Benfeitor JOS CASIMIRO COSTA
ANO 78 Ns 5 MAIO DE 2014 SP BRASIL ISSN 1516-9154
DIA PRIMEIRO DE MAIO DIA DO TRABALHADOR LEI N. 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014 MARCO INICIAL DA INTERNET ALTERAO DA LEI N. 7.347, DE 24.7.85, QUE TRATA DA AO CIVIL PBLICA PRO
TEO HONRA E A DIGNIDADE DE GRUPOS RACIAIS, TNICOS OU RELIGIOSOS QUANDO TEMPO DINHEIRO O CONTROLE DA JORNADA POR EXCEO Carolina Tupinamb O MODELO DE STUTTGART E OS PODERES ASSISTENCIAIS DO JUIZ: ORIGENS HIST
RICAS DO "PROCESSO SOCIAL" E AS INTERVENES INTUITIVAS NO PROCESSO DO TRABALHO
Guilherme Guimares Feliciano RESPONSABILIDADE CIVIL TRABALHISTA E A DOUTRINA DO "PUNITIVE DAMAGES"
NA JUSTIA DO TRABALHO BRASILEIRA Eduardo Maia Tenrio da Cunha A TORRE DE BABEL DAS NOVAS ADJETIVAES DO DANO Rodolfo Pamplona Filho e Luiz Carlos Vilas Boas Andrade Jnior O DEVIDO PROCESSO LEGAL COMO SOLUO PARA A MOTIVAO NA DESPEDIDA Silvia Isabelle Ribeiro Teixeira do Vale RELAES SINDICAIS INTERNACIONAIS E A VALIDADE JURDICA DO ACORDO MAR
CO GLOBAL (INTERNATIONAL FRAMEWORK AGREEMENT) Polliana Henrique Martins SUNSTEIN E O TST MINIMALISMO, CAPACIDADES INSTITUCIONAIS E O PODER
NORMATIVO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO Ana Lcia Francisco dos Santos Bottamedi O PRINCPIO DA ADAPTABILIDADE E SUA APLICAO NO PROCESSO DO TRABALHO Sonia Maria Ferreira Roberts
A R evista LTr, com tiragem superior a 3 .000 exem plares e circulao em todo o Territrio N acional, Repositrio autorizado de jurisprudncia para indicao de ju lgados, registrado no Supremo Tribunal Federal sob n. 09/85, e no Tribunal Superior do Trabalho sob n. 02/94. Os acrdos publicados neste nmero correspondem, na ntegra, s cpias obtidas nas
Secretarias dos respectivos Tribunais.
Repositrio de Jurisprudncia
-
tm do Mrto judrro do Trabalho
g = ^ W
RESOLUO N* 53 DE lt-f-70 E S DE K5-W-K
Diploma
d' ais &v/tvr/. c^ *f!&vCfo^ f&a!SnZ&tir' a/&** IdtoraiU
*sw2?.
A 4c..fQ -ir ) **s ..t&l-4tt& W& *6- ^
jy^-^S c-rn
-
DOUTRINA JURISPRUDNCIA
REDAODia Primeiro de Maio Dia do Trabalhador .............................................. 78-05/517Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014 Marco inicial da internet.............. 78-05/517Alterao da Lei n. 7.347, de 24.7.85, que trata da Ao Civil Pblica Proteo honra e a dignidade degrupos raciais, tnicos ou religiosos 78-05/518
TUPINAMB, CarolinaQuando tempo dinheiro O controle da jornada por exceo............ 78-05/519
FELICIANO, Guilherme GuimaresO modelo de Stuttgart e os poderes assistenciais do juiz: Origens histricas do "processo social" e as intervenes intuitivas no processo do trabalho............................................... 78-05/530
CUNHA, Eduardo Maia Tenrio da Responsabilidade civil trabalhista e a doutrina do "punitive damages" na Justia do Trabalho brasileira...... 78-05/542
PAMPLONA FILHO, Rodolfo ANDRADE JNIOR, Luiz Carlos Vilas Boas
A Torre de Babel das novas adjetiva-es do dano....................................... 78-05/554
VALE, Silvia Isabelle Ribeiro Teixeira do O devido processo legal como soluo para a motivao na despedida. 78-05/564
MARTINS, Polliana HenriqueRelaes sindicais internacionais e a validade jurdica do acordo marco global (International Framework Agreement)......................................... 78-05/575
BOTTAMEDI, Ana Lcia Francisco dos SantosSunstein e o TST Minimalismo, capacidades institucionais e o poder normativo do Tribunal Superior doTrabalho............................................... 78-05/580
ROBERTS, Sonia Maria FerreiraO princpio da adaptabilidade e sua aplicao no processo do trabalho ... 78-05/585
TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHOManicure Salo de beleza Remunerao superior a 50% da produo Vnculo de emprego......... 78-05/591Ao Civil Pblica Ao coletiva Ilegitimidade ad causam Prestao de servio por cooperativa Terceirizao ilcita............................ 78-05/593Intervalo intrajornada Horas extras Horas excedentes dcimadiria.................................................... 78-05/601Danos morais Assdio processual Indenizao.................................... 78-05/605Execuo Expedio de ofcio Receita Federal................................... 78-05/607
LEGISLAOInstruo Normativa SIT n. 105, de23.4.14 Procedimentos de fiscalizao indireta Inspeo do trabalho. 78-05/638Instruo Normativa SIT n. 106, de23.4.14 Fiscalizao do Fundo de Garantia do Tempo de Servio FGTS e das Contribuies Sociais institudas pela Lei Complementarn. 110, de 29 de junho de 2001.......... 78-05/610Lei n. 12.965, de 23.4.14 Princpios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil....... 78-05/634Lei n. 12.966, de 24.4.14 Lei da Ao Civil Pblica Proteo honra e dignidade de grupos raciais, tnicos ou religiosos Alterao........ 78-05/611Lei n. 12.968, de 6.5.14 Concesso de visto de turismo a estrangeiro Alterao............................................. 78-05/639Medida Provisria n. 644, de 30.4.14 Imposto de Renda Novos valores.. 78-05/620Portaria GM/MTE n. 133, de 29.4.13 Princpios normativos referentes identificao profissional, particularmente alusivos emisso da Carteira de Trabalho e PrevidnciaSocial CTPS Alterao............. 78-05/633
-
Portaria GM/MTE n. 565, de 23.4.14 Oferta e a extrao de cpias deprocessos administrativos fiscais e documentos relativos a infraes legislao trabalhista em tramite na Coordenao-Geral de Recursos, da Secretaria de Inspeo do Trabalho, do Ministrio do Trabalho e Emprego MTE e em suas unidades descentralizadas....................................... 78-05/610Portaria GM/MTE n. 589, de 28.4.14 Notificao de doenas e acidentes do trabalho Medidas a serem adotadas pelas empresas.................. 78-05/611Portaria GM/MTE n. 590, de 28.4.14 Norma Regulamentadora n. 04 Servios Especializados em Engenharia de Segurana e em Medicinado Trabalho Alterao.................. 78-05/612Portaria GM/MTE n. 591, de 28.4.14 Norma Regulamentadora n. 12 Segurana no Trabalho em Mquinas e Equipamentos Norma Regulamentadora n. 28 Mquinas e Implementos para Uso Agrcola eFlorestal Alterao........................ 78-05/612Portaria GM/MTE n. 592, de 28.4.14 Norma Regulamentadora n. 34 Condies e Meio Ambiente de Tra
balho na Indstria da Construo eReparao Naval Alterao......... 78-05/615Portaria GM/MTE n. 593, de 28.4.14 Norma Regulamentadora n. 35 Trabalho em Altura Acesso porCordas Aprovao do Anexo 1.... 78-05/619Portaria GM/MTE n. 594, de 28.4.14 Norma Regulamentadora n. 13 Caldeiras e Vasos de Presso Alterao.............................................. 78-05/621Portaria GM/MTE n. 608, de 7.5.14 Preveno de acidentes ou de doenas do trabalho Segurana e Medicina do Trabalho Fundacen- tro Credenciamento de Tcnicos Realizao de Estudos.................. 78-05 /640Portaria Interministerial MTE/SGPRn. 2, de 2.4.14 Plano Nacional dos Trabalhadores Rurais empregados PLANATRE Instituio........... 78-05/609Resoluo CODEFAT n. 728, de10.4.14 Manuteno, modernizao e ampliao da rede de atendimento do Programa Seguro-Desem- prego no mbito do Sistema Nacional de Emprego Sine Execuo Integrada das Aes do Sistema Pblico de Emprego, Trabalho e Renda, no mbito do Sistema Nacional de Emprego Sine................................ 78-05/609
KXtFAA JA SUA ASSINATURA
Pelo site: www.ltr.com.br ou pelo fone: (11) 2167-1110
Revista LTR
Publicada ininterruptamente desde 1937, a Revista LTr uma verdadeira Enciclopdia do Direito do Trabalho. Mensalmente voc recebe artigos de doutrina assinados por eminentes especialistas, jurisprudncia selecionada com acrdos na ntegra do STF, TST e Tribunais Regionais do Trabalho, alm da legislao do perodo e ndices Semestrais.
Revista de Previdncia Social
Publicao mensal de legislao, doutrina e jurisprudncia sobre Previdncia Social, com: Artigos assinados por especialistas em Previdncia Social; Jurisprudncia na ntegra, selecionada por equipe especializada; Legislao do perodo; ndices semestrais.
Suplemento Trabalhista
Publicao semanal, orienta de forma segura, com estudos assinados por especialistas em matria trabalhista. O assinante recebe ndices semestrais e pasta para arquivamento dos Suplementos.
Suplemento de Jurisprudncia
Publicao semanal, o resultado de pesquisa cuidadosa das decises mais importantes sobre o direito material e processual do trabalho. Sem dvida, um eficiente instrumento de trabalho oferecido aos operadores do direito para conhecimento das decises atuais dos Tribunais do Trabalho. O assinante recebe ndices semestrais e pasta para arquivamento dos Suplementos.
-
g ta ' p i" " N s
U IttrLEGISLAO DO TRABALHO
DIA PRIMEIRO DE MAIO DIA DO TRABALHADOR
No dia primeiro de maio se comemora o Dia do Trabalhador em. vrios pases do mundo, dai porque tambm denominado de Dia Internacional do Trabalhador, cuja data tem sido usada para celebrar as conquistas dos trabalhadores ao longo da histria. E, portanto, uma data significativa para valorizao do trabalho e sua importncia para o homem.
Conforme assinala Teodosio A. Palomino, "a Bblia Sagrada nos lembra que o homem nasceu para trabalhar como as aves para voar" (Trabalhadores de Confiana...? Sua situao Laboral, Traduo de Ronald Amorim e Souza, LTr, SP, p. 25).
A verdade que no h como se separar o trabalho dessa realidade, j que por ele que o trabalhador consegue a sua subsistncia. Ao longo da histria humana e nas diferentes culturas so encontradas as mais variadas modalidades de trabalho que se somam a outras pela prpria evoluo natural da humanidade. O prprio trabalho no campo teve destacada evoluo com a insero de tcnicas das mais avanadas que obrigou os trabalhadores a se aperfeioarem para atender a demanda, o mesmo sucedendo em outras atividades.
Ainda, Palomino quem nos d dimenso do trabalho ao afirmar que ele "no s um dever e um direito de todos os homens, mas, eminentemente, uma funo social, um instrumento de insero na sociedade humana, j que pelo trabalho o homem se insere e participa intensamente na vida comunitria, expressando-se em sua obra, que sua inveno, descobrimento, criao e sua imagem, e atravs dela se comunica com os demais. O trabalho do homem tem um valor original e singular porque o trabalho de um homem no se parece com o de outro, pelo fato de ter um carter prprio, posto que a personalidade a categoria distintiva de cada trabalhador humano" (Trabalhadores de Confiana...? Sua situao Laboral, Traduo de Ronald Amorim e Souza, LTr, SP, p. 44).
O trabalho, alm de ser necessrio na vida do homem, tambm o dignifica, dai porque a Constituio de 1988 deu a sua devida proteo ao assegurar nos incisos III e IV, do art. I 9, como direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Da mesma forma, o art. 6S da Carta Magna dispe que "So direitos sociais a educao, a sade, a alimentao, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurana, a previdncia social, a proteo maternidade e infncia, a assistncia aos desamparados, na forma desta Constituio", com a redao dada pela Emenda Constitucional n. 64, de 4.2.10.
Valoriza-se, portanto, o homem e o seu trabalho em todas as dimenses sociais.
Assim, congratulamo-nos com todos os trabalhadores no seu dia.
LEI N. 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014 MARCO CIVIL DA INTERNET
A referida Lei, publicada no DOU de 24.4.14 estabelece princpios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil e determina tambm "as diretrizes para atuao da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios em relao matria", conforme prescreve o seu art. I 9.
Trata-se de uma lei que ter muita repercusso no Brasil que passa a ter uma disciplina sobre o uso da internet e tem como fundamento o respeito liberdade de expresso elencados no art. 22, seus princpios no art. 32 e nos objetivos promocionais que motivaram a sua instituio (art. 4).
-
Revista LTr. 78-05/518 Vol. 78, n9 05, Maio de 2014
No art. 5 elencam-se o que considera internet, terminal de computador, endereo de protocolo de internet (endereo IP), administrador de sistema autnomo, conexo internet, registro de conexo, aplicaes de internet e registros de acesso a aplicaes de internet.
Na interpretao da mencionada Lei so levados em conta, alm dos fundamentos, princpios e objetivos previstos, a natureza da internet, seus usos e costumes particulares e sua importncia para a promoo do desenvolvimento humano, econmico, social e cultural, conforme prescreve o art. 6a.
Os direitos e garantias dos usurios so assegurados pela lei, assim como regulado a proviso de conexo e de aplicaes de internet. Muitos outros direitos foram regulados, entre eles o da Proteo aos Registros, a dos Dados Pessoais e s Comunicaes Privadas, da Guarda de Registros de Conexo, de Registros de Acesso a Aplicaes de Internet na Proviso de Conexo, de Registros de Acesso a Aplicaes de Internet na Proviso de Aplicaes, da Responsabilidade por Danos Decorrentes de Contedo Gerado por Terceiros, da Requisio Judicial de Registros e, finalmente, da Atuao do Poder Pblico.
Como se sabe, a internet tem sido utilizada por milhes de usurios no Brasil, notada- mente no campo do lazer e do trabalho, este cada vez mais em face da facilidade desse meio de comunicao entre os internautas. Consequentemente haver a necessidade de preservao de vrias garantias asseguradas nos incisos V e X, do art. 52 da Constituio Federal que consagra o direito inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, garantindo, inclusive, em caso de sua violao, o direito indenizao pelos danos dela decorrentes.
Assim, em se tratando de uma lei inovadora em todos os sentidos por regular o marco civil da internet s o tempo dir sobre a sua repercusso em todas as reas do direito, lembrando que o art. 23 prescreve que "Cabe ao juiz tomar as providncias necessrias garantia do sigilo das informaes recebidas e preservao da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usurio, podendo determinar segredo de justia, inclusive quanto aos pedidos de guarda de registro". O art. 30 tambm dispe que "A defesa dos interesses e dos direitos estabelecidos nesta Lei poder ser exercida em juzo, individual ou coletivamente, na forma da lei".
Estamos, portanto, diante de uma lei inovadora que ter vigncia aps decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicao oficial.
A Lei acha-se publicada p. 634.
ALTERAO DA LEI N. 7.347, DE 24.7.85, QUE TRATA DA AO CIVIL PBLICA PROTEO HONRA E A DIGNIDADE DE GRUPOS RACIAIS, TNICOS OU RELIGIOSOS
A Lei n. 12.966, 24.4.14, publicada no Dirio Oficial de 25.4.14, alterou a Lei n. 7.347, de 24.7.85, que trata da ao civil pblica para dispor que o caput do art. I a passa a vigorar acrescido do inciso VII. Referido inciso incluiu a responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados nos casos de violao honra e dignidade de grupos raciais, tnicos ou religiosos.
Em face da incluso do mencionado inciso VII no caput do art. I a ocorreram tambm modificaes na redao do art. 3a, bem como na alnea b do caput do art. 5a da mesma Lei que se acha publicada p. 611.
-
Vol. 78, ns 05, Maio de 2014 Revista LTr. 78-05/519
Saber medir e controlar o tempo uma arte. O popular trava-lngua "O tempo perguntou pro tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu pro tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. d uma ideia do quo difcil a quantificao do tempo que passa.
No direito do trabalho os estabelecimentos em que trabalhem mais de dez pessoas so obrigados a ter anotado o controle da hora de entrada e de sada dos trabalhadores. Tal controle da jornada far-se-, segundo o art. 74 da Consolidao das Leis do Trabalho, em registro manual, mecnico ou eletrnico, conforme instrues a serem expedidas pelo Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE), devendo haver pr-assinalao do perodo de repouso.
A dispensa da anotao do tempo de descanso positiva e ajuda aos trabalhadores a aproveitarem ao mximo suas pausas para relaxamento e alimentao, ao invs de terem que ficar enfileirados para marcar os cartes durante os intervalos.
Em novembro de 1995 o MTE editou Portaria n. 1.120/95, a qual permitia a adoo de sistemas alternativos de controle de jornada, desde que autorizados por norma coletiva. Os sistemas alternativos tm por premissa a mesma da dispensa da anotao do repouso: que o empregado use o tempo livre para aproveitar e o tempo em servio para trabalhar. S perder tempo para anotar aquilo que fugir da regra, da rotina do dia a dia: a exceo.
Para as empresas que vivenciavam a opo de registro da jornada de modo ordinrio por ponto eletrnico, posteriormente, em agosto de 2009, o mesmo rgo editou a Portaria n. 1.510/99 disciplinando minuciosamente o Registro Eletrnico de Ponto (REP) e a utilizao do Sistema de Registro Eletrnico de Ponto (SREP) pelas empresas.
Mais tarde, em 25 de fevereiro de 2011, a Portaria n. 373 do MTE revogou a Portaria n. 1.120 para disciplinar a possibilidade de adoo pelos empregadores de sistemas alternativos de controle de jornada de trabalho, de modo eletrnico ou no.
Este artigo pretende explorar o alcance das normas administrativas acima elencadas, bem como as reais obrigaes do empregador no que tange ao controle de jornada diante do cenrio apresentado. O controle de jornada alternativo ou por exceo e
(*) Carolina Tupinamb Doutora em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professora de Direito, Processo e Prtica Trabalhista.
QUANDO TEMPO DINHEIRO O CONTROLE DA JORNADA POR EXCEO
Carolina Tupinamb (*)
sua respectiva constitucionalidade e legitimidade sero o objeto central desse estudo.
I. O tratamento constitucional e o mnimo existencial referente ao direito limitao de jornada A evidente disponibilidade do direito a sistema de controle padronizado
De acordo com o art. 42 da CLT, por jornada de trabalho deve-se entender todo o tempo em que o empregado esteja disposio do empregador, prestando-lhe ou no servios. Em outras palavras, a jornada de trabalho corresponde ao tempo dirio em que o empregado se coloca em disponibilidade perante seu empregador, em decorrncia do contrato(1). A Constituio Federal de 1988 estabelece em seu art. 7- parmetros de durao da jornada de trabalho, que iro, desde logo, condicionar a interpretao dos dispositivos da Consolidao que com aqueles se relacionem.
Quanto tempo pode o trabalhador permanecer disposio do empregador? Ou, de forma mais tcnica, qual o limite mximo de durao da jornada de trabalho? Em seu art. 7, XIII, a Constituio sinaliza para uma resposta, fixando a jornada de trabalho em funo do dia 08 horas e da semana 44 horas, devendo-se interpretar a referida norma a partir da conjugao de ambos os parmetros, do que resultaro combinaes variadas.
Outrossim, da leitura do art. 7o, inciso XVI, da Constituio Federal, j se antev a possibilidade de prorrogao da jornada "normal" de trabalho, condicionada ao pagamento do denominado adicional de servio extraordinrio. E a CLT que esmiuar o regime legal de dilao da jornada de trabalho, dispondo acerca das hipteses que iro autorizar a prorrogao, bem como a forma como dever ser feita.
Outro dispositivo constitucional sobre o tema que tambm se desdobra em regramento correlato na
(1) Como elucida Maurcio Godinho Delgado, "o perodo considerado no conceito de jornada corresponde ao lapso temporal dirio, em face de o verbete, em sua origem, referir-se noo de dia (por exemplo: no italiano: giorno-giornata; e no francs: jour. journe)". DELGADO, Maurcio Godinho. Jornada de trabalho e descansos trabalhistas. 3. ed. So Paulo: LTr, 2003. p. 24.
(2) O Brasil seguiu a determinao contida no art. 2- da Conveno n. 1 da OIT, que dispe sobre a limitao da durao do trabalho em oito horas dirias e quarenta e oito horas semanais. Aps, a Recomendao n. 162, que propunha a diminuio gradativa da durao do trabalho at o marco de quarenta horas semanais. O Brasil reduziu, com a promulgao da Constituio de 1988, a jornada semanal para o limite de quarenta e quatro horas.
-
Revista LTr. 78-05/520 Vol. 78, n2 05, Maio de 2014
CLT.
Finalmente, tambm encerra o bloco constitucional de direitos trabalhistas referentes durao da jornada os descansos semanais remunerados, integrantes do patamar normativo mnimo indispensvel dignificao do trabalhador, que recair preferencialmente aos domingos, nos termos do art. 72, inciso XV, da Constituio Federal.
Dados os principais dispositivos constitucionais sobre a matria, pelo texto da Carta se infere que (i) o direito ao repouso semanal direito mnimo indisponvel, (ii) por outro lado, a durao mxima da jornada direito o qual a Constituio permite disposio, mediante acordo ou conveno coletiva de trabalho.
A forma de controle da jornada premissa, obviamente, da correta observncia dos direitos relativos durao do trabalho, mas no tem sede constitucional.
Em geral, os direitos trabalhistas so, por natureza, indisponveis. De forma singela, quer isto dizer que, em princpio, no podem ter sua aplicao afastada por ato de vontade das partes, ou por disposio presente em acordo ou conveno coletiva de trabalho que com eles contraste(6).
(3) "Art. 59. A durao normal do trabalho poder ser acrescida de horas suplementares, em nmero no excedente de duas, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho. (...)
2o Poder ser dispensado o acrscimo de salrio se, por fora de acordo ou conveno coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuio em outro dia, de maneira que no exceda, no perodo mximo de um ano, soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite mximo de dez horas dirias."
(4) Art. 7- So direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alm de outros que visem melhoria de sua condio social:
XIII durao do trabalho normal no superior a oito horas dirias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensao de horrios e a reduo da jornada, mediante acordo ou conveno coletiva de trabalho.
(5) Art. 7-, XIV jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociao coletiva;
(6) Em norma constante do art. 9o da CLT, reiterada no art. 444 do mesmo diploma legal, v-se que s partes livre estipular em sede contratual tudo quanto no contravenha s disposies da Consolidao.
O Ministro Maurcio Godinho Delgado(7) reconhece, no entanto, que alguns direitos trabalhistas so, digamos assim, "mais indisponveis que outros". Considera absoluta a indisponibilidade do direito que traduz um patamar mnimo civilizatrio, e relativa a indisponibilidade do direito correlativo a "interesse bilateral simples". Aduz, ainda, que direitos que podem ser flexibilizados coletivamente no podem ser transacionados individualmente, o que o faz afirmar que, no direito coletivo, a indisponibilidade dos direitos trabalhistas seria menos ampla do que no campo individual. A maior parte da doutrina segue tais parmetros, com adaptaes singelas.
Sergio Pinto Martins tambm define a diviso da indisponibilidade em absoluta ou relativa. Exemplifica a primeira com direitos concernentes segurana e medicina do trabalho, enquanto a segunda, diria respeito a alteraes desprovidas de prejuzo ao empregado ou aquelas que embasadas em autorizao expressa constitucional, como por exemplo, a reduo salarial disposta no art. 7, inciso VI, da Carta. Sssekind, outrossim, aponta um limite mnimo indisponvel na seara trabalhista: "Nas relaes de trabalho, ao lado do contedo contratual, que livremente preenchido pelo ajuste expresso ou tcito entre as partes interessadas, prevalece, assim, o contedo institucional, ditado pelas normas jurdicas de carter imperativo (leis, convenes coletivas, sentenas normativas etc.).m
Com respeito s impresses em contrrio, os direitos trabalhistas, assim como os demais direitos sociais, possuem um ncleo mnimo existencial intangvel em torno do qual orbitam direitos disponveis, sim.(10) (11) A disponibilidade, ou a flexibilizao, dar- -se- pela prpria Constituio, mas s vezes por lei, por negociao coletiva ou por contrato bilateral, a depender da natureza do direito discutido, tema que foge aos escopos desse estudo. Todavia, uma coisa certa: a negociao coletiva a forma de transao genuna do campo dos direitos trabalhistas e ilustra o modo mais legtimo de se conferir elasticidade aos direitos laborais.
(7) DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 9. ed. So Paulo: LTr, 2012. p. 201
(8) MARTINS, Srgio Pinto. Direito do trabalho. 28. ed. So Paulo: Atlas, 2012. P. 70
(9) SSSEKIND, Arnaldo. Instituies de direito do trabalho. 18- ed. Editora LTr. So Paulo: 1999 p. 202 e 203
(10) Na doutrina do Ps-Guerra, o primeiro jurista de renome a sustentar a possibilidade do reconhecimento de um direito subjetivo garantia de recursos mnimos para uma existncia digna foi o publicista Otto Bachof, que j no incio da dcada de 1950, considerou que o princpio da dignidade da pessoa humana (art. I 9, da Lei Fundamental da Alemanha) no reclama apenas a garantia da liberdade, mas tambm um mnimo de segurana social, j que, sem os recursos materiais para uma existncia digna, a prpria dignidade da pessoa humana ficaria sacrificada. Cerca de um ano depois da paradigmtica formulao de Bachof, a teoria acabou por acatada pelo Tribunal Federal Administrativo da Alemanha, passando a paulatina expanso pelos estudiosos do tema.
(11) Ver BARCELLOS, Ana Paula de. O princpio da dignidade da pessoa humana e o mnimo existencial. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2008.
-
Vol. 78, n9 05, Maio de 2014 Revista LTr. 78-05/521
Note-se que o conceito de mnimo existencial no tem dico constitucional prpria, nem contedo especfico. Em verdade, seja no direito do trabalho ou no direito civil, o mnimo existencial constitui o mnimo necessrio existncia de um direito fundamental, posto que, sem ele, cessaria a possibilidade de sobrevivncia do homem e desapareceriam as condies iniciais da liberdade. Seria apenas ele o ncleo de indisponibilidade dos direitos trabalhistas.
De fato, luz de todo o simbolismo que o princpio da dignidade da pessoa humana encerra, no h dvidas de que a limitao do tempo em que o empregado permanece disposio do empregador constitui-se conquista das mais importantes, fruto, alis, de sculos de luta. Deste modo, no seria racional permitir autonomia da vontade dispor de forma a fazer regredir, em uma s clusula, toda a histria de conquistas trabalhistas. Ou seja, o trabalhador tem direito a uma jornada no exaustiva que lhe permita a existncia digna e saudvel. Esse contedo indisponvel, no admitindo qualquer ressalva(12).
No obstante, sendo a prpria Constituio Federal a permitir que a jornada de trabalho seja objeto de negociao coletiva, certo que haver sempre um contedo mnimo a ser preservado intangvel, uma vez componente do mnimo existencial.
Se por autorizao constitucional a jornada de trabalho pode ser negociada, respeitado o mnimo existencial, tanto mais as formas de controle de ponto. Lgico que os modelos de controle de ponto sero disponveis por legtima negociao sindical. Negar esta realidade no proteger o empregado em face da empresa: desobedecer a vontade constitucional.
Neste particular, a interveno estatal deve ser o suficiente para resguardar a sade e os demais direitos mnimos do trabalhador e s. Em linhas gerais, as razes que fundamentam a ingerncia do Estado na fixao contratual da durao "normal" do trabalho so: (i) de natureza biolgica, uma vez que tal limitao tem por escopo combater os problemas psicofisiol- gicos oriundos da fadiga e da excessiva racionalizao do servio; (ii) de carter social, pois que possibilita ao trabalhador viver, como ser humano, na coletividade a que pertence, gozando os prazeres materiais e espirituais criados pela civilizao, entregando-se prtica de atividades recreativas, culturais ou fsicas, aprimorando seus conhecimentos e convivendo, enfim, com sua famlia; e (iii) de cunho econmico, porquanto restringe o desemprego e acarreta, pelo combate fadiga, um rendimento superior na execuo do trabalho.1131
(12) A Orientao n. 3 da Coordenadoria Nacional de Erradicao do Trabalho Escravo (Conaete), instituda pelo Ministrio Pblico do Trabalho, d, de forma aberta, a seguinte definio: "Jornada de trabalho exaustiva a que, por circunstncias de intensidade, frequncia, desgaste o outras, cause prejuzos sade fsica ou mental do trabalhador, agredindo sua dignidade, e decorra de situao de sujeio que, por qualquer razo, tome irrelevante a sua vontade." MINISTRIO PBLICO DO TRABALHO. Disponvel em: chttp:// mpt.gov.br/portaltransparencia/download.php?tabela=PDF&IDD OCUMENTO=643>. Acesso em 27.10.2013.
(13) SSSEKIND, Arnaldo. Instituies de direito do trabalho.18a Edio. Editora LTr. So Paulo:1999, p. 801.
A interveno que determine formatos de controle de jornada estanques e obrigatrios, negando possibilidades de regramento do tema por norma coletiva legtima desarrazoada e inconstitucional.
II. Os sistemas de controle de jornada
Para aferir a jornada dos empregados, as empresas com mais de dez trabalhadores devem adotar uma das trs formas de registro: manual, mecnico ou eletrnico.
O trio de alternativas so legais, restando empresa verificar qual sair mais em conta, na medida em que, sob o ponto de vista jurdico, quaisquer das trs formas de controle de jornada sero aceitos. Trata-se de opo gerencial, de acordo com a estrutura de gesto corporativa.
Os controles manuais e mecnicos, mais rudimentares, consistem em marcaes de prprio punho ou marcao de ponto amarrada em sistema mecnico, de catraca, validao de carimbo, manivela ou instrumental do gnero.
Foi a Lei n. 7.855 que, em 1989, previu a possibilidade de utilizao de sistemas de informtica para registros de jornada, o que inaugurou o chamado "controle de ponto eletrnico", opo atual da grande maioria das empresas maiores e mais modernas. Em geral, os sistemas eletrnicos desde o incio da autorizao de utilizao, j traziam a inteligncia referente a cmputo e remunerao da jornada extraordinria, facilitando a segurana, controle e armazenamento de informaes.
Os controles de jornada so passveis de fiscalizao tanto pelo Ministrio Pblico do Trabalho como pelo Ministrio do Trabalho e Emprego
-
Revista LTr. 78-05/522 Vol. 78, n9 05, Maio de 2014
frao com esse objeto, via de regra, relatavam duplicidade de cartes de ponto, alteraes a posteriori de frequncia, falta de concordncia expressa do empregado com as fichas de controle, marcaes alteradas, arredondamento a menor das apuraes, descarta- mento automtico de horas no compensadas, dentre outros milhares de problemas. Fraudes, de fato, no eram poucas. O problema foi que o MTE resolveu acreditar que conseguiria extermin-las mediante ato normativo de completude ilusria e incauta.
Assim, vinte anos aps a existncia autorizada do ponto eletrnico, em 2009, o Ministrio do Trabalho e Emprego resolveu editar norma no intuito de regulamentar o sistema de controle de ponto eletrnico: a Portaria n. 1.510/2009.
A norma administrativa, que traz em seu bojo 31 artigos e anexos (!!), de fato, exorbita a competncia funcional instituindo direitos e criando obrigaes,
-
Vol. 78, ns 05, Maio de 2014 Revista LTr. 78-05/523
de como prova, ainda que legtimos, variveis etc.? No parece ser opo razovel.
A tolerncia temporal para a mudana de todos os sistemas de controle de ponto por meio eletrnico, outrossim, foi to questionvel que a suposta obrigatoriedade do REP chegou a ser adiada por portarias subsequentes, o que, ainda sim, no foi suficiente para o inflacionamento absurdo dos sistemas certificados disponibilizados no mercado.
Por falar em "tolerncia temporal", para fechar as crticas ao SREP sem esgot-las, pois, de fato, cada artigo da Portaria mereceria repreenso especfica a comprometer as contingncias desse trabalho reza a norma que o registro eletrnico de frequncia deve "sempre estar disponvel no local da prestao do trabalho" para pronta extrao e impresso de dados pelo Auditor-Fiscal do Trabalho. Sempre? No seria a eternidade um prazo um tanto quanto inusitado? E se o registro estiver em manuteno? E se quebrar e no tiver conserto? E se a empresa fechar as portas? E se a empresa quiser trocar ou comprar outro equipamento? E se...?
A Portaria no se sustenta do ponto de vista prtico e simplesmente desconsidera as diferenas entre as atividades, sindicatos, empresas, circunstncias etc. Gera dificuldade no que poderia ser simples(17). Atrapalha a vida das empresas, que no Brasil sobrevivem como podem em meio a um tanto absurdo de carga tributria. Em defesa da Portaria algumas vozes sustentam ser a mesma protetora de direitos trabalhistas derivados da durao da jornada, o que no se valida, como falaremos adiante.
Logicamente, contra a malfadada Portaria, como era de se esperar, foram ajuizadas aes e impetrados inmeros mandados de segurana na Justia Comum118' e na Justia do Trabalho. No obstante al-
(17) Alguns destacam, ainda, os impactos negativos ambientais da norma: "Ao criar uma obsolecncia precoce, teremos imediatamente milhares de equipamentos sucateados (contendo chumbo, estanho, cobre, ltio, cdmio, plstico, etc.). E, o efeito colateral da Portaria n. 1.510 que, dadas as condies impostas, a maior parte das empresas tem buscado equipamentos com tecnologia mais antiga (mecnicos), por no estarem inclusos na categoria REP. Numa conta simples: 40 milhes de trabalhadores x 5 cm de papel x 4 batidas por dia = 6.000 km de papel por dia. Para se ter ideia da rea que isto representa, peguemos o gramado do Maracan (HOm X 75m), e considerando-se uma fita de papel de 2" (5,08cm), vamos ter um gasto dirio de papel equivalente a 37 gramados do Maracan e aproximadamente 10.000 por ano!
Ao no se permitir alteraes ou apagamento da memria do equipamento, e ainda exigir que ela seja inviolvel, pode-se compreender que os REP tero vida muito curta, tornando o processo de aquisio de equipamentos uma prtica contnua. Sendo assim, um equipamento poder ter que ser substitudo sempre que: a memria se esgotar ou se ultrapassar o nmero de funcionrios cadastrados, visto que os equipamentos tm limites de cadastros (especialmente com o uso da biometria)." .
(18) Mandado de Segurana n. 15.352 DF (2010/0098515-1)
Relator : Ministro Luiz Fux
Mandado de segurana. Direito administrativo e outras matrias de direito pblico. Atos administrativos. Portaria n. 1.510/09. Ministrio do trabalho. Lei em tese. Inadequao da via eleita. Smula n. 266/STF. Implantao de equipamentos de sistema de registro eletrnico de ponto.
gumas decises favorveis em primeiro grau, em geral, mesmo sem o enfrentamento da questo de fundo, as aes no tiveram sucesso em instncias superiores(20).
Alguns projetos propem a sustao da Portaria n. 1.510/2009 do MTE, como, por exemplo, o Projeto de Decreto Legislativo n. 2.839/10, os Projetos PDC- 4/2011, PDC-5/2011, e PDC-6/2011, dentre grupos de trabalho institucionais, pareceres de procuradorias e trabalhos acadmicos que igualmente reconhecem as idiossincrasias da norma(21).
IV. Superao do ponto eletrnico no modelo da Portaria n. 1.510/2009 do MTE
Diante da penca de problemas gerados com a edio da Portaria n. 1.510/2009 do MTE, outras portarias foram sendo editadas para postergar o prazo fatal institudo para a plena adequao aos infinitos formulrios e sistemas obrigatrios inaugurados. A Portaria n. 373 de 28 de fevereiro de 2011 foi uma das que adiou a obrigao das empresas adotarem o REP. Mas a referida norma foi alm.
Sem cerimnia, tratou dos seguintes pontos, alm da prorrogao do prazo de adoo do REP: (i) instituio taxativa de sistemas de controle de jornada alternativos, (ii) condies de aceitabilidade dos sistemas alternativos; (iii) criao de grupo de trabalho para aperfeioar o sistema de registro eletrnico de ponto.
Assim, o sistema alternativo de controle de jornada passou a ser uma vlvula de escape para os rigores do sistema institudo pela Portaria n. 1.510/2009 do MTE. Com efeito, o nefasto, caro e burocrtico SREP j automaticamente excepcionado nas seguintes hipteses:
(i) Empregados legalmente liberados do controle. So eles: aqueles que desempenham cargos de con
(19) MS n. 3738.2010.195.9.0.5 julgado pelo Exmo. Sr. Juiz da 3 Vara do Trabalho de Cascavel/PR, Dr. Sidnei Cludio Bueno, liminar concedida Cooperativa Agroindustrial COOPAVEL e Cooperativa Agroindustrial Consolata COPACOL, conclui que o Ministrio do Trabalho e Emprego abusou do direito de regulamentar o 29 do art. 74 da CLT. A empresa CBS Companhia Brasileira de Sandlias, conhecida como Dup, tambm conseguiu liminar na Justia do Trabalho da Comarca de Carpina, em Pernambuco (Proc. n. 0001190.08.2010.5.06.0211 MS)
(20) Agravo de instrumento em recurso de revista. Mandado de segurana preventivo. Ato futuro e incerto. Portaria do ministrio do trabalho e emprego. No merece reforma o acrdo regional, o qual decidiu reformar a sentena que concedeu a segurana, porquanto o impetrante visa, no fundo, a declarao de ilegalidade ou inconsti- tucionalidade da Portaria n. 1.510/2009 do MTE, a qual disciplina o registro eletrnico de ponto, de modo que inadequada a via processual eleita. Alm disso, o presente mandado de segurana objetiva coibir eventual, futuro e incerto ato que possa ser praticado pela autoridade coatora, caso no sejam observadas as determinaes da mencionada portaria, o que encontra obstculo na OJ n. 144 da SDI-2 do TST. Agravo de instrumento conhecido e no provido. (AIRR 384-34.2011.5.02.0086 , Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 18.9.2013, 8- Turma, Data de Publicao: 20.9.2013)
(21) Tanto o Projeto de Decreto Legislativo n. 593/2010 quanto o Projeto de Decreto Legislativo n. 2.839/2010, dentre outros, possuem pareceres favorveis sustao dos efeitos da Portaria 1.510/2009.
-
Revista LTr. 78-05/524 Vol. 78, ng 05, Maio de 2014
fiana, trabalhadores externos (art. 62 da CLT), empregados em domiclio e ferrovirios de estaes de interior (art. 243 da CLT);
(ii) Estabelecimentos com menos de 10 empregados;
(iii) rgos pblicos que no vivenciam regime de contratao de mo de obra nos moldes da CLT;
(iv) Empresas optantes de sistemas ordinrios ou alternativos de controle manual ou mecnico de jornada;
(v) Empresas de transporte submetidas Lei n. 12.619 de 30.4.2012; e, finalmente,
(vi) Empresas optantes do sistema alternativo de controle eletrnico de jornada nos moldes da Portaria n. 373 do MTE.
Sobre esta ltima hiptese que nos aprofundaremos no prximo tpico.
Em suma, apenas estariam submetidas aos ditames do SREP to somente aquelas empresas optantes do sistema eletrnico de controle ordinrio de jornada. E mesmo para estas a eficcia da Portaria n. 1.510/2009 questionvel por dois singelos fundamentos.
O primeiro, em linhas gerais, trata das inconsistncias apontadas no tpico anterior das quais deriva a flagrante inconstitucionalidade do ato normativo. A inconstitucionalidade de ordem (i) material, porquanto o contedo do ato normativo afronta regras e princpios constitucionais; e (ii) formal, uma vez que o ato encontra-se em desconformidade com as normas de competncia funcional do MTE. Consequncia da inconstitucionalidade a invalidade da Portaria n. 1.510/2009.
A revogao tcita da norma pela Lei n. 12.619 de 30.4.2012 consiste em outro fundamento que, de igual modo, corrobora com o entendimento de que a mencionada Portaria no teria capacidade de produzir efeitos jurdicos. Destarte, a chamada "Lei dos caminhoneiros" passou a permitir o controle de jornada por dirio de bordo, papeleta, ficha de trabalho externo ou por outros "meios eletrnicos idneos instalados nos veculos, a critrio do empregador."
Em suma, o dispositivo legal reconhece livremente meios eletrnicos idneos para registro de ponto que no sejam necessariamente o REP institudo pela Portaria n. 1.510/2009, facultando aos empregadores escolher o melhor produto que lhes convenha. Alm de posterior, a Lei, naturalmente, hierarquicamente superior Portaria. A Lei poderia at ter restringido o controle por outros meios, ou ainda, poderia ter institudo um novo sistema propriamente adaptado atividade de motorista, mas preferiu eleger o meio eletrnico em abstrato como servil ao controle de jornada. Ressaltou bastar ser um meio eletrnico idneo. Quaisquer formas eletrnicas idneas valero como forma de controle. A opo legislativa vai de encontro ao texto da Portaria que limita como sistema de registro eletrnico de ponto vlido somente aqueles que obrigatoriamente usem o REP no local da prestao do servio, vedados outros
meios de registro." Assim, pela incompatibilidade flagrante com Lei posterior, o SREP estaria revogado.
A despeito de ambos os fundamentos, alguns operadores do Direito se baseiam na presuno de constitucionalidade e na inexistncia de revogao expressa, sustentando a plena validade e eficcia da Portaria n. 1.510/2009 em relao s empresas optantes do sistema eletrnico de controle ordinrio de jornada.
O controle alternativo de jornada, neste cenrio, ilustra possibilidade segura de afastamento da nefasta suposta obrigatoriedade de instituio do SREP.
V. O controle por exceo e os novos paradigmas
A Portaria n. 373, de 25 de fevereiro de 2011, publicada pelo MTE dispe sobre a possibilidade de adoo de sistemas alternativos de controle de jornada de trabalho.
A norma possibilita que os empregadores possam adotar sistemas alternativos de controle da jornada, desde que autorizados por conveno ou acordo coletivo. A adoo desta sistemtica implica a presuno de cumprimento integral da jornada de trabalho contratual, convencionada ou acordada vigente no estabelecimento, bem como a exigncia de disponibilizar tempestivamente ao empregado a informao sobre qualquer ocorrncia que ocasione alterao de sua remunerao em virtude da adoo de sistema alternativo.
Essa possibilidade j existia, conforme Portaria n. 1.120, de 08 de novembro de 1995, revogada pela norma de 2011.
Ademais, a Portaria n. 373, facultou, ainda, a adoo de sistemas alternativos eletrnicos de controle, mediante autorizao em acordo coletivo de trabalho. Segundo texto da Portaria, os referidos sistemas no devem admitir restries marcao do ponto, marcao automtica do ponto, exigncia de autorizao prvia para marcao de sobrejornada, nem tampouco a alterao ou eliminao dos dados registrados pelo empregado.
Para a instituio de "sistema alternativo de controle da jornada de trabalho" ou "sistema alternativo eletrnico de controle de jornada de trabalho" ser preciso que a empresa tenha a aquiescncia do sindicato sempre. Segundo a literalidade da Portaria n. 373, apenas no segundo caso a fonte autorizadora dever, necessariamente, ser um acordo coletivo, no servindo a conveno.
O Ministrio do Trabalho e Emprego nunca chegou a estabelecer claramente as formas possveis de "sistemas alternativos", limitando-se, tanto na portaria antiga quanto na nova, a dizer que a implantao no dispensaria prvia autorizao por instrumento normativo
-
Vol. 78, n9 05, Maio de 2014 Revista LTr. 78-05/525
cionou-se informalmente chamar esse tipo de sistema de "registro de horrio por exceo".
Via de regra, a marcao de ponto por exceo consiste na anotao, pelo empregado, das atividades no compreendidas na jornada diria normal de trabalho, tais como: horas extras, ausncias injustificadas ou justificadas, folgas compensadas, sadas antecipadas, atrasos e assemelhados, presumindo-se, se nada for apontado, o cumprimento ordinrio da jornada de trabalho prevista. O ponto por exceo prestigia valores e conceitos relevantes: (i) presuno de boa-f das partes; (ii) praticidade de administrao de informaes costumeiramente pouco variveis;(iii) negociao coletiva, com amadurecimento dos sujeitos das relaes de trabalho; e (iv) otimizao do tempo de trabalho.
Contudo, ainda que autorizado pelo Ministrio do Trabalho e Emprego e ajustado em norma coletiva, infelizmente, a validade do sistema de marcao de ponto por exceo tem sido questionada. Por mais incrvel que parea, algumas empresas so autuadas por fiscais do prprio MTE. Outras so rs em aes civis pblicas, ou mesmo em aes trabalhistas individuais, havendo decises da Justia do Trabalho que invalidam o sistema alternativo de controle de ponto.
O TST se divide em decises intolerantes
-
Revista LTr. 78-05/526 Vol. 78, n9 05, Maio de 2014
Inegvel, ainda, na lista de vantagens do ponto por exceo, a praticidade da administrao de informaes costumeiramente pouco variveis. Ora, a vida no costuma ser uma montanha russa em que todo dia seja diferente do outro, nada se repita e inexista previsibilidade. Pelo contrrio. As pessoas so mais apegadas rotina do que insegurana das variaes de roteiros e costumes. Isto da humanidade. E quem aguenta descrever com mincias a rotina to comum em nosso dia a dia? Nem mesmo as crianas que chegam da escola e contam para seus pais o que aconteceu durante o dia narram a seqncia de atos esperados e rotineiros. De forma alguma! Interessa contar o que aconteceu de novidade, de inusitado, de surpreendente: uma briga, uma paquera, um tombo, um elogio inesperado faz muito mais sucesso do que simplesmente contar que chegou escola, estudou e foi embora no horrio de sempre. A lgica do ponto por exceo essa: nossa motivao instintiva de viver a rotina e destacar suas variaes. mais simples, mais prtico, menos enfadonho, mais natural.
Neste aspecto, a condescendncia com o controle alternativo, certamente alcanaria o problema dos "pontos britnicos", os quais geram injusta presuno de serem falsos. Em geral, todos chegam no mesmo horrio na empresa ou cada um chega a hora que quer? Via de regra, as pessoas encerram sua jornada em determinado horrio, ou absolutamente imprevisvel a hora de voltar para casa? As respostas no so jurdicas... So da vida... Os empregados mesmos, quando ajuzam demandas trabalhistas, alegam ter laborado das 8:00 s tantas horas, todos os dias, durante todo o perodo contratual. Ento. No seria uma jornada invarivel ou britnica!?! A jornada britnica para empregador fraude e para empregado presumida verdadeira, se inexistentes cartes variveis juntados pela empresa. Parece que tal entendimento fere a isonomia e a paridade de armas processuais, pelo que no pode mais prevalecer.
Em suma: dependendo do perfil dos sujeitos da relao de emprego, no absurdo imaginar que o trabalhador tenha, sim, de fato, trabalhado durante todo o contrato, naquele mesmo horrio, sem variaes para alm de 5, 10 minutos em cada pegada de turno, o que justifica plenamente a dispensa da anotao do horrio padro repetidamente, para a consignao apenas do excepcional.
A valorizao da negociao coletiva o principal ponto positivo no que diz respeito aceitao do controle de jornada por exceo. Alis, o acordo e a conveno sero servveis instituio de qualquer controle alternativo, seja eletrnico ou no, mostrando-se inconstitucional a aparente limitao da fonte normativa apontada na Portaria n. 373 no sentido de que para instituio do ponto alternativo eletrnico, apenas serviria o acordo coletivo. A conveno e o acordo coletivo so fontes de direito de mesmo patamar, sendo certo que o acordo, por ser negociado diretamente com uma determinada empresa, especifica de modo mais fidedigno a realidade de trabalhadores submetidos a condies mais uniformes, do que a categoria como um todo.
Para todas as vantagens da aceitao do controle alternativo de jornada, a otimizao do tempo de trabalho aparece como uma espcie de cereja do bolo. O tempo tomou-se um bem muito valioso, dada sua escassez nos dias atuais, em que preciso dar conta de uma verdadeira multiplicidade de afazeres e responsabilidades. Em geral, vive-se a denominada dupla jornada de trabalho. Trabalha-se no mercado, mais ainda preciso cuidar dos afazeres domsticos, da organizao do lar, auxlio aos familiares, dentre outras atividades. Pouco tempo resta para que o indivduo possa, efetivamente, descansar. Nesta correria do dia a dia, gastar tempo com aquilo que valha a pena , por assim dizer, um sinal de inteligncia. Neste quadro, louvvel a empresa que consiga focar a fora de trabalho a tal ponto que tenha em vista ndices de aproveitamento do tempo prximo a 100%.
Preenchimento de relatrios, papeletas sem sentido, fluxogramas que se perdem em si mesmos, bu- rocratizao de rotinas s no devem ser extirpados se imprescindveis ao sucesso do negcio e organizao do ambiente de trabalho. A possibilidade de registro to somente do que "foge ao normal" da jornada ordinria parte de premissa de maturidade e certo nvel de civilidade de empresas e empregados, gerando economia de tempo para ambos os atores da relao de emprego. Por essa razo, mais uma vez, o ponto por exceo pode ser sinnimo de valorizao de talentos e canalizao estratgica do tempo til.
Enumeradas as principais vantagens do reconhecimento do sistema alternativo de controle de ponto via negociao sindical, resta apenas demonstrar o embotamento dos argumentos que comumente justificam decises e autuaes que tm por premissa a nulidade deste tipo de controle de jornada.
a) O art. 74, 2 9 da CLT e a possibilidade de flexibilizao in concretu.
O art. 74, 2a da CLT tem sido invocado por representantes do Ministrio Pblico do Trabalho, auditores fiscais e alguns magistrados como se fosse o fundamento maior da objetiva impossibilidade de instituio de controle alternativo de jornada. A CLT manda registrar a jornada diariamente e pronto: estaria acabado. Em suma, de acordo com a corrente contrria, no se admitiria flexibilizao da qual resultasse a supresso de direitos trabalhistas protegidos por normas de carter cogente, sob pena de nulidade.
Mas preciso certa dose de reflexo para se operar o Direito. O art. 74, 2a da CLT apenas trata da obrigatoriedade de registro de ponto nos estabelecimentos com mais de dez trabalhadores, sem versar quanto possibilidade da previso, em norma coletiva, do critrio de marcao de ponto por exceo. que a autonomia privada coletiva restou elevada a nvel constitucional pela Carta Maior de 1988 (art. 7a, inciso XXIV), e, portanto, merece ser privilegiada.
Assim, possvel a flexibilizao do disposto no art. 74, 2a, da CLT por meio de norma coletiva, uma vez que o referido dispositivo legal no trata de direito trabalhista indisponvel assegurado pelo ordena
-
Vol. 78, n9 05, Maio de 2014 Revista LTr. 78-05/527
mento jurdico, tampouco se refere norma atinente segurana e sade do trabalho, mas apenas, a obrigatoriedade de registro de ponto nos estabelecimentos com mais de dez empregados.
Neste contexto, imprescindvel valorizar a negociao levada a efeito pelas organizaes sindicais, interlocutores legtimos de empregados e empregadores, na busca de soluo para os conflitos de seus interesses. A Constituio Federal est a sinalizar em seu art. 7-, incisos VI e XXVI, que este o caminho a ser seguido. Assim, vlida a disposio quanto marcao de pontos, quando albergada exclusivamente por norma coletiva, diante da fora negocial autnoma que a ela se encontra condicionada
-
Revista LTr. 78-05/528 Vol. 78, n9 05, Maio de 2014
Estado perpetua a posio social de submisso em que hipoteticamente se encontra o protegido. Concluso do discurso: se a empresa a custeadora de todo o anacronismo preestabelecido, ela prpria acaba por repassar ao preo final de suas mercadorias o risco de, eventualmente, enfrentar o Estado, que, antes mesmo do descortino da norma e do fato a sub- sumir, j tem arquitetada uma viso abstratamente protecionista. O preo, embutindo tudo, acaba sendo repassado ao consumidor final, que, na grande maioria das vezes, o prprio trabalhador. Quem paga a conta da proteo obstinada e sem sentido o empregado. Na ponta do lpis, as obtusas tentativas de proteger e elevar trabalhadores desiguais a patamares superiores gera gastos que so repassados de forma indireta ao empregado, perpetuando a desigualdade ou, at mesmo, aumentando-a, dependendo de caso a caso(31).
Para que empresa e trabalhador fujam da verdadeira neurose que o modelo descrito de interveno do Estado nas relaes de trabalho, encarecendo todo o circuito, a sada mesmo a negociao coletiva como fonte criadora de normas mais aderentes realidade.
Negar a flexibilizao de direitos trabalhistas disponveis deixar direitos sociais rfos de sentimento coletivo e refns de um protecionismo sem objetivos prsperos de efetiva maturidade para a vivncia de uma promessa constitucional positiva. A preocupa
(30) "A ideologia da proteo desempenha uma funo. Quem fala em proteo admite com antecedncia a existncia de dois atores sociais: o protetor e o protegido. (...) No Brasil, a proteo proporcionada (na realidade dos fatos, autntico mito) ao trabalhador brasileiro, perpetuada a posio social de submisso em que se encontra o protegido, exalta-se a posio social do protetor. Afinal, a "proteo", no caso em estudo, interessa no ao protegido, mas, sim, ao protetor. Ao protegido s interessa em nfima parcela a proteo, quando ela fundamenta (quase sempre de forma no explcita) a deciso judicial pela procedncia do pedido formulado pelo reclamante na ao trabalhista. Triste consolo, triste participao nas migalhas cadas da mesa do banquete! Como esta modalidade de proteo onera os custos da empresa condenada em juzo (custos estes repassados para os preos dos produtos e dos servios por ela produzidos ou prestados), e como os consumidores ou usurios so, em ltima anlise, os prprios trabalhadores, segue-se que o nus econmico decorrente da proteo recai sobre o trabalhador. Analisada a proteo por esta tica, conclui-se que quem custeia a proteo o prprio trabalhador". ROMITA, Arion Sayo. Os Princpios do direito do trabalho ante a realidade. Revista LTr. 74-09/1038. Vol. 74, n. 09, Setembro de 2010.
(31) "Ora, se o contrato de trabalho sinalagmtico, se ele gera direitos e obrigaes para ambos os contratantes, fora concluir que dele no pode derivar proteo apenas para um dos sujeitos. O outro tambm deve ser contemplado com alguns resultados. certo que o direito do trabalho assegura ao empregado determinados benefcios, mas o empregador no fica ao desamparo. Em primeiro lugar, a liberdade de contratar: o empregador contrata se quiser ressalvadas algumas excees, que apenas confirmam a regra (como a admisso de aprendizes e de pessoas portadoras de necessidades especiais), o empregador livre para contratar quem quiser, ou no contratar. O poder de direo outra vantagem significativa nas mos do empregador. Dele decorre o ius variandi, ao qual fica o empregado sujeito. Do poder de direo, tambm deriva o poder de impor sanes ao empregado, denominado poder disciplinar; o instituto da falta grave uma arma poderosa nas mos do empregador. Finalmente, o direito potestativo de despedir. Portanto, injurdica afirmao de que o direito do trabalho s dispensa proteo ao empregado". ROMITA, Arion Sayo. "Os princpios do direito do trabalho ante a realidade". Revista LTr. 74-09/1038. Vol. 74, n. 9, Setembro de 2010.
o constitucional com o trabalho humano e os contemporneos desafios da livre-iniciativa, ambos os valores vocacionados para a Justia Social, clamam por uma nova ideia de equilbrio entre as partes. O indivduo tem de se realizar pelo trabalho, que deve ser humanamente til e socialmente integrador, a fim de que ele participe da comunidade. O trabalho, ademais, atualmente, configura a principal via de acesso ao mnimo existencial.
Neste aspecto, muitas vezes "princpio de proteo ao trabalhador", ineficiente e ilusrio, uma vez que: (i) no se coaduna com a Constituio, que coloca no mesmo patamar, como fundamento do Estado, a valorizao do trabalho e da livre-iniciativa e (ii) a sociedade no mais corresponde ao locus de um sistema binrio, dicotmico ou estanque. Pelo contrrio, trao marcante da contemporaneidade a complexidade da interao do Estado com os indivduos, e dos prprios entre si. Um sistema duro, que tenha como premissa uma hipossuficincia nem sempre real, no consegue dar conta de solucionar conflitos sociais de forma eficiente, tampouco promover, em carter disciplinar, o desembarao das linhas de estrangulamento entre capital e trabalho. O princpio protetor no pode prevalecer sobre a vontade coletiva dos interessados nesta hiptese.
As declaraes da jornada excepcional constantes de um documento particular presumem-se verdadeiras em relao ao signatrio (art. 368 do CPC). Assim, tanto mais se o empregado assina o ponto alternativo concordando expressamente com aquela carga horria registrada, aquele documento tem que possuir alguma fora probante! Se, por outro lado, no constar assinatura do empregado, mas o modelo alternativo for autorizado em norma coletiva, de igual forma, no se pode anular um controle legtimo e autorizado por representante da categoria.
E que no se alegue, pura simplesmente, que o trabalhador teria sido coagido a registrar o que determinado pelo empregador, ocultar as horas extras e toda a ladainha de sempre. No que esse constrangimento no existe, ou seja, raro nas empresas, mas no se pode nivelar o mundo pelo que torto. As fraudes devem ser combatidas e exemplarmente punidas, mas no servir de parmetro para uma viso turva da realidade. Impossvel presumir coao, deturpao ou falsidade do controle alternativo.
Neste sentido, a concepo protecionista e arcaica apresenta as discrepncias enumeradas em premissas que no se confirmam de modo absoluto nos dias atuais: (i) o "princpio protetor" era voltado exclusivamente ao trabalhador, adjetivado de forma absoluta e extrema, identificado abstratamente por uma srie de evidncias de sua inferioridade jurdica, a prescindir de verificao em concreto; (ii) os padres desenhados para atender o protecionismo derivaram da concepo do trabalhador operrio de baixa qualificao e, praticamente, detentor de nulas possibilidades de ascenso social; (iii) as regras protecionistas recaem diretamente sobre o vnculo empregatcio, deixando de lado as demais relaes de autonomia
-
Vol. 78, n? 05, Maio de 2014 Revista LTr. 78-05/529
coletiva como, por exemplo, as questes sindicais(32);(iv) as regras protecionistas desconsideram as relaes informais de trabalho, bem como o contexto em que inseridas, qual seja, justamente aquele resultante da repercusso da m administrao das possibilidades de interveno do Estado na ordem social; (v) a evoluo do protecionismo o evidencia como fator negativo de controle do Estado sobre as relaes sociais.
VI. Concluso
Desconsiderar controles de ponto por exceo autorizados em norma coletiva no proteger nem tampouco flexibilizar direito indisponvel.
Normas e respectivas interpretaes exaradas a pretexto de seguir o princpio protecionista, como si ser a Portaria n. 1.510 e corrente doutrinria ou juris- prudencial que rechace o controle de ponto alternativo devero tomar rumo distinto.
A interveno estatal, atravs tanto da atividade legislativa, como fiscalizadora e jurisdicional, deve
(32) "A orientao protecionista tem conotaes de tipo meramente paternalista e considera apenas o trabalhador isolado. Ao tempo em que protege o indivduo, essa poltica ope-se classe oprimida quando esta pretende, pela organizao coletiva, fazer valer seus direitos e suas legtimas reivindicaes". ROMITA, Arion Sayo. "Os princpios do direito do trabalho ante a realidade". Revista LTr. 74-09/1038. Vol. 74, n. 09, Setembro de 2010.
se conter diante das normas pactuadas coletivamente pelos interessados, que bem sabem "onde o calado lhes aperta". O alvo imediato de eventual proteo ao agente prestador de servio deve ser deslocado da figura autnoma do indivduo trabalhador para os organismos sindicais, estimulando a conscincia de classe e prestigiando pactos que preservem o mnimo existencial do trabalhador.
O controle de ponto alternativo institudo por norma coletiva deve ser respeitado em garantia da segurana jurdica, cedendo o Estado sua posio de principal responsvel pelo equilbrio das relaes sociais para o fomento da atuao das organizaes coletivas trabalhistas.
A aderncia da economia ao papel dos rgos fiscalizadores das relaes de trabalho, como si ser o Ministrio Pblico do Trabalho e Ministrio do Trabalho e Emprego, far com que o Estado seja protecionista de forma salutar, por assim dizer. Em contrapartida, proteger indiscriminadamente uma classe que transmuda e habita praticamente todos os estamentos de poder econmico, uma aberrao antiequitativa que s serve para prejudicar aqueles empregados que, de fato, ainda se encontram em posio de extrema desvantagem perante o empregador.
O controle alternativo de jornada baseado em norma coletiva valido, eficaz e legtimo para o cmputo e correta remunerao da jornada de trabalho.
-
Revista LTr. 78-05/530
I. Introduo
J se tem por adquirido, em boa doutrina, que a pretenso poltica de um "juiz neutro" falaciosa. Com efeito, a garantia do juiz natural exige imparcialidade (no sentido de iseno pessoal e psicolgica) e "impartialidade" ou "terzialit" (no sentido da adstrio funcional). No exige, porm, neutralidade, inclusive porque o estado de neutralidade moral no realmente factvel em seres humanos na plenitude de suas faculdades intelectuais e emocionais. Se penso e sinto, opino. Essa liberdade regrada de convices (= livre convencimento motivado), aliada diversidade original no acesso s funes ou carreiras judiciais e prpria estrutura dialgica do processo judicial, o que torna o Judicirio um poder democrtico, mesmo nos sistemas em que os juizes so escolhidos meritocraticamente (e no eleitos).
Nessa linha de argumentao, no deve escandalizar o cientista jurdico a tese e o fato de que o juiz no mero rbitro cego da lide, passivo no proceder e equidistante das partes, como reivindicava o direito moderno-legal-formal. Ele pode e deve interferir no processo constantemente, e no apenas de modo corretivo, mas tambm de modo colaborativo, a fim de proporcionar o pleno esclarecimento das partes, a mxima transparncia nos procedimentos, atos e opinies, a recproca lealdade processual e, por fim, a mxima higidez do processo, de modo a permitir um pronunciamento de mrito (i.e., uma deciso judicial de fundo sobre os interesses materiais versados no conflito concreto de interesses). Dessa compreenso, que no exatamente nova, mas decerto cara a uma viso ps-moderna do processo judicial (pela assi
(*) Guilherme Guimares Feliciano Juiz Titular da 1- Vara do Trabalho de Taubat/SP. Doutor em Direito Penal e Livre-Docente em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de So Paulo. Professor Associado do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Universidade de So Paulo. Coordenador do Curso de Especializao em Direito e Processo do Trabalho da Universidade de Taubat (UNITAU). Ex-Presidente da Associao dos Magistrados da Justia do Trabalho da 15 Regio (AMATRA XV), gesto 2011-2013. Diretor de Prerrogativas da Associao Nacional dos Magistrados da Justia do Trabalho (ANAMATRA), gesto 2013-2015.
O MODELO DE STUTTGART E OS PODERES ASSISTENCIAIS DO JUIZ: ORIGENS HISTRICAS DO "PROCESSO SOCIAL" E AS INTERVENES INTUITIVAS NO PROCESSO DO TRABALHO
Vol. 78, n9 05, Maio de 2014
Guilherme Guimares Feliciano (*)
milao da "phronesis", pela desconexo com o direito moderno-liberal-formal, pela ideia de legitimao do procedimento judicial como tcnica para alcanar um fim a sentena de mrito e at pelo sentido de tolerncia com as partes), arranca o chamado princpio da cooperao; e, bem assim, os chamados poderes assistenciais do juiz. O que nos remete ao "modelo de Stuttgart".
II. O modelo de Stuttgart
Nos anos setenta do sculo passado, na Alemanha, valorizando uma presumida "funo assis- tencial" dos magistrados, alguns tribunais alemes construram, com base na interpretao flexvel da ZPO, um modelo de direo processual proativa a que se denominou "modelo de Stuttgart", como ant- poda do modelo liberal do juiz "inerte"m. O modelo em testilha no pensava estanquemente as posies processuais do juiz, do autor, do ru, dos terceiros intervenientes e dos auxiliares do juzo; antes, concebia-as em unidade funcional, como comunidade de trabalho ("Arbeitsgemeinschaft")(2), preservando-se um mnimo de "impartialidade" (contedo essencial do "procedural due process").
Conquanto tenha depois encontrado forte resistncia junto s cortes superiores, o "modelo de Stuttgart" legou Alemanha e teoria do processo uma srie de conceitos, princpios e contedos ressignifi- cados, como p. ex., no contexto alemo, o "Frage-und Aufklarungspflicht" (dever de perguntar, investigar e esclarecer), cujo no exerccio pode mesmo desafiar
(1) Cf., por todos, Wolfgang Grunsky, II cosidetto 'Moello di Stoccarda' e Vaccelerazione dei processo civile tedesco", in Rivista di Diritto Processuale, Padova, CEDAM, 1971, n. 3, p. 354-369. V. tambm J. Pereira Batista, Reforma do processo civil: princpios fundamentais, Lisboa, Lex, 1997, p. 72, nota n. 121.
(2) Cf. Lebre de Freitas, Introduo ao Processo civil: Conceito e princpios gerais, Coimbra, Coimbra Editora, 2013, p. 152 (referindo-se, na verdade, no ao caso alemo, mas aos poderes assistenciais que a reforma processual portuguesa de 1995/1996 conferiu aos tribunais, em uma "nova concepo do processo civil, bem afastada da velha ideia liberal duma luta arbitrada pelo juiz" (Introduo..., p. 153).
-
Vol. 78, n9 05, Maio de 2014 Revista LTr. 78-05/531
recurso de reviso(3). O elenco de poderes e deveres assim identificado rene-se no conceito mais largo de "dever de cooperao judicial", a que corresponde um especfico princpio processual ("Prinzip der Koopera- tion"). Trata-se, pois, de um poder-dever que, a nosso sentir, deriva do "procedural due process" (na dimenso da garantia de tutela judicial efetiva o que pressupe, obviamente, tutela judicial de mrito), como diremos. Na dico de PETERS(4) (baseando-se na exposio de motivos do CPO alemo original), o juiz deve zelar pela exaustiva discusso dos contedos da lide, atuando colaborativamente desde a organizao inteligvel dos elementos do litgio at os esforos mximos de negociao entre as partes (donde observarmos, alhures, que a prpria conciliabilidade uma garantia processual, j que proporciona para o conflito uma soluo clere, no litigiosa e consensualmen- te justa). Na prtica, essa concepo precipitou uma tendencial diminuio da disponibilidade das partes sobre a matria processual (e inclusive sobre suas prprias responsabilidades, o que suscitou crticas), em contrapartida ao reconhecimento de corresponsa- bilidades a cargo dos tribunais.
Podem-se reconhecer duas "origens" para o "modelo de Stuttgart" (uma ideolgica e outra propriamente histrica), ligadas a dois expoentes do direito processual europeu: FRANZ KLEIN e FRITZ BAUR.
KLEIN foi o nome central de um modelo de processo afinado com o socialismo jurdico dos oitocentos. Os escritos do austraco influenciariam sentidamente o processo civil alemo durante o Sculo XX, sobretudo porque a CPO original, de 1877, preconizava uma concepo marcadamente liberal do processo, conexa a uma ordem jurdico-civil cuja existncia pressupunha essencialmente a limitao dos poderes do Estado. Da a imagem de um processo civil "no mbito do qual se tratava sempre de to somente realizar os interesses dos particulares, um papel bastante passivo": a separao maniquesta entre a coisa pblica e a coisa privada sugeria que o Estado-juiz no poderia, em linha de mxima, imiscuir-se nas condies e no desenvolvimento do processo/procedimento, que haviam de ser exclusivamente manejados pelas partes, no seu particular interesse. Na ustria, bem ao contrrio, a influncia de ANTON MENGER e FRANZ KLEIN engendrou desde cedo uma "concepo social de processo", trasladada pelo ltimo para a ZPO austraca de 1895, qe arrancava da ideia de que nem todos os cidados tm de fato as mesmas possibilidades ou o mesmo grau de instruo, o que seguramente interferia com o acesso jurisdio. Nessa concepo,
(3) Lebre de Freitas, Introduo..., p. 152 e nota n. 5 (reportando-se ROSENBERG, SCHWAB e JAUERNIG).
(4) Egbert Peters, Mnchener Kommentar zur Zivilprozefordnung: mit Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen, Gerhard Lke, Alf- red Walchshfer (Hrsg.), Mnchen, Verlag C. H. Beck, 1992, Band1, p. 999. In verbis: "Der Normzweck findet sich in der Begrndung des Entwurfs der CPO angedeutet. So heiftt es zu 130 CPO, der Richter sei bei der Gestaltung des Rechtsstreits innerhalb der Grenzen der Verhand- lungsmaxime mittatig; er habe demgemflt Sorge zu tragen, dafi die Sache erschpfende Errterung finde" .
(5) Idem, p. 1000.
o "ndulo central" significativo do processo no se resumia s pretenses materiais ou direitos subjetivos das partes, alcanando tambm o interesse da comunidade a um acesso mais equnime e universal ordem jurdica justa e a uma "eficiente organizao do processo civil 'assistencial" ,(6). Dcadas depois, os modelos "classistas" de justia abeberar-se-iam nessa mesma fonte, institucionalizando as diferenas a partir da insero de regras processuais de proteo instrumental (e.g., "ius postulandi" das partes, gratuidade processual e, no Brasil, o depsito recursal como pressuposto para o recurso ordinrio da empresa) e tambm de elementos corporativistas (e.g., as representaes classistas), esses ltimos animados por uma matriz ideolgica diametralmente oposta quela que movera KLEIN.
Pela "concepo social de processo", o juiz, na qualidade de realizador do interesse pblico e de representante poltico da comimidade, deveria ter uma participao mais efetiva determinante mesmo no binmio processo/procedimento. Cogitou-se de um modelo de processo prprio para o Estado social, percebido como instrumento estatal de interveno para o bem-estar social ("staatliche Wohlfahrtseinrichtung"). Da a necessidade de maiores poderes de direo e interveno processual, que receberam o nome de "poderes assistenciais", porque prprios daquele "processo civil assistencial" proposto por KLEIN (que, todavia, jamais negou ter o processo civil, por funo primeira, a realizao dos direitos materiais subjacentes lide, cabendo considerar o "interesse pblico" to s nessa perspectiva, e no em qualquer outra
-
Revista LTr. 78-05/532 Vol. 78, n9 05, Maio de 2014
das partes (ou dos grupos) economicamente dbeis, para equalizar os desajustes materiais decorrentes de condies socioeconmicas. Segundo HAAS, esses princpios j no se observam na processualstica te- desca, em que hodiernamente se admite, como nico escopo do processo civil, aquele da realizao dos direitos subjetivos resistidos:
"[o] uso do poder de que o juiz titular deve orien- tar-se para a consecuo eficiente desse escopo [proteo dos direitos subjetivos] (e possibilidade de toda pessoa v-lo realizado). Ao faz-lo, deve-se ter como referncia o modelo do cidado livre e adulto. Detecta-se, finalmente, que o poder do juiz no processo civil alemo e continua a ser limitado pela liberdade e da responsabilidade das partes"(8).
(8) Ulrich Haas, "II rapporto...", p. 240. De nossa parte, reconhecemos no escopo indicado por HAAS apenas o chamado escopo jurdico do processo, ao lado do qual aparecem os escopos polticos (afirmar a autoridade e a organizao do poder legtimo estabilizando as instituies estatais > preservar o valor liberdade e assegurar a participao democrtica nas questes pblicas, por meio de aes constitucionais como a ao popular ou a ao direta de inconsti- tucionalidade) e os escopos sociais (pacificar com justia, educar/ conscientizar a sociedade). Estamos, pois, com DINAMARCO, em que "[c\onstituem conquistas das ltimas dcadas a perspectiva scio- -poltica da ordem processual e a valorizao dos meios alternativos. A descoberta dos escopos sociais e polticos do processo valeu tambm como alavanca propulsora da viso crtica de suas estruturas e do seu efetivo modo de operar, alm de levar as especulaes dos processualistas a horizonte que antes estavam excludos de sua preocupao. [...] A independncia e responsabilidade do juiz, critrios para seu recrutamento, formas e graus de sua participao no processo, seu compromisso com a justia, mtodos de interpretao da lei substancial, o chamado uso alternativo do direito, a questo da legitimidade das associaes de juizes ou de sociedades de advogados, a importncia do ensino jurdico etc. eis uma gama significativa de temas que, por no pertencerem estritamente ao direito processual em si mesmo, jamais figurariam em estudos de um processualista preso s tradicionais premissas puramente jurdicas de sua cincia; mas que, estando ligados a ele de forma funcionalmente muito ntima, hoje so objeto de nossas preocupaes e vem sendo includos na pauta dos importantes congressos internacionais promovidos pela Associao Internacional de Direito Processual e das jornadas do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual" (Dinamarco, Instituies..., v. I, p. 126-127 [g.n.]). No fosse, pois, a percepo de que o processo serve tambm para obter a paz social, "inerente ao bem-estar a que este deve necessariamente conduzir (tais so as premissas do welfare State)", de modo a se reconhecer "uma ntima ligao entre o sistema do processo e o modo de vida da sociedade" (idem, p. 127), o objeto da presente Tese provavelmente nem se justificaria. Em uma viso puramente tecnicista ("more geometrico") do processo, discutir "inflexes" procedimentais seria algo como discutir o erro aritmtico em matemtica pura: no se discute, corrige-se. E uma observao, de resto, quanto afirmao de que o escopo do processo a proteo dos direitos subjetivos (ainda HAAS): mesmo nisso h vividas dvidas, como aquela externada, no Brasil, por OVDIO BAPTISTA (Jurisdio e execuo na tradio romana cannica, Rio de Janeiro, Forense, 2007, p. 189): "No tenho a menor inteno de escandalizar, nem pretendo brincar com os conceitos, mas digo enfaticamente que o "direito subjetivo" no freqenta os tribunais, no se faz presente no foro. Reconheo que esta afirmao pode causar espanto, dado a cmoda passividade com a doutrina proclama ser funo primordial do processo a proteo aos direitos subjetivos. [...] Na verdade, quando se atribui ao processo a funo de proteger os direitos subjetivos vendo-os atravs do que a doutrina diz ser uma viso civilista da ao , o que ela pretende dizer que o processo protege, em ltima anlise, essas "emanaes" do direito [...]. No o direito subjetivo, enquanto "estado" de quem tem direito. [...] Esta compreenso no nova, ao contrrio um dado doutrinrio muito antigo, que teve em Theodor Muther uma expresso eloqente, ao mostrar o jurista alemo, na clebre polmica, que o ordenamento jurdico romano no era um sistema de direito, mas de "pretenses juridicamente acionveis", ou seja, um sistema sustentado na categoria conhecida como actio, que nada tem a ver com a "ao" processual e menos ainda com o direito subjetivo [...]" (g.n.). Assim, e.g., em uma ao de despejo, o que estaria em movimento seria uma "ao processual" para fazer valer uma "ao
Nada obstante e conquanto compreendamos, diga-se ainda uma vez, que o princpio da proteo deve informar abstratamente certas espcies processuais, como p. ex. o processo laboral , inegvel que os poderes assistenciais foram incorporados prtica processual civil alem e, mais que isso, prpria legislao. O que nos leva segunda "origem" do "modelo de Stuttgart" (aquela histrica, a lhe dar o nome), como tambm e figura de FRITZ BAUR.
Em finais dos anos sessenta do sculo XX, na Repblica Federal da Alemanha, as audincias em processos cveis no primeiro grau de jurisdio haviam se transformado BTTCHER diz "degenerado" em intercorrncias procedimentais puramente formais: no se prestavam discusso do caso, mas apenas apresentao burocrtica de requerimentos formulares, com o arrastamento da lide de audincia em audincia, sem qualquer debate substancial das questes de fato e de direito. Todo o trabalho preparatrio dos juizes amide era intil, porque os advogados os surpreendiam com novos pedidos ou incidentes. A fim de reverter os quadros de entropia processual, docentes universitrios e profissionais forenses das regies de Tbingen e Stuttgart, inspirados em clebre preleo de FRITZ BAUR (1965)
-
Vol. 78, ns 05, Maio de 2014 Revista LTr. 78-05/533
o procedimento deve implicar um envolvimento ativo de partes, advogados e juizes, aplicados presencialmente em um dilogo oral e direto sobre os fatos e o direito em litgio (com isso, acelera-se o procedimento e otimiza-se o entendimento das partes, que tendem a acatar a sentena, sem recorrer, quando convencidas da justia da deciso);
aps ouvidas as partes e as testemunhas, os juizes retiravam-se do recinto para deliberar e retornavam com um "projeto de sentena", discutido em seguida com as partes, que tinham uma derradeira chance de composio amigvel (tal "procedimento aberto" resultara, na segunda metade dos anos setenta do sculo XX, em uma marca recorde de apenas um tero de apelaes para o total de sentenas, sendo certo que aproximadamente 75% dos casos julgados sob o "modelo de Sttutgart" terminavam em no mais que seis meses, contra apenas 40% para a mesma mdia temporal nos tribunais regulares);
algumas das caractersticas bsicas desse modelo, at ento opcionais, tornaram-se cogentes para todos os tribunais federais alemes a partir da "Ve- reinfachungsnovelle" de 1976 (a "lei para a acelerao e simplificao dos procedimentos judiciais"(n)), que previu, entre outras coisas, a concentrao dos atos processuais em uma audincia una, com comparn- cia obrigatria das partes, sempre iniciada por um resumo ex iudice das questes de fato e de direito, seguindo-se eventuais ajustes e a colheita das provas orais; de outra parte, no af de conter arroubos autoritrios em meio a tantos poderes, proibiu-se o juiz de fundamentar sua sentena em aspecto jurdico para o qual no se tenha explicitamente dirigido a ateno das partes"
-
Revista LTr. 78-05/534 Vol. 78, n2 05, Maio de 2014
funes mediadoras semelhantes quelas do juiz do Trabalho brasileiro (art. 764, l 2, da CLT) , homolo- gando-se o acordo por deciso judicial ou "Beschluss" ( 278, 6Q, da ZPO).
Assim, ainda que aquele "escopo social" originalmente divisado nos escritos de KLEIN tenha se perdido parcialmente como ideia-fora, a perspectiva de um processo civil mais clere, concentrado e efetivo, dirigido por juizes com poderes mais amplos na conduo, na interveno e inclusive na correo do processo/procedimento (para os quais se enfatizaram, ademais, funes atpicas no modelo liberal-moderno, como as de mediao, em nvel de enunciao de propostas conciliatrias), deita razes naquele modelo de processo pensado para nivelar posies processuais de partes materialmente desiguais. A diferena que, na verso que chega ao sculo XXI, as necessidades de direo, interveno e/ou correo j no se baseiam apenas em premissas abstratas de hipos- suficincia tcnica ou econmica de grupos (= perfil classista), mas decorrem sobretudo de consideraes concretas sobre as condies de litigncia das partes processuais, tomadas caso a caso, segundo o prudente arbtrio do julgador
-
Vol. 78, n9 05, Maio de 2014 Revista LTr. 78-05/535
descoberta da verdade (atuando especialmente sobre partes e terceiros) correspondendo chamada "cooperao material", com limites objetivos nos direitos fundamentais das pessoas afetadas (integridade pessoal, reserva da vida privada, inviolabilidade de domiclio e correspondncia etc.) e no direito ou dever de sigilo (sigilo profissional, sigilo funcional, segredo de Estado) e, de outro lado correspondendo chamada "cooperao processual" , o poder-dever de providenciar pelo suprimento de obstculos que impeam ou comprometam a deciso de mrito e o acesso ordem jurdica justa (vinculando especialmente o juiz)(20). Aqueles limites materiais no se medem abstratamente; sero identificados concreta- mente, por meio de juzos de ponderao (proporcionalidade), assegurada sempre a indenidade mnima do contedo essencial (na perspectiva absoluto-sub- jetiva) e aqui se entroncam, ainda uma vez, "pro- cedural due process" e "substantive due process". do princpio da cooperao processual que arrancam, afinal, os referidos poderes-deveres assistenciais do juzo.
De fato, os tribunais tm reconhecido pontualmente tais poderes-deveres assistenciais, conquanto nem sempre os identifiquem com o "modelo de Stuttgart", notadamente quando o legislador j tratou de positiv-los. Diramos que esse quadro inclusive mais assertivo em Portugal, p. ex., vista das ltimas reformas processuais e das respectivas concesses a um processo civil de cariz mais "social" , do que no Brasil. Basta ver, p. ex., os artigos 265--A, 266a-A, 266a-B, 508a, 508e-A, 664e e tantos outros do revogado CPC portugus (com inequvocas correspondncias no CPC lusitano em vigor a partir de finais de 2013). Na jurisprudncia portuguesa, preconizando o poder-dever judicial de prevenir as partes sobre deficincias e insuficincias de suas alegaes (o que , de resto, uma clara concretizao do dever geral de cooperao processual), pronunciou-se emblemati- camente a Relao do Porto (sobre o art. 508a, 3, do revogado CPC luso):
"O poder conferido ao juiz no art. 508a, 3, do CPC um poder-dever de prevenir as partes sobre deficincias ou insuficincias de suas alegaes ou do pedido, designadamente quando as partes, em vez de alegar factos concretos, se limitam a usar de expresses com mero significado tcnico-jurdico. [...] Assentando esse dever numa 'previso fechada' que no deixa ao Tribunal qualquer margem de apreciao quanto sua verificao a omisso desse poder-dever constitui nulidade se influir no exame e deciso da causa" (Ac. RP Proc. n. 744/98, 3a Seco, rei. Des. Custdio Montes, j. 27.6.1998).
Mais circunscritamente, em sede de ao paulia- na, o Supremo Tribunal de Justia assentou a Jurisprudncia Fixada Cvel n. 03/2001, pela qual
"[tjendo o autor, em aco de impugnao paulia- na, pedido a declarao de nulidade ou a anulao
(20) Lebre de Freitas, Introduo..., p. 150-153 (com algumas adaptaes de nossa lavra).
(21) In . (acesso em: 4.8.2005 [g.n.])
do acto jurdico impugnado, tratando-se de erro na qualificao jurdica do efeito pretendido, que a ineficcia do acto em relao ao autor (n. 1 do art. 616a do Cdigo Civil), o juiz deve corrigir oficiosamente tal erro e declarar tal ineficcia, como permitido pelo art. 664a do Cdigo de Processo Civil" (STJ, Revista Ampliada n. 994/98, 2 Seco, rei. Cons. Jos Alberto de Azevedo Moura Cruz, 23.01.2001, in DR 34 Srie I-A, 9.2.2001 [g.n.]).
J no contexto doutrinrio, TEIXEIRA DE SOUSA chegou a sustentar, a nosso ver com acerto, que "o tribunal pode chegar at sugesto da modificao do objeto ou das partes da aco ou da formulao de um novo pedido"(22), no sem aparentes contrariedades na prpria literatura jurdica portuguesa
-
Revista LTr. 78-05/536 Vol. 78, ng 05, Maio de 2014
petio inicial(25)). Admite, outrossim, a interveno iussu iudicis(26) e inclusive prev figura ideologicamente prxima da mutatio libelli processual penal, pela qual se d ao juiz o poder de instar as partes (aqui, "convidar") a se manifestar sobre fatos relevantes no alegados e descobertos durante a instruo processual, inclusive com possibilidade de complementao e/ou correo de articulados(27). De fato, alis, a proximidade entre o processo laboral e o processo penal determinada pela natureza estritamente jusfundamental das pretenses amide deduzidas em ambos (ali, direitos sociais fundamentais; aqui, o prprio status libertatis) tem levado os tribunais do trabalho brasileiros a inclusive estender, casustica processual trabalhista, o princpio da verdade real, antes uma idiossincrasia do processo penal (v., e.g., TST, AI-RR n. 122540-27.2005.5.18.0009, 3 T., rei. Min. Horcio Senna Pires, j. 20.4.2010, in DEJT 7.5.2010(28>)(29>- Essa constatao corrobora, ademais,
(25) Nesse sentido, cf. Ac. RC Rec. n. 1133, rei. SOARES CARAMUJO, j. 29.10.1985, in BMJ 350/397. O julgado refere-se ao art. 299 do CPT de 1982 (que possua basicamente a mesma redao do atual art.279).
(26) A interveno "iussu iudicis" corresponde possibilidade de "ingresso de terceiro em processo pendente por ordem do juiz", com o objetivo de "minimizar os problemas do litisconsrcio facultativo unitrio, cumprindo ao Magistrado determinar a intimao (e no citao) do possvel litisconsorte, para, querendo, integrar a relao processual" (Fredie Didier Jr., Curso de direito processual civil, 7. ed., Salvador, JusPodivm, 2007, v. 1, p. 294). No Brasil, fora admitida no CPC de 1939, mas desapareceu no CPC de 1973 (em vigor), vista do teor do art. 47, pargrafo nico.
(27) No Brasil, veja-se o teor do art. 384, caput, do CPP (com a redao da Lei n. 11.719/2008): "Encerrada a instruo probatria, se entender cabvel nova definio jurdica do fato, em consequncia de prova existente nos autos de elemento ou circunstncia da infrao penal no contida na acusao, o Ministrio Pblico dever aditar a denncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ao pblica, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente". Prev-se, ademais, que, "[n]o procedendo o rgo do Ministrio Pblico ao aditamento, aplica-se o art. 28 deste Cdigo", o que significa que o rgo do Parquet no primeiro grau est em princpio adstrito readequao factual de seus articulados, como quer o juiz; recusando-se a faz-lo, a palavra final caber ao chefe do Ministrio Pblico