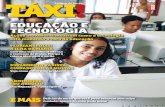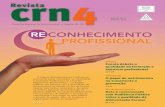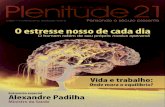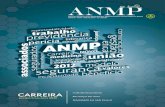Revista Tonom n 21 Pronta
-
Upload
frank-marcon -
Category
Documents
-
view
354 -
download
1
Transcript of Revista Tonom n 21 Pronta
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
REITOR Angelo Roberto Antoniolli
VICE-REITORAndré Maurício Conceição de Souza
PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISAMarcus Eugênio Oliveira Lima
EDITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
COORDEnADOR DO PROGRAmA EDITORIAlPéricles Morais de Andrade Júnior
COORDEnADORA GRáfICA DA EDITORA UfSGermana Gonçalves de Araujo
PROjETO GRáfICO, EDITORAÇÃO ElETRônICA E CAPADébora Santos Santana
Cidade Universitária “Prof. José Aloísio de Campos”CEP 49.100-000 – São Cristóvão - SE.Telefone: 2105 - 6922/6923. e-mail: [email protected] www.ufs.br/editora editoraufs.wordpress.com
Irlys Alencar Firmo Barreira, Universidade federal Do Ceará, BrasilRoberto Grün, Universidade federal Dde São Carlos, BrasilClarissa Eckert Baeta Neves, Universidade federal do Rio Grande do Sul, BrasilAdriano Nervo Codato, Universidade federal do Paraná, BrasilAna Maria F. Almeida, Universidade Estadual de Campinas, BrasilAntônio Sérgio Guimarães, Universidade de São Paulo, BrasilBenjamin Junge, State University Of new York, Estados Unidos da América do norteCarlos Fortuna, Universidade de Coimbra, PortugalCeli Scalon, Universidade federal do Rio de janeiro, BrasilClaudino Ferreira, Universidade de Coimbra, PortugalFranz J. Brüseke, Universidade federal de Sergipe, BrasilJoanildo Burity, Universidade federal de Pernambuco, Brasil
COnSElHO EDITORIAl
COORDEnADOR DO PPGSRogério Proença de S. Leite
EDITORESErnesto SeidlWilson J. F. de Oliveira
REVISÃOClaudia ReginaErnesto SeidlFrank Marcon
As informações e análises contidas nos artigos são de inteira responsabilidade dos autores, não exprimindo, portanto, o endosso do Conselho Editorial do NPPCS.
Esta revista integra a Plataforma dos Periódicos Eletrônicos da UFS (www.posgrap.ufs.br/periodicos) e conta com apoio institucional da Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe.
José Ricardo Ramalho, Universidade federal do Rio de janeiro, BrasilMiguel Pablo Serna Forchari, Universidad de la República, UruguaiMiguel Vale De Almeida, Instituto Universitário de lisboa, PortugalNádia Araújo Guimarães, Universidade de São Paulo, BrasilPaulo Sérgio Da C. Neves, Universidade federal de Sergipe, BrasilRenato Monseff Perissinotto, Universidade federal do Paraná, BrasilRogerio Proença Leite, Universidade federal de Sergipe, BrasilSadi Dal Rosso, Universidade de Brasília, BrasilSílvia Helena Borelli, Pontíficia Universidade Católica de São Paulo, Brasil
ficha Catalográfica
Tomo : revista do Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais / Núcleo de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, Universidade Federal de Sergipe. – n. 21 (jul./dez. 2012)- . – São Cristóvão : Editora UFS, 1998-
Semestral
ISSN 1517-4549
1. Ciências sociais – Periódicos. I. Universidade Federal de Sergipe. Núcleo de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais.
CDU 316
Sumário
07
13
37
63
101
137
169
201
Apresentação
Africanos no Brasil, hoje: imigrantes, refugiados e estudantesnEUSA mARIA mEnDES DE GUSmÃO
Reversal of fortunes?: São Paulo youth redirect urban developmentDEREK PARDUE
Coletivos juvenis e parkour no Brasil: percursos inter-culturais e identidades
VAlÉRIA SIlVA
Masculinidade, violência e espaço público: notas etno-gráficas sobre o Bairro Brasil da Praia (Cabo Verde)
lOREnZO I. BORDOnARO
Kuduro, juventude e estilo de vida: estética da dife-rença e cenário de escassez
CláUDIO TOmáSfRAnK mARCOn
Participação política juvenil em contextos de “suspen-são” democrática: a música rap na Guiné-Bissau
mIGUEl DE BARROS
O socioeducativo desde as margens: discutindo a versão de duas jovens
PAUlO ARTUR mAlVASI
239
263
295
Em torno do corpo e da performance: estratégias de afirmação entre um grupo de jovens em Maputo,
MoçambiqueAnDREA mOREIRA
Rappers cabo-verdianos e participação política juvenil
REDY WIlSOn lImA
Depois da escola, o encontro é no shopping: sociabilida-des, conectividade e jovens surdos em Porto Alegre (RS)
mARTA CAmPOS DE QUADROS
Apresentação
Neste dossiê temático abordarmos o tema juventudes numa perspectiva interdisciplinar, recolhendo contributos de auto-res internacionais ligados à área das Ciências Sociais. Os textos apresentados exploram os dilemas das juventudes contempo-râneas, as múltiplas formas de expressividades e agências ju-venis, bem como as representações sociais elaboradas sobre as juventudes e por elas, envolvendo ainda as relações sociais e de poder, numa perspectiva que cruza experiências locais, na-cionais e transnacionais.
Diáspora, migração, espaço transnacional, multiculturalismo e pós-colonialismo são conceitos que procuram interpretar novas situações sociais no cenário global. São termos circunstanciados que nos remetem aos velhos debates sobre culturas, territórios, identidades, poderes e conflitos, não mais possíveis de serem es-tudados apenas a partir de balizamentos centrados (na nação, por exemplo), o que tem sido demonstrado por diferentes pesquisa-dores a partir de diferentes enfoques. Neste dossiê, tais conceitos estão implícitos no referencial de abordagem que propomos para o enfoque transversal de nossos artigos, mesmo quando os temas específicos de cada contribuição sejam localizados.
8
APRESEnTAÇÃO
Os autores convidados a participar deste dossiê realizam pes-quisas de campo no Brasil, em Angola, em Cabo Verde, na Gui-né Bissau, em Moçambique e em Portugal, o que dá ao tema um contorno internacional articulado a um conjunto de países de Língua Portuguesa. Este contorno é propositalmente sugerido como diacrítico para se pensar as possíveis correlações e con-trastes sobre o tema comum num contexto privilegiado de trân-sitos de pessoas, de mercadorias e de produções simbólicas.
As diferenças e similaridades entre as experiências da juventude contemporânea nestes países são inúmeras e nem sempre podem ser compreendidas isoladamente ou comparadas indiscrimina-damente. Algumas questões são pontuais e locais, mas outras se inscrevem no próprio contexto dos trânsitos. Em Portugal, só para citarmos um exemplo, vários estudos recentes demonstram que a maior parte do movimento imigratório para este país, nos últimos dez anos, teve origem nas populações jovens dos outros países que compõe a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, prin-cipalmente: Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau e Angola.
O que há de comum nas dinâmicas sociais e culturais destes pa-íses, para além da expressão linguística, de uma história políti-ca marcada pela experiência colonial e da circulação migratória e de bens de consumo, é também a emergência de expressões culturais, movimentos sociais e políticos entre os jovens, assim como o impacto de políticas sociais internacionais, principal-mente sobre questões como educação, saúde, trabalho, lazer e segurança pública. Embora não estejamos privilegiando aqui enfoques nacionais e nem dando um direcionamento centrado a uma comunidade política definida pela língua portuguesa, queremos chamar a atenção para as mútuas implicações entre questões locais e globais envolvendo as experiências e represen-tações dos e sobre os jovens.
Neusa Gusmão aborda no seu artigo o tema dos estudantes afri-canos no Brasil, conseguindo desestabilizar o lugar comum que
9
associa imigração dos países Africanos com migração laboral e ecônomica. A migração acadêmica configura-se como um aspecto fulcral para redefinir as características da imigração de diferentes países da África, apontando para dinâmicas sociais complexas, va-lores familiares, formação de quadros e estratificação econômica.
Derek Pardue analisa a influência das práticas culturais juvenis do hip-hop e dos saraus em São Paulo, na recomposição do que ele denomina de geografia social da cultura na cidade. No seu artigo desenvolve a ideia de surgimento de uma dinâmica de re-composições dos fluxos de produção e consumo cultural, num contexto em que as periferias se tornam importantes lugares de expressão social e cultural, deslocando o espaço do debate pú-blico sobre a cidade, bem como ganhando novos e multisituados valores na cenário da metrópole.
Valéria Silva descreve o envolvimento de alguns jovens de Tere-sina (Piauí) com a prática do parkour, refletindo sobre a consti-tuição de um estilo de vida e dos coletivos formados por jovens que aderem a tal prática. Em tal caso, os jovens se reúnem em torno de uma forma de expressão pela qual se familiarizam com os equipamentos urbanos da cidade e reiventam sobre os usos do espaço público, como também redimensionam suas formas de socialização, expressando uma espécie de filosofia de vida.
Lorenzo Bordonaro, a partir de suas experiências etnográficas no bairro Brasil, na cidade da Praia, em Cabo Verde, analisa a relação dos jovens de um lugar estigmatizado socialmente pela violência. Descreve os confrontos e as proximidades entre gru-pos de adolescentes, familiares e de residência a partir dos va-lores constituidores da ideia de masculinidade. Procura ainda perceber as contradições e os significados dados a violência por parte dos jovens do bairro, num contexto em que as defi-nições sobre juventudes em tais condições são extremamente estereotípicas e ambiguamente aceitas pelas comunidades em que vivem estes jovens.
10
APRESEnTAÇÃO
Cláudio Tomás e Frank Marcon exploram o surgimento, os sig-nificados e a circulação transnacional do estilo musical angola-no kuduro. Na sua análise apontam para a importância que esta forma expressiva teve na Angola neoliberal a partir dos anos noventa, para a afirmação identitária e para a criação de novos circuitos e recursos para os jovens, ao mesmo tempo em que procuram apontar para um contexto em que o estilo se dispersa por outros cenários, como Portugal e Brasil.
Miguel de Barros descreve o surgimento da música rap na Guiné Bissau, e a função que este gênero musical teve e tem em termos de crítica social e como discurso antagônico às forças do poder político e militar. Os rappers assumiram o papel de críticos e contestatários do poder numa altura caracterizada por violên-cias e intimidações por parte do poder militar, apropriando-se não só do estilo musical global do rap, mas incorporando ele-mentos locais, instrumentos típicos da Guiné Bissau e referên-cias a compositores de outras épocas.
Paulo Malvasi aborda o tema da contradição entre o sancionamen-to de direitos no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Brasil, e a prática institucional no que respeita aos jovens em conflito com a lei. Analisando os casos emblemáticos de duas garotas envolvidas no tráfico de drogas, e que tiveram experiências de períodos de de-tenção, Malvasi denuncia a violência institucional e a constante vio-lação de direitos que na prática caracterizam o dispositivo prisional para jovens no contexto brasileiro.
Andrea Moreira foca a questão da centralidade do corpo como elemento identitário entre jovens rapazes de rua em Maputo, Moçambique. A sua etnografia no mercado Xipamanine apre-senta dados interessantes sobre a forma como, em condições de profunda marginalidade social e econômica, os jovens se tornam agentes sociais utilizando performaticamente os seus corpos, inscrevendo-os com tatuagens, e re-negociando dessa forma a sua identidade de gênero. Nestas dinâmicas, a dança assume um
11
papel importante, tornando-se ao mesmo tempo instrumento de reconfirmação da própria performance do corpo masculino, mas ao mesmo tempo potencial (se bem que improvável) tram-polim para ascensão social.
Redy Wilson Lima reflete sobre o cenário sócio-político de Cabo Verde, procurando perceber como se dá a participação e o en-tendimento sobre a política por parte dos jovens envolvidos com o rap. Analisa as transformações ocorridas nas últimas duas dé-cadas e o nascimento de um cenário que considera perturbador para muitos jovens que acabam por sentir a imposição do mode-lo de organização política e de exploração econômica vigente no país, respondendo de formas diversas e às vezes controversas, pactuando ou contrapondo com tais modelos.
Marta Campos de Quadros analisa as formas de sociabilidade en-tre jovens surdos na cidade de Porto Alegre (RS), refletindo so-bre as escolhas e as dinâmicas dos espaços definidos como seus lugares de encontro, como, por exemplo, a escola e o shopping, bem como sobre os diferentes modos de uso das novas tecnolo-gias de comunicação e informação por parte destes sujeitos em tais ambientes. O método de observação direta e a particularida-de de sua atenção a um universo cognitivo onde a comunicação é quase que exclusivamente de imagens colocam a autora num interessante lugar de tradutora cultural.
A lógica de organização e a sequência de apresentação dos ar-tigos foram pensadas com o intuito de provocar nos leitores a percepção sobre diferentes cenários bastante alternados de lo-calização, de enfoque e de pontos de vista. Este formato é ape-nas um roteiro sugerido aos interessados para que façam seus próprios exercícios reflexivos sobre os contrastes entre lugares, temas, categorias de análise e formas de abordagem sobre os jovens na contemporaneidade, em contextos que ora se aproxi-mam, ora se cruzam e ora se distanciam.
12
APRESEnTAÇÃO
Enfim, agradecemos a todos os autores por terem aceitado o desafio de enviarem seus artigos para este dossiê, bem como aqueles colegas (alunos e investigadores) que participaram das reuniões que realizamos no ano de 2011, em Aracaju e em Lisboa, com o intuito de trocarmos impressões, de debatermos questões e de pensarmos formas de constituição de uma de rede de colaboradores e pesquisadores preocupados com o tema das juventudes do presente e envolvendo os países representados aqui (tais encontros foram possibilitados pelo financiamento de um projeto de Missões Exploratórias, através do CNPq, pelo Edi-tal CPLP/2010). Por fim, agradecemos aos editores da Revista Tomo pela confiança e pela oportunidade de publicação, na ex-pectativa de que tenhamos lançado algumas provocações e des-pertado o interesse de outros estudiosos sobre o tema.
Africanos no Brasil, Hoje:Imigrantes, Refugiados e Estudantes
Neusa Maria Mendes de Gusmão1 (Unicamp)
ResumoO presente texto trata da realidade de estudantes originários de países africanos de língua oficial portuguesa no Brasil. São jo-vens que compartilham um processo migratório com finalidade de estudos e que vivem a experiência de estar “fora de lugar” em um país estrangeiro. Trata-se de um contexto complexo em que os indivíduos que migram cumprem metas de desenvolvimen-to de seus países de origem. A partir de seus deslocamentos e de suas histórias particulares revela-se a história mais geral do povo negro, africano e estrangeiro na “terra dos outros”.Palavras-chaves: Estudantes africanos, Palop, Migração, Juventude, Diáspora
Africans in Brazil, Today:Immigrants, Refugees and Students
AbstractThis paper addresses the reality of students from Portuguese--speaking African countries in Brazil. These students share a migratory process with the main purpose of studying, and the living experience of being “out of place” in a foreign country. It is a complex context in which migrants meet the development goals of their original countries. Their movements and their par-ticular histories reveal a more general history of black people, Africans and foreigners in the “land of others.”Keywords: African Students, Palop, Migration, Youth, Diaspora
1 Antropóloga e professora titular (Colaboradora) do DECISE – Departamento de Ciências Sociais na Educação e do Programa de Pós Graduação em Educação – FE/UNICAMP e da Pós--Graduação - Doutorado em Ciências Sociais (Antropologia) do IFCH/UNICAMP. Dedica-se ao estudo da Antropologia da Educação e das questões étnicas e raciais em diferentes contextos.
14
AfRICAnOS nO BRASIl, HOjE: ImIGRAnTES, REfUGIADOS E ESTUDAnTES
Os processos de internacionalização que envolve trocas cientí-ficas, universitárias e culturais, não são um fenômeno recente. Mais que isso, como afirma Monique Saint Martin (2004, p.17), no que pese o desconhecimento desses processos, mesmo no mundo acadêmico, importa colocar em debate o fato de que há diferentes caminhos de internacionalização, dentre estes, a for-mação em nível superior em países estrangeiros.
Os processos de mobilidade com finalidade de estudo e univer-sos contextuais específicos revelam por trás dos mesmos, que re-alidades muito diversas e diferentes são postas em movimento. Isso, segundo Monique Saint Martin (2004), implica “diferentes maneiras de usar caminhos semelhantes” (p.25) que produzem efeitos e conseqüências difíceis de serem apreendidas por indi-cadores precisos e quantificáveis. Silva (2005) também aponta as dificuldades decorrentes de estudos numericamente reduzi-dos sobre esse tipo de mobilidade e o fato de que indivíduos en-volvidos nesses processos escapam aos “Censos Demográficos e outras que visam à apreensão dos grandes fluxos migratórios” (p.60). Na tentativa de localizar o lugar de onde se fala, sublinha--se aqui, o que diz Saint Martin (2004)
Poucos sociólogos ou antropólogos se debruçam verda-deiramente sobre a questão das trocas internacionais e da circulação científica de indivíduos, e menos ainda sobre a relação entre essas trocas e a formação intelectual dos gru-pos envolvidos nesse processo ou sobre a relação entre as trocas e os processos de recomposição das elites e da redis-tribuição do poder. (p. 17)
Com esse pano de fundo, a pesquisa que aqui se apresenta2, ain-da inicial em seus passos, sofre a influência das limitações des-critas e as tem acentuadas na medida em que toma por objeto as migrações para estudo, de sujeitos de origem africana, nomea-
2 Jovens Africanos Projetos Nacionais e Educação: o caso dos PALOP e da CPLP no Brasil e em Portugal. Projeto de pesquisa de minha responsabilidade e em andamento.
15
neusa maria mendes de Gusmão
damente dos Palop/CPLP3 para o Brasil. Tais migrações não pos-suem forma sistemática, precisa e oficial de registro de entrada e saída de estudantes africanos que buscam as instituições de ensino superior (IES) brasileiras para se qualificarem mesmo quando essa entrada se faça por meio de políticas sociais como o PEC-G/PEC-PG4. Por sua vez, a problemática do estudante afri-cano nas instituições brasileiras não é objeto de reflexão acadê-mica e científica, a não ser de poucos pesquisadores e, muitas vezes, só o são, por parte dos próprios estudantes africanos que tomam a experiência de viver no Brasil como temática de suas monografias, dissertações e teses, no interior do mundo acadê-mico. Fora isso, estudantes africanos só encontram visibilidade, quando vitimados por violência, quase sempre de ordem racial, que ganham as mídias impressas e televisivas.
Outra dimensão que impõe limite a essa proposta é a que de-corre da invisibilidade das relações Brasil/África no tocante as migrações temporárias ou ditas especiais e a própria definição teórica do que sejam tais processos. Chamá-las de temporárias ou especiais gera, no debate público, muitos questionamentos quanto aos seus sentidos e desafia as possibilidades de aborda-gem reflexiva e crítica. Dificuldades de ordem teórica expõem o fato de que as categorias em uso nesta pesquisa, ainda que sejam flutuantes quanto aos sentidos e significados, abertas a muitos debates, sejam aqui definidas a partir da realidade investigada e, sempre que possível, dialogam com outros estudos já realizados em busca de consistência e de coerência analítica.
3 PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) e CPLP (Comunidade de Países de Língua Portuguesa).4 PEC-G e PEC-PG - Programa de Estudante Convênio de Graduação e de Pós-Graduação – trata-se de política de cooperação entre o Brasil e países em desenvolvimento da Amé-rica Latina e da África e oferece vaga em universidades brasileiras com vista à formação de quadros de países em desenvolvimento.
16
AfRICAnOS nO BRASIl, HOjE: ImIGRAnTES, REfUGIADOS E ESTUDAnTES
Categorias Sociais e Científicas: flutuações semânticas5 e reconversão6
A reflexão científica se faz ancorada em categorias que opera-cionalizam e permitem a apreensão dos fenômenos sociais num dado contexto e época. Contudo, como afirma Telles (2006), em épocas específicas determinados problemas sociais se trans-formam em problemas sociológicos passíveis de investigação e transformam as categorias sociais em categorias científicas, que nominam “novos sujeitos” políticos a desafiar a própria produ-ção científica, muitas vezes aprisionada a dogmas e a categorias que se consolidaram no âmbito da pesquisa acadêmica de um momento anterior.
Diz Telles (2006),
Sabemos que no campo das ciências humanas a critica às categorias de análise, bem como suas redefinições, é algo que se faz em compasso com a interpretação das mudanças operantes no mundo social e ao modo como se formula as novas exigências interpretativas em diálogo com as ques-tões políticas colocadas, com suas promessas, desencantos ou hesitações. (p.141)
A pesquisa em tela se coloca como parte de um momento de transição de categorias constituídas. O uso “entre aspas” evi-dencia as hesitações próprias do campo político ou dizem da emergência de novas realidades ainda não consolidadas no
5 Para Arruti (1997) as categorias são criações não fixas, dotadas de plasticidade e rela-tivas. Por ter isso em conta, o autor chama a atenção para as “flutuações semânticas” das categorias sociais.6 O termo reconversão remete para usos de uma mesma categoria em uma rede de inter-dependência de sentidos, conforme os sujeitos em presença e os interesses colocados no contexto – do mundo acadêmico ao mundo político, perpassando ainda o espaço social de vida e luta dos grupos que tais categorias nominam e, que, por vezes, são apropriadas pelos próprios grupos.
17
neusa maria mendes de Gusmão
campo científico, não porque fossem inexistentes, mas porque não mais correspondem a contextos de referência do momento anterior. Este parece ser o caso das migrações temporárias e/ou especiais, que abrangem a circulação de pessoas que buscam qualificarem-se fora de seus lugares de origem, entre estes, os africanos dos Palop.
De início a própria definição de migração temporária e/ou espe-cial, encontra respaldo em dois contextos diversos. O primeiro de-les, defendido por Afrânio Garcia (2004), assume que estas dizem respeito a Formas Especiais de Migração, ou seja, são migrações especiais. Garcia pensa a partir da realidade africana pós-colonial de Moçambique e Angola, que recebeu exilados brasileiros forma-dos na Europa, logo após a Independência, atuando na construção do Estado-nação, entre os anos de 1974 e 1979, em meio à con-corrência entre elites intelectuais e políticas, locais e estrangeiras. Nesse contexto, a migração especial constitui-se como:
tentativas de reconversões profissionais em que a substituição de quadros administrativos da antiga potência colonial portu-guesa dão lugar a uma intensa concorrência entre universitá-rios de diferentes procedências nacionais. ( Garcia, 2004, p. 15)
Após várias décadas e mesmo passado o século XX, com as lutas internas aos estados nacionais em construção, a realidade des-ses países e dos demais em África de língua portuguesa, mudou e transformou os próprios contextos. Hoje, não se trata mais de substituição de quadros coloniais, mas está em pauta a forma-ção de quadros em busca da consolidação interna e externa dos Estados-nação, na busca de um lugar na divisão internacional do trabalho que coloca em novo patamar as relações Norte-Sul e Sul-Sul, da qual o Brasil e a África fazem parte.
Se as migrações especiais com finalidade de estudo visam for-mar quadros para que retornem aos países de origem, não po-dem ser pensadas nos moldes das teorias tradicionais dos estu-dos dos fenômenos migratórios, posto que, por sua natureza e
18
AfRICAnOS nO BRASIl, HOjE: ImIGRAnTES, REfUGIADOS E ESTUDAnTES
objetivo, devem ser temporárias. Segundo Silva (2005), José de Souza Martins ao pensar as migrações internas de trabalhado-res brasileiros, afirma que,
É temporário, na verdade, aquele migrante que se considera a si mesmo “fora de casa”; “fora de lugar”, ausente, mesmo quando em termos demográficos, tenha migrado defini-tivamente [...]. Se a ausência é o núcleo da consciência do migrante temporário, é porque ele não cumpriu e não en-cerrou o processo de migração, com seus dois momentos extremos e excludentes: a dessocialização nas relações so-ciais de origem e a ressocialização nas relações sociais de “adoção”. Ele se mantém, pois, na duplicidade de suas so-cializações [...]. É sempre outro, o objeto e não o sujeito. É sempre o que vai voltar a ser e não o que é. A demora desse reencontro define o migrante temporário (p. 61).
Por tudo isso a migração internacional de estudantes africanos dos Palop que buscam sua formação no Brasil é assumida aqui como migração temporária e especial. Entende-se que o sujeito que migra, não é movido apenas por questões econômicas, típi-cas da migração tradicional, mas, também, por fatores objetivos e subjetivos relacionados com a experiência migratória e com a realidade com que se deparam nos países de acolhimento. Nessa medida, “partir e ficar são faces da mesma realidade social” e, envolve um “tempo uno, cindido em dois espaços” (Silva, 2005, p.54). Tal fato envolve um estar aqui, no Brasil e, um ser de lá, África. Envolve ser africano, estrangeiro e negro “fora de lugar” – reflexos das relações em processo, estabelecidas no contexto social de acolhida e que possui uma dimensão contraditória e conflitiva que, como aponta Silva (2005), exige ser compreen-dida posto que se associe a perdas e separações, mas também, a reencontros, voltas, reconstruções culturais, etc.
Concordando com a autora, a migração temporária e especial de estudantes africanos é aqui considerada como processo social e os estudantes africanos, como migrantes que na condição de re-fugiados se fazem estudantes e migrantes que vem para estudar
19
neusa maria mendes de Gusmão
nas IES brasileiras. São eles, parte de um contingente que carre-ga trajetórias e expectativas diversas, contudo são todos agentes de um duplo processo: o da internacionalização das realidades africanas e brasileiras; e, sujeitos cujo processo de circulação trás à tona, os processos de cooperação entre países e nações que, a um só tempo, incidem diretamente naquilo que são como indivíduos sociais e coletivos, inseridos num campo de tensão cultural e política, individual e coletiva.
Metodologicamente, portanto, falas e representações dos sujei-tos são apreendidas como parte de processos que dizem de his-tórias pessoais colhidas por meio de entrevistas, de depoimen-tos a respeito de trajetórias, de histórias de vida e, também, por elaborações escritas em monografias, dissertações e teses cujo foco é a experiência da migração e a vivência como estudante em IES brasileiras. Informações cruzadas permitem compreen-der o contexto de migrantes angolanos refugiados no caso de Campinas (SP) e de estudantes dos Palop/CPLP de modo geral, como sujeitos inseridos em organizações sociais no interior das quais, suas ações se conformam e acontecem (Silva, 2005). Ao mesmo tempo tais sujeitos fabulam e criam representações con-formadoras de nova visão de mundo incidentes nas identidades forjadas “fora do lugar”. Tal processo que não é unívoco e linear, não se permite a generalizações, mas possibilita compreender em sua pluralidade, o que há de comum, o que há de divergente nos diferentes caminhos trilhados para obtenção da qualificação em nível superior. Nesse sentido, pensar a migração temporária e especial significa pensá-la como parte de processos sociopolí-ticos contemporâneos que produz um “saber situado”7, do viver “fora do lugar” que é, também, um “estar no lugar” e que, per-mite articular o local com o transnacional, produzindo cultura e realidade política específicas desse processo.
7 Cf. Haraway, D. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilegio da perspectiva parcial. Cadernos PAGU, N. 5, p.7 – 41, 1995
20
AfRICAnOS nO BRASIl, HOjE: ImIGRAnTES, REfUGIADOS E ESTUDAnTES
Migrar e Estudar “Fora do Lugar”: trilhas da pesquisa
Em meio a propostas contínuas de pesquisa8, a conversa de ago-ra que se alonga no tempo, teve início com a pesquisa relativa aos africanos em Portugal e, depois se voltou para a realidade brasileira e para outro segmento diverso daquele tratado em Os Filhos da Africa em Portugal. Antropologia, multiculturalidade e educação, editado em Portugal e no Brasil.
A pesquisa realizada entre 2005 e 2008 com apoio do CNPq, in-titulada “Luso-africanos em Campinas e em São Paulo: imigração, cultura e educação”, parte da retomada dos estudos feitos com relação aos luso-africanos em Portugal (Gusmão, 2005), marca o caminho da escolha de agora e joga luz sobre a imigração afri-cana dos PALOP para o Brasil, nomeadamente nos anos de 1990 do Século XX. Naquele caso, tratava-se de um estudo com imi-grantes africanos de língua portuguesa, principalmente, dos PA-LOP, buscando compreender a natureza da inserção e integração social e política desses imigrantes em duas cidades: Campinas (SP) e Porto Alegre (RS). Nesse estudo, foi feita a seleção e análi-se dos discursos construídos por diferentes agências e agentes, considerando-se de modo particular, o campo da educação e o campo político de inserção na realidade brasileira. A preocupa-ção central foi a de pensar a realidade do estudante estrangeiro de nível universitário proveniente dos PALOP, imigrante ou não, e sua experiência relativa à imigração e à formação de quadros por parte das realidades africanas emergentes. Interessava-nos compreender como a sociedade brasileira elabora os sentidos e significados dessa presença africana no tecido social, de forma a
8 Trata-se da pesquisa “Luso-Africanos em Campinas e São Paulo: imigração, cultura e edu-cação” desenvolvida com apoio do CNPq entre 2004 e 2008, e parte do percurso iniciado com os estudos dos luso-africanos em Portugal em 1997/2002, com o apoio do CNPq e que deu continuidade a outro projeto desenvolvido entre 2002/2004, também apoiado pelo CNPq e pelo ICS (Lisboa). Deles se teve por resultado a minha Livre-Docência junto a UNICAMP (2003), publicada como livro com o título: Os Filhos da África em Portugal. Antropologia, multiculturalidade e educação. Belo Horizonte, 2005 e, também em Portu-gal, com o mesmo título, publicado pelo ICS, em 2004.
21
neusa maria mendes de Gusmão
compreender atitudes e comportamentos de aceitação ou rejei-ção do imigrante africano e/ou estudante estrangeiro de origem africana quando “na terra do outro”, tal como aconteceu e acon-tece em Portugal e outros países europeus.
Estudantes da Universidade de Campinas, daquele momento, em maioria de Angola, entraram no Brasil nos anos de 1990, como turis-tas, requisitaram perante o Estado nacional a condição de refugiados, tornando-se sujeitos de benefícios previstos em lei para esses casos. Nesse contexto, passam a ter acesso à educação em todos os seus níveis e, em particular, nas universidades públicas, na graduação e na pós-graduação. Tratava-se de uma geração que lutara pela inde-pendência do jugo colonial e que recebeu formação, por vezes, até mesmo fora da África, em maioria, em países do antigo eixo socialista ou em Cuba. Todos, em algum momento, já haviam migrado tempo-rariamente com finalidade de estudo e chegam ao Brasil, por meio de um processo de outra natureza. O processo de mobilidade não é mais individual, mas familiar e, ainda que se coloque como provisório em razão das guerras civis e das perseguições políticas se faz permanen-te e origina uma “comunidade de angolanos” a residir e a se estabele-cer na macro-região campineira. Além desses e, muitas vezes, a partir da presença deles em Campinas e do conhecimento das políticas do governo brasileiro com relação à África, tal como o PEC-G e o PEC-PG, outros angolanos migram com finalidade de estudo e qualificação na Universidade de Campinas e em outras capitais brasileiras.
De norte ao sul do país é possível constatar a presença de estu-dantes de origem africana e que chegam para fazer a graduação e/ou a pós-graduação em universidades públicas e privadas9,
9 Em particular, serão os países dos PALOP – Angola, Cabo Verde, Guiné, Moçambique e São Tomé e Príncipe – os maiores beneficiados pelos Acordos de Cooperação assinados entre Brasil e os países africanos, tanto por parte das instâncias federais do governo brasileiro, quanto por Acordos Institucionais firmados diretamente com as IES nacionais ou por meio de organizações religiosas e ONGs. Aqui, os estudantes dos PALOP em Campinas e na UNI-CAMP são em maioria, do Programa PEC-G do governo brasileiro. O mesmo não acontece com os estudantes de Porto Alegre, já que são bastante efetivos nessa região os acordos diretos com as IES, como são os casos da UFRGS, do IPA e da ULBRA, em Porto Alegre.
22
AfRICAnOS nO BRASIl, HOjE: ImIGRAnTES, REfUGIADOS E ESTUDAnTES
vindas de diferentes países. Muitos chegam através do Progra-ma do PEC-G/PEC-PG do governo brasileiro efetivado através de acordos bilaterais e regras específicas de seleção e ordenamento do estar em terra estrangeira. Outros chegam através de con-vênios de seus países com empresas multinacionais ou, ainda, com apoio de alguma instituição religiosa. Alguns contam com bolsas de estudo do governo brasileiro, outros com bolsas de seus próprios governos e, por vezes, contam com o apoio finan-ceiro da família ou de membros da família que estão em África. Em acordo com cada um desses contextos enfrentam maiores ou menores dificuldades para se estabelecer e viver longe dos seus, na relação com os nacionais e, ainda com outros africanos.
Contudo, o contexto vivido pelos estudantes africanos no Brasil, se revelou como sendo mais amplo que apenas seu cotidiano de ganhos e perdas a desafiar o viver fora de lugar. Segundo Dantas (2002), desse contexto faz parte ainda, o projeto cultural do Brasil em diversos momentos, fato que não se faz indiferente ao cam-po político, além de envolver a vida de pessoas e de famílias em solo africano. Nesse sentido, pensar a vivência e a experiência dos estudantes africanos no Brasil, diz respeito também, às relações desse país com os governos nacionais em África, principalmente a África Subsaariana onde se encontram os PALOP. Por sua vez, os países africanos em consolidação como estados nacionais buscam por uma inserção internacional que não se faça numa condição marginalizada no ambiente da globalização conforme afirmam diferentes estudos. Nesse sentido, o Brasil e os PALOP implemen-tam desde o final dos anos de 1974, acordos bilaterais, nos quais a imigração com finalidade de estudo propicia a vinda de estudan-tes africanos ao Brasil. Do universo das relações que são então, estabelecidas entre países e governos, outro fator de incremento das trocas internacionais e da circulação internacional de indiví-duos será a criação da CPLP – Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa, já nos anos de 1990. A CPLP apesar de ter um caráter mais comercial, vem revitalizar as relações com o conti-nente africano, nomeadamente nos setores de educação, saúde e agricultura, como afirma João (2004).
23
neusa maria mendes de Gusmão
Assim, a preocupação com a dimensão identitária e de inserção de estudantes africanos no Brasil e com as formas coletivas en-gendradas na diáspora vivida enquanto estudante em terras bra-sileiras é retomada agora, num esforço comparativo com a mesma realidade em Portugal. Objetiva-se, assim, refletir sobre a cons-trução de referenciais claros e mais complexos no tocante às dife-renças e similaridades de experiências vividas pela juventude que compõem a horda de estudantes africanos “fora de lugar”. Algu-mas questões são pontuais e locais, mas outras se inscrevem no próprio contexto da CPLP e dos acordos transnacionais.
A presente pesquisa10 toma por centro a circulação, a cooperação e a educação de “jovens” africanos a partir da perspectiva antropológica, em particular, da antropologia da educação compreensiva, moderna e crítica, centrada no comparar e descobrir, capaz de reconhecer e considerar a experiência do indivíduo como sujeito coletivo que tem memória, tradição, histórias de vida, valores, sentimentos, emoções. Um ser concreto, objetivo e subjetivo ao mesmo tempo. Um ser de história e de singularidade. Um ser sociocultural. Com isso, histórias de vida e comparação se fazem recursos estratégicos do processo educativo, na medida em que ambos são inseparáveis no processo de construção e acesso ao saber – o saber de si e o saber do outro; o saber sobre um e outro. Nesse sentido, tanto para o individuo, como para o coletivo, a experiência vivida no processo de migração e de es-tudo “fora do lugar” será a matéria prima por excelência de constru-ção de uma consciência de si, daquilo que se é. Contudo, diz também, daquilo que se pratica como ação e como ofício decorrente da quali-ficação que permite operar a realidade no interior das sociedades de origem, para os que lá ficaram e, também, para aqueles que retornam após a experiência internacional.
Em jogo, necessidades postas em movimento por uma ordem social e econômica globalizada que empresta aos processos mi-
10 Projeto de Pesquisa: “Jovens Africanos, Projetos Nacionais e Educação: o caso dos PALOP e da CPLP no Brasil e em Portugal”.
24
AfRICAnOS nO BRASIl, HOjE: ImIGRAnTES, REfUGIADOS E ESTUDAnTES
gratórios uma face ainda pouco conhecida e pouco refletida na academia, no cotidiano e na política que envolve trocas científi-cas, sociais e políticas entre países e nações e que ordena pro-cessos de recomposição de elites e de redistribuição do poder.
Migrar e Estudar “Fora de Lugar”: construir um lugar próprio ou o próprio lugar
Os países integrantes dos chamados PALOP – Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa – em África: Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Les-te, compõem junto com o Brasil, a chamada CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Se a primeira sigla indica a per-tença a um tronco linguístico comum, decorrente da colonização portuguesa, a segunda sigla revela o pertencimento linguístico e agrega aos países componentes, a dimensão da cooperação técni-ca, econômica, política que tem por meta a formação comunitária e a aproximação transnacional desse bloco no rearranjo das for-ças globais. As experiências locais vividas pela população desses países e a inserção dos mesmos na divisão internacional do tra-balho, coloca em debate a circulação de bens e de pessoas num trânsito intenso e transcontinental. Neste sentido,
os atores políticos, econômicos e sociais de tais países articulam-se e influenciam-se mutuamente através das denominadas políticas de cooperação, além de políticas es-pecíficas para circulação de pessoas, bens culturais e mer-cadorias (Projeto CPLP, 2010)11.
A Circulação Internacional (CI) é parte das transformações da or-dem mundial, globalizada, contudo não é inteiramente dependente da existência dos acordos de cooperação internacional entre paí-
11 PROJETO CPLP - Projeto de Pesquisa: “Missões Exploratórias sobre Juventudes no con-texto transnacional dos países da CPLP: processos de identificação, expressões culturais e mediações”, apresentado ao CNPq, Edital 037/2010, coordenado pelo Prof. Dr. Frank Nilton Marcon e equipe.
25
neusa maria mendes de Gusmão
ses, seja da CPLP com países fora da África, seja, dentre os países membros do bloco hegemônico. Isto quer dizer, que na circulação de pessoas, nomeadamente dos PALOP, os processos de Circulação Internacional (CI) podem ou não estar atrelados a acordos bilate-rais de cooperação entre países, tal como propõe a CPLP. O que im-porta registrar nos processos de circulação de pessoas em África e fora da África, segundo Gusmão (2009) é que os/as andarilhos dessa nova era, são indivíduos sociais que partilham de diferentes coletivos e constroem muitos mapas “em que escapam ou em que se perdem” (Castro, 2001, p.27), mas que, de uma forma ou de ou-tra, dizem muito disso que é este início de século XXI.
Não por acaso, portanto, tais movimentos dizem respeito a pro-cessos relativos à configuração dos estados nacionais emergentes em África, seus projetos de desenvolvimento e suas propostas de conformação de uma realidade em transformação. Parte desses propósitos se realiza através dos segmentos mais jovens das po-pulações locais que buscam fora de seus países de origem, uma formação qualificada para integrar as realidades emergentes e em construção no interior do mundo africano. A migração de caráter internacional e a educação fazem-se centrais nesse contexto e, en-volve outras dimensões da vida social, cultural e política dos PA-LOP e da própria CPLP. A importância significativa de tais proces-sos é que os mesmos exigem compreender e interpretar aspectos ainda pouco conhecidos do fenômeno migratório com efeitos e conseqüências para os que migram e se fazem sujeitos presentes na “terra do outro”12. Exigem, também, colocar em tela o que se compreende como juventude, juventude africana e o que dela é esperado no interior dos projetos nacionais de desenvolvimento.
É preciso ter presente, como diz o Projeto CPLP (2010), que muitos dos estudos realizados em Portugal sobre juventude, en-volvem transversalmente estudos sobre imigração, expressões culturais, comportamento, processos de identificação e diferen-
12 O termo “terra do outro” é inspirado pelo trabalho de Gomes (2002).
26
AfRICAnOS nO BRASIl, HOjE: ImIGRAnTES, REfUGIADOS E ESTUDAnTES
ça, relações raciais e interétnicas, e políticas públicas. No Brasil, se por um lado o tema juventude pouco incide sobre análises e referências sobre imigração ou emigração, por outro lado, o enfoque sobre políticas públicas e as análises sobre expressões culturais e comportamentos estão em desenvolvimento e dire-ta ou indiretamente relacionadas a temas como educação, se-xualidade, relações raciais, emprego, estilos de vida, consumo e produção cultural. Em Angola, Cabo Verde e Guiné Bissau, os jovens são a imensa maioria e portam peculiaridades significa-tivas, mas são poucos os estudos a eles referentes, seja em seus contextos internos, seja em relação àqueles que migraram com a finalidade de estudar e um dia regressar para contribuir nos processos locais e nacionais de seus países de origem.
Por sua vez, estudantes africanos de língua portuguesa em sua diáspora temporária na “terra do outro”, neste caso, no Brasil, constroem diferentes redes sociais de apoio, que assumem di-ferentes configurações. Tais redes podem viabilizar os projetos individuais dos sujeitos migrantes e suas famílias; podem for-necer apoios fundamentais no interior das políticas locais na conformação dos mercados de trabalho e, depois nos países de origem, proporcionando ou não, o retorno de cérebros, sua fuga ou ainda, seu desperdício tal como se discute nos estudos relati-vos à globalização e circulação de cérebros (brain globalization e brain circulation). Trata-se de pensar a mobilidade interna-cional de jovens escolarizados ou em processo de qualificação para o mercado local e/ou global. Como afirmam diversos au-tores, tais fluxos migratórios para fins de estudos e qualificação exercem atrativos diversos sobre jovens de países pobres ou em desenvolvimento e, por essa razão, alguns Estados-nação optam por instrumentos de cooperação com outros países visando o retorno desses jovens à nação de origem e como meio de contor-nar a perda de cérebros e/ou sua fuga.
Por tudo isso, a migração para fins de estudo, através de proje-tos de cooperação internacional ou não, coloca em tela o papel
27
neusa maria mendes de Gusmão
social, cultural e político específico da experiência de jovens afri-canos em Portugal e no Brasil, que chegam com a expectativa de obter formação superior e qualificação; apontam para as múlti-plas dimensões que envolvem os estudantes “fora de lugar” no caso dos países de acolhimento, dado que estão distantes dos países de origem e, para enfrentar as adversidades decorrentes, organizam-se em redes de entre ajuda e cooperação. No entanto, as formas associativas oficiais ou não que resultam do estar fora de lugar, não são isentas de contradição e conflitos entre sujeitos, supostamente iguais porque africanos, porém, diversos em razão de origem nacional, étnica, cultural, social e política. Pressupõe--se, assim, que as relações estabelecidas são a um só tempo de proximidade e de distância, e, por sua vez, complementam-se ou se opõem no interior dos grupos ou para com outros grupos igualmente de origem africana. Quais os sentidos desses fatos na experiência particular de indivíduos e de grupos não é ainda uma realidade conhecida, como também não se conhece desse proces-so, a aprendizagem decorrente e se a mesma configura no jovem estudante, um novo sujeito político ou não. De que maneira, a vi-vência na terra do outro e no âmbito das diferentes redes influi na visão de mundo dos estudantes, quando ainda fora de seu lugar? E ao retornarem aos seus países de origem? Tais aspectos são ainda desconhecidos nos processos de deslocamentos entre a África, o Brasil e Portugal. Trata-se de realidade muito nova e que deman-da urgência em pesquisas que permitam conhecer tais processos em solo brasileiro, português e africano.
Nesse caminho, interessa perguntar o que há de comum entre es-tudantes desses países e como essa similaridade se expressa na vivência “fora de lugar”. Se há vínculos possíveis entre os projetos individuais de formação e mobilidade e os projetos nacionais de desenvolvimento, expressos nos acordos internacionais da CPLP. Para além da história política comum em termos da experiência colonial, da independência e da circulação migratória e de bens de consumo e expressões culturais, o foco que se busca compreender diz respeito à emergência de expressões culturais, movimentos
28
AfRICAnOS nO BRASIl, HOjE: ImIGRAnTES, REfUGIADOS E ESTUDAnTES
sociais e políticos marcadamente presentes entre os jovens, assim como a ingerência de políticas sociais internacionais nestes con-textos. Se possível, em duas realidades diversas: “fora de lugar”, ou seja, nos países de acolhimento – Brasil e Portugal – e no interior dos próprios países de origem, no caso desta proposta, particular-mente em Cabo Verde e na Guiné Bissau.
Importa aqui, compreender a capacidade de adaptação de indiví-duos e grupos de estudantes africanos diante de situações de mu-danças decorrentes da diáspora cultural para dimensionar o papel da formação superior na conformação das novas elites africanas, sua experiência, trajetórias e mentalidades em termos nacional e continental. Para tanto, será necessário detectar a conforma-ção de redes sociais ou de realidades em rede; verificar o uso de elementos nacionais, étnicos, raciais ou religiosos no interior das redes de estudantes africanos no Brasil, em Portugal e em África (Cabo Verde e Guiné Bissau), com a finalidade de compreender os sentidos e os significados dos mesmos nos processos de adapta-ção e definição identitaria entre jovens. Nesse contexto está em jogo o papel do capital cultural enquanto propulsor de atributos de mobilidade, reconhecimento e poder entre jovens africanos (Cabo Verde e Guiné Bissau) e as possibilidades para dimensionar o significado e o alcance dos deslocamentos internacionais com finalidade de estudos na conformação de suas identidades indivi-duais e coletivas, dentre essas, a identidade nacional.
Caminhos da Investigação
O objeto de estudo são as relações em rede que resultam da di-áspora africana vivida por estudantes dos PALOP no Brasil e em Portugal, numa primeira fase. Em uma segunda fase, o estudo incidirá sobre os efeitos da experiência diaspórica na vida de ex--estudantes quando do regresso a seus países de origem, por-tanto, em África, nomeadamente em Cabo Verde e Guiné Bissau.
29
neusa maria mendes de Gusmão
A problematização tem por foco a formação das redes de apoio institucionais ou não e seus efeitos na articulação de uma cole-tividade “fora de lugar”. Por que, quando e como ela acontece; se sua realidade é efêmera ou não; qual a possibilidade de no retorno aos locais de origem, dar vida a formas semelhantes e qual seria aí seu papel no tocante aos projetos locais e nacionais que embasam a configuração dos países africanos emergentes na nova divisão internacional do trabalho. Com isso, a partir de uma perspectiva antropológica, na primeira fase, a análise tem por meta a compreensão de novos ângulos da inserção social de estudantes e ex-estudantes no Brasil e em Portugal. Em uma se-gunda fase, a pesquisa se fará em solo nacional africano, mais pontualmente em Cabo Verde e Guiné Bissau. Em cada uma das fases busca-se compreender a relação entre indivíduo, grupo, fa-mília com a identidade coletiva e ou nacional, o papel das redes sociais estabelecidas no Brasil e no país de origem, bem como seus significados e alcances sociais e políticos.
Pretende-se responder as seguintes questões: qual a natureza organizacional das redes sociais e de apoio ao estudante afri-cano na diáspora? Os vínculos individuais e coletivos se fazem a partir de que critérios? Que elementos identificam os sujeitos que compõem uma dada rede? Como atuam as redes frente aos dilemas cotidianos de seus membros? A união e participação numa dada rede se fazem a partir do lazer, de troca social ou configura um espaço político? Pertencer a uma ou mais redes resulta num processo de reflexão, reavaliação e reestruturação de valores, condutas, práticas? Quais os discursos que se fazem presentes nesses espaços? Pertencer a uma rede envolve pro-cessos de proximidade e de distanciamento entre um “nós” e um “eles” de modo a demarcar identidades e possíveis pertenças?
Tais respostas exigem procedimentos de ordem qualitativa e quantitativa na recolha de dados, pois se pretende a construção de uma Base de Dados que permita o mapeamento e a configura-ção das redes de estudantes africanos existentes no Brasil e em
30
AfRICAnOS nO BRASIl, HOjE: ImIGRAnTES, REfUGIADOS E ESTUDAnTES
Portugal e, destes países com seus países de origem. Contudo, pela ausência de estudos desse tipo no Brasil, considera-se de suma importância um levantamento de estudos relativos à pre-sença de estudantes africanos, nomeadamente de língua portu-guesa em Portugal e dos estudos lá desenvolvidos com relação às redes por eles estabelecidas em solo português, posto que diversas gerações para aí migrem há mais tempo. Espera-se que tais estudos possam iluminar os caminhos a serem considera-dos em solo brasileiro pela presente proposta e instrumentali-zar a busca da compreensão sobre ser jovem e juventude africa-na de língua portuguesa formados na diáspora e conformadora de uma elite jovem nos destinos das nações de origem.
A possibilidade de aproximações e distâncias em função da reali-dade histórica de ambos os países e da experiência dos estudantes africanos no Brasil e em Portugal é, assim, um esforço sistemático de “estabelecer relações e criar contigüidades”, contudo, trata-se de um processo que exige estar atento para “pensar de que relações se tra-tam e o que as sustenta” (Koffes, 1994, p.63). Nesse sentido, trata-se de processo que envolve a interação sujeito/objeto e se realiza refle-xivamente à medida que “ao cruzar dados, comparar diferentes tipos de discurso, confrontar falas de diferentes sujeitos sobre a mesma realidade, constrói a tessitura do social em que todo valor, emoção ou atitude está inscrita” (Fonseca, 1999, p. 64). Assim, nesta proposta o esforço comparativo estabelece pontes entre fatos, amplia o univer-so de relações possíveis e, por meio da confrontação com dinâmicas análogas ao que se busca conhecer, procura por outras possibilida-des explicativas, para ir além do que está dado e visível.
A informação privilegiada dos próprios sujeitos deve ser consi-derada como de suma importância já que muitos estudantes, no caso brasileiro, foram entrevistados pela pesquisa desenvolvida em Campinas, em São Paulo e Porto Alegre13 conformando um
13 Refere-se à pesquisa anterior desenvolvida. Vide nota 7 acima.
31
neusa maria mendes de Gusmão
primeiro recurso de orientação para a atual proposta. Assim, a informação privilegiada do chamado boca a boca deverá operar também como facilitadora dos contatos com elementos-chaves no interior das diferentes redes. Tais sujeitos serão alvos de con-versas informais e de entrevistas abertas em busca de estabele-cer a natureza das realidades em rede, de seu fazer e das repre-sentações sobre seu sentido e razão de ser.
Entrevistas abertas com lideranças e análise documental se-rão fundamentais. Por sua vez, tais líderes serão entrevistados para recolha de narrativas biográficas (Koffes, 1994), por crité-rios a serem definidos em termos de dois conjuntos principais: alunos de graduação e alunos de pós-graduação, bolsistas ou não, e se possível, selecionados enquanto homens e mulheres. Tais narrativas objetivam, de um ponto de vista antropológico, evidenciar as redes sociais de pessoas que vivem a mobilida-de internacional. Além disso, busca-se apreender os limites e referências “em torno do que cada grupo partilha e acumula enquanto saber, memória, historia em comum, trajetos, per-cursos, recursos, perdas, conquistas – enfim, um conjunto de todas as referências, sentimentos, atos e fatos que compõem o senso de pertença” (Clemente, 2005, s.p.). A questão da per-tença como questão de identidade coloca e recoloca como fun-damental, pensar segmentos sociais em situação de migração mesmo que temporária. Nesse caso, torna-se necessário pen-sar que nas identidades individuais, étnica e cultural, estão im-pressas as representações do nacional e do continental, ou seja, o continente africano. Porém a forma pela qual as identidades se expressam envolvem ainda uma dimensão desconhecida do instrumental de campo, dado que podem ser expressas ou su-tis, em acordo com as tensões políticas que envolvem o sujeito “fora do lugar”. Contudo, vale lembrar, que dizem respeito ao que se passa nos lugares de origem, pelos vínculos que perma-necem, seja no estrito circulo do parentesco, seja por afiliações e comprometimentos partidários e outros.
32
AfRICAnOS nO BRASIl, HOjE: ImIGRAnTES, REfUGIADOS E ESTUDAnTES
A abordagem do tema a partir das redes criadas no contexto da diáspora vivida por estudantes africanos “fora de seu lugar”, na “terra do outro”, numa primeira fase, consiste, pois, na especifi-cidade do presente proposta. Em uma segunda fase pretende-se verificar se aqueles que retornam como quadros profissionais formados no exterior e, em particular, no Brasil e em Portugal, ao regressarem aos países de origem, constroem aí redes seme-lhantes ou não àquelas construídas e experênciadas no exterior e o significado disso no âmbito familiar, social e político. Pode-se assim, avaliar a assertiva do Ministério das Relações Exteriores (MRE) do Brasil14 que afirma a importância do intercâmbio de conhecimentos acadêmicos, técnicos, científicos e tecnológicos como prática de estreitamento de laços políticos e culturais en-tre as sociedades e Estados, bem como afirma ser a cooperação educacional que envolve o intercâmbio de estudantes funda-mental para os países em desenvolvimento.
Por tudo isso, o interesse com relação a Cabo Verde resulta de in-formações obtidas junto a estudantes dessa nacionalidade, bem como, de outros registros presentes em artigos, textos, monogra-fias realizadas por estudantes africanos no Brasil (Alves, 2005; Mourão, 2004; 2006; Pedro, 2000; Desidério, 2006; Subuhana, 2005) que colocam as questões aventadas acima como inerentes a um projeto de desenvolvimento da nação caboverdiana. Além disso, leva em conta os projetos individual e familiar de jovens caboverdianos em busca por mobilidade social e profissional. Uma informação significativa diz respeito ao fato dos caboverdia-nos antes de deixarem sua terra, não se verem a si mesmos como africanos e à Cabo Verde como África, fatos que se colocam na di-áspora. A questão também se apresenta para sujeitos da África continental, que não se vêem a si próprios como africanos, porém, tem no caso de Cabo Verde, um componente particular. O caso ca-boverdiano envolve um contexto histórico singular e diverso dos demais casos de estudantes oriundos de diversos países da Áfri-
14 www.itamaraty.gov.br/difusaocultural/pec, acessado em 15/10/2010.
33
neusa maria mendes de Gusmão
ca que será necessário considerar. Envolve a condição insular, a intensa miscigenação e a realidade de emigração que caracteriza Cabo Verde e que influência a sua formação como Estado-nação em constituição (Tolentino, 2006). A história comum partilhada entre Cabo Verde e Guiné-Bissau em tempos coloniais e na luta pela independência tornam a Guiné e os guineenses sujeitos po-tenciais de uma análise comparativa sobre construção de me-canismos possíveis de explicação capazes de compreender os efeitos de realidades culturais sobre aqueles que constroem uma trajetória fora do lugar e no campo do ensino superior.
Caboverdianos no Brasil e em Cabo Verde, Guineenses no Brasil e na Guiné Bissau, como também respectivamente em Portugal, cumprem assim, a possibilidade do entrecruzar de identidades individuais, de grupo, nacionais e continentais por excelência como de referências invertidas. Para dar conta desse desafio propõe-se como parte dos procedimentos de pesquisa, o uso das técnicas de observação participante; a realização de entrevistas; a coleta de narrativas biográficas; a elaboração permanente de um diário de campo. Não se deverá descuidar ainda do valor das conversas informais e do contato direto com os entrevistados, fundamental na pesquisa antropológica.
Em Portugal, nosso enfoque sobre as juventudes é aplicado mais especificamente aos contextos marcados pela presença imigratória de jovens oriundos de países da CPLP ou de des-cendentes. No Brasil, ele está atravessado por questões que en-volvem a presença africana e afrodescendente, tanto pelo viés das políticas públicas, mais precisamente pelas ações afirmati-vas, quanto pela ênfase nos estilos de vida e expressões cultu-rais, além da imigração/emigração para/de países da CPLP. Em Angola, Guiné-Bissau e Cabo Verde, o enfoque implica tanto os discursos das políticas públicas quanto as formas de expressão cultural, movimentos sociais e articulações políticas elabora-das entre os jovens desses países, além da imigração/emigra-ção para/de países da CPLP.
34
AfRICAnOS nO BRASIl, HOjE: ImIGRAnTES, REfUGIADOS E ESTUDAnTES
Assim, a presente pesquisa encontra-se em fase de estudos e tem por ancoragem a obra de Bourdieu (1987a; 1987b) no que se refere à questão do capital cultural e da mobilidade social, asso-ciada ao habitus. Contudo, “permanece a necessidade de visitar outras posturas teóricas que permitam abrir diferentes portas de acesso ao conhecimento do objeto” (Pais, 1999, s.p.). Concor-dando com Pais, tais aberturas se configuram como zonas privi-legiadas por sinais que, transformados em enigmas, propõem-se à decifração. Para tanto, a contribuição de autores diversos do campo da antropologia, da sociologia, devem conduzir o olhar do pesquisador a questionar, estranhando, as categorias postas de modo cristalizado pelo conhecimento já produzido com res-peito a realidades próprias do imigrante, do estrangeiro, do afri-cano e do negro. Em particular, por abordar a realidade no cam-po educacional, deve-se privilegiar a Antropologia da Educação, como instrumento valioso na abordagem e análise do universo aqui privilegiado. A postura que se pretende nesta investigação é de natureza dialógica e toma por base diversos autores; dife-rentes perspectivas e áreas de conhecimento.
Nesse sentido, a perspectiva de uma cultura rígida, fixa, não cabe como análise da realidade aqui proposta e, como tal, considera-se a cultura como processo aberto e de muitas pos-sibilidades. A cultura se apresenta assim, como meio de ava-liação das relações sociais entre indivíduos. Por esta razão, compreende-se que, os sujeitos aqui pesquisados – estudan-tes africanos – não se pautam por uma única identidade, uma única cultura e tradição. Compreende-se que o que são e ex-pressam, depende de relações históricas concretas, do passa-do e do presente, como também dependem das relações que constroem no cotidiano de suas vidas, no aqui e agora de sua existência e, de modo particular, no interior da universidade e do processo educativo. Assim, se faz possível conhecer os esquemas de pensamento e de trajetórias, como diz Garcia (2004), em que o que está em jogo é a formação de novas eli-tes africanas e a conformação de nações emergentes.
35
neusa maria mendes de Gusmão
Referências Bibliográficas
ALVES, Maria de Fátima C. Estudantes Cabo-Verdianos na Cidade do Rio de Ja-neiro: o processo de socialização e as redes sociais. Monografia, Uni-Rio, 2005.
ARRUTI, José Mauricio A. A emergência dos “remanescentes”: notas para o di-álogo entre indígenas e quilombolas. Mana, v.3 n.2 Rio de Janeiro out.1997.
BOURDIEU, Pierre. Pierre Bourdieu: sociologia. São Paulo: Perspectiva, 1987 a.
. A economia das trocas simbólicas. São Paulo:Ática, 1987 b.
CASTRO, Mary Garcia. (Coord.) Migrações Internacionais – Contribuições polí-ticas. CNPD – Comissão Nacional de População e Desenvolvimento. Brasília, agosto de 2001.
CLEMENTE, Claudelir C. Analisando territórios e laços sociais de pessoas que vivem em mobilidade internacional. Anais do IV Encontro Nacional sobre Mi-gração – ABEP. 2005 Disponível em: www.abep.org.br – acesso em 15/02/06.
DANTAS, Isabella L. Entre o Projeto de Vida e o Projeto Cultural: o Lugar do Estudante Angolano. (Dissertação de Mestrado) PUC/RJ: Rio de Janeiro, 2002.
DESIDÉRIO, Edilma. Migração e Políticas de Cooperação: Fluxos entre Brasil e África. (Dissertação de Mestrado). ENCE/IBGE: Rio de Janeiro. 2006.
GARCIA, Afrânio. O exílio político dos estudantes brasileiros e a criação das univer-sidades na África (1964-1985) In: Almeida, Ana M.F et all. Circulação Internacional e Formação Intelectual das Elites Brasileiras. Campinas;Editora UNICAMP, 2004 .
GOMES, José M.S. Estudantes na terra dos outros. A experiência dos universitários angolanos da Universidade Federal de Minas Gerais – Brasil, 2002. 172 p. Disser-tação de Mestrado. Faculdade de Educação, UFMG, Belo Horizonte, Minas Gerais.
GUSMÃO, Neusa M. M. de. Os Filhos da África em Portugal. Antropologia, multi-culturalidade e educação. Belo Horizonte:Autêntica, 2005.
GUSMÃO, Neusa M. M. de. Os Filhos da África em Portugal. Antropologia, multi-culturalidade e educação. Imprensa de Ciências Sociais, ICS, Lisboa:2004.
. Dossiê: Ensino Superior e circulação internacional de estudantes: os Palop no Brasil e em Portugal (Organização e Apresentação) - PRO-POSI-ÇÕES. Revista Quadrimestral da Faculdade de Educação – UNICAMP. V. 20, n.1 (58) – jan/abr.2009.
FONSECA, Claudia. Quando cada caso NÃO é um caso. Revista Brasileira de Edu-cação. N. 10, Jan-Fev-Mar-Abr, 1999, p. 58 - 78.
36
AfRICAnOS nO BRASIl, HOjE: ImIGRAnTES, REfUGIADOS E ESTUDAnTES
JOÃO, Dulce M. D. C. M. “O Mito Atlântico”: relatando experiências singulares de mobilidade dos estudantes africanos em Porto Alegre no jogo de reconstrução de suas identidades étnicas. (Dissertação de Mestrado) UFRGS: Porto Alegre, 2004.
KOFFES, Sueli. Experiências sociais, interpretações individuais: histórias de vida, suas possibilidades e limites. CADERNOS PAGU (3) 1994.
MOURÃO, Daniele E. Identidades em trânsito: um estudo sobre o cotidiano de estudantes guineenses e cabo-verdianos em Fortaleza. Monografia, Fortaleza – CE: Universidade Federal do Ceará, 2004. (Mimeo.).
. África “na pasajen”. Identidades e nacionalidades guineenses e cabo--verdianas. Dissertação de Mestrado. Fortaleza – CE – Universidade Federal do Ceará, 2006.
PAIS, José Machado. “Anotações de sala de aula”- Curso Sociologia do Cotidiano. FE/UNICAMP. Mimeo.
PEDRO, Verônica T. Identidades Traduzidas num Mundo Globalizado: os estu-dantes “africanos” em Florianópolis. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina, 2000.
SAINT MARTIN, Monique. Introdução. In: Almeida, Ana M.F et all. Circulação Internacional e Formação Intelectual das Elites Brasileiras. Campinas;Editora UNICAMP, 2004.
SAINT-MAURICE, Ana de. Identidades Reconstruídas – Cabo-verdianos em Por-tugal. Celta Editora, Oeiras, 1997.
SILVA, M. Ap. de M. Contribuições metodológicas para a análise das migrações. IN: DEMARTINI, Zeila de B. F.; TRUZZI, Oswaldo (orgs.) Estudos migratórios, perspectivas metodológicas. São Carlos:Edufscar, 2005 p. 53 - 86.
SUBUHANA, Carlos. Estudar no Brasil: imigração temporária de estudantes mo-çambicanos no Rio de Janeiro. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2005.
TELLES, V.da S. Favela, Favelas: interrogando mitos, dogmas e represen-tações. Revista brasileira de Ciências Sociais [online] 2006, vol.21, nº 62, p. 141 – 143. São Paulo, Oct. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/SOI02-69092006000300011 Acesso em: 18 de Nov. 2011.
TOLENTINO, André Corsino. Universidade e Transformação Social nos Peque-nos estados em desenvolvimento: o caso de cabo Verde. Doutorado em Ciências da Educação. Universidade de Lisboa, 2006.
Recebido em 01/10/2012Aprovado em 15/11/2012
Reversal of fortunes?: São Paulo youth redirect urban development
Derek Pardue1
AbstractThis article addresses the relationship between space and in-vestment in two forms of popular culture as part of an asses-sment of urban development in Brazil’s largest city, São Paulo. Through a selected braiding of ethnographic reflections, urban histories, and social theories of speculation, I argue that the you-th cultural practices of hip hop and “saraus” or open microphone talent shows have influenced the flows of investment and the so-cial geography of expressive culture in São Paulo. Consequently, the value of the marginalized periphery (“periferia”) has chan-ged and with it the overall conceptualization of São Paulo.Keywords: São Paulo, youth, popular culture, development, space
O Reverso da Fortuna?: a juventude paulistana redireciona o desenvolvimento urbano
ResumoEste artigo aborda a relação entre espaço e investimento em duas formas de cultura popular como parte de uma avaliação do desenvolvimento em São Paulo. O texto entrelaça reflexões etno-gráficas, histórias urbanas, e teorias sociais de espoliação para argumentar que as práticas culturais juvenis de hip hop e saraus têm influenciado os fluxos de investimento e a geografia social da cultura expressiva em São Paulo. Consequentemente, o valor da periferia mudou e com ele a ideia geral da grande cidade.Palavras-chaves: São Paulo, juventude, cultura popular, desen-volvimento, espaço
1 Professor de Antropologia Cultural e Estudos Internacionais na Washington University, em Saint Louis nos Estados Unidos. Seu livro, Brazilian Hip Hoppers Speak from the Mar-gins: We’s on Tape, foi publicado por Palgrave MacMillan Press (2a edição, 2011).
38
REVERSAl Of fORTUnES?: SÃO PAUlO YOUTH REDIRECT URBAn DEVElOPmEnT
In December of 2011 I embarked on what has become a tradi-tional journey for me, a trip out to the little neighborhood called Jardim Bandeirantes located on a small jagged peninsula as part of the Billing Reservoir on the south east side of the mega-city São Paulo, Brazil. Named after the group of swashbuckling mercena-ries, Euro-Indigenous creoles (caboclos) and Portuguese militia, who, starting in the sixteenth century, launched a campaign to “ci-vilize” the interior backlands of this huge territory called Brazil, the Bandeirantes “Gardens” upholds its namesake as a conquest. Yet, this place exists not in the name of Christianity and the crown but as a campaign of simple homesteading. Constructed in a wa-tershed area, Jardim Bandeirantes is a precarious and improvised settlement, one of thousands of illegal housing projects that make up the majority, i.e., the periphery of urban Brazil.
JB is also the home of my longtime consultant and veteran hip hop DJ Erry-G. We met at the neighborhood butcher, bought the fixings for lunch and began to settle in with the rhythm of street movement on a lazy, hot Sunday morning. Over the past deca-de our visits have occurred during periods of boom and bust as part of the rollercoaster ride of the rap music industry and the hip hop cultural circuit. On this particular day Erry-G was ex-cited to talk about investments, both his personal purchases of DJ equipment, used laptops, Ortofon record turntable needles, and Serato Scratch software, as well as a recent spike in activity among what Erry-G called “alternative companies.” Erry-G has invested virtually all his money, reputation and identity into hip hop. What is new is a sense of return, a surprising crest of spe-culation from the “system.”
Over rice, beans and roasted chicken Erry-G reminded me of all the NGO work he had done. He recounted his years at Ação Edu-cativa (“Educational Action”), an NGO located in the old center of São Paulo with a respected profile of outreach to peripheral neighborhoods and popular culture under the rubric of alterna-tive education. We recalled the many workshops, concerts, and
39
Derek Pardue
debates he had helped organize from 2004 to 2009. He had ge-nerously included me in a couple of those debates. Good times. Erry-G paused and helped himself to another Fanta orange cola. “Yeah, that was a good experience…and it’s not Ação Educativa’s fault really but we all had to go there. We had to once again or-ganize people to make the trek from their hood (quebrada) to get to downtown and all that. We had been through all this be-fore when the hip hop posses first started in the early 90s [to be discussed in detail later in article text]. You know this. Then we brought the posses back to our neighborhoods, our side of the world. On the level of big organization of events and ongoing in-vestment we needed a new circuit (circuito). This is why I am ex-cited today. I feel things are turning around on a different level. Let me tell you about Catraca Livre (“Free Turnstile”) and Su-burbano Convicto (“Proud Suburbia”). After lunch we can check their sites. I think we’ll find a plug for my upcoming event “From Percussion to Turntables” (Dos Tambores aos Toca-Discos).”
I had heard of these organizations before. The former is a pro-ject spearheaded in 2009 by internationally renowned educator and journalist Gilberto Dimenstein in the spirit of technologi-cal and cultural inclusion with the goal of creating a “web” or a “circuit” of information about cultural events in the São Paulo metro area2. The latter is a logo connected to bookstores, blo-gs, and underground film. “Proud Suburbia” is one “alternative company” connected to the “marginal literature” movement to be discussed in more detail below. As we chatted I finally un-derstood Erry-G’s emboldened spirit. The difference between these cultural enterprises and the hip hop posses, NGOs and cultural organizations of the past is that they were not simply about periphery life or located in the periphery but also creating new trajectories of particularly youth consumption of São Paulo culture. The peripheral circuits of open mic (sarau) on the south
2 For more on state initiatives by the Brazilian State to promote popular culture as a “web” see Pardue 2012.
40
REVERSAl Of fORTUnES?: SÃO PAUlO YOUTH REDIRECT URBAn DEVElOPmEnT
side have become an option along with the traditional bourgeois cultural circuits of Pinheiros, Vila Madalena and Vila Olímpia. Satisfied from our midday feast, Erry-G ended lunch with a sum-mary: “this is a new development. Hip hop may finally become evolved enough to really maintain itself as an industry without losing the roots of the periphery.” Erry-G’s final remarks were persuasive and provoked me to consider the role of space in the articulation and marketing of culture in the urban setting.
This article is an investigation into development from the stan-dpoint of the margin. I focus less on the alternative companies mentioned above and more on the dynamics of space and agency in the emergence of new urban development. “Development” is a contested site in the mega-city of São Paulo where youth groups, who are engaged in popular cultural forms, such as hip hop and saraus or organized open microphone gatherings, have created a reevaluation of the city. This reevaluation has influenced cer-tain practices of speculation as not only an economic risk ven-ture but also a socio-spatial orientation. Ultimately, “pop specu-lation” is a perspective that puts the margin or periphery in the center of São Paulo and has affected a heterogeneous group of residents’ sense of self and their attachment to place.
Introducing Development
“Development,” of course, is a loaded term. Part of the polemic stems from the fact that “development” shares a great deal with “culture,” in that both words are utilized to describe (empirical project or policy) and judge (notions of collective value). “Deve-lopment” has had an intimate relationship with keywords of glo-bal reach such as “civilization” and “progress.” It is assumed that “development” is a form of socio-economic “order” guided by universal reason and a rationality of efficiency and production. Indeed, Brazilian leaders in the late 19th century applied such a paradigm of thought as they engineered the transition from
41
Derek Pardue
Brazil as a monarchy to a republic. To this end, they designed a new flag to make the relationship explicit: “Order and Progress” (Ordem e Progresso).
Development takes on different contours when located in cities and rural areas. In the case of Brazil, historians, such as Brodwyn Fischer (2008), Nicolau Sevcenko (2003), and Teresa Meade (1997), have demonstrated that “development,” as the undergir-ding principle behind the urban renewal of early twentieth cen-tury Rio de Janeiro, the national capital during most of the colo-nial period and post-independence up until 1960, was a violent process of displacement and disenfranchisement in the name of “culture” vis-à-vis European ideals of the modern city. Fur-thermore, similar to other places in the world, “development” has meant large-scale rural projects of corporate agro-business. And, similar to many places, development in the backlands, in the case of Brazil most visibly throughout the Amazon, has me-ant massacres and impunity. The recent, high-profile murders of Zé Claúdio and Maria do Espírito in 2011 as well as Sister Doro-thy in 2005 speak to the dark side of development and, by exten-sion, capitalism (Milanez 2011; Polastri and Rampazzo 2008).
“Development” as disenfranchisement, as displacement, as di-singenuous law, constitutes one legacy, which contributes to the challenge of citizenship, a “poverty of rights” as Fischer descri-bes, for the majority of Brazil’s population today. Development is thus a semiotic circuitry, whose directional vectors are not simply conduits of people and capital but ultimately power and definitions of, in this case, the city. In these brief comments about urban and rural Brazil, we see that development is about a shaping of material and idea, i.e., a design of society.
For their part, anthropologists have offered an alternative inter-pretation of “development,” i.e., a paradigm with which poor, working class groups have created bricolage economies using symbols of locality and globalization as well as tradition and
42
REVERSAl Of fORTUnES?: SÃO PAUlO YOUTH REDIRECT URBAn DEVElOPmEnT
modernity as potential assets in small scale venture capitalism. Increasingly spectacular, such projects have resulted from wa-ves of austerity or structural adjustment programs applied by international loan agencies in, for example, post-independence Africa and post-dictatorial Latin America. To a certain degree São Paulo hip hop and contemporary saraus are part of what the Comaroffs called a time of “occult economies” (Comaroff and Co-maroff 1998) in that the value of hip hop and sarau participation / consumption signals a faith in a brighter future. Beyond a di-minished music recording industry and a finicky clothing indus-try, hip hop sells experience of membership, a belief in the self through attitude and a commitment to the collective. While the-re are no suspicious confidence games per se, such as the alter-native economies surrounding the visa lotteries in Lomé, Togo, as described by Piot (see also Ferguson 2006; Mains 2012), hip hop and sarau economies are relatively empty of substance or service in the conventional sense.
Speculation as a Spatial Negotiation
Hip hop’s efficacy in selling identity is based on an “underlying asset,” following Louis Bachelier, the early 20th century French mathematician and his theories of speculation. The external or irrational or social aspect of price, i.e., the “underlying asset,” be-comes a determining factor in value and helps shape the nebu-lous field of “derivative securities” (Davis and Etheridge 2006). In the case of hip hop, participants have created an underlying asset out of the conventionally appraised wastelands of the ur-ban periphery, thereby changing certain speculation practices in relation to the overall value structure of the city.
Generally speaking, speculation is a practice of risk investment with little attention to infrastructure, history, or roots. Rather, it is an explicable moment of risk, a creative anxiety motivated by profit. Tirole defines it as a “forecasting” practice, based on the
43
Derek Pardue
etymological root of “speculation” as a power of sight, that be-came increasingly important as financial markets became more “open” and less “complete.” That is to say, commodity markets and stock trading, similar to employment and labor more gene-rally, are “open” to repeated evaluation of potential returns as judgmental scrutiny focuses on “endogenous” or internal varia-bles rather than solely macro-level factors of production, con-sumption and distribution (Tirole 1985).
Historically, anthropologists have approached questions of spe-culation through a discussion of finance institutions as socio-po-litical and moral entities. Ultimately, these analyses have been interpretive exercises in the deconstruction of, for example, the activity of Wall Street investors and the ideology of capitalism as an evolutionary march towards greater production. A corollary to this view, which is most apropos to the notion of speculation, is that increased production and wealth accumulation perio-dically depend on “hedging” or a risk event that presents itself as part of the market itself. Addressing such issues, Karen Ho (2012) argues that contemporary speculation practices are de-cidedly myopic and actually curtail production by creating new risks and disassociating wealth from infrastructure investment.
Indeed, the literature in applied economics as well as the gene-ral use of the term warns us that “speculation” is a potentially skewing force that can lead to misplaced credit and underdeve-lopment of “real sector economic growth” (Grabel 1995; Murell 2002). Such warnings along with more descriptive analyses of speculation practices imply a sort of deviancy in speculation. As Tirole stated, “in this view, speculators are traders who bet on the opposite sides of the market because of their intrinsically divergent views of the world” (Tirole, 1985, p. 3).
In other words, speculation is marginal, a bet on the other side. With regard to the city, speculation requires an imagination of value on a moving target, an assumption about land values, futu-
44
REVERSAl Of fORTUnES?: SÃO PAUlO YOUTH REDIRECT URBAn DEVElOPmEnT
re trends in commodities, and exchange rates in labor and infor-mation. Is it possible that hip hoppers such as Erry-G from the introductory vignette could become speculators or at least exert influence on the process of speculation in the reassessment of São Paulo’s economic geography? My use of “speculation” is me-taphorical and not technical.
Development and The City
In São Paulo and the rest of Latin America such an intervention into the reckoning of development and speculation requires a change in the attributes of the “periphery” (periferia) accom-panied by a change in flows of publics as residents traverse the city. This article focuses on the city because the conjuncture of material and ideology in the process of development is most visible as urbanization. Urban development is both a public de-bate and a public forum.
The vibrant work of Brazilian scholars and public intellectuals, such as Nabil Bonduki (2011), Raquel Rolnik (1997) and Nico-lau Sevcenko (1993), has been instrumental in tracing the ma-rketing and real estate carrousel that constitutes urban develo-pment in São Paulo, without losing the strand of “utopianism” (Bonduki 2011), which is essential to urbanism. What these and other urban studies scholars and practitioners have pinpoin-ted is the tension between the belief in the city and the right to the city. Rolnik and Sevcenko provide persuasive accounts of the financial connotations of belief and the rewards of risk in São Paulo during the late nineteenth and early twentieth cen-tury. The speculation of coffee barons on the global commerce market translated into a burgeoning real estate market as Bra-zilians began to believe in São Paulo as an engine of a new, “mo-dern” Brazil. Similar to so many cities, São Paulo grew concretely according to the whims of commodity markets in a combination of industrial and real estate investment projects.
45
Derek Pardue
Whether such development is a case of “sprawl,” a series of unwanted land-use plans that lead to inefficiency and incohe-rence in the mechanics of urbanization and the sentiment of ur-banism, is often difficult to measure (Ewing 1994). Be that as it may, the judgmental connotations of “sprawl” as it is with “deve-lopment” necessarily intertwine with the discourses of “belief” and “rights” embedded in the beacon of modernity that is the city. In the case of São Paulo, the uneven, unwieldy city yawned toward the sky and hopscotched eastward from the “ground zero” of the Sé Cathedral through the neighborhoods of Brás to Mooca to Penha to Itaquera and later southward from Liberdade to Brooklin to Santo Amaro as municipal administrations sur-veyed myopically the relationship between industry and resi-dence, transportation and sanitation, cultural monuments and educational infrastructure, respectively. The twentieth century was dominated by exclusionary commercial and residential de-velopment in the city center and improvisational housing deve-lopment in the periphery (Holston 1991; Pardue 2010).
According to Bonduki (see also Fernandes 2007), the City Statu-te (Estatuto da Cidade) in 2001 and subsequent Strategic Plan of the Municipality of São Paulo, approved in 2002, were intended to reiterate modernist principles of social democracy, public invest-ment and participatory planning. With its basis in the new federal constitution of 1988, the CS called for a return to conceiving of São Paulo in terms of the “social function of property” and the “ri-ght to live” (direito a habitação). These were high water marks of a progressive city mayor (Marta Suplicy of the Labor Party) and a gradual but general political turn to the left in Brazil.
The objectives of the CS only come into focus from a perspective of those whose belief in the city involves an attitude of self-confi-dence. Pop speculation is not simply a psychological or ideological challenge but also a spatial achievement. In the following I use the term “information,” as articulated by local hip hoppers, to bring my claims about pop speculation into relief with empirical evidence.
46
REVERSAl Of fORTUnES?: SÃO PAUlO YOUTH REDIRECT URBAn DEVElOPmEnT
Information as a Spatial Endeavor
As mentioned in the introduction, hip hoppers and sarau or-ganizers invest in and propagate their worth often in terms of “information.” Similarly, finance analysts have linked the act of speculation to an individual or firm’s “belief that it has information” (Géczy, Minton and Schrand 2007). For anthro-pologist Piot the informal economy surrounding the visa lot-tery in Togo is more than marginal capitalist ingenuity, it is a product of a “conjuncture…of informationalism and its new technologies to produce a generative fantasy about exile and citizenship and global membership” (2010, p. 94). In the case of São Paulo hip hop, “information” and “idea exchange” are practices that involve imaginative exile in terms of data gathe-ring expeditions but always with an eye on the local label of perifa, quebrada, and other colloquialisms for the periphery ways of life. Hip hop information is a method of “insurgent citizenship” (Holston 2008) under a belief that information is a means toward general recognition.
As mentioned above, until recently, São Paulo developed in a center-periphery model with the periphery as a massive se-ries of bedroom communities, an abject depository of working classes, most of whom had migrated from the country’s Nor-theast as Brazil’s centers of production shifted from the old, plantation-centered economies to the industrial poles of the Southeast (São Paulo, Rio and Belo Horizonte), and the inte-rior of the states of São Paulo and Minas after the decline of the coffee market. The value of the periphery was measured in its steady pool of labor for downtown development as well as a steady object for punditry on evil city ways, i.e., vices, crime, violence, illiteracy (Caldeira 2000). Such sentiments come through in stock phrases referring to periphery dwel-lers as gente sem cultura (people without culture) and gente que atrapalha o Brasil ser um pais desenvolvido (people who keep Brazil from becoming developed).
47
Derek Pardue
Whereas in Rio by the 1960s there was a growing recognition of at least a poetic value in the favelas and the morro (hillside slum) through samba music, São Paulo’s periphery had nothing. Over time the Rio favela/morro has come to signify a range of concepts from the birthplace of Brazil’s national music to child soldiers to breath-taking vistas in massive improvised housing developments, all of which have become commodities for invest-ment in the industries of music recording, cinema, and tourism to name a few. It is a pop speculation that draws locally and glo-bally and, for better or worse, contributes to the development of Rio, a development from below.
The semiotics of periphery in São Paulo have been a bit more chal-lenging. Hip hop did not seem like a good bet a generation ago to create local meaning and redirect the vectors of development, as defined above. I arrived in Brazil at a moment when hip hop in all of its “elements” (rap, DJ, graffiti and street dance) was consi-dered yankee mimicry. The mindset was that it would never be considered “Brazilian” and ultimately hip hop would be limited to a passing “fad” of rebellious marginal youth. Eager to make their case, hip hoppers impressed upon me that they knew what they were talking about. Whether it was about James Brown, Crazy Legs, Grandmaster Flash, Fela Kuti, Ghanian griots, or Brazilian soul star Tim Maia they were “informed.” DJ Marquinhos told me: “Hip hop is evolving; it is developing. What is key is information.” In retrospect, I realized that many of my early conversations with hip hoppers were not just about “knowledge” in an abstract sense, but knowledge in a processual, embodied, traveling way. In other words, knowledge was conceived of as a circuit. Information was and continues to be, despite the incorporation of social media into daily life, a socio-geographical practice.
The example of Mister Bronx is instructive of a perspective that defines information as necessarily located in space and depen-dent on social agency. Rapper, fanzine producer, blogger and ve-teran activist, Bronx grew up and continues to live in the neigh-
48
REVERSAl Of fORTUnES?: SÃO PAUlO YOUTH REDIRECT URBAn DEVElOPmEnT
borhood Parque Santa Madalena on the east side of São Paulo, near the border with Santo André, an adjacent municipality. We first met each other in 1996 during a Yoruba language class held in the old Canhema cultural center in the municipality of Diade-ma, a space that is currently known as the Hip Hop Culture Hou-se (Casa de Cultura Hip Hop) to be discussed in detail below. We met again in 2007 at a hip hop event on the east side sponsored by CEDECA (Center of Defense for Children and Adolescents). We began to chat about a typical subject among hip hoppers, life as hectic or correria (literally the rush-rush), when Bronx began to reflect: “to be an informed guy, I had to get a better sense of place.” Bronx continued:
To be a hip hopper is all about information. The hecticness took me to a lot of new places and people. In this mad sear-ch, I ended up constructing a larger image of the city and a larger image of myself. I went on producing more and more stuff, fanzines, drawings, scraps, T-shirts, logos, all that kind of stuff to exchange with my people. I was really into it, just like everyone else in hip hop…Sometimes, we took over a place in downtown or in a city park somewhere…you know, you get really focused on what you’re doing and how you’re showing yourself in public. Of course, sometimes there are differences of opinion…I remember one time an elderly wo-man on the bus asked me what I was going to do with all this paper, these scraps [my fanzine at the time]. She tried to cla-rify…that I looked different, because I obviously was not a beggar or street person collecting paper. I think she initially took me for an office boy, a young black man, a typical role, no? someone a bit out of place...I told her that these papers were my magazine. ‘Would you like a copy for the bus trip?’
The fanzine, a popular medium of communication in the 1980s and 90s among hip hoppers, is an intentionally homemade pro-duct. Filled with various typographies ranging from the courier of newspaper to baroque cursive and gothic block lettering, photo-copied at the corner stand in the center of Bronx’s neighborhood, stapled, often in a seemingly random pattern, the fanzine is a curious kind of material culture. Its making and reproduction is a
49
Derek Pardue
farce of industrial capitalism because its aesthetic of a home made collage fragments the category of “magazine” and is a satire of for-mal art in terms of the ideal of modernist individualism.
Categories, whether material or social, emerge through standar-dization and reproduction. Discourse and the institution operate in a parallel fashion to define types of “office boy,” “delinquent,” as well as “Greco-Roman façade” and “magazine.” The meaning of things is always a result of social relationships, which tend to reproduce the structural hegemony at a particular historical moment. The “margin” is not epiphenomenal to this process; ra-ther, it is essential in the semiotic construction of precisely those things of categorical distinction.
At the moment of perception, the person, in this case the elder-ly woman on the bus, is in doubt. She does not recognize exac-tly the pile of paper in Bronx’s lap. The presence of the fanzine created and continues to create, when it appears anachronisti-cally, an opportunity of marginality in the terms of agency and intervention proposed in this article. As described above, Mis-ter Bronx rises to the occasion when he articulates his stack of paper in a space seemingly out of place, out of pattern. Yet, his magazine practice was squarely within the parameters of São Paulo hip hop at the time. The paper pile, which conventionally represented trash or the manual labor of informal economies, gained another connotation in the occupation of a “center” or downtown space by the margin via the expression of a “margi-nal” Brazilian. The case of Mister Bronx demonstrates how the materiality of the margin (paper scraps, marginal youth from periphery) can, at times, actively (re)define the object (paper scraps), public transportation tangentially, and a place regularly classified as “center” and create new conventions.
On the surface, “information” appears to be a conventional subs-tantive, a solid noun composed of reports, data and facts. This is certainly true and hip hoppers emphasize that “information”
50
REVERSAl Of fORTUnES?: SÃO PAUlO YOUTH REDIRECT URBAn DEVElOPmEnT
is essential to knowledge and ultimately power. However, they also use the term as an activity to display their ability to “ex-change ideas” (trocar uma idéia). Of course, we all are like this to some degree – i.e. we are what we know. However, in the case of the millions of shantytown residents around urban Brazil, iden-tity is seemingly always represented as a lack of or tardiness in access to modernity and citizenship. If not expressed in terms of paucity, periferia identity normally signifies a set of negative attributes. As targets of daily prejudice within a social system deeply saturated in practices of racism, sexism, classism, and re-gional-based markers of status, periferia residents accumulate countless moments of dehumanizing experiences. As Brazilian sociologist Luiz Eduardo Soares (2002) has cogently argued, there is a “social invisibility” that shrouds Brazilian cities.
Identity formation and social organization have geographical implications in the form of new, recognized institutions and al-ternative flows of cultural consumption and people seeking out “information.” Historically, hip hoppers became “socially visible” by organizing themselves in groups called posses and invest time in developing consciência. Hip hoppers explicitly associate “cons-ciousness” to identity formation. In his description of the foun-dation of Posse Hausa, a hip hop organization located in the São Paulo industrial periphery city of São Bernardo do Campo, Nino Brown states: “the intention was to bring together more people, give support to the graffiti artists, the breakers, the rappers, all of whom could go there whenever and be able to say that they were from the Posse Hausa; they would have an identity.”
The formation of posses, a grassroots style of hip hop organi-zation, was fundamental for the establishment and longevity of Brazilian hip hop. In addition to providing support systems and networks for interested hip hop participants, posses were nego-tiating bodies, whose members lobbied for municipal and NGO aid. With city government agencies as problematic but functio-nal assets, hip hoppers most often negotiated for space in the
51
Derek Pardue
form of a building to hold regular meetings, a neighborhood park to hold performance events, or wall space to create a public graffiti mural and provide “community education.”
During most of the 1980s, hip hop claimed one space— metro station São Bento. At first, network expansion stayed close to the city center. Remaining in the old downtown area of Consolação near a strip of whore houses overlooking a historic Catholic ca-thedral, hip hoppers, now interested in integrating B-boy dance with rap and DJ performance, organized in the Roosevelt Plaza. The disseminating process of hip hop “information” rapidly in-creased, and the tone became more political and social and less oriented toward leisure. Hip hoppers often refer to this moment as the real beginning of hip hop as a “movement.” By 1990 hip hoppers moved posse organizations to the periferia / periphery. Some important examples include Street Concepts (Conceitos de Rua) in Capão Redondo on the south side São Paulo and Black Alliance (Aliança Negra) and Active Force (Força Ativa) in Cida-de Tiradentes on the east side São Paulo.
As we have seen, “information” is not solely an individual act of fa-miliarization and recognition, but also a social engagement. Over time, the push for information helped justify the establishment of hip hop places as part of the physical cityscape of São Paulo. This is the case of the Hip Hop House known colloquially as the “Casa.”
The Casa
When I arrived at the Cultural Center in Canhema, a neigh-borhood in the industrial satellite city of Diadema, in July of 1999 at the request of Nino Brown, there was something different and exciting going on. Local rappers, DJs, B-boys, B-girls, graffiti ar-tists, and historians had joined forces with neighborhood poli-ticians and journalists to persuade the Diadema Department of Culture to cede the government-run cultural center to an elec-
52
REVERSAl Of fORTUnES?: SÃO PAUlO YOUTH REDIRECT URBAn DEVElOPmEnT
ted committee’s management. Since then, the Canhema Cultural Center became the Hip Hop House (A Casa do Hip Hop).
The Casa quickly emerged as not only a meeting place in Diade-ma but also, more importantly in the long run, an institution of hip hop for youth to practice the “four elements” of hip hop and develop social networks. Every month the Casa holds an event called Hip Hop Em Açao (Hip Hop in Action), which features groups from the ongoing workshops, local “professional” artists representing all four elements, and a headlining rapper and DJ. By 2003, virtually all well-known rappers from the São Paulo area as well as many famous rappers and DJs from Rio, Brasí-lia, Campinas, and Porto Alegre, had performed at the Casa. Ac-cording to long-time DJ professor Erry-G and graffiti workshop instructor Tota, the “Hip Hop in Action” events serve to not only make the Casa more publicly visible but also “are learning expe-riences for everyone involved.” Erry-G goes on to explain:
We learn how to organize and publicize hip hop events. Perhaps most importantly, though, are the experiences of the local kids who wander in to the Casa and the kids who are just beginning in the workshops. Why? The “Hip Hop in Action” days are positive; the kids here in the neighborhood hear the music, see the dancing, the spray art, and then they see kids who look like them, some of whom they may recognize from around the way, and they see them doing something. They are up there next to Mano Brown, Rappin’ Hood, Thaíde, DJ Hum, all the hip hop idols. They get interested. They come back. They sign up (for free) for the workshops and they get turned on to the history, the fun, the art, the idea of saying something, the power of expression, and they become more positive about themselves and where they come from. Sometimes they make new friends and that’s also important. The beginners from the workshops learn what it means to perform… For many, just to get up on that stage is an achievement.
Simara was a local, round-the-way girl, who, in our conversa-tions, remembered getting excited about going to the Casa and taking classes. Even though she stressed the importance of hip
53
Derek Pardue
hop as something that had “always struck a chord in her,” her stories and recollections quickly moved away from the indivi-dual and focused on the collective imaginary. She expressed that the Casa is a place of articulation, a place where
youth receive information about their history, what it is to be a real citizen, and information about what’s out there in the world. Because the Casa professors always try to work in “theory” (teoria), youth learn not just skills but also they get an education about language, history, time and rhythm, mathematics and division, and something about other pla-ces in the world—the path of hip hop.
Indeed, the “paths of hip hop,” as exemplified in the dynamics of the Hip Hop House, provide a social cartography of alternative “development” in São Paulo in the 21st century. As Simara implied, the significance and value of the Casa is not simply an individual project of identity formation but a new implementation of land-marks. The Casa becomes part of a global hip hop circuit linked by a path of imagination and idea exchange. For motivated youth like Erry-G and others, the success of the Casa means that life in the periphery is not simply a rat race to try to find a way into the markets afar in conventional zones of commerce and education but there are legitimate institutions “here” in “our” space.
Saraus and the Flows of Cultural Investment
The idea of directionality as it relates to development and value is even more pronounced in the example of saraus. To convey the sentiment of these open microphone events I draw from Ferréz, a leading writer within the Brazilian “marginal literature” move-ment. He wrote “A girl in the capital of loneliness” as a preface to Érica Nascimento’s published dissertation on the movement.
She got tired of hearing: ‘you are so smart, why don’t you go work in a bank? Or ‘you speak so well, why not get a job in the mall?...[Ferrez addresses the reader directly] Read
54
REVERSAl Of fORTUnES?: SÃO PAUlO YOUTH REDIRECT URBAn DEVElOPmEnT
this study by the girl, who in the capital of loneliness did not embrace the literature slurped from Europe…she saw in her peers a path, she saw in marginal literature created in the ghetto something more than speech, [she saw] life and much respect (Ferrez in Nascimento, 2009, p. 14-15).3
Saraus are a type of open mic event. Until recently, the sarau was considered either an elite, bourgeoisie past-time or a small, get--together in an intimate setting. Hardly a public event of interest beyond the few friends and family members of those involved, the sarau has changed significantly in purview and subsequen-tly has altered the cultural map of São Paulo.
Over the past decade the sarau has become a regular event in various periphery locales and draws hundreds of people in at-tendance. The spaces are neither the swank performing halls of Citibank Hall nor the anonymous warehouse spaces in the in-dustrial wasteland of São Paulo that change their name every night based on the music/art event. Rather, saraus are held in neighborhood bars, places that are commonplace landmarks to the relatively small group of residents who frequent the joints. For anyone from the periphery they are completely familiar, a quotidian mark of periphery life.
The element of periphery and margin has shaped the very es-sence of the contemporary sarau. In a workshop held in 2010 for popular educators and cultural performers, Sérgio Vaz, a leader in the sarau movement, described his purpose as one of “ora-lity” (oralidade). “I grew up with nothing on the south side of São Paulo, a migrant from the northern region of Minas Gerais [a neighboring state to São Paulo state]. I always loved books but I realized that books are nothing without someone using them. It’s about use. It’s about participation. Ultimately, my notion of sarau is that it is for who doesn’t exist, not for those who exist.” Vaz’s motto, é pra quem não é, não pra quem é, is an assertion
3 Translation by author.
55
Derek Pardue
of agency for the condition Soares, cited above, termed “socially invisibility.” In a follow-up interview after the talk, Vaz explained to me that sarau is part of the movement sem palco, a movement of those without a stage. “The general idea of the artist is to leave the perifa and go find the stage. I’m against that.” For Brazilians, “sem palco” is an obvious association of the saraus to the popu-lar movements of the landless (Movimento Sem Terra) and ho-meless (Movimento Sem Teto) throughout Brazil, both of whom have been instrumental in questioning the productivity of rural and urban development, respectively.
Saraus vary in terms of artistic form. While the original organi-zers, all of whom are from the respective neighborhoods whe-re the saraus take place, orient the events towards poetry and spoken word performance, their saraus over time have accrued different styles and genres of expressive art. Some attract more musical participants, particularly traditional samba circles or samba de roda, while some are marked as more open to stre-et theater. Prominent organizers such as Sérgio Vaz and Binho, while rivals in promoting their particular venues, work together to schedule their saraus on different days thereby making it pos-sible for the aficionado and performer to participate in saraus throughout the periphery virtually every night.
What is striking about the sarau beyond the sheer numbers are the cross-sections of people involved. There are basically three types of sarau participants. It is important to note that due to the nature of the event and spatial layout of the bar, the line betwe-en performer and audience is ambiguous. While there are strict policies about respect, one finds a curious flow between specta-tor and performer, between sitting and acting, and between the gallery and the stage.
In this typology I highlight geography. Many of the sarau par-ticipants are the same folks who would be there on any other night. They frequent the bar regularly and are often excited that
56
REVERSAl Of fORTUnES?: SÃO PAUlO YOUTH REDIRECT URBAn DEVElOPmEnT
a show is going on and that they can spit a rhyme or perform a tune or a scene to an audience beyond their extended family and friends. Another group are those that dedicate themselves to performance art. They are usually not from the particular nei-ghborhood although many of them are from the periphery of São Paulo and share a general class position as those of the former group. Their identity is performance and they use the saraus to work on a craft. Performers such as Zinho Trindade, the great--grandson of the famous Afro-Brazilian poet Solano Trindade (1908-1974), fit this group.
I met Zinho in 2010 through his collaboration on projects with DJ Erry-G, the veteran DJ featured in the introduction of this article. We met several times, always in different circumstances - a folklo-re performance at a crafts fair, a downtown recording studio, the “Casa,” Erry-G’s improvised house precariously situated on a slo-pe above one of the massive reservoirs on the south side of São Paulo, and, of course, at the saraus themselves. Zinho prides hi-mself on being someone who is able to adapt to his surroundings and insert a bit of his style into whatever is around him.
I am a chameleon in a sense but I never lose myself. I am proud of being part of the Trindade family and the Afro--Brazilian traditions of song and poetry we are part of. What is amazing about the saraus is that there is incredible idea exchange but also a chance to shine with your particular style. Before people would have to be tuned in to the revo-lutionary side of Brazilian history to know something about Solano Trindade and his work against racism and poverty. Now his ideas and the style of spoken word, rap, all of that come together and it’s more visible. And, it’s cool. We get all kinds of people checking us out.
Zinho is referring in particular to his rendition of his great grandfather’s poem “Tem gente com fome” (There are starving people). Probably Solano Trindade’s most well known text, “fome” tells the story of migration, labor, desperation and deter-mination principally through the literary tactic of repetition. In
57
Derek Pardue
his performances Zinho visibly enjoys taking the repeated phra-se “tem gente com fome” as an opportunity to combine his wide array of vocal styles with his theatrical facial expressions. Figure one exemplifies Zinho’s posture and attitude and it is this sort of performativity that attracts Fernando, Paula and other repre-sentatives of the third type to the sarau.
Unlike the first two “types,” the third type is of a very different class background with a significantly different perspective on São Paulo geography. Fernando and Paula represent the growing number of formally educated, middle and upper class youth who have become fascinated with saraus as part of a larger category of periphery popular culture in São Paulo. Paula explained that “there are saraus and some of them show films on the sort of [makeshift] terrace above. There are nice, old ladies selling pop-corn. The art is great, the people are excellent and I have actually made plans to join one group and do some spoken word. I feel a part of it, not just an observer.” It was, in fact, due to Zinho during a brainstorming session in Erry-G’s house in 2010 that I became aware of this other kind of sarau participant.
In addition to performers, saraus have attracted a number of un-dergraduate and graduate students interested in alternative po-pular and urban cultural expressions. I have not conducted sur-veys or a large number of interviews with this group. Based on informal conversations, it is evident that not everyone who slu-ms it over to the Sarau da Cooperifa (a neologism combining “co-operative” with “periferia”), for example, becomes as involved as Paula or is engaged in a university research project. Certainly, some are simply voyeurs who see the saraus as another cool tas-te in the palette of pop flavors of the month. However, one aspect of the sarau that members of this third type do hold in common is the inter-urban travel and an emergent spatial knowledge of the city necessary to arrive in these out-of-the-way spots.
58
REVERSAl Of fORTUnES?: SÃO PAUlO YOUTH REDIRECT URBAn DEVElOPmEnT
Assessing Marginal Speculation
The sarau is not just a local and occasional academic concern. Mainstream media have periodically highlighted the saraus of Bi-nho and the “marginal” literature of Ferréz and Sérgio Vaz. More importantly, a growing number of grassroots and progressive state cultural entrepreneurs are investing in such “development.” This is the point. Popular cultural performers in working-class areas of São Paulo have transformed not only their personal expe-riences but also local places into valuable assets worthy of state, NGO and private investment. The “movements” of hip hop, made manifest in the Hip Hop House, along with saraus, made manifest in the multiple hole-in-the-wall bars scattered about Southside São Paulo, offer a contrast to the architectural spectacles such as the Octávio Frias de Oliveira Bridge, the new postcard of urban infrastructure,4 or the “cleansing” campaigns to “develop” the de-cadent downtown section, colloquially known as “crackolândia” (“crack land”), by abusing and incarcerating scores of homeless. The difference is not only in terms of material investment and po-litical posturing, it is about a more directed attention at participa-tory planning of the urban cityscape.
Spearheaded by a heterogenous group of “marginal” voices in the urban hinterland, São Paulo is now a place of multiple vec-tors of institutional development and an engaged citizenship. In a similar vein as Miyazaki’s ruminations on “hope” among scho-lars and non-academic actors with regard to global capitalism (2006), this article represents a reinvestment in “development” as a potentially more open field of civic engagement and reo-rientation of spatial and temporal knowledge. As David Harvey beckoned over a decade ago, we should remind ourselves that “it was the speculative passions and expectations of the capita-
4 A typical celebratory website of the bridge, which serves predominantly wealthy resi-dents of Morumbi, clubbers going to Pinheiros and the service employees of both neigh-borhoods can be found here: http://eyesonbrazil.com/2009/05/06/octavio-frias-de-oliveira-bridge-sp/
59
Derek Pardue
list…that bore the system along, taking it in new directions and into new spaces” (Harvey, 2000, p. 255). The spirit of risk in the case of periphery dwellers in São Paulo is existential rather than financial. It is a risk of the collective self vis-à-vis a reorientation of attention and recognition accompanied by an ever so slight redistribution of financial sponsorship.
I have attempted to braid the conceptual and geographical thre-ads of information, identity and value as an alternative practice of speculation. While stigmas of laziness, irrational violence and backwardness continue to be reproduced in some editorial co-lumns of São Paulo’s newspapers and afternoon vigilante “inves-tigative reporter” television programs, the last decade has seen a strong counter-narrative emerge, one in which discourses of periphery identity are foregrounded in the explicit naming of neighborhoods and new cultural and entertainment institu-tions. The buildings and personal experiences associated with the “Casa” and the sarau circuits are based in earlier identity--space connections by youth such as Mister Bronx.
One of the greatest achievements of hip hop in Brazil and el-sewhere has been the cultivation of an attitude and a self-esteem that is social and spatial in nature. Mister Bronx’s story exempli-fies the idea that knowledge of one’s surroundings can streng-then one’s sense of self and one’s notion of value. It is through popular culture that such reconfigurations of self worth become collective and thus reshape collective perspectives on place, for example, in the form of neighborhood pride and a general “peri-phery” or marginal pride.
In sum, I have argued that marginal art forms and practice com-pose a central element in the current speculative map of São Paulo as to where value lies. This reevaluation involves a prio-ritization of the “underlying asset” of the margin or the peri-phery in shaping urban development. This is done not through attracting multi-million dollar investments from multinational
60
REVERSAl Of fORTUnES?: SÃO PAUlO YOUTH REDIRECT URBAn DEVElOPmEnT
corporations but rather through attracting local and distant city residents to reassess the periphery as a generative locus of style and trend that gives shape to what the city as a whole means.
It remains to be seen if hip hop or saraus will become just two more examples of capitalist fetishization of the other to be explored and exploited for profit. For the moment, the ownership of place and the primary negotiators of financial sponsorship are local folk with a sense of obligation to place. Location is in many ways the raison d’etre of both hip hop and sarau and this sort of proximity has until now prevented any significant speculative hedges from the outsi-de. The contradictions of “selling out” the symbols of the “inside” of periphery life keep these movements as examples of development turned on its head in the name of public participation.
Figure 1 - Photo of Zinho Trindade by author, 2010.
61
Derek Pardue
References Cited
BONDUKI, Nabil. O modelo de desenvolvimento urbano de São Paulo precisa ser revertido. Estudo Avançados 25(71): 23-36, 2011.
CALDEIRA, Teresa P.R. City of Walls: Crime, Segregation, and Citizenship in São Paulo. Berkeley: University of California Press, 2000.
COMAROFF, John and Jean Comaroff. Occult economies and the violence of abstraction: notes from the South African postcolony. Chicago: American Bar Foundation, 1998.
DAVIS, Mark and Alison Ethereidge. Louis Bachelier’s Theory of Speculation: The Origins of Modern Finance. Translated by Mark Davis and Alison Etherid-ge. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006.
EWING, Reid H. Characteristics, Causes and Effects of Sprawl: A Literature Re-view. Environmental and Urban Studies 21(2):1-15, 1994.
FERGUSON, James. Global Shadows: Africa in the Neoliberal Order. Durham: Duke University Press, 2006.
FERNANDES, Edésio. Implementing the urban reform agenda in Brazil. Envi-ronment and Urbanization 19(1):177-189, 2007.
FERREZ. Prefácio: Uma menina na capital da solidão. In Vozes Marginais na Literatura, Érica Peçanha do Nascimento. São Paulo: Coleção Tramas Urbanas. Pp. 14-17, 2009.
FISCHER, Brodwyn. A poverty of rights : citizenship and inequality in twen-tieth-century Rio de Janeiro. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2008.
GRABEL, Ilene. Speculation-led economic development: a post-Keynesian in-terpretation of financial liberalization programmes in the Third World. Ap-plied Economics 9(2):127-149, 1995.
GÉCZY, Christopher C., Minton, Bernadette, Schrand, Catherine M. Taking a View: Corporate Speculation, Governance, and Compensation. The Journal of Finance 62(5):2405-2443, 2007.
HARVEY, David. Spaces of Hope. Berkeley: University of California Press, 2000.
HO, Karen. Occupy Finance and the Paradox/Possibilities of Productivity. Cultural Anthropology, Special Series “Hot Spots: Occupy, Anthropology, and the 2011
Global Uprisings” url: http://culanth.org/?q=node/573, accessed August 3, 2012.
62
REVERSAl Of fORTUnES?: SÃO PAUlO YOUTH REDIRECT URBAn DEVElOPmEnT
HOLSTON, James. Autoconstruction in working-class Brazil. Cultural Anthro-pology 6(4):447-465, 1991.
MAINS, Daniel. Blackouts and Progress: Privatization, Infrastructure, and a Deve-lopmentalist State in Jimma, Ethiopia. Cultural Anthropology 27(1):3-27, 2012.
MEADE, Teresa. “Civilizing” Rio : reform and resistance in a Brazilian city, 1889-1930. University Park : Pennsylvania State University Press, 1997.
MILANEZ, Felipe. Guerras Amazônicas. Terra online. http://terramagazine.ter-ra.com.br/interna/0,,OI5653934-EI16863,00-Guerreiras+amazonicas.html Accessed April2, 2012.
MIYAZAKI, Hirokazu. Economy of Dreams: Hope in Global Capitalism and Its Critiques. Cultural Anthropology 21(2):147-172, 2006.
PARDUE, Derek. Making Territorial Claims: Brazilian Hip Hop and Socio-Geo-graphical Dynamics of Periferia. City and Society 22(1): 48-71, 2010.
PARDUE, Derek. Taking Stock of the State: Hip-Hoppers’ Evaluation of the “Cultural Points” Program in Brazil. Latin American Perspectives 39(2):93-112, 2012.
PIOT, Charles. Nostlagia for the future: West Africa after the Cold War. Chicago: University of Chicago Press, 2010.
POLASTRI, Tatiana and Alexandre Rampazzo. Nas Terras do Bem-Virá. Varal Filmes, 2008.
ROLNIK, Raquel. A Cidade e a Lei: legislação, politica urbana e territórios na cidade de São Paulo. São Paulo: Studio Nobel / FAPESP, 1997.
SEVCENKO, Nicolau. São Paulo: The quintessential uninhibited megalopolis as seen by Blaise Cendrars in the 1920s.’ In Megalopolis: The Giant City in History, Theo Barker and Anthony Sutcliffe, eds. Pp. 175-193. New York: St. Martin’s, 1993.
SEVCENKO, Nicolau. Literatura como Missão: Tensões sociais e criação cultural na PrimeiraRepública. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
SOARES, Luiz Eduardo. Bus 174. Oral comments as part of the documentary film. Directors, José Padilha and Felipe Lacerda, 2002.
STOLLER, Paul. Money Has No Smell: Ethnography of West African Traders in New York City. Chicago: The University of Chicago Press, 2002.
TIROLE, Jean. Theories of Speculation. Working paper 402. Department of Eco-nomics, Massachusetts Institute of Technology, 1985.
Recebido em 01/10/2012Aprovado em 15/11/2012
Coletivos Juvenis e Parkour no Brasil:percursos interculturais e Identidades
Valéria Silva1
ResumoEste trabalho problematiza os achados de estudo de campo reali-zado junto a coletivos juvenis de Teresina-PI-Brasil, mais especifi-camente junto aos jovens praticantes de Parkour, utilizando-se da etnografia, da entrevista grupal e da fotografia. Os resultados apon-tam a positividade dos coletivos e culturas juvenis para as sociabi-lidades partilhadas e identidades construídas em contextos de in-terculturalidade local-global, apontando para a caracterização dos processos identitários juvenis como relacionais, fluidos e abertos.Palavras-Chave: Juventudes; Coletivos Juvenis; Interculturali-dade; Identidades.
Youth Collectives and Parkour in Brazil: Intercultural Pathways and Identities
AbstractThis paper discusses the findings of a field study conducted with youth collectives in Teresina- PI-Brazil, more specifically with young people practicing Parkour, using ethnography, the group interview and photography. The results show the positivity of collectives and youth cultures for sociability and shared identities constructed in the context of local-global interculturality, pointing to the charac-terization of youth identity processes as relational, fluid and open.Key-words: Youths, Youth Collectives; Interculturality; Identities.
1 Doutora em Sociologia Política pela UFSC. Coordenadora do Programa de Pós-Gra-duação em Sociologia-UFPI e Subcoordenadora do Núcleo de Pesquisa sobre Crianças, Adolescentes e Jovens-NUPEC/UFPI. Desenvolve estudos e pesquisas sobre as temáticas: juventudes urbanas e rurais; ruralidades; identidades. [email protected].
64
COlETIVOS jUVEnIS E PARKOUR nO BRASIl: PERCURSOS InTERCUlTURAIS E IDEnTIDADES
Os estudos de juventudes têm adquirido neste século um desafio a mais a enfrentar, que são as trocas propiciadas e intensificadas pelo advento que ficou conhecido por globalização. Como parte das modificações que enfrentamos neste estágio da modernida-de, as trocas globais desterritorializam sujeitos, culturas e iden-tidades, recombinando expressões até recentemente impossí-veis para os padrões de relações que dispúnhamos.
Se o advento da sociedade moderna significou a obsolescência do tempo e do espaço como até então conhecidos por nós, como de resto, das capacidades e criações humanas, atualmente tais noções mostram-se alteradas novamente pelas recentes condi-ções complexas nas quais estão situadas a sociedade e os indi-víduos potencializados pelo fenômeno da telemática. O anterior tempo único, contínuo multiplica-se em inúmeras alternativas; efetivando incontáveis possibilidades simultâneas e indepen-dentes, sem vinculação obrigatória com as trajetórias de vida, forjadas no passar do tempo e no repetir da experiência.
Nesse continuum, a ideia de espaço rompe com as amarras do lon-ge/perto e, retraduzido no turbilhão dos bites, surge aqui e ali, ao alcance de um clic, simultâneo e acessível a quase todos. Também esse fenômeno descola os costumes, práticas e possibilidades da noção de lugar e lança-os na pluralidade global que marca cada participante dessa experiência humana da atualidade.
Partilho do entendimento de que essas condições materiais das sociedades se constituem em aspectos simbólicos tão rapida-mente quanto mais estas se tornam complexas, e os processos sociais interferem na conformação das individualidades, tanto biológica, psicológica (ELIAS, 1998; MELUCCI, 1997), quanto culturalmente, tornando-nos mais porosos e, por fim, redefinin-do as experiências humanas de modo indelével e lançando tam-bém a constituição das identidades num (re)fazer permanente, em ambientes interculturais (CANCLINI, 1997 e 2009).
65
Valéria Silva
No caso específico dos jovens, cambiantes por antecipação, essas novas configurações impõem trazer ao debate vários aspectos presentes no desafio de qualificar de quem estamos falando, em-bora não deixemos de considerar a idade como uma referência material ainda importante. Assim, aspectos trazidos por vários estudiosos - como nacionalidade, inserção de classe, etnia, (GRO-PPO, 2000), condição geracional (MANHEIM, 1968), estilos de vida, valores, símbolos (BOURDIEU, 1983; PAIS, 2000), gênero, relação intergeracional, (MARGULIS e URRESTI, 2000) entre ou-tras - se apresentam ao quadro analítico da juventude, a fim de lhe conferir a complexidade que revela possuir quando olhada no mundo real: no campo, na cidade, nas ruas, nas casas, nas escolas, nos morros, nos shoppings, no trabalho, nas festas, nos coletivos juvenis... Enfim, nas rotinas e modos de vida de cada jovem.
De resto, as análises acenam para o entendimento de que as expe-riências, vivências, desejos, pertenças, diferenças, possibilidades, limites, marcados pela fluidez e flexibilidade contemporâneas, só se configuram enquanto expressões, sinais de juventude – ou não - quando observados no interior das materialidades e simbolo-gias em trânsito, as quais os sujeitos constroem, experimentam, abandonam e retomam no cotidiano de suas vidas, num mundo cada vez mais interconectado, imediato e plural. Isso faz com que a juventude esteja órfã da condição de um fixo existir e obrigada à condição de fazer-se sempre, submetendo a juventude a situação de “não-terminada e inclusive como não-terminável”, na acepção de Canevacci (2005, p.29), passível de reconstrução ininterrupta a partir de tempos, espaços e símbolos vários.
Para acessar as juventudes plurais e polissêmicas, portanto, consideramos ser de relevância levar em conta a expressão das territorialidades partilhadas, atentando-se para a própria com-preensão que os jovens têm de si mesmos. Essa escolha coloca o imperativo de tratarmos as juventudes e os seus coletivos de modo que venham ganhar existência no diálogo articulado com as materialidades experimentadas e as referências simbólicas encon-
66
COlETIVOS jUVEnIS E PARKOUR nO BRASIl: PERCURSOS InTERCUlTURAIS E IDEnTIDADES
tradas, partilhadas, trocadas, retraduzidas, bem como as circuns-tâncias de trocas às quais estão submetidas. Compreender que as juventudes e seus trânsitos não se dão prontos, mas manifestam--se de maneira complexa, dialogando com os contextos globais--locais, temporalmente fluidos (BAUMAN, 2001), foi o norte geral que orientou a investigação da qual se originou este trabalho.
Coordenada pelo Núcleo de Pesquisa sobre Crianças, Adolescen-tes e Jovens-NUPEC desenvolvemos a pesquisa A Condição Juve-nil em Teresina, consolidada por meio de um survey junto aos jovens da cidade e por meio de estudos qualitativos, onde toma-mos alguns coletivos juvenis da cidade como sujeitos. Nas abor-dagens qualitativas encontramos na etnografia, na entrevista grupal e na fotografia os recursos metodológicos mais apropria-dos para construir, com a participação ativa dos jovens, aquilo a que nos propusemos. Origina-se dessa dimensão investigativa o artigo em tela, que faz a escolha marcar a presença juvenil por meio de depoimentos e imagens, como apresentado a seguir.
1. Coletivos Juvenis: enfrentando desigualdades, vivencian-do interculturalidades, delineando identidades
Os grupos de sociabilidades várias são uma antiga realidade na vida dos jovens. Entretanto, no contexto das sociedades complexas, onde as referências sócio-culturais mudam de lugar constante e rapidamente, os coletivos juvenis têm adquirido um papel de des-taque para as sociabilidades e para o processo de formação dos jo-vens. A partida, material e/ou simbólica, do ambiente familiar, por razões várias, marca o momento de individuação juvenil: da sepa-ração de meninos e meninas de um coletivo primário, impondo-os a busca de suas próprias respostas aos desafios novos que a vida lhes traz. Nesse momento os grupos de jovens constituem-se em ambientes que ajudarão a gerar os novos sentidos e marcas identi-tárias buscadas por cada um e algumas respostas necessárias à in-serção e trânsito dos jovens nas esferas várias do mundo vida afora.
67
Valéria Silva
É fundamentalmente a partir da ótica dos grupos que os jo-vens experimentam as novas realidades, vivenciam as relações sociais e conformam uma dada intervenção juvenil no mundo, dialogando com o ‘exterior’, e, desse modo, experimentando, por assim dizer, alguns ritos de passagem para a vida adulta, a despeito das mudanças hoje colocadas que impõem à juventude certa condição nômade.
No seu novo modo viver o mundo no grupo, os jovens encon-tram no estar com seus ‘iguais’ o conforto da partilha, da recep-tividade em relação ao que sentem e pensam sobre o mundo. A identificação com os gostos, desejos, princípios, interesses, frustrações, medos e inseguranças, como também a construção das formas e alternativas de enfrentamento desses e outros as-pectos da experiência humana são normalmente radicalizados nos contextos de amadurecimento juvenil. É entre amigos, por fim, que se potencializa a expressão da singularidade de cada um, com/sem adequações, com/sem cumprimento de papéis previstos, abrindo espaço para o delineamento das identidades. (SILVA, 2006a; 2006b; 2011).
Para constituir-se como indivíduo o jovem necessita distanciar--se do seu grupo familiar original, a fim de enxergar-se e reco-nhecer-se, descobrir seus limites e potencialidades, de afirmar aquilo que aceita como particularmente seu, no anterior com-plexo de existência hegemonizada pelos valores recebidos de outrem, os familiares. E, no mesmo movimento, refutar, reela-borar o que passa a lhe parecer estranho, dissonante. Mais uma vez, o grupo aparece como o lugar de certo relaxamento – tal-vez em vista do ‘conforto’ que a sensação de empoderamento, supostamente conferida pelo grupo, gera - e amizade, lenitivos para o conflito vivenciado por alguém que agora precisa respon-der à demanda do mundo sobre o seu existir.
Mas os grupos são também lugares de experimento de limites e resistências, contribuindo novamente para o encontro do jovem
68
COlETIVOS jUVEnIS E PARKOUR nO BRASIl: PERCURSOS InTERCUlTURAIS E IDEnTIDADES
consigo mesmo, na dimensão de suas potencialidades, fragili-dades e formas diversas de socialização, até então pouco claras para si. Assim, no geral, o grupo oportuniza, ou não, pelas cir-cunstâncias propiciadas e relações travadas, o reconhecimento dos jovens pelos seus pares e pelos adultos de suas relações, tra-çando possibilidades e potencializando, por fim, a constituição do seu lugar no mundo como sujeito.
Claro se faça que o reconhecimento da condição de sujeito con-quistado pelo jovem a partir da atuação em grupos juvenis nem sempre é sinônimo de algo que a sociedade considere como de-sejável. Os processos de subjetivação, como não poderiam dei-xar de ser, se encontram imbricados às contingências colocadas para cada jovem, gerando possibilidades diferenciadas de inte-ração e de afirmação ante os demais, seja via caminhos legitima-dos socialmente ou não.
É assim que o ambiente coletivo surge também como espaço da transgressão. Se individuar-se, por definição, implica em rompi-mentos, interagir com o mundo na condição de alter exige uma postura particular. Do jovem é exigido fazer escolhas sobre o norte que pautará as suas relações com os demais e a sociedade em geral. Avaliar, romper, confirmar e/ou reelaborar princípios de convivência, visões de mundo são processos comuns a todos, porém radicalmente imperativos à experiência juvenil. É, muitas vezes, transgredindo a norma que o jovem testa a si mesmo, o outro, a sociedade e a validade da própria transgressão como mecanismo confiável ou não da sua forma de inserção no mundo e de interação com os demais (SILVA, 2006b).
A transgressão impõe aos jovens correr riscos - maiores ou me-nores - que potencializam/inviabilizam a sua contribuição ativa com a sociedade em medidas diversas. É também transgredindo que se habilitam a reinventar o mundo construído e a vida para além da herança recebida, re-oxigenando os processos, engen-drando a esperança e as perspectivas de futuro. No espaço co-
69
Valéria Silva
letivo do grupo o jovem encontra eco para este propósito, ten-do em vista a liberdade partilhada entre os pares ante a quase inexistência de censura, bem como a semelhança de aspirações vivenciadas, o que confere força às iniciativas.
Os coletivos juvenis aparecem com a mesma relevância se to-mados do ponto de vista das experiências cotidianas objeti-vas, dos interesses que escolhem como motivo de sua organi-zação e existência. O lazer, a formação, o esporte, a música, a interação com a cultura, com a religião, com os povos - dentre inúmeros outros aspectos -, de acordo com a natureza de cada coletivo, oportunizam a descoberta e o desenvolvimento de talentos, de habilidades, de potências (SILVA, 2009), também funcionando como ambiente de organização e intervenção política construtiva dos jovens.
Como sabido, no contexto moderno em que vivemos partilha-mos o esgarçamento de várias pautas e instituições até então orientadoras das vidas em sociedade. Nas últimas décadas observamos os postulados organizadores das práticas e vi-das nas sociedades modernas como insuficientes para gerar as respostas que buscamos, a clareza de procedimentos e a segurança do que esperar em relação ao que se experimen-ta. Família, Estado, Igreja, política, ideologia, profissão e tra-balho, dentre outros, são parâmetros migrantes, polimorfos, polissêmicos que não mais oferecem as “certezas” que a so-ciedade moderna construiu e disponibilizou como estofo às subjetividades. Os grupos de convívio constituídos em tor-no das referências coletivas modificaram seu papel ante aos processos de socialização e as grandes narrativas perderam o poder de organização das práticas dando origem a dinâmicas novas, assentadas nas narrativas atomizadas, individualiza-das, experimentadas em contextos onde a ostensiva presença da contingência nas práticas sociais coloca-se definitivamen-te como parte constitutiva do cálculo racional trivializado na existência e não mais um risco possível (SILVA, 2006a).
70
COlETIVOS jUVEnIS E PARKOUR nO BRASIl: PERCURSOS InTERCUlTURAIS E IDEnTIDADES
A partir dessa perspectiva compreendo que os coletivos juve-nis podem se afigurar como um importante lugar de produção das sociabilidades e das identidades, um lugar de intervenção no mundo, de criação, de atuação política dos jovens, como no caso em análise.
2. Coletivos juvenis: novas e velhas maneiras de estar com os pares
Como campos de experimentos vários e de construção da in-tervenção juvenil no mundo, cada vez mais atravessados pelas complexidades dos novos contextos globais, os coletivos sofrem intensamente as dinâmicas e influências desse novo tempo em suas práticas. Desse modo, nas últimas décadas presenciamos importantes mudanças nos grupamentos juvenis, desde o modo como compreendem a luta política, aos objetivos que perse-guem, vivências, visões de mundo, formas de atuação, até os modos de interação com os demais segmentos da sociedade. Tal perspectiva demarca o que Krauskopf (2001) vai denominar de novo e de velho paradigma de organização dos coletivos juvenis.
Tomando por referência o pensamento da autora compreendo que partindo do velho paradigma organizacional encontraría-mos os coletivos juvenis apostando na mudança individual ocor-rida no interior, ou como resultante, das mudanças estruturais da sociedade. Isso nos remete à crença nas grandes bandeiras políticas, alimentadas pelas articulações transnacionais de luta em favor de determinadas teses emancipatórias e sempre à lon-go prazo. Com o novo paradigma, a mudança pessoal é ambien-tada no contexto das mudanças objetivas de vida coletiva, mais próximas temporalmente do sujeito.
Do ponto de vista das formas organizativas, os coletivos situados no velho paradigma possuem origem de atuação focada no local, muito embora partilhando das trincheiras globais que as identi-
71
Valéria Silva
dades políticas conformam, diferentemente dos novos coletivos que se originam de questões partilhadas globalmente e, partindo desse interesse, atuam localmente. Nesses contextos, os coletivos tradicionais possuem formas organizativas institucionalizadas, estruturadas, centralizadas e representativas, enquanto que os novos coletivos se constroem fora da institucionalidade, traba-lhando horizontalmente, em redes e com coordenações e/ou lide-ranças flexíveis, móveis ou, às vezes, até virtuais, implicando num grau de autonomia maior daqueles que participam das ações.
Como toda classificação, também esta, ao tempo em que auxilia na compreensão da realidade, explicita dificuldades em situar-mos exaustivamente os grupos, posto que encontramos situações híbridas, complexas que revelam muito mais composições e in-terconexões entre os aspectos referidos, do que modelos claros e exaustivos dos entendimentos postos. Assim também se compor-ta o coletivo aqui analisado, composto por praticantes de Parkour. Trançando o existir numa perspectiva global-local, carrega mar-cas daquilo que poderíamos considerar, pela referência apontada, como um grupo mais próximo do novo paradigma.
3. Le Parkour: do mundo ao Piauí
O Parkour é uma expressão juvenil dos novos tempos onde a juventude - como partícipe da diversidade e do mun-do sem fronteiras - imprime e vivencia no cotidiano, nas formas de existência coletiva, características de diáspora cultural. Prática de origem francesa surgida na década de 80, inspirada nos ensinamentos de David Belle2, o Parkour
2 David Belle recebeu do pai o treinamento que, por ele aperfeiçoado, hoje se apresenta como a arte Le Parkour. Raymond Belle, bombeiro e combatente da guerra do Vietnã, por sua vez, foi treinado no Método Natural de Educação Física de Georges Herbert, tenente da Marinha Francesa. Também Sebastian Foucan, amigo de David Belle, foi figura expoente do surgimen-to do Parkour. (http://www.kalunga.com.br/revista/revista_jun07_07.asp).
72
COlETIVOS jUVEnIS E PARKOUR nO BRASIl: PERCURSOS InTERCUlTURAIS E IDEnTIDADES
atrai adeptos por todo o mundo, inclusive no Brasil e em Teresina, tendo no filme “13° Distrito” um potente instru-mento de divulgação.
O Parkour consiste, em primeira aproximação, no uso do corpo para, em quaisquer ambientes, deslocar-se de um ponto a outro da maneira mais objetiva e rápida possível, como informam seus adeptos. Assim, possibilita a supera-ção de obstáculos físicos como tetos, paredes, marquises, muros, degraus, corrimãos, bancos de praça, árvores, fogo, água, declives e aclives diversos, sem qualquer outro recur-so, além dos movimentos corporais. As manobras possuem denominações próprias, mundialmente reconhecidas, muito embora os jovens não as supervalorizem na dinâmica dos movimentos e até criem novos movimentos e novas denomi-nações. Dentre as mais conhecidas estão o planche, monkey, alligator, catch leap, tic-tac, landing, vault, quadrupedal, saut de fond, king kong dentre tantas outras, treinadas com per-sistência espartana pelos jovens. Por falta de quadras ou centros esportivos adequados às práticas, em Teresina os treinos acontecem especialmente em praças, parques, pré-dios, corrimãos e demais ambientes públicos que ofereçam condições adequadas para tanto.
74
COlETIVOS jUVEnIS E PARKOUR nO BRASIl: PERCURSOS InTERCUlTURAIS E IDEnTIDADES
Imagem 2: Quadrupedal. UFPI-CCHL, 2010. Fotografia de: Valéria Silva.
Imagem 3: Planche. Praça da Cepisa, Teresina, 2009. Fotografia de: Valéria Silva.
75
Valéria Silva
Imagem 4: atch leap. UFPI-CCHL. Teresina, 2010. Fotografia de: Valéria Silva.
Imagem 5: Vault. Praça da Cepisa, Teresina, 2009. Fotografia de: Valéria Silva.
76
COlETIVOS jUVEnIS E PARKOUR nO BRASIl: PERCURSOS InTERCUlTURAIS E IDEnTIDADES
Como expressão da juventude planetária contemporânea o Pa-rkour possui significativa presença na internet, sendo os sites, blogs, Mesenger, Youtube, Orkut e, mais recentemente o Face-book, espaços privilegiados de interação entre os praticantes do mundo todo e de intensa divulgação de vídeos, bem como de or-ganização e divulgação de treinos e eventos. Em Teresina todos os entrevistados entraram em contato com a prática através das diversas mídias atualmente disponíveis, como celular, TV, inter-net, clips musicais (Madona, Hung Up) e filmes (13° Distrito), os quais permanecem intermediando as sociabilidades planetá-rias, ao lado do interconhecimento originado do convívio local:
É... a internet é nosso principal meio de comunicação. Em segundo lugar, vem o celular [...] de vez em quando a gente tá aqui na internet, a gente tá sem fazer nada e dá vontade de treinar. [...] vou lá no Orkut pra divulgar que eu tô indo
Imagem 6: Alligator. Parque da Cidade, Teresina, 2009.. Fotografia de: Valéria Silva.
77
Valéria Silva
treinar, vou no MSN [..] Aí vambora, aí a gente sai pra treinar, a gente chama os outros. E em terceiro lugar tem a questão de alguns morarem perto [...] no Mocambinho não tem nem como escapar. É tanta gente que treina lá, que se você passar com o sapato, o tênis o pessoal: “Vai treinar?”. [...] você vai, só ir arrumado que quem passar vai ver você indo treinar e vai atrás. (Traceur 1).
Para os jovens praticantes não há uma definição que comporte o que seja o Parkour. A prática é, ao mesmo tempo, uma disciplina física e mental, uma forma de exercício para o corpo e uma filo-sofia de vida que encontra no lema “Ser forte, para ser útil” sua principal tradução e orientação. Traceurs e traceuses afirmam que a disciplina do corpo supõe também a disciplina mental, a adoção de um ethos e de um propósito, os quais consubstanciam uma de-terminada postura de vida. Esse complexo de princípios faz, por-tanto, do Parkour algo muito maior do que um mero conjunto de ágeis movimentos físicos ou uma ginástica de forte efeito estético.
Foi com esse apelo que o Parkour surgiu no Brasil em 2004, ten-do em Eduardo Bittencourt um dos seus principais pioneiros. Como prática, encontra-se organizado através da Associação Brasileira de Parkour-ABPK e em dezembro de 2012 realizará em Manaus-AM o 8° Encontro Brasileiro de Parkour, ponto cul-minante dos inúmeros encontros locais e regionais que já acon-tecem em todo o país. No Piauí os praticantes já realizaram seis encontros, participaram de outros fora do estado, seguem com as práticas regulares e se preparam para passar a ter represen-tantes junto à ABPK.
4. Coletivo juvenil teresinense de Parkour
Em Teresina o período de surgimento do Parkour é incerto. Os praticantes pioneiros, que entrevistei, se referem à existência de um registro áudio-visual de alguns movimentos, disponível no Youtube, realizado por um grupo identificado como Exflay. No
78
COlETIVOS jUVEnIS E PARKOUR nO BRASIl: PERCURSOS InTERCUlTURAIS E IDEnTIDADES
entanto, os jovens afirmam não existir qualquer outra informa-ção acerca da procedência do grupo, ficando essa memória per-dida na história do Parkour do Piauí:
...o Exflay foi um grupo que ninguém conhece, além de um vídeo deles que tem no Youtube. Na verdade, eles colocaram esse vídeo e nunca mais se ouviu falar. Eu inclusive entrei na comunidade do Orkut do Exflay querendo começar a treinar e o dono da comunidade não sabia o que era Parkour! Aí achei estranho... como é que um grupo de Parkour não sabe o que é Parkour? Mas, na verdade, essa comunidade já tinha sido mudada de dono, porque não tava sendo movimentada e o grupo... na verdade, eles colocaram só esse vídeo na in-ternet e é o que agente sabe deles (Traceur3 1).
Localizamos o início de treinos do Parkour no ano de 2006, ten-do como pioneiros na cidade os jovens Danilo, André, Claudio-nor, Junin (Ademar), Pombo (Jordano), Afonso e Gildênio, dos quais a maioria ainda permanece no grupo. Os primeiros treinos coletivos aconteceram na Praça Poeta da Costa e Silva, conhecida como Praça da Cepisa, sendo o local escolhido por concentrar no seu projeto original uma diversidade de obstáculos em um mes-mo espaço, potencializando o exercício dos movimentos. Inicia-dos na Praça da Cepisa, os treinos geralmente eram finalizados na Praça Pedro II, onde o Parkour se tornou mais conhecido em decorrência da visibilidade do local e da já tradicional presença de outros coletivos juvenis naquele espaço.
No surgimento da prática em Teresina todos formavam um só grupo, ainda sem denominação. Aos poucos os jovens foram to-mando conhecimento, via internet, que os grupos organizados em outras cidades o faziam a partir de pequenos sub-grupos chamados clans. Assim aprenderam que a existência dos subgru-pos é uma cultura dentro do Parkour, sendo os clans compostos por até nove membros, formados com base na afinidade existen-te entre os mesmos. Os laços de amizade que se criam a partir
3 Traceurs são os rapazes praticantes de Parkour. Traceuses, as moças.
79
Valéria Silva
dos locais de treinamento, da condição de neófito, do timing do aprendizado, do local de moradia, dentre outros influenciam a aproximação de alguns jovens, criando identificações entre si e levando à formação do clan:
...por exemplo, o pessoal que mora na zona norte: se for mui-ta gente aí se divide [...] costumam treinar em certos locais. Certas pessoas aí começam a se conhecer melhor, começa a treinar sempre no mesmo dia, no mesmo local, as mesmas pessoas... aí, começa a desenvolver o clan daquelas mesmas pessoas. Assim como na zona sul, na zona leste, na escola... a gente começa a treinar na escola e começa a treinar com outras pessoas e aí cria um clan por questões de afinidade mesmo. (Traceur 2).
The Clan, Wind Sure Clan, No Gravity, Hyuuga, Uclan, Kalangoclan precedem a organização do MPPK na cidade. Após sua organi-zação, passaram a gravitar em torno dele e com sua dissolução permaneceram aglutinando os jovens traceurs. Vários jovens que participam dos treinos com regularidade permanecem sem vinculação a clans, sem que isso interfira na sua relação com o Parkour e os demais traceurs. Apesar de treinarem também em pequenos grupos ou sozinhos, em lugares variados da cidade, a grande maioria participa dos treinos coletivos regulares da Pra-ça da Costa e Silva e no Parque da Cidade. Diversos jovens trei-nam ainda no bairro Mocambinho, de onde vem a maioria dos praticantes de Parkour.
Tratando dos praticantes, os entrevistados afirmaram haver duas modalidades: aqueles que adotam a prática como treina-mento regular e os que praticam esporadicamente, uma vez na semana, uma vez no mês. Esses últimos são entendidos como praticantes da arte apenas por lazer, diversão, encontro com a sua turma de amigos. Quanto às demais características, os jo-vens são predominantemente do sexo masculino, habitam na região norte da cidade, especialmente no bairro Mocambinho, segundo local onde se praticou o Parkour na cidade. Foi nesse bairro que nasceu o clan Hyuuga, existindo ali um número con-
80
COlETIVOS jUVEnIS E PARKOUR nO BRASIl: PERCURSOS InTERCUlTURAIS E IDEnTIDADES
siderável de jovens traceurs. No entanto, adeptos estão em todas as zonas da cidade e não necessariamente participam de clans.
No grupo a variação de idade é ampla, não havendo limite etário –nem de sexo- para a prática. Na época da pesquisa de campo a menor idade encontrada foi de oito anos e a maior, de vinte e cinco anos, sendo que o traceur mais velho é um dos pioneiros da prática na cidade. Dos traceurs entrevistados sete estão na faixa etária de 16 a 19 anos de idade. Um tem 20 anos e outro, 25 anos de idade. Embora seja aberto à participação feminina, observamos que a presença das mulheres ainda é discreta. To-dos os entrevistados já possuem algum tempo de permanência no grupo. Três estão no grupo há mais de dois anos, três há mais de um ano e três há mais de seis meses.
Imagem 7: Crianças e jovens em treino. Praça da Cepisa, 2009.Fotografia de: Valéria Silva.
81
Valéria Silva
No que concerne ao estudo e ao trabalho, identificamos que a maio-ria é estudante - cursando séries do ensino médio -, sendo que ape-nas três deles trabalham, porém inseridos em relações não formais de trabalho/emprego. Os praticantes que apenas estudam têm maior disponibilidade e geralmente treinam também durante a semana.
Segundo as entrevistas, os pais dos traceurs exercem atividades profissionais de motorista particular, segurança noturno, jor-nalista, comerciário, técnico em refrigeração, motorista de ôni-bus, um dos pais é aposentado e outro desempregado. As mães exercem atividades de professora, sacoleira, dona de casa, estu-dante universitária, gerente de restaurante, funcionária pública e apenas uma aposentada. A inserção profissional dos pais e a situação de trabalho dos filhos evidenciam a inserção dos jovens entrevistados em segmentos menos abastados.
Imagem 8: Traceuses. Praça da Cepisa, Teresina, 2009.Fotografia de: Valéria Silva.
82
COlETIVOS jUVEnIS E PARKOUR nO BRASIl: PERCURSOS InTERCUlTURAIS E IDEnTIDADES
Quanto à presença na cidade, o Parkour reúne um número signi-ficativo de jovens teresinenses, embora não haja registro exato de quantos efetivamente praticam Parkour em Teresina, porém os entrevistados fazem uma avaliação do total a partir do públi-co presente no Segundo Encontro Teresinense de Parkour que realizaram em 2009:
Acho que umas 80 pessoas ou mais que disseram treinar Parkour, né? E sempre que aparece uma reportagem, algu-ma coisa assim, sempre aparece mais [pessoas] do que a gente que treina. Por exemplo, existem pessoas que treinam que eu nunca nem vi, que eu nem conheço. Aí isso varia, por exemplo, tem gente que só treina quando aparece encontro ou reportagem e tem gente que treina mesmo fixamente. Mas os fixos são na base de 50 a 80, 70 pessoas. (Traceur 2).
Imagem 9: III Encontro Teresinense de Parkour. Praça da Cepisa, Teresina, 2009.
Fotografia de: Valéria Silva.
83
Valéria Silva
Dos treinos regulares na Praça da Cepisa e Parque da Cidade participam em torno de 20 jovens. Além desses, os traceurs já fizeram práticas esporádicas em outros locais, como prédios em construção ou abandonados, nas pontes do Rio Parnaíba (sobre e sob as pontes), no prédio do Cine Rex, no Centro de Artesanato, na Universidade Federal do Piauí, no Hiper Bompreço e diversas praças da cidade. Para praticar os jovens necessitam de equipa-mentos comuns: apenas um par de tênis simples, uma calça es-portiva folgada, que permita os movimentos e uma camiseta de malha que, com frequência, traz alguma referência ao Parkour ou, mais propriamente, estampado o nome do clan a que o tra-ceur pertence. As meninas usam tênis, calças de cotton ou nylon, mais tops ou camiseta, identificada com a prática. Para os jovens, a pouca exigência de equipamentos é um aspecto que também viabiliza a participação no Parkour, pois a escolha não implica em nenhum custo a mais para si e familiares, diferentemente da grande maioria dos esportes. Para os praticantes o uso de equi-pamentos como capacetes e luvas disponibilizam a pessoa a rea-lizar movimentos para além das possibilidades físicas, assumin-do riscos desnecessários.
Aqueles que moram mais próximo das praças e parques se des-locam a pé, percorrendo uma média de 5, 6 km até o local de treino. Levam às costas mochilas contendo as vestes, que fre-quentemente são trocadas no local, bem como garrafas pet com grande quantidade de água a ser consumida coletivamente du-rante os exercícios.
5. Os novos sentidos
Para os jovens entrevistados os aspectos que mais chamaram sua atenção para o Parkour foram a novidade da prática, a afi-nidade por ‘ação’ e a admiração pela proposta estética dos mo-vimentos. Entretanto, entre eles é unânime a opinião de que, ao compreenderem a prática, modificam sua maneira de pensar
84
COlETIVOS jUVEnIS E PARKOUR nO BRASIl: PERCURSOS InTERCUlTURAIS E IDEnTIDADES
sobre a mesma e resignificaram sua estada no grupo. Paralelo à evolução dos movimentos houve a evolução na mentalidade dos praticantes. Para eles a pessoa que estuda e pratica a filosofia Parkour, amadurece. A partir dessa compreensão, os praticantes afirmam que ‘vivem’ o Parkour não apenas nos treinos realiza-dos, mas no cotidiano, o que transforma a maneira como perce-bem e enfrentam situações diversas de suas vidas:
É como se seu corpo tivesse no piloto automático e você percebe um dia que você é capaz de controlá-lo da uma forma melhor, da melhor maneira que você possa pensar. É como se diz: “Penso, coloco as ideias no papel, mas não ponho em prática”. Com o Parkour, não! Eu aprendi a ava-liar minhas ideias e tirá-las do papel, colocar em prática. [...] É saber usar as oportunidades da forma correta, da forma certa. (Traceur 5).
...a mentalidade mudou dentro do Parkour. A gente deixou de querer fazer Parkour pra mostrar pras vizinhas e passou a querer fazer Parkour pra gente, pra melhorar o nosso físico, melhorar nosso movimento, elasticidade, pensamento [...] antes se você perguntasse o que era Parkour pra alguém, ele ia dizer: “Não, é um esporte que consigo correr de um ponto A para um ponto B da forma mais rápida possível”. E alguns meses depois se perguntasse de novo o que é Parkour [...] pra esse mesmo grupo de praticantes aqui de Teresina, eles iam falar: “Não, não é um esporte, é uma disciplina que vem da origem da humanidade”. Aí vai contar a história de David Bel-le, [...] de George Herbert e do pai de David Belle... (Traceur 3).
Originário de um método que adota exercícios naturais, o Parkour leva em consideração os limites e potencialidades do corpo e as (im)possibilidades postas no ambiente. O Parkour exige por par-te de quem o pratica dedicação permanente, uma vez que para a execução dos movimentos o traceur deve estar fisicamente pre-parado e mentalmente concentrado, do contrário pode sofrer contusões/ferimentos de intensidades variadas. Para os jovens, aprender a identificar os limites pessoais, a respeitá-los e superá--los adequadamente e no tempo certo é o aprendizado maior que o Parkour oferece, como sintetizam os depoimentos:
85
Valéria Silva
...é como se o Parkour fosse 80% mente e 20% corpo, né? Como nós sabemos, o único instrumento do Parkour é o nosso corpo e nossa mente vem em conjunto, né? Porque temos que focar nossa mente de forma bem tática, bem téc-nica. A gente não pode executar um movimento sem antes pensar, imaginar como seria aquele movimento, se temos a capacidade para isso. Isso acaba interferindo também na disciplina, porque o que é que acontece? A gente aprende a respeitar o nosso limite, né? Como é no Parkour, é na nossa vida, no nosso dia a dia. Também na nossa vida, tem coisa que a gente vê: “Não, isso não dá pra fazer. Não, isso dá pra fazer”. Então, a gente acaba ganhando disciplina [...] tendo o discernimento do que fazer e do que não fazer. (Traceur 4).
...naquele dia que eu quebrei o dedo que eu vi que [...] tava com medo de pular, mas fui pular. Depois desse dia eu con-segui ainda mais: eu tô com medo de pular, pois eu não vou pular. Eu vou realmente perder esse medo de pular, porque o medo que trava a gente é o que deixa a gente inteiro por mais tempo. (Traceur 3).
Como visto antes, se inicialmente sentem-se motivados a experi-mentar o Parkour pela diferença e novidade da prática, ao viven-ciá-la, adotam como referência maior para permanecerem no gru-po o sentido maior que a orienta. Faz parte desse entendimento a partilha da “... você entra no Parkour [...] você conquista amizades, e você talvez não encontre mais em lugar nenhum. E com isso a gente se sente melhor, tanto fisicamente quanto psicologicamen-te... (Traceur 5); “...além do ciclo de amizade [...] pra mim, Parkour significa liberdade. Participar disso pra mim me deixa livre, me deixa ser eu, uma coisa dentro de mim sair aflorando, ser livre...”. (Traceur 6). O companheirismo, a afetividade, a solidariedade são aspectos presentes no grupo, manifestos nas falas abertas, na par-tilha da água, nos gestos de apoio físico durante os treinos, nos ostensivos e repetidos aplausos pela perfeição de movimentos re-alizados, na convivência empática dentro e fora do grupo.
É com essa compreensão geral das experiências partilhadas que os jovens se inserem no coletivo e buscam consolidar o Parkour
86
COlETIVOS jUVEnIS E PARKOUR nO BRASIl: PERCURSOS InTERCUlTURAIS E IDEnTIDADES
em Teresina, muito embora no início os praticantes não con-servassem maior expectativa em relação ao grupo, sua conso-lidação ou maior presença na cidade. O maior amadurecimento trouxe a estruturação dos clans, a organização de dois encontros estaduais, perseguindo atualmente um objetivo maior que é ex-pandir o Parkour:
... antigamente ninguém se importava em querer crescer, só se importava em querer treinar e aprender. Hoje em dia quem treina o que mais quer é ensinar, é divulgar [...] o que a gente mais quer é sair, aprender coisas novas fora do Piauí, fora do Nordeste, fora do Brasil”. (Traceur 2).
Uma das consequências desse momento foi a tentativa de fun-dação de uma proto-associação, que denominaram Movimento Piauiense de Parkour- MPPK, também por sentirem necessida-de de maior organização dos participantes. A ideia era construir algo mais estruturado, com regimento, eleições e demais proce-dimentos dessa natureza. O processo eleitoral foi divulgado pela internet e todos os interessados, segundo os jovens, 70% dos praticantes, compareceram à votação, que elegeu Marcos David como presidente, Victor Gabriel como vice-presidente, Lucas Dominique como tesoureiro, Kisuk como agente F14 e Flávia como promoter5 desta primeira diretoria. A intenção era que o MPPK abrisse caminho para a organização de uma associação de Parkour, registrada formalmente, consolidando a institucio-nalização do grupo antes informal. Entretanto, segundo os par-ticipantes, essa iniciativa não prosperou e o movimento seguiu como antes: desestruturado, flexível, tendo por fixo apenas as datas, horários e locais de treinos.
Nas entrevistas os jovens avaliaram que a realidade mais conso-lidada do Parkour tem desencadeado importantes e perceptíveis
4 Agente F1 é o traceur responsável pela introdução dos iniciantes nos primeiros movimentos.5 Treceuse responsável pela divulgação e organização das atividades do grupo.
87
Valéria Silva
mudanças: tem estimulado o interesse pela prática, aumentado o número de acesso à comunidade no Orkut e de simpatizantes, o grupo tem sido buscado para fazer apresentações públicas, para dar entrevistas, passando a ser reconhecido e a ter espaço na mídia local. Todos esses aspectos influenciam positivamente, provocando um maior conhecimento e uma expansão da prática na cidade, en-sejando o rompimento dos estigmas de marginalidade presentes no imaginário popular, uma vez que a identidade do traceur ainda está assentada no estereótipo de desocupado, vândalo etc:
Uma mudança que eu achei bem legal (...) foi a mentalidade (...). Pra quem tava vendo de fora aquele grupo de iniciantes de Parkour aqui em Teresina, muitos achavam um aprendiz de ladrão (...), porque Parkour a gente consegue pular um muro com uma TV na mão... (Traceur 3).
6. Os treinos, os jovens e a cidade: a prática global mudan-do o local
A regularidade dos treinos e a permanência dos locais de en-contro são outros aspectos viabilizadores da consolidação do Parkour na cidade, uma vez que facilitam a localização do grupo pelos novos interessados. Assim, mantém os treinos coletivos do Parque da Cidade e da Praça da Cepisa.
Além da presença no núcleo da Praça, durante os treinos, os jo-vens traceurs costumam separar-se em pequenos grupos em pontos diferentes do local, a depender do que desejam treinar, re-tornando ao grupo maior e voltando a refazer grupos diferentes. Pausam, sem acordo ou tempo previamente estabelecido, para pequenas conversas, reuniões e brincadeiras. Também para be-ber a água que conduzem, fazer ligações ou atender o celular.
Durante a pesquisa não havia alguém oferecendo instrução for-mal ao coletivo. O mais frequente era a partilha in loco das pos-sibilidades, limites e habilidades de cada um com o grupão ou
88
COlETIVOS jUVEnIS E PARKOUR nO BRASIl: PERCURSOS InTERCUlTURAIS E IDEnTIDADES
os pequenos grupos, havendo um cuidado maior com aquele/as que estavam iniciando. Mais recentemente o grupo instituiu o treino para iniciantes, no sentido de estimular os novos e forta-lecer a adesão à prática.
A partilha acontece permanentemente em relação à divisão com os demais do aprendizado logrado, no apoio oferecido quando se oferecem como amparo físico ao colega que busca realizar um movimento novo com risco maior de acidente, consolidando uma perspectiva solidária ao grupo. Frequentemente aplaudem aquele que consegue realizar algo interessante para o seu nível de treina-mento, independente do movimento executado, se mais simples ou mais complexo. Para os jovens, essa é uma característica im-portante do Parkour, estimulada pela inexistência de competição e pela aceitação de cada um conforme sua possibilidade:
... no Parkour não existe competições por quê? Porque o Parkour não tem regras, o Parkour tem adaptação, não tem o melhor jeito de fazer, tem o jeito que cada um se sente melhor fazendo. E isso é o que leva a gente a ajudar os ou-tros a... porque se você for fazer competição, você vai tá que-brando uma filosofia do Parkour. (...) como vem do método natural, o Parkour não precisa mostrar quem é melhor [...] você não vai querer derrubar os outros [...], porque compe-tição visa isso: você querer derrubar aquele pra ser melhor do que ele. O Parkour é livre disso. (Traceur 2)
A única competição que eu considero mesmo no Parkour é contra o próprio corpo, de você sempre tá querendo ser me-lhor do que você é. Você não tá procurando ser melhor do que seu amigo [...] eu não quero aprender porque ele apren-deu. Eu quero aprender porque eu fazia e eu não tô mais fazendo, eu tô com medo de fazer... (Traceur 3)
O Parkour não existe para mudar o físico de ninguém. Não adianta eu querer ter o corpo dele ali. Aqui um é magro, outro é gordo, outro é magérrimo etc e todos são felizes com o corpo que tem. Não adianta eu querer ser como o D... Aquele é o jeito dele e eu não vou ser eu mes-mo. (Traceur 5).
89
Valéria Silva
[...]Como a maioria dos esportes hoje: “ah, eu vou jogar futebol, vou jogar vôlei, praticar karatê pra ser um grande competi-dor”; “ah, eu não vou praticar Parkour porque não vou ganhar dinheiro”. [...] Quer dizer que pra você cuidar do seu corpo você precisa ser pago? Então, é isso que eu vi de bom no Parkour: é a humildade, bom senso dos praticantes [...].(Traceur 8).
Orientados por parâmetros diversos da sociedade do consumo os traceurs buscam na prática coletiva exercitar o corpo, a mente e novas práticas, alinhados a milhares de jovens espalhados pelo mundo, os quais colocam na perfeição do movimento, no respei-to ao corpo, ao outro e ao ambiente, as metas de cada encontro.
A Praça que emoldura esse projeto singelo foi projetada por Burle Marx6 e, outrora sinônimo de bom gosto arquitetônico e beleza, foi esquecida pelos teresinenses comuns e pelo poder público. Em avançado estado de deterioração, já não traz à me-mória sua proposta paisagística elaborada, como as lâminas e quedas-d’água, painéis de poesias e a inusitada combinação do ferro e madeira viva, em absoluta harmonia. A sujeita urbana, os dejetos humanos, as águas fétidas, a deposição natural de fo-lhagens e a deterioração do projeto reconfiguram o ambiente, conferindo-lhe um ar de lugubridade e decadência.
O processo de deterioração se verificou, simultaneamente, com dois outros movimentos: o afastamento paulatino da po-pulação urbana comum e a aproximação de outros viventes da cidade, menos exigentes, pois sobreviventes de cotidianos prenhes de maiores desafios do que a convivência com um lugar descuidado, como em qualquer parte do mundo. Toda essa contingência fez com que a Praça da Costa e Silva, ne-gando o brilho do nome herdado, abrisse espaço para outros seres e eventos. Na cidade passou a ser referenciada como palco de hábitos noturnos ilícitos, como venda e uso de cra-
6 Famoso arquiteto-paisagista paulista, que marcou sua obra pelo adoção de formas si-nuosas e plantas nativas nos jardins que projetava.
90
COlETIVOS jUVEnIS E PARKOUR nO BRASIl: PERCURSOS InTERCUlTURAIS E IDEnTIDADES
ck, ponto de prostituição etc. Durante o dia, coreto e bosques abrigam moradores de rua, que passaram a compor o seu ce-nário deteriorado, naturalizado aos olhos dos poucos tran-seuntes. Nos fins de semana passou a abrigar os jovens que escolheram o Parkour como espaço de manifestação de sua vitalidade, amizade, sociabilidades e sonhos juvenis. Durante a exploração do campo foi perceptível a distância existente entre esses dois segmentos. Sem interação, ambos convivem no ambiente sem maior interferência ou invasão de espaços.
Desde o início dos treinos, a Praça ganhou novos ares e um novo denotativo: o de local de práticas juvenis. A presença dos traceurs alterou o cotidiano da Praça. Antes populares contornavam o lo-cal, evitando cruzar o seu interior. Depois, durante os treinos, os transeuntes trafegam normalmente e, inclusive, param para as-sistir aos movimentos, o que observamos durante visitas ao cam-po. O grupo percebe essa mudança: “É, a gente já melhorou muito essa Praça da Cepisa, porque agora ela não é mais a praça da pros-tituição, ela é a Praça do Parkour”. (Diário de Campo).
Os outros jovens, os moradores da Praça, embora se mantenham apartados, partilhando outras dinâmicas, por vezes também se permitem deixar o olhar alçar voo e fazer piruetas, acompa-nhando os corpos juvenis que insistem em vencer momenta-neamente a gravidade. Quanto aos moradores do entorno da Praça, ao tempo em que reconhecem, com tristeza, que o lugar foi “abandonado” pelo poder público, sendo utilizado para a “delinquência”, destacam que a presença dos traceurs mudou o ambiente. Referem-se, impressionados, à coragem dos jovens de permanecerem no local considerado perigoso e admiram que, diferentemente dos jovens “sem jeito, sem futuro”, estejam ali praticando “esporte” (Diário de Campo).
Do ponto de vista dos traceurs algo que muito os incomoda é, sem dúvida, a sujeira da Praça. A prática do Parkour, por recor-rer aos reflexos naturais do corpo, exige movimentos como dei-
91
Valéria Silva
tar e rolar no chão, rastejar, entre outros, o que implica entrar em contato direto com o solo, o que desagrada os jovens:
Só ressaltando aqui: tá certo que a gente tem que viver o méto-do natural, né, e se acostumar com o ambiente, mas se acostu-mar com aquilo dali é chato. Se acostumar com o fedor, se acos-tumar com camisinhas espalhadas, com roubo, também não é nada legal. Mas como o Parkour visa isso né, a gente... Isso se torna mais um obstáculo pra gente [superar]. (Traceur 8).
O entrevistado se refere ao obstáculo no sentido compreendido pelo Parkour: algo a ser superado e não algo que paralisa. As condições inapropriadas se agravam pelo fato de todos os pra-ticantes fazem traslados de ônibus e/ou a pé, muitas vezes, com roupas sujas em decorrência da precariedade do ambiente que, à época da pesquisa, não recebia qualquer atenção pública7.
Com relação aos demais espaços os jovens afirmam respeitar os ambientes onde os treinos são proibidos, no entanto a abordagem de policiais e seguranças ao grupo ainda é constante. Para eles as abordagens são desrespeitosas e preconceituosas. No Parque da Cidade foram barrados pela Polícia Ambiental. No entanto, a insistência em permanecer treinando no local levou os policiais e demais pessoas a conhecer a prática, ocasionando mudança na relação com os dirigentes do Parque e visitantes. Na atualidade a Diretoria já consulta o grupo acerca das melhorias que podem ser realizadas no local e a população já assiste aos treinos. Adotando a postura do diálogo, incentivando o conhecimento da prática, os jovens têm chamado a atenção para a questão do respeito às suas escolhas, visto não infringirem qualquer lei ou princípio de urba-nidade com o tipo de presença que têm no espaço público.
7 Neste ano de 2012 a Praça da Cepisa foi reformada pela Prefeitura Municipal de Teresina.
92
COlETIVOS jUVEnIS E PARKOUR nO BRASIl: PERCURSOS InTERCUlTURAIS E IDEnTIDADES
7. Saltando para novas expressões, intercâmbios e identidades
Nos depoimentos os sujeitos deixam claro que o ambiente pro-duzido pelo Parkour oferece o conforto para vários jovens ex-plorarem outras sociabilidades, modos de vida, identificações e diferenciações. Vivendo numa sociedade parametrada pela competição em todos os campos da vida, os jovens que de algum modo não se sentem motivados a dela participar encontram en-tre os amigos traceurs um lugar legítimo de expressão de suas individualidades sem que esse processo, necessariamente, im-plique na visualização do outro enquanto adversário, mas como parceiro. Isso facilita uma relação de empatia com o outro, de maior possibilidade de confiança, não precisando aparentar al-guém diferente do que é, nem temer o outro nas relações que estabelece. É nesse sentido que explicam a filosofia de suporte às práticas do cotidiano grupal:
...a filosofia [do Parkour] prega ser forte pra ser útil. Ser for-te através dos tempos, que essa força dure através de você e através daqueles a quem você ajudar. Então, eu treino meu corpo pra ser útil no meio da sociedade e também no meio da minha família ou no ciclo de amizades. Eu sou útil ajudando meus amigos de alguma forma, em alguma ocasião de risco, salvando alguma pessoa ou me salvando em qualquer situa-ção (...) então, essa prática também é muito de passar a expe-riência que você tem de treino para outros... (Traceur 4)
... a questão de ser forte pra poder ajudar não só na parte técnica e prática de como realizar o movimento, de como ser mais rápido, de como ser mais fluente, de como salvar alguém em um perigo imediato, mas também de atingir um ponto melhor e quando você estiver nesse ponto melhor, você também levar outras pessoas pra esse ponto, aqueles que estão precisando (...) (Traceur 5)
Encontramos posteriormente no perfil do Facebook de um dos traceurs entrevistados o seguinte registro: “Não acredito na vi-tória que traz a derrota do próximo. Treinamos juntos... evoluí-mos juntos... vencemos juntos...”. Solidariedade, disciplina, par-
93
Valéria Silva
tilha, cooperação. Reconhecidamente, são valores que guardam distância do nosso conhecido ocidente urbano e suas balizas maiores de convivência social assentadas no apelo imagético, na competição e demais valores das relações de mercado. As-sim orientado, o coletivo juvenil de praticantes de Parkour segue apostando em possibilidades diferentes daquelas hegemônicas na atualidade do convívio social urbano nas grandes cidades. Os princípios que sustentam as escolhas grupais têm migrado do interior do grupo e interferido, inclusive, nas relações dos jovens com as suas famílias. É frequente a referência que os entrevista-dos fazem às mudanças vividas, avaliando terem absorvido pa-râmetros mais afirmativos de comportamento, evitando tensões familiares, dentre outras, nos seus ambientes de convívio. Esse reconhecimento também parte dos familiares:
...no começo ela [a mãe] achava que era só brincadeira. Ela... minha mãe, minha família todinha, depois começou a achar que era perda de tempo (...) mas ela já entendeu já que é uma coisa que eu gosto, que me fez ser uma pessoa melhor, que tem respeito pelas pessoas. Porque antes a gente, eu particularmente, eu vivia brigando com o pessoal de casa, mas depois do Parkour, depois que eu comecei a estudar a filosofia e tudo mais, a gente aprende que o Parkour não é só movimento. O Parkour é respeito, é responsabilidade, é concentração e várias outras coisas. (Traceur 1).
Como se pode ver, o grupo juvenil é experienciado como um es-paço de aprendizado de vida que extrapola os exercícios físicos desenvolvidos. É retomado como um lugar de geração de senti-dos, de origem e afirmação de potencialidades ‘desconhecidas’, propiciando uma nova postura do jovem em relação ao que pen-sa dos outros e de si mesmo: “...depois que eu entrei no Parkour eu vi que eu sou capaz de determinadas coisas, sabe? Que eu nunca tô inferior a tudo, que eu sempre posso conseguir.” (Tra-ceur 7). Possivelmente, o encontro com este lugar de pertença, de descoberta e conforto com suas possibilidades se constitua no elemento de maior motivação para a participação no coletivo. Nele os jovens desencadeiam uma relação autoral com o mundo
94
COlETIVOS jUVEnIS E PARKOUR nO BRASIl: PERCURSOS InTERCUlTURAIS E IDEnTIDADES
a partir do que há de mais caro a cada um: a valorização/acei-tação da sua pessoa, da sua maneira de ser, nas possibilidades e limites que carrega. Ali adquirem/oferecem a potência/contri-buição para o estabelecimento de um coletivo ao qual se sentem pertencentes e que os representa legitimamente.
Considerações Finais
As pesquisas que deram suporte a este trabalho geraram inter-locução com momentos ricos das realidades enfrentadas, inven-tadas, modificadas e partilhadas pelos jovens participantes dos coletivos juvenis da cidade de Teresina, em especial os pratican-tes de Parkour, interesse particular desta discussão, dispondo uma profusão de novos interesses não esgotados nesta emprei-tada. Entretanto, nos marcos desta construção alguns pontos se mostram de maior relevância a destacar.
Um dos primeiros achados é que a cidade não é pensada, produzida, administrada também a partir da existência e demandas das juven-tudes. O planejamento do espaço urbano, as decisões políticas em torno da cultura e do lazer acontecem deixando ao largo um contin-gente de mais de 30% daqueles com faixa etária entre 15 a 29 anos.
As limitações hoje interpostas aos jovens diminuem as possi-bilidades de crescimento, de amadurecimento e de construção de uma vida adulta autônoma, saudável e próspera, assentada em identidades afirmativas, parâmetros ético-humanos promis-sores. Ao contrário, as duras realidades urbanas se traduzem em desproteção, na maioria das vezes, objetivada em exposição e vulnerabilidade juvenil a um quadro complexo de violências. Isso evidencia um processo permanente de negação dos jovens como sujeitos de direitos em geral, mas especialmente mostra o descaso para com as particularidades que marcam o segmento juvenil, a despeito das agendas governamentais locais-globais realçarem a necessidade de inadiável atenção às juventudes.
95
Valéria Silva
Porém, é neste cenário que, paradoxalmente, os coletivos juve-nis vêm ganhando força como alternativa concreta de geração de novas sociabilidades, de experiências e práticas juvenis que ancoram o surgimento de novas subjetividades e possibilidades outras aos jovens na sua relação com os pares e com a socieda-de, ancorados em quaisquer dos paradigmas, conforme discuti-mos. Além disso, estimulam a convivência, no espaço público, de outras sujeitos pertencentes à comunidade, derrubando alguns muros erigidos pelo apartheid social, pela cultura do medo, pela indiferença produzida/cultivada nas cidades.
Como espaço de sociabilidades e de criação, estes encerram pos-sibilidades várias e ricas à formulação da ação juvenil, às trocas sociais, à constituição de identidades. Em contextos trans-fron-teiras, de referências fluidas parecem adquirir maior relevância por colocarem em interlocução direta e permanente segmentos instados a dialogar com o mundo sobre suas dúvidas, anseios e proposições: os jovens. Os grupos se afiguram, então, como lu-gar de criação e troca, de experimento/consolidação/abandono daquilo que os jovens vão identificando/diferenciando como pa-râmetros que desejam para seus projetos de vida ou não, tensio-nados pela exigência da escolha cotidiana.
Nesse movimento os jovens traceurs, ao ambientar nas suas lo-calidades escolhas na cultura global, estabelecem conexões que alteram o ambiente onde vivem, os processos em curso e, por fim, eles próprios. Como sujeitos da história irrompem frontei-ras de classe, de territórios, de culturas, contribuindo para sín-teses que habitarão o dia-a-dia da cidade, conferindo-lhe maior complexidade. Com suas iniciativas interculturais também en-frentam o preconceito existente acerca dos jovens, em geral, e dos traceurs, em particular. A estética do Parkour - pela beleza, força, graça e coragem - atraem a atenção de pessoas que, es-quecendo a assepsia do viver na cidade, param para assistir às performances juvenis. Aos ‘voos’ e ‘quedas’ os jovens encantam os transeuntes e os levam a uma percepção diferenciada do que
96
COlETIVOS jUVEnIS E PARKOUR nO BRASIl: PERCURSOS InTERCUlTURAIS E IDEnTIDADES
é estar na Praça, de quem são e o que fazem, efetivamente. Tam-bém ‘devolvem’ à comunidade a possibilidade de usufruir dos logradouros públicos e ali desencadear novas sociabilidades, concretizando, enfim, a razão para a qual os espaços foram eri-gidos. Assim, interferem positivamente no olhar que a sociedade elabora sobre o espaço público, as juventudes, o Parkour. Suavi-zam ‘os motivos’ da desconfiança com o diferente, estabelecem a permeabilidade para com o outro, para com os trânsitos cultu-rais do nosso tempo.
Por fim, no espaço do Parkour, uma prática nascida na França e hoje presente em todo o mundo, os jovens teresinenses se articulam com outros segmentos juvenis de cidades e estados brasileiros e de diversos lugares do planeta. Vivendo o local, ar-ticulado ao global fomentam talento, aptidão, criação, práticas solidárias, libertárias nos seus espaços de vivência; exercitam a aceitação de si, a aceitação do outro. Contribuem com a melhoria do espaço partilhado e com a elaboração de consensos locais. Se neste século estamos inexoravelmente condenados aos trânsi-tos globais, embora sofrendo as feridas pela radicalização das diferenças, nada mais promissor do que as juventudes adotarem fazeres interculturais que, ao potencializar/afirmar suas identi-dades, possam suscitar o reconhecimento do que lhes soa como próprio e lhes oferece o conforto de pertença. Fazeres intercul-turais que possam, ao mesmo tempo, se constituir em esperança de superação da intolerância com os estranhos-daqui e de fora.
Referências Bibliográficas
BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2005. 110 p.
. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2001. 258 p.
BOURDIEU, Pierre. A “juventude” é apenas uma palavra. Questões de Sociolo-gia. Rio de Janeiro, Ed. Marco Zero Ltda, 1983. p. 112-126.
97
Valéria Silva
CANCLINI, Nestor. Diferentes, desiguais e desconectados. 3ª. ed. Rio de Ja-neiro: Editora da UFRJ, 2009. 283 p. (Coleção Ensaios Latino-americanos).
. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo: EDUSP, 1997. 416. p
CANEVACCI, Maximo. Culturas extremas: mutações juvenis nos corpos das metrópoles. Tradução Alba Olmi. 1ª ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.
CASTELLS, Manuel. O poder da Identidade - Vol. II. 2ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 21-28; 71-84; 257-285.
COSTA, Marcondes Brito da. O cara tem de ser; se não for, já era: construção de identidades juvenis em situação de tráfico de drogas. 2011. 290f. (Disserta-ção de Mestrado). Universidade Federal do Piauí. Teresina: 2011, 290 p.
DAYREL, Juarez. Juventude, grupos culturais e sociabilidade: comunicação, so-lidariedade e democracia. JOVENes. Revista de Estudios sobre Juventud Año 9, nº 22 México-DF: enero/junio 2005 (b). p. 314-331.
ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma história dos costumes. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor,1994. Vol. I, 277 p.
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 213 p.
GIDDENS, Anthony. Modernidade e Identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002. 233 p.
. As consequências da modernidade. São Paulo: UNESP, 1991. 177 p.
HALL, Stuart. A questão multicultural. In. HALL, Stuart. Da Diáspora: iden-tidades e mediações culturais. Org: SOVIK, Liv. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2009a. p. 49-94.
. Pensando a diáspora: reflexões sobre a terra no exterior. In. HALL, Stuart. Da Diáspora. identidades e mediações culturais. Org: SOVIK, Liv. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2009b. p. 25-48.
. A identidade cultural na pós-modernidade. 7ª ed. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2003. 102 p.
. Identidade cultural e diáspora. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janeiro: n. 24, 1996. p. 68-76.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo 2010. Dispo-nível em: www.ibge.gov.br. Acesso em diversas datas do ano 2011.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA-IBGE. Dados de população. 2009. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em diversas da-tas do ano 2010.
98
COlETIVOS jUVEnIS E PARKOUR nO BRASIl: PERCURSOS InTERCUlTURAIS E IDEnTIDADES
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA-IBGE. Censo Agrope-cuário, 2006. Disponível em: <www.ibge.goc.br/home/estatística/economia agropecuária/censoagro /2006/default/shtm>. Acesso em: 07.maio.2010.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA-IBGE. Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. Censo Demográfico 2000 e Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF 2002/2003.
KRAUSKOPF, Dina. Dimensiones críticas en la participación social de las juven-tudes. Fondo de Población de Naciones Unidas. San José, Costa Rica, 1998. Disponível em: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cyg/juven-tud/krauskopf.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2008.
MANNHEIM, Karl. Sociologia. Artigos compilados por Marialice Foracchi. São Paulo: Ática, 1982. 216 p.
. O problema da juventude na sociedade moderna. In. BRITO, Sulami-ta (Org.). Sociologia da Juventude, I: da Europa de Marx à América Latina de hoje. Rio de Janeiro: Zahar, 1968, p. 69-74.
MARGULIS, Mario e URRESTI, Marcelo. La juventud es más que una palabra. In. MARGULIS, Mario (ed). La juventud es más que una palabra. Buenos Aires, Editorial Biblos, 2000. p. 13-30.
MELUCCI, Alberto. Juventude, tempo e movimentos sociais. Revista Brasileira de Educação, Maio/Jun/Jul/Ago, nº 5; Set/Out/Nov/Dez/1997, nº 6. Número Especial
NÚCLEO DE PESQUISA SOBRE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS-NU-PEC. A Condição Juvenil em Teresina. Relatório de Pesquisa. Teresina: 2010, 240 p. mimeo.
ORGANIZAÇÃO NACIONAL DAS NAÇÕES UNIDAS-ONU. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento-PNUD, 2011.PAIS, José M. Culturas Juvenis. Lisboa, Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1993. 350 p.
. A construção sociológica da juventude: alguns contributos. Análise Social, vol. XXV (105-106), (1º, 2º). Lisboa, Instituto de Ciências Sociais/Uni-versidade de Lisboa, 1990. p. 139-165.
SILVA, Valéria. Maracatu y procesos identitarios juveniles: la trama de la cons-trucción de lo nuevo en el ambiente de la tradición y de la experiencia. Revista Chilena de Antropologia Visual. Junho/2011. p. 113-139. ISSN 0717-876X
. Coletivos Juvenis e Expressões Culturais no Brasil. In. Anais do X Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais/Sociedades desiguais e pa-
99
Valéria Silva
radigmas em confronto. vol. 04. Braga, Portugal: 2009a. p. 575-85. Disponível em: <www. conglab.ics.uminho.pt/ficheiros/Volume04.pdf>
. Coletivos juvenis no Nordeste Brasileiro: breve configuração. In. REIS, Vânia (Org). Juventudes do Nordeste do Brasil, da América Latina e do Caribe. Teresina: NUPEC/EDUFPI; Brasília: FLACSO, 2009b. p. 417-447.
. Constituição identitária juvenil: o excesso como produto/resposta ao não-lugar, à efemeridade e à fluidez. Política & Sociedade. Revista do Pro-grama de Pós-Graduação em Sociologia Política. Florianópolis: UFSC/Cidade Futura, 2006a. Vol. 05. Nº 08. p. 123-157.
SILVA, Marlúcia Valéria da. Identidade Juvenil na Modernidade Brasileira: sobre o construir-se entre tempos, espaços e possibilidades múltiplas. 409 f. 2006. (Tese) Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política-UFSC. Floria-nópolis: 2006b. 409 p.
Outros sites acessados:
http://www.45graus.com.br
http://www.epidemio-ufpel.org.br/proesf/teresina.pdf
http://noticias.terra.com.br/interna/0,,OI3845435-EI8177,00.html
http://www.cidadeverde.com/hut-lcool-e-transito-geram-92-de-acidentes--com-trauma-atendidos-92338
http://www.kalunga.com.br/revista/revista_jun07_07.asp
Recebido em 01/10/2012Aprovado em 15/11/2012
Masculinidade, Violência e Espaço Público: Notas etnográficas sobre o bairro Brasil
da Praia (Cabo Verde)1
Lorenzo I. Bordonaro2
ResumoNesse artigo, argumento que os thugs, jovens membros de gangs na cidade da Praia (Cabo Verde), não são uma descontinuidade histórica ou social, mas uma expressão paroxística de elementos próprios da cultura do país, da dinâmica identitária própria dos bairros e da masculinidade hegemônica. Na mesma medida, são também uma reação segundo lógicas sociais e culturais locais e através da apropriação de traços das culturas juvenis globais, às violentas transformações econômicas que têm marcado a socie-dade cabo-verdiana na época pós-abertura.Palavras chaves: Juventude, violência, Cabo Verde, masculinidade
1 Apesar de que minha pesquisa decorra em Cabo Verde desde 2007, este artigo baseia-se numa etnografia específica sobre o bairro Brasil da cidade da Praia que realizei em 2012. Este texto enquadra-se nas actividades financiadas pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Portugal), no âmbito da bolsa de pós-doutoramento SFRH/BPD/27069/2006.
2 Doutor em antropologia (ISCTE, 2007) e formando em pintura pelo ArCo (Lisboa). Tem tra-balhado em vários projetos de pesquisa na Guiné Bissau desde 2001 e em Cabo Verde desde 2007, focando as questões juvenis. Tem realizado intervenções artísticas na área da Grande Lisboa e em Cabo Verde. Atualmente é investigador pós-doutorado do CRIA (Centro em Rede de Investigação em Antropologia, Lisboa) e presidente da associação EBANO (Ethnography Based Art Nomad Organisation). Coordena ainda, juntamente com Ângela Nunes, o NEIJ, Núcleo de Estudos da Infância e Juventude, do CRIA.
102
mASCUlInIDADE, VIOlÊnCIA E ESPAÇO PÚBlICO: nOTAS ETnOGRáfICAS SOBRE O BAIRRO BRASIl DA PRAIA (CABO VERDE)
Masculinity, Violence and Public Space: Ethnographic Notes on Brasil
Neighbourhood (Praia, Cape Verde)
AbstractBased on ethnography carried out in Brasil neighbourhood in Praia (Cape Verde), in this article I argue that the thugs (young gang members) are not a social or historical discontinuity. They are rather a paroxistic expression of features of local culture, of the neighbourhood identity, and of the hegemonic masculinity. At the same time they are also a reaction, according do social and cultural local logics and by means of the appropriation of features of the global youth culture, to the dramatic transformations that marked Cape-Verdean history after the economic opening.Keywords: Youth, violence, Cape Verde, masculinity
*
27 de Abril de 2011 – Reportagem TCV no Jornal da Noite (Televisão de Cabo Verde)
Speaker: ”Muito boa noite. Uma criança foi assassinada nes-ta manhã de 4a Feira na cidade da Praia. Adilson tinha dois anos de idade e foi mais uma vítima da guerra de grupos de thugs que continua a atormentar a capital cabo-verdiana”.
27 de Abril de 2011 – Meu caderno de campo – Madrugada. Acorda-me o ruído profundo e sinistro de um tiro de boka bed-ju3. Depois, logo a seguir, outros disparos. Devem ser 7.35. Cinco, seis tiros. No escuro do meu quarto ouço gritos, vozes, ruído de vidros partidos. Cautelosamente, chego ao meu terraço. Outros disparos. Fico atrás do muro do terraço, tentando olhar. Um ra-
3 Boka Bedju è um tipo de pistola artesanal.
103
lorenzo I. Bordonaro
paz de tronco nu corre em direção às casas do bairro, onde não consigo ver. Depois volta para trás, fugindo pela rua, um grupo de mulheres atrás dele.
Imagem 1: A varanda da minha casa no Brasil e a rua do confrontoFotografia de: Lorenzo I. Bordonaro.
104
mASCUlInIDADE, VIOlÊnCIA E ESPAÇO PÚBlICO: nOTAS ETnOGRáfICAS SOBRE O BAIRRO BRASIl DA PRAIA (CABO VERDE)
Uma casa baixa, de pedras, pintada de branco, a porta aberta para o interior escuro, como uma boca. Repórter: “Mais uma manhã trágica na cidade da Praia, mais uma vez no bairro do Brasil, na Achada Santo António. É a terceira morte no espaço de seis meses, todos vítimas dos chamados grupos de thugs, num bairro onde toda a gente se conhece pelo nome”. Dois policia passam a frente de um grupo de pessoas a falar animadamente. A câmara enquadra uma mancha de sangre vermelho brilhante no chão.
O rapaz de tronco nu entra em sua casa, no fundo da rua, e refu-gia-se no terraço em cima do prédio. Daí com a ajuda de outras pessoas e familiares começa a bombardear a rua em baixo com uma chuva de garrafas castanhas de cerveja. Passa de um prédio ao outro, de terraço em terraço. Uma senhora de idade, com um lenço azul na cabeça, faz cair as garrafas vazias do terraço da casa para um beco, em baixo. Tenta esconde-las, na iminência da chegada da policia? Não entendo.
Neste artigo , baseado num trabalho etnográfico no bairro Brasil da cidade da Praia, Cabo Verde, viso explorar o fenômeno dos grupos juvenis de chamados thugs numa zona muito específica da cidade. Estas gangs, ligadas fortemente às zonas do território e caracterizadas por marcas identitárias complexas e heterogê-neas, têm vindo a redefinir a presença dos jovens no espaço pú-blico e mediático.
A câmara penetra dentro da casa escura, e mostra outra vez a mancha de sangue no chão. “Adilson foi a mais recente vítima, que aos dois anos de idade foi atingido por uma bala perdida enquanto se encontrava dentro de casa a tomar o pequeno almoço. Uma morte que revoltou os moradores que se dizem agastados por tanta impunidade”. A frente de um grupo de pessoas, um homem de camisola amarela e uma mulher des-penteadas choram, abraçados, e indicam a casa.
A polícia chega afinal. Dois carros do piquete. Mais um, logo depois. Com armas na mão param em frente da minha casa. Outros vão logo onde vi o rapaz se refugiar. Desço na rua, a
105
lorenzo I. Bordonaro
tempo para ver que levam o gajo algemado para o carro da policia. Depois os agentes começam a ir e vir, de um lado para o outro da rua, levando o tipo algemado. Ele está a identificar os outros que participaram na troca de tiros. Apanham duas mulheres, depois um rapaz que ainda não conheço. Falam to-dos extremamente rápidos e muitas coisas me escapam, entre os gritos e os insultos. Agora há muita gente na rua, a seguir e comentar os movimentos dos polícias.
Uma senhora é entrevistada: (em crioulo) “Estamos todos cansados, porque achamos que nós dentro da nossa zona, entre nos, devemos acabar com estas brincadeiras, porque mesmo quem não deveria, acaba por sofrer, como este anjo de Cristo, dentro de casa, sentado, estava a comer... Acho que não deviam dar um tiro, que apanhou o menino dentro de casa.” Speaker: “A revolta também para os defensores dos direitos humanos no país, a quem se pede que respondam a algumas questões”. Uma jovem mulher, furiosa, a beira das lágrimas, é entrevistada: “A policia está a violar os direitos humanos de quem? Será que aquela criança que morreu, não tinha direito à vida, a integridade física, ao descanso, a bom nome? Será que eu, que levanto da cama às seis da manhã não tenho direito ao descanso? Senhores dos direitos humanos, porque que quando a policia faz algo, vocês criticam? Fazem, bem feito, eu sou a favor da polícia. As vezes polícia exagera. Mas por amor de deus, respondam, queria ouvir a resposta da sociedade cabo-verdiana, da população de Brasil, o que é que aconteceu aqui?” Aponta a casa da criança morta.
(....)
Repórter: A população está revoltada com a situação. Quer ação para, uma vez por todas, por fim a tamanha violência. (....) Em casa de Adilson, o desespero e as lágrimas dos ir-mãos a tentar entender o sucedido. A vida de Adilson chega ao fim, vítima de mais uma briga de thugs, que fazem lei na cidade da Praia’
106
mASCUlInIDADE, VIOlÊnCIA E ESPAÇO PÚBlICO: nOTAS ETnOGRáfICAS SOBRE O BAIRRO BRASIl DA PRAIA (CABO VERDE)
Outros autores, em particular Lima (2010, 2011a, 2012) e Car-doso (2012), já têm providenciado excelentes contribuições so-bre este fenômeno no qual culturas juvenis, violência urbana e política se sobrepõem. Para este autores reenvio quem queira aprofundar o fenômeno do thugs em Cabo Verde nas suas ge-neralidades. O texto que aqui proponho não quer abranger o fenômeno dos thugs na sua generalidade. Os resultados desta pesquisa não deverão portanto ser necessariamente generaliza-dos, e as minhas conclusões estão estreitamente ligadas as espe-cificidades deste antigo bairro da capital cabo-verdiana.
Contrariamente ao que comumente é afirmado em relação ao fenômeno dos thugs nos fóruns públicos, na imprensa e nos proclamas das chefias das forças políticas e policiais, os thugs, vou manter neste texto, não representam uma anomalia so-cial. No bairro Brasil, os thugs são, pelo contrário, fortemente radicados na cultura local, e representam uma expressão pa-radoxal de elementos que caracterizam a construção local da masculinidade na sua forma hegemônica. Em outras palavras, cheguei a conclusão que os thugs não são uma descontinui-dade histórica ou social, um desvio cultural, uma anomalia no ‘funcionamento da sociedade cabo-verdiana’, mas uma expressão paroxística de elementos próprios da cultura do pais, da dinâmica identitária própria dos bairros, das ideias de masculinidade. Na mesma medida, são também, historica-mente, uma reação segundo lógicas sócias e culturais locais e através da apropriação de traços das culturas juvenis globais, às violentas transformações econômicas que têm marcado a sociedade cabo-verdiana na época pós-abertura (1990). É comum considerar a violência, e a violência urbana e o cri-me em particular, como as consequências da anomia, da de-sintegração da ordem social, como atos caóticos e associais. Acredito por contra, como salientaram Robben e Nordstrom (1995, p. 2) que a violência é uma dimensão na existência das pessoas, não algo externo à sociedade e à cultura que ‘acon-tece’ às pessoas.
107
lorenzo I. Bordonaro
O bairro Brasil e a cidade da Praia
Na cidade da Praia, o bairro Brasil é tradicionalmente considera-do um bairro ‘problemático’: pobreza, drogas, álcool, prostitui-ção marcam os discursos públicos e mediáticos sobre esta zona da cidade. A cidade capital da república de Cabo Verde, que con-ta hoje uma população de cerca de 140.000, tem sido descrita por Lima (2011b) como uma cidade partida, onde o fosso social se inscreve na morfologia urbana e na distribuição da população no território. De forma comparável a outros contextos urbanos (Simone 2004, Davis 2006), o desenvolvimento urbanístico da cidade da Praia reflete de fato a crescente polarização da popu-lação cabo-verdiana. Os agregados familiares de classe média e alta ocupam as zonas históricas requalificadas (que limitam-se essencialmente ao Platô, o antigo bairro da administração colo-nial) e as áreas residenciais construídas recentemente de acordo com a planificação urbanística. Entretanto, bairros espontâneos alastraram nos terrenos menos rentáveis. Foi precisamente nes-tas áreas e em outros bairros históricos da cidade (Achada Gran-de Frente, Achadinha, Brasil) que a maioria das questões sociais, muitas associadas à população juvenil, se tornaram particular-mente visíveis na última década. Ambiguamente identificados como ‘em risco’ ou como ‘um risco’, os jovens nestas zonas ur-banas são cada vez mais o alvo das agências sociais do governo, bem como – e de forma cada vez mais repressiva e violenta – das forças policiais e repressivas do Estado.
Apesar de ser um bairro antigo da capital, o bairro Brasil tem sido alvo de um discurso estigmatizante e apontado como re-ceptáculo de problemas sociais: nos meses da minha pesquisa etnográfica, no primeiro semestre de 2011, tinha até sido iden-tificado pelos média como o bairro mais perigoso da cidade da Praia. No bairro, desde 2009, o fenômeno dos thugs tem sido particularmente importante, caracterizando de forma marcante as dinâmicas internas do mesmo, bem como o discurso público sobre esta zona da cidade. Sem querer, com já disse, abranger o
108
mASCUlInIDADE, VIOlÊnCIA E ESPAÇO PÚBlICO: nOTAS ETnOGRáfICAS SOBRE O BAIRRO BRASIl DA PRAIA (CABO VERDE)
fenômeno nas suas generalidades, os thugs são jovens associa-dos a gangues que surgiram recente e rapidamente na Praia e no Mindelo (e mais recentemente em muitas outras zonas ur-banas) e que estão a redefinir as modalidades da ‘criminalidade juvenil’. É suficiente aqui salientar que os gangues juvenis estão geralmente associados a zonas específicas do território urbano, produzindo identidades e pertenças assentes no antagonismo violento com outros grupos similares baseados em outras zonas. A dimensão identitária e os elementos semânticos e estilísticos tornam-se centrais na produção destes grupos e secundarizam os elementos econômicos, nem sempre presentes.
Face a este fenômeno, o governo cabo-verdiano tem implemen-tado um aparato repressivo particularmente duro. De fato, como já salientei (Bordonaro 2010, 2012), a preocupação com a segu-rança urbana chegou a proporções obsessivas na última década em Cabo Verde. Desde os primeiros anos de 2000, a criminalida-de tem sido um argumento-chave no debate público e político do país. Uma série ampla de fatores levou a um aumento signifi-cativo da pequena criminalidade nas áreas urbanas: os casos de assaltos, popularizados pelo nome de kassubodi (do inglês cash or body), que levaram à morte algumas das vítimas, desencade-aram o pânico na população e suscitaram grandes contestações do governo, de forma particular quando pistolas e armas arte-sanais começaram a ser utilizadas pelos assaltantes. Os thugs, tornaram-se os folk-devils da sociedade local, contribuindo para a estigmatização e criminalização da juventude em geral e da cultura hip-hop surgida recentemente nos bairros das cidades. Numa altura de transformações rápidas e polarização de classe, a criminalidade juvenil tornou-se um tema simbólico em Cabo Verde, e os jovens delinquentes converteram-se nos bodes ex-piatórios de preocupações morais frequentemente não explici-tadas e relacionadas com as transformações sociais e culturais.
O governo cabo-verdiano, respondendo às acusações de incom-petência dos partidos de oposição e da imprensa, adotou uma
109
lorenzo I. Bordonaro
política fortemente repressiva da criminalidade juvenil, literal-mente assediando as áreas públicas e as zonas periféricas e/ou de risco em ambas as cidades principais. Até a Polícia Militar foi chamada para intervir na cidade da Praia por duas vezes, en-quanto duas novas equipas especiais foram criadas dentro da Polícia Nacional: a Brigada Anti-Crime (BAC) e a Brigada de In-vestigação Criminal (BIC).
A implementação destas medidas meramente repressivas da criminalidade juvenil tem levado a um aumento considerável da população prisional que, segundo minha investigação nos arqui-vos prisionais, quase duplicou nos últimos dez anos, e chegou, em 2009, de acordo com o relatório sobre os direitos humanos do Departamento de Estado dos Estados Unidos, a 1300 indiví-duos, cerca de 255 por 100.000, o maior valor entre os países da África Ocidental (Walmsley, 2008).
A imprensa nacional, a rádio e a televisão tiveram um papel im-portante na criação do pânico e do sentimento de insegurança nas áreas urbanas. Desde 2000, foram publicados numerosos artigos, com títulos apelativos e alarmantes, que indicavam o aumento do crime e da violência urbana, o envolvimento dos jovens dos bairros “problemáticos”, e a incapacidade da polícia para lidar com esta nova ameaça. Várias áreas da Praia são, consideradas off limits, perigosas, fora do controlo policial. Bancos, restaurantes, firmas, ministérios começaram a utilizar seguranças privados, e ao mesmo tempo muros, arame farpado, câmaras de segurança e condomínios fechados surgiram em algumas áreas das cidades4.
Apesar da campanha pública negativa e do estigma, o bairro Bra-sil mantém para os seus moradores uma identidade essencial-mente positiva. Se os operadores sociais apontam para o bairro como um exemplo de desestruturação familiar, vícios e degene-ração moral, os moradores salientam os elementos positivos do
4 Para uma comparação interessante, veja-se Caldeira (2000) sobre São Paulo, no Brasil.
110
mASCUlInIDADE, VIOlÊnCIA E ESPAÇO PÚBlICO: nOTAS ETnOGRáfICAS SOBRE O BAIRRO BRASIl DA PRAIA (CABO VERDE)
mesmo. O bairro, conforme a minha pesquisa, não sofre de pato-logias sociais, como os agentes moralizadores do estado apontam: diria mais que o Bairro está organizado de forma diferente, essen-cialmente em resposta à necessidade econômica, ao declino das oportunidade de trabalho, e à insegurança social. O bairro Bra-sil é um contexto social regulado por relações sociais complexas, socialmente estratificado, funcional segundo uma lógica própria que não é a que os decisores políticos acham apropriada. O bairro tem uma função econômica que permite a sobrevivência mesmo em situações de pobreza e desemprego prolongado através de uma lógica redistributiva que funciona através da rede de rela-ções de consanguinidade e afinidade. O bairro Brasil revela uma grande coesão social, uma identidade específica, um estilo de vida particular, em oposição a outras zonas da cidade.
Imagem 2: Vida no espaço público no bairroFotografia de: Lorenzo I. Bordonaro.
111
lorenzo I. Bordonaro
Se a maioria dos moradores do bairro Brasil, salientam a sociabili-dade do bairro como um elemento positivo, e descrevem-no como um bairro onde “se vive bem”, também apontam para a inseguran-ça que deriva da atividade dos thugs nos últimos dois anos, como o maior problema do bairro. Todavia, como demonstro a seguir , os elementos identitários do bairro e a coesão social do mesmo, não são antagônicos à lógica de atuação dos thugs, que representa pelo contrário uma manifestação, todavia ambígua, da identidade territorial. A lógica de coesão interna do bairro e a violência dos thugs estão só aparentemente em contradição.
Os thugs e o bairro: relações ambíguas
Na rua a música que vem do bar da Natalina é forte. Airton5 abre a porta da sua casa, um pequeno quarto, cama, televisão, sofá. “Entra, podes entrar”. “Posso entrar com cigarro?” pergun-to. “Podes entrar, sim”. Entro, junto a Nelu. “É aqui que estou a morar, vês? A minha mãe foi para a Guiné Conakri, minha mãe morava aqui, mas costumavam rebentar a porta6. Mas a minha mãe tem um problema de coração, ia morrer de coração... Bom, sentamo-nos aqui” Indica um sofá e umas cadeira.
Airton (24 anos) e Nelu (25 anos) foram meus vizinhos de casa durante a minha residência no bairro Brasil. Airton trabalhava como carpinteiro, de forma precária; Nelu tinha emprego está-vel, depois de alguns anos passados como lavador de carros na rua. Airton pertencia ao grupo thug mais antigo da zona do Bra-sil, denominado Tabanca. B não fazia parte de nenhum grupo.
5 Os nomes próprios das pessoas foram todos alterados, assim como outros elementos, para tornar a identificação (espero) impossível.6 Rebentar as portas (kebra porta), é a forma típica de ataque que os grupos de thugs rivais levam a cabo quando entram no bairro inimigo, para tentar penetrar nas casas dos seus inimigos.
112
mASCUlInIDADE, VIOlÊnCIA E ESPAÇO PÚBlICO: nOTAS ETnOGRáfICAS SOBRE O BAIRRO BRASIl DA PRAIA (CABO VERDE)
Além do grupo Tabanca, tinha nascido na mesma área, um outro grupo, que reunião rapazes mais novos, denominado Caixa Bai-xa (CB). Um outro grupo mais informal, Caixa Baixa Júnior (CBJ), juntava os elementos mais novos ainda. Apesar de alguns peque-no conflitos entre os membros dos dois grupos principais, Ta-banca e Caixa Baixa operavam no Brasil em acordo, num conflito particularmente áspero com os grupos thugs da zona de Achada Riba, a zona limítrofe a Norte do bairro Brasil, sempre em Acha-da Santo António. O tiroteio que descrevi no inicio e que levou à morte de Adilson, representou um episódio deste conflito.
Airton: Moro cá com o meu irmão, pagamos uma renda to-dos os meses de 3000 escudos à proprietária da casa.
Lorenzo: Mas então a casa não é da tua mãe.
Airton: Não. O meu pai é que tem casa, no Castelon (outra zona da Praia), uma casa grande.
Nelu tira do bolso um pacotinho de coca. Airton passa-lhe um fer-ro de passar roupa. Nelu pega no ferro, vira-o ao contrário, abre o pacote e começa a fazer linhas de pó branca.
Lorenzo: Porque é que não foste morar com o teu pai, lá na Castelon?.
Airton: Porque é na Castelon. Nós gostamos mais daqui, entendes? Este lugar aqui, entendes? Aqui é fixe, vês, aqui quem mora aqui não quer ir embora.
Qual é a relação do thugs com o bairro, e sobretudo, com os res-tantes moradores? Considerando que se trata de um bairro onde poucas milhares de pessoas vivem, a pergunta surgiu logo no inicio. Depois de ouvir tantas acusações, insultos, queixas públi-cas contra os thugs, comecei a me perguntar como podiam estes thugs continuar a viver num bairro onde todos se conhecem e
113
lorenzo I. Bordonaro
têm algum vinculo mais ou menos próximo de parentesco. De fato, os thugs acabam por ser filhos, netos, primos, irmãos de outras pessoas que moram no bairro.
Airton pega num bocado de palhinha e cheira uma linha, depois passa o ferro e a palhinha para mim.
Airton: Aqui é descontra, as minhas festas, a minha música, vês?
Lorenzo: E vives cá com a tua mulher e o teu filho.
Airton: Ya, ya.
Lorenzo: E estão onde?
Airton: Bom, a minha mulher e o meu filho, estão na casa da sua mãe, aqui na zona mas numa outra casa. Aqui é thu-gs, vês, thugs costumam arrebentar a porta aqui, por isso ela não quer ficar aqui, entendes?
Nelu volta a fazer mais três linhas de cocaína no ferro.
Airton: Arrebentam portas, aqui com a minha mulher e o meu filho, eles não devem pagar por isso. Aqui é des-contra, vês - enquanto me passa outra vez o ferro com as linhas de pó. Aqui nós pomos o nosso som, fazemos o nosso ‘sorvete’, vendemos...
Lorenzo: Então a guerra dos thugs não acabou ainda. Me disseram que a gente daqui queria acabar com isso...
Airton: Sim, mas os do lado de lá não querem... Vês, os do lado de lá, têm nos dados montes de tiros. Nós é que so-mos mais sofridos deles.
Lorenzo: Como assim?
114
mASCUlInIDADE, VIOlÊnCIA E ESPAÇO PÚBlICO: nOTAS ETnOGRáfICAS SOBRE O BAIRRO BRASIl DA PRAIA (CABO VERDE)
Airton: Bom, o primeiro tiro, foram eles que deram. Antes nos estávamos só naquelas nossas guerras com pedras e garrafas, nem pensávamos nas pistolas, entendes? No dia de Carnaval eles deram um tiro a Vani nas costas. 14 dias no hospital.
Lorenzo: Aquele foi o primeiro tiro que foi dado?
Airton: Foi no Carnaval de 2009.
Nelu: Deram um tiro a minha prima também, Jessica, no pescoço. Ainda tem a bala aí. Ela tem filho. Estes foram os primeiros tiros que foram dados.
Lorenzo: Mas isso, foram balas perdidas?
Airton: Não! Atiraram mesmo. Quiseram atirar. A minha prima estava vestida de homem. E a partir daí que a guer-ra tem começado mais forte. Pensámos arranjar pistolas também, para defender-nos.
Lorenzo: Mas aquela cena da guerra com garrafas e pe-dras, como é que surgiu então?
Airton: Antes, íamos para Achada Riba, bebíamos os nos-sos ponches, pegávamos as meninas de lá, eles ficaram com ciúmes, entendes, e começamos com aquela guerra de pedras e garrafas. Anos daqui, do lado de baixo (Brasil), muitos homens levaram tiros, quem no pé, quem no rabo. Assim, muitos. Nós somos mais sofridos que eles .
Lorenzo: Mas porque? Eles têm mais armas?
Airton: Não, é por causa da policia. A policia os protege. Nós, ora que fazemos algo, a policia vem só aqui, só aqui. Para nos apanhar e ba-ter-nos com bastão. Entendes. É por isso que ficamos com rancor.
115
lorenzo I. Bordonaro
Nós temos muita ‘tropa’7 na cadeia. Nós éramos muitos, mas agora somos poucos. Muitos homens estão na cadeia, a maioria. A polícia vem só contra nós. Nós que somos mais sofridos. Os outros rapazes, lá de riba, fazem alguma coisa, e eles vem só contra nós.
Lorenzo: Mas porque?
Airton: Eles é que sabem...o lado de baixo tem mais má fama, vês?
...
Lorenzo: Mas não tens medo da cadeia?
Airton: Não, responde, não tenho medo da cadeia, sabes porque? Bom, tu também, se alguém pensa te dar um tiro, não queres levar, queres dar também, entendes? E por isso.. azar tem, azar tem, podes dar uma tiro, correr mal, e vais para cadeia, entendes. Essa vida aqui é muito arriscada.
Lorenzo: Sim, mas se vais para cadeia, o teu filho, por exemplo...
Airton: Sim, eu penso nisso todos os dias, vês? Eu não sou thug, me dão fama de thug, mas eu fico sempre no meu lugar, não me meto com ninguém, vês? Aqueles de Achada Riba, vês, entram na zona, eu me defendo, entendes?
Nelu: Lorenzo, Lorenzo, uma vez era pior do que agora, an-tes que tu viesses para cá, os de Achada Riba vinha todos os dias, de dia, tipo as duas da tarde, vinham fazer abu-sos aqui no nosso bairro. Por isso que os thugs daqui não gostam deles. Eles vem aqui dão tiros, apanham crianças..
7 Tropa: elementos do grupo thug, segundo metáforas militares que são muitos utiliza-das nos grupos.
116
mASCUlInIDADE, VIOlÊnCIA E ESPAÇO PÚBlICO: nOTAS ETnOGRáfICAS SOBRE O BAIRRO BRASIl DA PRAIA (CABO VERDE)
Depois esse rapazes daqui, esses thugs daqui, da Achada Santo António, ficaram a defender o nosso bairro daqui, da Achada Santo António. Para defender o nosso bairro. Até aquela casa lá no fundo, nos defendemos.
Lorenzo: Portanto a vossa zona é até a rua do bar da Julieta
Nelu: Sim, mais de que lá não posso ir. As pessoas daqui não podem ir.
Airton: As mulheres daqui, também, não podem ir, eles ba-tem nelas.
Nelu: Também pessoas mais idosas..
Airton: Nós não fazemos isso, entendes?
Nelu: Também uma senhora aqui que vai do outro lado, vender peixe, eles dizem logo: ‘O que está fazendo aqui na nossa zona? Vai para Brasil’
Airton: É daí que a guerra surgiu, vês? Eles querem abusar, nós nunca batemos numa mulher, vês?
Lorenzo: Mas os de Achada Riba, podem vir cá no bairro?
Airton: Não, claro.
Nelu: Por respeito, também.
Airton: Quando eles vêm rebentam portas, janelas, vês? A mi-nha mãe estava aqui, vês...Os thugs aqui da nossa zona, não existiam. Eles começaram a vir, lá da zona de riba, a ‘dar no cu’ a todos aqui na zona, nós temos que manter o nosso res-peito na zona, temos que defender a nossa zona, entendes?
117
lorenzo I. Bordonaro
Nelu: As pessoas daqui levavam porrada, eles faziam o que eles queriam, por isso que os rapazes daqui, os thugs da-qui, disseram, não podem pessoas de outro bairro vir aqui fazer o que eles querem no nosso bairro, por isso que ficou assim, com rivalidade. Eu tenho família na outra zona...
Airton: é fodido...Thugs di Achada Riba vêm para fazer abusos na zona, nós não deixamos, entendes, nós defende-mos. É por isso que esta guerra fica mais dura, eles vieram matar aquele rapazinho, filho daquele holandês, Johannis, eles aproveitaram que a luz se foi, vinham para dar tiro em alguém de nós e apanharam o rapazinho.
11 Março de 2011 – reportagem TCVSpeaker: Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros no bairro Brasil da Achada Santo António. Aos todos foram três baleados, mas os outros dois estão no hospital Agostinho Neto e já não correm perigo de vida.Repórter (Imagem de Johannis em trajo branco da primeira comunhão): Johannis tinha 15 anos e é mais uma vítima da violência que reina na cidade da Praia. Morava no bairro de Brasil e foi morto a tiros ontem à noite quando se encon-trava sentado nesta praceta ginásio ao ouvir música porque não havia luz eléctrica no bairro. O pai do menino é holan-dês, e vive há 22 anos em Cabo Verde. (...)Os tiroteios e as agressões hoje fazem parte do dia a dia dos moradores do Brasil e de outros bairros da cidade da Praia.
No discurso dos thugs, a sua ação não é legitimada unicamente do antagonismo com o outro grupo. O conflito entre thugs é na prática um conflito entre zonas, que se alastra e envolve ou-tras pessoas fora dos componentes dos grupos. A lógica thugs é uma lógica de proteção e respeito, como as palavras de Airton e Nelu exemplificam, e os thugs se assumem como os ‘defenso-res’ do bairro e dos seus moradores.
118
mASCUlInIDADE, VIOlÊnCIA E ESPAÇO PÚBlICO: nOTAS ETnOGRáfICAS SOBRE O BAIRRO BRASIl DA PRAIA (CABO VERDE)
De uma forma complexa, os thugs agem, portanto, no respeito da lógica identitária do bairro, confirmam a sua coesão e legitimam a sua ação frente a si mesmos e à comunidade, com a necessidade de proteção da zona dos ataques dos rivais do bairro limítrofe. Mais do que isso, os thugs fazem a todos efeitos parte da comu-nidade do bairro, não só por terem nascido na zona, mas por fa-zerem parte dos vínculos e das redes familiares que constituem o framework da zona e a sua real estrutura social. A maioria dos thugs, especialmente os mais novos do grupo Caixa Baixa, vivem com as suas mães, sobrevivendo com pequenos trabalhos, e, prin-cipalmente, através da rede de apoio familiar e de amizades.
De fato, esta rede social de vínculos interpessoais gera alguma ambiguidade em relação ao fenômeno dos thugs. Se analisarmos a relação entre os thugs e o bairro, deparamos com uma situação mais complexa do que podemos imaginar. A ideia da violência thug como algo externo, que vem de fora, que não tem relações com os bairros onde se manifesta, é algo que é preciso ultrapas-sar para entender este fenômeno.
Assim Dudú, um rapaz que não pertencia a nenhum grupo thug:
Dudú: Imagina, tu não és thug. Tu ficas no meio de uma guerra, uma bala te apanha. Vais te vingar. Já tu és thug. Se tu vais te vingar, então já és, és considerado como thug. ... As vezes acabas thug sem querer. As vezes, tu vais para Achada Riba, tu não és thug, mas sabem que tu és do Bra-sil, eles ‘dão-te no cu’. Quando vais para lá, só para falar, eles ‘dão-te no cu’. E assim que fazem, ninguém vai para lá.
Lorenzo: Mas a coisa também acontece ao contrario? Os de riba não podem vir aqui?
Dudú: O pessoal de lá não vem para cá. Uma vês Achada estava bem, estava unida. Era uma. Agora ficaram 20, 40... Achada já estraga.
119
lorenzo I. Bordonaro
Poucos dias depois da morte de Adilson e depois que Ivan, um rapaz do grupo Caixa Baixa, já tinha sido preso por ter sido reco-nhecido como o autor do disparo, estive a realizar entrevistas no Centro de Intervenção Comunitária do Bairro Brasil8. Durante o almoço nesse espaço, tive a oportunidade de conversar com uma rapariga de 10 anos, Rita:
Rita: São os de riba que são atrevidos.
Lorenzo: Sim, mas Ivan também estava com a arma na mão!
Rita: Sim... (pouco convencida) Mas Ivan não devia ser ele só a ir para julgamento.
Lorenzo: Mas outros também irão... Valery por exemplo, conheces Valery?
Rita: Sim, é meu primo. Ivan também é meu primo...
Lorenzo: E Valery, é um bom alguém?
Rita: Sim! Ele é boa pessoa.
Lorenzo: Sim eu gosto muito de Valery também.
Rita: É um bom alguém.
Lorenzo: Mas não disseste antes que os thugs são maus?
Rita: Sim.
Lorenzo: Então?
8 Fundado em 2007 a partir de uma parceria entre a Aldeia SOS Cabo Verde e a Fundação Caboverdiana de Solidariedade
120
mASCUlInIDADE, VIOlÊnCIA E ESPAÇO PÚBlICO: nOTAS ETnOGRáfICAS SOBRE O BAIRRO BRASIl DA PRAIA (CABO VERDE)
Rita: Mas Valery é um bom alguém.
Lorenzo: Mas Valery não é thug?
Rita: É thug sim. Se vais visitá-los na cadeia, leva os meus cumprimentos para eles, fala-lhe para ficar direito.
O envolvimento de alguns rapazes no grupo dos thugs cria de fato um conflito no bairro entre duas lógicas diferentes. Por uma lado os thugs são estigmatizados. Sobretudo depois da morte de vários jovens, os moradores se queixam da insegurança no bair-ro. Todavia, numa situação onde as pessoas são todas interliga-das por vínculos de parentesco e amizade, os thugs acabam por ser netos, primos, filhos das pessoas do bairro. Ainda por cima, os thugs da zona operam – lutam - principalmente contra os thugs de uma outra zona (Achada Riba), uma zona ‘externa’ ao bairro, reforçando a identidade do mesmo e protegendo-o dos ataques dos elementos dos outros grupos thugs. Não é ilógico portanto dizer que os thugs “protegem” o bairro.
Os moradores do bairro se encontram portanto numa posição ambígua, que se manifesta na contradição entre a condenação pública e as queixas generalizadas, e a falta de colaboração com a polícia. Existe um conflito entre a lógica da pertença e identidade do bairro, que assenta em vínculos familiares e de amizade, e a lógica moral do estado e da policia. A nível abs-trato os moradores optam pela moralidade do estado (a vio-lência é para combater e a polícia deve intervir); a nível pra-tico e quotidiano optam pela a lógica da família e do bairro. Não é raro portanto, como no caso da Rita, ouvir moradores a declarar que os thugs são a desgraça do Brasil e que a polícia deveria pô-los a todos aos trabalhos forçados, mas a defender ao mesmo tempo o primo ou o neto, apesar da sua manifesta adesão a um dos grupos thugs.
121
lorenzo I. Bordonaro
Os thugs, a masculinidade hegemônica e a violência
Se a condenação da violência thug é unânime entre as pessoas com quem falei, a relação com a violência em geral é bastante mais controversa. Mesmo as pessoas que mostravam uma po-sição abertamente crítica para com os thugs, como Carlos (30 anos), tinham de fato uma postura ambígua em relação à violên-cia e ao conflito em si:
Carlos: Guerra, assim guerra. Imagina, eu e tu, nos briga-mos com socos. Tu me ganhas, não tem problema. Mas ir buscar pistolas... não!...balas!? Para matar alguém a tiro?
Lorenzo: Quando eras novo, vocês também tinham guerras?
Carlos: Sim, isto é normal. Agora, qualquer alguém, ho-mens, não sei vocês do lado de lá, mas nós Africanos, aqui, um rapaz tem que brigar. Ah sim, tens que brigar. Tens que mostrar que és galo! Até podes nunca ganhar, mas tu tens que brigar. Ficar assim, sem nunca brigares, ficas naquela ‘não, não’, bom, te batem todos os dias. Tens que brigar, tens que brigar. Aqui é a lei Africana! Em tua casa, ás vezes, podes até não fazer nada. Mas aqui na rua, é outra coisa. A rua é uma outra coisa. A rua tem a sua lei, a sua própria lei. Tens que ser homem. Imagina, nós criámos juntos. Ima-gina, dentro daquele grupo temos que saber quem é va-lente, quem que é cobarde... deve-se saber. No teu grupo, no grupo da juventude, deves saber entre os teus colegas que aquele ali é valente, que ele briga, aquele outro não, não é homem de guerra, não é homem de problemas. Tens que brigar, credo! Eu uma vez ia para a escola, bateram em mim, foi contar para casa. A minha mãe me pus na rua: ‘Vá descontar’. Tens que brigar! Se não, não almoças!
122
mASCUlInIDADE, VIOlÊnCIA E ESPAÇO PÚBlICO: nOTAS ETnOGRáfICAS SOBRE O BAIRRO BRASIl DA PRAIA (CABO VERDE)
Como já salientei, precisamos reinserir os thugs nas dinâmicas, locais e globais, da sociedade Cabo-Verdiana, rejeitando a visão comum que aponta a violência como um comportamento mons-truoso, anormal, demoníaco, não humano, associal. A violência é uma dimensão da existência das pessoas, não algo externo à sociedade e à cultura que “acontece”. Além disso, como sugere Glenn Bowman, a violência é uma força que se manifesta não só na destruição de limites, mas também na sua criação. A violên-cia, além de ser uma performance durante a qual uma entidade viola a integridade de uma outra entidade, pode também servir para produzir identidades íntegras (2001, p. 27). A violência é ‘produtora de mundos’ (world-making) (Bowman, 2001, p. 32).
Os thugs são expressão de um modelo de masculinidade que pri-vilegia o conflito, que se manifesta no bairro quotidianamente em formas mais ou menos explícitas, e que tem a ver com noções centrais a nível identitário quais ‘cobardia’, ‘afronta’, ‘respeito’, ‘valentia’9. Os thugs são uma variação sobre este tema cultural. Isso implica que o aspecto cultural, simbólico da violência no bairro é relevante na nossa análise do fenômeno thug “quanto” as questões da pobreza ou desigualdade social, que vou abordar na próxima seção. A relação entre uns elementos e os outros, entre processos econômicos e semânticos, tem que ser complexificada. Seguindo uma sugestão de Alba Zaluar (2002), podemos até dizer que o valor cultural, o lugar simbólico da violência no bairro e na construção da masculinidade é o elemento mais importante para entender o fenômeno thug da pobreza e da desigualdade social. Pobreza e desemprego não “causam” a violência de uma forma simples e direta. Os thugs não são comuns delinquentes: por isso é importante discutir a relação entre violência juvenil e a cons-trução da masculinidade nos contextos urbanos em Cabo Verde. O thug é a híper-expressão de uma identidade masculina que as-
9 É importante salientar que estou aqui a falar da ‘masculinidade hegemônica’: isto im-plica que obviamente existem outras formas de ‘masculinidade’ no contexto urbano em Cabo Verde. Vejam Carrigan, Connell, e Lee 1985 e Connell 1995.
123
lorenzo I. Bordonaro
senta na noção de respeito, e que impõe a conquista e a manuten-ção do mesmo no espaço público através do confronto com outros homens. É este terreno de cultura que permite o surgimento e o florescer, em situações bem específicas, dos thugs.
O comportamento agressivo é portanto central na construção da imagem pública dos rapazes, e torna-se fulcral na performance eficaz da masculinidade. Como algumas das entrevistas citadas apontam, o ethos dos thugs não é em contradição com esta moral do respeito e da honra. Pelo contrário, o fenômeno dos thugs é le-gitimado pelos seus membros pela sua função de proteção de de-fesa da zona dos outros grupos thugs adversários, pela defesa da honra e para ganhar respeito. De fato, os thugs do Brasil não têm uma motivação ‘material’ para entrar em conflito. Não desem-penham um papel econômico, não gerem o tráfico de droga, não ‘ganham’ nada, em termos materiais. Apesar do show off de uma ideologia power and money, das camisetas de Tony Montana10, os thugs do Brasil acreditam desempenhar uma ação de proteção ao mesmo tempo do bairro e da sua honra, ganhando respeito.
Nesse contexto, a teoria da subcultura da violência (Wolfgang e Ferracuti, 1967) parece ter algum cabimento:
The subculture of violence construct posits that it is the normative behavioural systems of groups that support, encourage, and condone violence. These norms help guide gang members in how and when they react to real or imagined slights and threats to themselves or fellow gang members, such as hostile stares (called “mad dog-ging” by street youths in Los Angeles), a chance encoun-ter with known gang enemies (e.g., when cruising or
10 O ídolo dos jovens thugs do bairro Brasil não era Che Guevara, nem Amílcar Cabral ou Malcom X: era Tony Montana, a inesquecível personagem do filme Scarface, de Brian de Palma, interpretado por Al Pacino. Mas à figura do ‘gangster’ sobrepõe-se a dos com-batentes em geral. Os combatentes, os soldados são figuras centrais na construção da identidade do thug. Os rapazes utilizam uma série de termos da linguagem militar para se identificar (a minha tropa, os meus soldados, os inimigos), e falam da sua actividade contra os grupos rivais como actividades de protecção do bairro.
124
mASCUlInIDADE, VIOlÊnCIA E ESPAÇO PÚBlICO: nOTAS ETnOGRáfICAS SOBRE O BAIRRO BRASIl DA PRAIA (CABO VERDE)
walking in nongangterritories), or paybacks (i.e., retali-ation by consciously seeking gang enemies to attack). Violence is expected or required under these and other conditions and situations; otherwise the gang member risks being disrespected (“dissed”) by other gang mem-bers. Failure to live up to these norms brings a loss of honor.... (Vigil, 2003, p. 228-9)
Todavia, temos que salientar logo que, no caso do bairro Bra-sil, não se trata de uma ‘subcultura’ de forma nenhuma: não representa uma descontinuidade em relação à ideologia da masculinidade hegemônica no bairro, nem uma característi-ca exclusiva das classes populares. Como na entrevista com Carlos, citada antes, as noções de respeito, da valentia, da ne-cessidade do confronto, são incorporadas desde a infância de uma forma relativamente geral. É claro que ser criado na cul-tura do respeito e da valentia, não implica necessariamente aderir a um grupo thug: todavia mantenho que o thug repre-senta uma manifestação quantitativamente e não qualitativa-mente diferente dessa lógica geral.
Além disso, as teorias da subcultura da violência atribuem à socialização na rua, à cultura da rua (em oposição à cultu-ra institucional/doméstica) a responsabilidade para o seu nascimento e florescer. Isto não é certamente o caso no bair-ro Brasil. Aqui, como outros autores têm reparado em ou-tros contextos (DaMatta, 1997; Hecht, 1998; Kovats-Bernat, 2006) a rua é o espaço de socialização privilegiado, e não um lugar marginal: a rua não se opõe em termos simbólicos ao espaço doméstico. A estigmatização da rua como lugar propício ao surgimento da subcultura violenta e marginal, como parece apontar a teoria da subcultura da violência, não corresponde à situação no bairro Brasil. A oposição en-tre casa e rua (home/street) não funciona aqui no bairro, apesar de ter sido utilizada recorrentemente no discurso da intervenção social (Bordonaro e Lima, 2011), no qual as-sistimos à ficção celebrativa do espaço doméstico, quer em
125
lorenzo I. Bordonaro
termos materiais (a casa) como em termos sociais (a família nuclear), como lugar apropriado para a reprodução social. A rua não representa no bairro o que Vigil define como uma ‘alteração do processo de socialização’ (2003, p. 235): pelo contrário, a rua é o espaço primário de socialização.
Além disso, a centralidade do ‘confronto’ para a reafirmação da identidade masculinidade é presente de forma similar entre as ‘forças da ordem’. Após observação de várias inter-venções policiais nos bairros, posso avançar que o policial incorpora a mesma lógica de supremacia masculina, e põe a sua farda e as suas armas ao serviço da mesma lógica da honra e do respeito. Paradoxalmente os thugs e os policias operam segundo o mesmo ethos. Apesar do seu papel insti-tucional, os agentes no terreno vêm os thugs como um desa-fio pessoal à sua autoridade, à sua supremacia masculina, ao seu domínio no espaço público. A violência e o abuso é aqui inevitável, o conflito é um conflito entre homens, mais de que entre a lei e os transgressores.
126
mASCUlInIDADE, VIOlÊnCIA E ESPAÇO PÚBlICO: nOTAS ETnOGRáfICAS SOBRE O BAIRRO BRASIl DA PRAIA (CABO VERDE)
As medidas repressivas que foram implementadas em Cabo Verde para travar a onda de violência urbana, traduziram-se de fato também em episódios de violência e violações de direitos humanos pelas forças policiais, quer durante as operações no terreno quer com indivíduos sob custódia nas esquadras. Estas violações dos direitos humanos, das quais tenho inúmeros teste-munhos, foram também salientadas pelo Departamento do Esta-do dos Estados Unidos da América, no seu relatório sobre os di-
Imagem 3: Apreensão policial no bairroFotografia de: Lorenzo I. Bordonaro.
127
lorenzo I. Bordonaro
reitos humanos de 2009. Novamente, a percepção pública desta violência é caracterizada por uma forte ambiguidade. A violên-cia policial é perfeitamente legitimada pela população em geral, pela ideia bastante comum de que a repressão violenta é a única forma de intervenção para com os thugs, e os infratores em ge-ral. “Mas quais direitos humanos! (gritava na rua uma rapariga a seguir mais um confronto entre thugs) Os direitos humanos são para as pessoas, e os thug não são pessoas (thug i ka genti)”.
Se os thugs representam uma continuidade, e não uma ruptura, são também, sem dúvida um fenômeno novo, em Cabo Verde, algo que é identificado como ‘diferente’, perturbador, chocante, que tem alterado a forma como as pessoas vivem e entendem os espaços da cidade. É importante precisar que, apesar da já salientada falta de colaboração para com as forças da ordem, as acusações e as queixas contra os thugs são muitíssimas en-tre os moradores do bairro. De fato os confrontos entre thugs têm desestabilizado as regras do convívio no espaço público da rua, tornando a violência e o confronto entre homens potencial-mente mortífera para si e – sobretudo – para os outros. Os thugs “ameaçam” o espaço e o convívio das ruas, mas não são o seu produto degenerado como as instituições de intervenção social parecem as vezes apontar.
Masculinidade em crise: os jovens sem poder social e a apropriação de estilos de juventude globais
Se com base na nossa análise encontramos as bases do compor-tamento dos thugs nos bastidores da masculinidade hegemônica em Cabo Verde, poderíamos perguntar porque é que este fenô-meno surge na década de 2000. Porque os thugs, e porque hoje? Para entender isso temos que analisar brevemente a história re-cente do bairro. De fato, sem querer generalizar forçosamente, o bairro Brasil é emblemático das transformações da economia e do mercado do emprego em Cabo Verde nos último 50 anos.
128
mASCUlInIDADE, VIOlÊnCIA E ESPAÇO PÚBlICO: nOTAS ETnOGRáfICAS SOBRE O BAIRRO BRASIl DA PRAIA (CABO VERDE)
Contrariamente a outros bairros que têm surgido recentemente na periferia e nas encostas da cidade da Praia para hospedar a crescente população da capital, o bairro Brasil é um bairro his-tórico, um dos primeiros a serem edificados fora do Platô, centro econômico e administrativo da cidade colonial. O bairro Brasil, bem como o igualmente antigo de Achada Grande de Frente, foram das primeiras expansões urbanísticas da capital. A eco-nomia do bairro foi, antes da independência, articulada com o sector da pesca industrial. Até 1975 a maioria da população do bairro Brasil era mão-de-obra para os barcos da pesca de atum (os homens) e para a fábrica de conservas (as mulheres) ULTRA de propriedade portuguesa. Paralelamente, existia um flores-cente sector de pesca artesanal. Depois da independência, em 1975, a fábrica ULTRA foi nacionalizada, acabando por fechar no inicio dos anos oitenta. O decréscimo das oportunidade de tra-balho para a mão de obra não especializada não teve efeitos dra-máticos até quando o Estado cabo-verdiano manteve um regime de partido único e uma economia fechada e nacionalizada, com produtos alimentares a preços controlados. Nessa mesma época, a ENAPOR, a empresa que geria o porto comercial da Praia, na altura do Estado, proporcionava também empregos assalariados aos homens do bairro Brasil, principalmente como estivadores.
Esta situação de relativa estabilidade veio a se alterar profunda-mente com a passagem para uma economia liberal. Com o en-cerramento da ULTRA, a privatização da ENAPOR , e o paralelo declínio da pesca artesanal, as oportunidades, no bairro Brasil, para a geração que chegou a idade do trabalho nos anos Noven-ta, decresceram de forma dramática.
De forma geral, desde esta época, com a liberalização da eco-nomia nacional e as intervenções do FMI na gestão do país, Cabo Verde tem enfrentado transformações econômicas e so-ciais profundas. Cabo Verde é um caso notável em África, pelo ótimo desempenho econômico associado à implementação de um sistema político democrático estável. As remessas dos emi-
129
lorenzo I. Bordonaro
grantes, juntamente com o interesse da indústria internacional do turismo e os investimentos do sector imobiliário, determi-naram até agora um crescimento sensível no PIB do país, e o desenvolvimento da economia cabo-verdiana é hoje compa-rável ao dos países emergentes: em 2007, as Nações Unidas promoveram Cabo Verde da categoria dos ‘países menos de-senvolvidos’ para a dos ‘países de desenvolvimento médio’. A demografia do país mostra um crescimento da população nas últimas duas décadas, de 340.000, em 1990, para 500.000, em 2009. A percentagem da população urbana também aumentou significativamente. Em 1999, 55% da população total viviam em áreas urbanas; em 2009, esse valor chegou aos 61,5%, e as projeções demográficas preveem que, em 2020, 68% da popu-lação residirá em áreas urbanas. O Mindelo, a segunda maior cidade, passou de 51.000 habitantes, em 1990, para mais de 74.000, em 2008, enquanto Praia, a capital, passou de cerca de 71.000, em 1990, para 130.000, em 2008 (INE 2008).
A sociedade cabo-verdiana apresenta-se hoje cada vez mais multifacetada e heterogênea, profundamente marcada pela de-sigualdade e pela exclusão social, pela emergência de novos esti-los de vida e de novos atores sociais, por divisões sociais dramá-ticas que põem em causa o ideal da sociedade mais igualitária do pós-independência e a real possibilidade da concretização dos direitos de cidadania e desenvolvimento para todos. Todos os indicadores nacionais apontam para uma crescente desigualda-de social e polarização de classes: apesar de a ‘classe média’ ter crescido de forma considerável nos anos mais recentes, existe um estrato da população que ainda se encontra em condições de pobreza extrema. Dez por cento da população absorvem 50% do consumo nacional, enquanto os 20% mais pobres absorvem 3% do mesmo. Estudos recentes confirmam que a percentagem de população definida como ‘pobre’ ou ‘muito pobre’ terá aumen-tado desde 1990. De 1989 a 2002 a percentagem de população ‘pobre’ aumentou de 30 para 37%; a de população ‘muito pobre’ de 14 para 20% (Sangreman, 2005, p. 20).
130
mASCUlInIDADE, VIOlÊnCIA E ESPAÇO PÚBlICO: nOTAS ETnOGRáfICAS SOBRE O BAIRRO BRASIl DA PRAIA (CABO VERDE)
O Bairro Brasil não é exceção desta diversidade interna da socieda-de cabo-verdiana. A população do bairro não é de fato homogênea em termos socioeconômicos, e existem situações profundamente diversificadas, que se refletem, também, nas diferentes tipologias habitativas que se encontram na área. O bairro Brasil é um objeto social complexo, que só por falta de análise pode ser aproximado a outras formas de marginalidade urbana, como o gueto america-no ou a favela brasileira. Como salientou Loïc Wacquant:
(U)rban marginality is not woven everywhere in the same cloth (...) The generic mechanism that produce it, like the specific forms it assumes, become fully intelligible once one take caution to embed them in the historical matrix of class, state and space characteristic of each society at a given epo-ch. It follows that we must work to develop more complex and more differentiated pictures of the ‘wretched of the city’ if we wish accurately to capture their social predica-ment and elucidate their collective fate in different national contexts (Wacquant, 2007, p. 2)
Em termos gerais todavia, a situação da população juvenil nas áreas urbanas – inclusive no bairro Brasil - é, de fato, particu-larmente crítica. As taxas de desemprego são muito elevadas, chegando a um valor de 57% entre os indivíduos de sexo mas-culino com 15 a 24 anos (INE 2008). Este dado está também re-lacionado com o declínio da emigração transnacional (Carling, 2004). Tradicionalmente, a emigração tem sido em Cabo Verde o recurso principal para a mobilidade social. Nas últimas duas décadas, todavia, as políticas migratórias cada vez mais restriti-vas dos países de destino têm impedido a porção mais pobre da nova geração de seguir os passos dos seus pais e avós, tornando para muitos deles praticamente impossível melhorar de forma significativa as suas condições econômicas:
… há poucas dúvidas em relação ao fato de que, com a restri-ção das oportunidades da emigração, os pobres foram afe-tados mais criticamente. Isto tem implicações importantes para o desenvolvimento, num país onde uma grande parte dos agregados familiares depende das remessas. Nesta situ-
131
lorenzo I. Bordonaro
ação, o acesso à esfera transnacional torna-se um elemento importante da estratificação social, interligando-se com o estatuto socioeconômico. Vir de uma família pobre torna menos provável que se tenha a possibilidade de emigrar e, quando isto acontece igualmente com os familiares pró-ximos, a probabilidade de se receber remessas é também mais reduzida. (Carling, 2004, p. 120)
Em Cabo Verde, em particular nas áreas urbanas, algumas ca-madas juvenis apresentam situações de exclusão social compa-ráveis às evidenciadas em outros contextos africanos. A questão é a da inserção problemática de um grande número de jovens na ordem socioeconômica e política do pós-independência. En-quanto as oportunidades de continuarem os seus estudos dimi-nuem para os jovens diplomados, o número de jovens desem-pregados sobe de forma dramática. Hoje, também os jovens mais escolarizados estão confrontados com a falta de oportunidades de emprego, a mobilidade social bloqueada e o desespero quan-to ao seu futuro11. Nas áreas urbanas em todo o continente, os jovens parecem serem constrangidos a permanecer jovens (de-pendentes, carentes, celibatários…) com dificuldades no acesso a salários, ao casamento ou a uma residência autônoma, numa situação que Henrik Vigh – referindo-se aos jovens na Guiné--Bissau – definiu como de moratória social (2006).
De fato, em Cabo Verde já existem duas gerações que ficaram afetadas pelas transformações socioeconômicas neoliberais: a primeira nasceu logo depois da independência e chegou a idade do trabalho nos meados dos anos noventa; a segunda, da qual fazem parte a maioria dos thugs, que nasceu nos anos noven-ta, e chegou a adolescência na década de 2010. Quando falamos
11 Existe um grande corpus de literatura sobre a juventude em África, especialmente liga-da aos contextos urbanos no pós-independência. Veja-se, entre outros, Mbembe (1985); O’Brien (1996); Anthropological Quarterly, 73 (3), Julho de 2000, e 73 (4), Outubro de 2000; Politique Africaine, 80 (Dezembro de 2000) e Autrepart, 18, organizado por René Collignon e Mamadou Diouf (2001); o volume organizado por Alcinda Honwana e Filip De Boeck (2005); Abbink e van Kessel (2005); Bordonaro e Carvalho (2010).
132
mASCUlInIDADE, VIOlÊnCIA E ESPAÇO PÚBlICO: nOTAS ETnOGRáfICAS SOBRE O BAIRRO BRASIl DA PRAIA (CABO VERDE)
portanto de crise da juventude, estamos de fato a falar de uma crise que se alastra desde os anos 90, e cujos efeitos tem afetado inicialmente uma porção da população que hoje se aproxima aos quarenta anos de idade.
Os thugs são portanto os filhos dos jovens dos anos 90, os jo-vens da assim definida “geração perdida”, de muita literatura sobre juventude africana. São os filhos da “crise da juventude”. Eles partilham com a geração precedente uma situação profun-damente precária em termos de acesso ao emprego e, em geral, uma impossibilidade de desempenhar o papel tradicionalmente atribuído aos homens adultos.
A emergência do fenômeno thug, e a interpretação que avancei segundo a qual o seu comportamento e ethos seriam expres-sões paroxísticas da ideologia de gênero masculina, está ao meu ver relacionada com uma “crise da masculinidade”, uma crise das formas de acesso à autoridade masculina. Trata-se de um processo de de-powerment de uma inteiro sector da população, que tem deixado uma geração presa entre um ideal de mascu-linidade bread-winner, economicamente dominante e autos-suficiente, e uma situação real de desemprego, dependência, e marginalidade. A masculinidade, desprovida de meios, se veste de símbolos e atos simbólicos levados até o paroxismo. Os valo-res masculinos são continuamente disputados no espaço públi-co e necessariamente reafirmados através de manifestações de agressividade e do confronto.
A tese do de-powerment não tem a ver, se não secundariamente, com a questão da pobreza material. A pobreza concreta era cer-tamente maior há 60 anos em Cabo Verde. Trata-se mais do cres-cimento da desigualdade social associada à dificuldade pelos jo-vens de ter acesso a posições de ‘autoridade’ e poder por vias socialmente legítimas – essencialmente através do trabalho ou da emigração. A dificuldade de acesso ao emprego não produz necessariamente pobreza nos jovens do Brasil, mas sim depen-
133
lorenzo I. Bordonaro
dência e imobilidade social. A procura de ‘respeito’ no contexto socioeconômico contemporâneo torna-se um quebra cabeça pe-los jovens das ‘classes populares’ em Cabo Verde.
Com isso não quero reduzir o fenômeno cultural e social em algo puramente reativo, no resultado mecânico das dinâmicas eco-nômicas. Os thugs são um fenômeno cultural e simbólico, que resulta da procura estratégica de self-empowerment (Bordona-ro 2010) através do uso apropriado de elementos semântico e comportamentos violentos, para produzir identidades positivas e eficazes num contexto marcado pela precariedade laboral e pela instabilidade econômica. A apropriação de símbolos e de elementos da cultura juvenil global do hip-hop se encaixa nes-ta mesma lógica (Redy, 2011a). Os jovens aproveitam do poder identitário dessa cultura juvenil global, e inscrevem a sua iden-tidade numa narração estilística alheia, mas que eles tornam lo-calmente significativa. Trata-se de uma apropriação, não de uma influência, que permite um acesso alternativo ao reconhecimen-to social e à construção de uma identidade forte e eficaz.
Conclusão
Os thugs são a híper-expressão de uma lógica de pertença e pro-teção, de uma ideia de respeito e valentia que é intrínseca nas dinâmicas sociais dos bairro da Praia, e que tem sido exacer-bada pelas recentes políticas econômicas e urbanística do país. Os thugs não são, portanto, uma descontinuidade histórica ou social. Não podem ser analisados separadamente do contexto onde nasceram e cresceram, como se tratasse-se de um fenôme-no social singular, atípico, desviante. Os thugs, pode parecer pa-radoxal, não são um desvio. Apesar da opinião pública os consi-dere como uma degeneração, como um elemento que corrompe a lógica do bairro e da convivência civil, devem ser considera-dos em continuidade e não em ruptura com a cultura do bairro. Sem dúvida, a influência ‘externa’ houve, e ainda há – os jovens
134
mASCUlInIDADE, VIOlÊnCIA E ESPAÇO PÚBlICO: nOTAS ETnOGRáfICAS SOBRE O BAIRRO BRASIl DA PRAIA (CABO VERDE)
em Cabo Verde fazem hoje parte da cultural juvenil ‘global’, par-tilhando traços comuns com os seus colegas em Boston, Cape Town e Rio de Janeiro.
Todavia, os thugs não são o resultado de uma ‘contaminação ex-terna’, uma doença cujas causas possam ser identificadas fora da sociedade urbana cabo-verdiana. Apontar para a influência ne-gativa do exterior sobre a juventude cabo-verdiana (deportados dos EUA, filmes, músicas..) é uma analise social míope, ou então um bode expiatório para quem, dentro e fora do pais, tem gerido a república de Cabo Verde. Os thugs são o produto dessa mesma sociedade e da forma como a mesma está inserida em dinâmi-cas econômicas e políticas globais, manifestando continuidades com as suas lógicas sociais e culturais, bem como apropriando--se de traços da cultura juvenil global. Ainda, são o resultado de um processo de marginalização das camadas juvenis e de polí-ticas sociais pouco eficazes, cujas responsabilidades são tanto locais, quando internacionais.
Referências Bibliográficas
ABBINK, Jon, e Ineke VAN KESSEL (orgs.). Vanguard or Vandals: Youth Politics and Conflict in Africa. Leiden: Brill, 2005.
BORDONARO, Lorenzo I. Semântica da violência juvenil e repressão policial em Cabo Verde. Direito e Cidadania (Praia) 30: 169-190. 2010.
BORDONARO, Lorenzo I. e Clara CARVALHO (orgs.). Youth and Modernity in Africa. Cadernos de Estudos Africanos 18/19, Lisboa. 2010.
BORDONARO, Lorenzo I. e LIMA, Redy Wilson. A gestão das crianças em situa-ção de rua e o surgimento do ‘estado serviço social’ em Cabo Verde. In Muller, Verónica R. (ed.) Crianças dos Países de Língua Portuguesa: histórias, culturas e direitos. Maringá: EDUEM, 107-138. 2011.
BORDONARO, Lorenzo I. Tolerância Zero Crioula: Cabo Verde e a “Guerra con-tra o crime”. In PUREZA, José Manuel; ROQUE, Sílvia; CARDOSO Katia (Eds.), Jovens e trajectórias de violências. Os casos de Bissau e da Praia. Coimbra: CES/Almedina: 83-106. 2012.
135
lorenzo I. Bordonaro
BOWMAN, Glenn. The violence in Identity. Em Bettina E. Schmidt e Ingo W. Schrö-der (Orgs.) Anthropology of Violence and Conflict, London, Routledge, 25-46. 2001.
CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo. São Paulo: Editora 34. 2000.
CARDOSO, Kátia. 2012. Thugs e violências: mitos, riscos e omissões. em José Maria Pureza, Sílvia Roque e Kátia Cardoso (Orgs.), Jovens e trajetórias de violências. Os casos de Bissau e da Praia. Coimbra: Almedina/CES, pp. 19-56.
CARLING, Jørgen. Emigration, return and development in Cape Verde: the im-pact of closing borders. Population, Space and Place 10 (2): 113-132. 2004.
CARRIGAN, Tim, Bob CONNELL, e John LEE. Toward a New Sociology of Mas-culinity. Theory and Society 14 (5): 551–604. 1985.
CONNELL, R. W. Masculinities. Cambridge: Polity. 1995.
DAMATTA, Roberto. A casa e a rua. Espaço, cidadania, mulher e morte no norte do Brasil. Editora Rocco: Rio de Janeiro. 1997.
DAVIS, Mike. Planet of Slums. London: Verso. 2006.
HECHT, Tobias. At Home in the Street: Street Children of Northeast Brazil. Cam-bridge: Cambridge University Press. 1998.
HONWANA, Alcinda and Filip DE BOECK (orgs.). Makers and Breakers: Children and Youth in Postcolonial Africa. Oxford e Dakar: James Currey e CODESRIA. 2005.
INE Instituto Nacional de Estatísticas. Resultados da revisão das projecções demo-graficas- Cabo Verde 2000-2020. Praia: Instituto Nacional de Estatísticas. 2008.
KOVATS-BERNAT, J. Christopher. Sleeping Rough in Port-Au-Prince: An Ethnog-raphy of Street Children and Violence in Haiti. Gainesville, Fla: University Press of Florida. 2006.
LIMA, Redy Wilson. Thugs: vítimas e/ou agentes da violência?, Revista Direito e Cidadania (Edição Especial – Política Social e Cidadania), no 30, pp. 191-220. 2010.
LIMA, Redy Wilson. Tribos urbanas da Praia: os casos dos thugs e dos rappers, em Iolanda Évora e Sónia Frias (Coords.), e-book_In Progress: 1o Seminário sobre Ciências Sociais e desenvolvimento em África. Lisboa: CEsA, pp. 43-50. 2011a.
LIMA, Redy Wilson. Praia, cidade partida: apropriação e representação dos espaços, em Luca Bussotti e Severino Ngoenha (Orgs.), Cabo Verde da independência a hoje – Estudos Pós- Coloniais. Udine: Aviani & Aviani, pp. 49-66. 2011b.
LIMA, Redy Wilson. Delinquência juvenil coletiva na Cidade da Praia: uma abordagem diacrónica, em José Maria Pureza, Sílvia Roque e Kátia Cardoso
136
mASCUlInIDADE, VIOlÊnCIA E ESPAÇO PÚBlICO: nOTAS ETnOGRáfICAS SOBRE O BAIRRO BRASIl DA PRAIA (CABO VERDE)
(Orgs.), Jovens e trajetórias de violências. Os casos de Bissau e da Praia. Coimbra: Almedina/CES, pp. 57-82. 2012.
MBEMBE, Achille. Les Jeunes et l’Ordre Politique en Afrique Noire. Paris : L’Harmattan. 1985.
O’BRIAN, Donald B. Cruise. A lost generation? Youth identity and state decay in West Africa. Em Richard Werbner e Terence Ranger (orgs.), Postcolonial Identi-ties in Africa. London and New Jersey, Zed, 55-74. 1996.
ROBBEN, Antonius C. G. M e Carolyn NORDSTROM. Introduction: The Anthro-pology and Ethnography of Violence and Sociopolítical Conflict. Em Carolyn NORDSTROM e Antonius C. G. M ROBBEN (orgs.) Fieldwork Under Fire: Con-temporary Studies of Violence and Survival. Berkeley: University of California Press. Pp. 1-24. 1995.
SANGREMAN, Carlos. A Exclusão Social Em Cabo Verde. Uma Abordagem Pre-liminar Lisboa e Praia: ACEP – Associação para a Cooperação Entre os Povos (Portugal) e Plataforma das ONGs (Cabo Verde). 2005.
SIMONE, Abdou M. For the City yet to Come: Changing African Life in Four Cities. Durham, N.C: Duke University Press. 2004.
VIGH, Henrik. Navigating Terrains of War: Youth and Soldiering in Guinea-Bis-sau. New York: Berghahn. 2006.
VIGIL, J. D. Urban Violence And Street Gangs. Annual Review of Anthropology 32 (1): 225–242. 2003.
WACQUANT, Loïc. Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Margi-nality. CAMBRIDGE: Polity. 2007.
WOLFGANG, Marvin E. and Franco FERRACUTI. The Subculture of Violence: To-wards an Integrated Theory in Criminology. London: Routledge. 1967.
ZALUAR, Alba. Oito Temas Para Debate. Violência e Segurança Pública. Sociolo-gia, Problemas e Práticas (38): 19–24. 2002.
Recebido em 01/10/2012Aprovado em 15/11/2012
Kuduro, Juventude e Estilo de Vida:Estética da diferença e cenário de escassez
Cláudio Tomás1
Frank Marcon2
ResumoO kuduro é um estilo de dança e música eletrônica surgido em Angola, nos anos noventa, em meio a um contexto social particu-lar. Inicialmente consumido e produzido por jovens da periferia na cidade de Luanda, se tornou um meio de expressão, de en-tretenimento, de socialização e de subsistência, através do qual foram constituindo autonomia e transformado simbolicamente as suas realidades de escassez. Com o acesso as tecnologias de comunicação e os movimentos de dispersão global de pessoas e de informações, o kuduro também se espalhou por outros países e ganhou outras significações. Procuramos analisar as caracte-rísticas do seu contexto de origem, as condições e implicações de tal dispersão, e os significados do estilo. Palavras-chave: Kuduro – Juventudes - Estilos de vida – Angola – Brasil - Portugal.
1 Tem a formação de base em Sociologia, é investigador associado do Centro de Estudos e Investigação Científica (CEIC) da Universidade Católica de Angola; atualmente, dou-torando em Estudos Africanos Interdisciplinares em Ciências Sociais do ISCTE – Insti-tuto Universitário de Lisboa. O foco da sua pesquisa recai sobre os conflitos violentos, a reconciliação pós-guerra e os discursos e práticas de construção de nação em Angola. 2 Professor de Antropologia na Universidade Federal de Sergipe, coordenador do Grupo de Estudos Culturais, Identidades e Relações Interétnicas.
138
KUDURO, jUVEnTUDE E ESTIlO DE VIDA: ESTÉTICA DA DIfEREnÇA E CEnáRIO DE ESCASSEZ
Kuduro, Youth and Lifestyle: Aesthetics of difference and scenario of scarcity
AbstractKuduro is a style of electronic dance music that emerged in An-gola, in the 1990s, in the midst of a particular social context. Initially consumed and produced by young people from the su-burbs in the city of Luanda, it has become a means of expres-sion, entertainment, socialization and livelihood, (and a mean to transform symbolically youth’s actual scarcity into a form of au-tonomy) (through which were constituting autonomy and trans-formed symbolically their realities of scarcity). Through access to communication technologies and the global movements of people and information, kuduro also spread to other countries and acquired other meanings. In this article we analyze the cha-racteristics of its context of origin, the conditions and ramifica-tions of its diffusion, and its meanings. Keywords: Kuduro – Youths – Lifestyles – Angola – Brazil - Portugal.
Este artigo é sobre os fenômenos que envolvem as relações entre juventudes e suas expressividades culturais e políticas na con-temporaneidade, mais especificamente ligados à música. Apro-ximadamente nos últimos quinze anos, algumas transformações sociais e acontecimentos econômicos e políticos modificaram o modo de agir, de pensar e de socializar entre os jovens. Eles passaram a se divertir, relacionar, protagonizar e manifestar de modo diferente das gerações precedentes.
Boa parte destas transformações está relacionada ao advento de novas tecnologias para a comunicação e os novos formatos de acesso ao consumo cultural. De um lado a individualização dos computadores e dos dispositivos de áudio, vídeo e informação e de outro a internet e a telefonia móvel se tornaram extrema-
139
Cláudio Tomás | frank marcon
mente populares e comuns a toda uma geração de crianças, ado-lescentes e jovens que passaram a dominar estas ferramentas e o funcionamento destes novos mecanismos de expressão desde antes de sua alfabetização, embora com intensidade desigual, a depender das condições sócio-econômicas e culturais, bem como dos contextos políticos em que vivem.
O kuduro é um estilo associado à música, com enorme poder de atração e dispersão, que foi sendo absorvido por jovens em di-ferentes partes do mundo, como fora também o rock, o reggae, o punk, o rap, entre outros - desde os anos cinquenta -, mas com a particularidade de ser um fenômeno muito mais recente, com as condicionantes de tal época e dos lugares onde foi absorvi-do. Na linha do Centre of Contemporary Cultural Studies (CCCS), vários foram os estudos que relacionaram tais estilos músicas e juventudes. Não estamos pensando em tais questões exclusiva-mente como forma de contestação de alguma ordem capitalista ou sobre contextos meramente nacionais3. Entendemos estilo de vida como uma forma de auto-exposição pessoal, pela qual se procura marcar algum tipo de distinção entre grupos que com-partilham significados, comportamentos e afinidades de gosto através da expressão alegórica da diferença perante outros, que aqui são jovens que se relacionam intensamente com a música.
No decorrer deste artigo, numa primeira parte, focamos numa revisão do contexto sócio-político em que surgiu o kuduro como estilo de música e dança que acabou caracterizando modos de ser, procurando compreender a ambiência e o momento que propicia-ram as condições para seu aparecimento, bem como papel e a in-ventividade de uma geração de jovens angolanos neste caso. Num segundo momento, analisamos quais as características sociais e estéticas do kuduro, sua produção e consumo, e quais seus desdo-bramentos em termos de transformações sobre as sociabilidades
3 Ver, por exemplo, Dick Hebdige [1979] (2004) e a compilação de Stuart Hall e Tony Jefferson (1976).
140
KUDURO, jUVEnTUDE E ESTIlO DE VIDA: ESTÉTICA DA DIfEREnÇA E CEnáRIO DE ESCASSEZ
e as subjetividades da juventude. Por último, observamos o cará-ter dispersivo do kuduro, constituindo-se em mais uma forma ex-pressiva dos jovens num cenário global, embora se tornando um significante em disputa nos mais diferentes contextos, ora mobi-lizado como estilo de vida, ora mobilizando por representações políticas, ora como produto de consumo da música global.
Contexto sóciopolítico: da economia da escassez ao kuduro O estilo de música e de dança que é hoje conhecido como kudu-ro, surgiu em Luanda, capital de Angola, entre os anos de 1995 e 1996, a partir de uma conflituosa tensão entre várias heranças históricas musicais e os universos espaciais constituídos — onde a linha que separa o asfalto do musseque4 supera a simples sig-nificação geográfica, na medida em que representa as metáforas da diferenciação estatutárias e da distribuição dos privilégios.
No início dos anos noventa o Governo angolano começou a realizar reformas liberais, ensaiando uma abertura política e a negociação com a UNITA para o fim da guerra civil, pro-metendo eleições, além de medidas econômicas para entrada de Angola numa economia de mercado. Naquele momento, o Governo restringiu os pesados subsídios estatais em vários setores desde a alimentação até a produção cultural, incluin-do-se aí a literatura, o cinema e a música. Ao mesmo tempo surgia uma geração de jovens que já nascera após a indepen-dência, em 1975, e que vivia num cenário de escassez cada vez mais profundo de bens de consumo, de certo modo órfã do sistema que alterou as condições sociais de vida no país, a partir das transformações nos setores da educação, do acesso ao emprego e à infra-estrutura urbana.
4 Expressão utilizada em Angola, como referência aos bairros periféricos aonde não che-gam infra-estrutura de asfalto, de saneamento, e oficialmente água ou luz. As casas são construídas com materiais improvisados. Expressão que no Brasil equivaleria à favela.
141
Cláudio Tomás | frank marcon
Por um lado, a economia de mercado foi sendo consolidada de-liberadamente e trouxe a possibilidade de acesso aos produtos estrangeiros, como os equipamentos eletrônicos, entre outros; por outro lado, a crise política e a continuidade da guerra civil até o ano de 2002 trouxeram como consequencia a continuidade de um governo autoritário que se perpetuou por décadas justifi-cando combater o inimigo e depois em manter a “estabilidade”.
Durante o século vinte, várias gerações de pessoas produziram experiências estéticas originais e marcaram decididamente não só a memória de alguma época da cidade de Luanda, mas tam-bém definiram as formas dos dançares populares e a história musical do país. Contudo, não raras vezes essas propostas esté-ticas surgiam de um universo de pessoas que davam voz às re-clamações e contestações de um estado social de grande tensão, ou seja, se inscreviam nos processos políticos vigentes e nele se reproduziam como agentes da contestação, da crítica e da de-núncia do regime pelo estado de exclusão social, de desigualda-de, de racismo e de pobreza. O exemplo mais sintomático aqui é o da geração de músicos da década de 1950 que deu origem ao agrupamento musical N’Gola Ritmos cuja obra e percurso cruza-ram habilmente inovações estilísticas musicais e a contestação política em relação ao regime colonial português. A Luanda co-lonial era também conhecida pelo intenso programa de eventos dançantes populares; o mais conhecido deles era o carnaval que servia de grande palco de exibição de novas propostas estéticas que, por sua vez, impunham-se nos salões e nos bailes. O carna-val era, então, esse laboratório em que se experimentavam no-vos ritmos e novas danças.
O semba, e mais especificamente o grupo os N’gola Ritmos se tornou uma referência geracional de contestação ao colonialis-mo. Sua mensagem contestatória ajudara a criar a idealização de uma consciência política que deu impulso aos movimentos na-cionalistas na luta contra o colonialismo português (Moorman, 2008). No período pós-independência — quer pela natureza do
142
KUDURO, jUVEnTUDE E ESTIlO DE VIDA: ESTÉTICA DA DIfEREnÇA E CEnáRIO DE ESCASSEZ
regime político que sucedeu ao colonialismo, quer pela situação de guerra civil em que país mergulhou — se cristalizaram os ganhos culturais nacionalistas do período colonial e, à força de programas culturais sob tutelas ideológicas, se inibiu a criativi-dade e a inovação estética no domínio da música para além de tal modelo, a partir do controle do Ministério da Cultura.
A década de 1990 marcou a virada e a ruptura com outro passa-do, o do Estado dirigista (Kurz, 1996). O regime político de par-tido único abriu-se para o multipartidarismo e marcou as pri-meiras eleições livres no País, decretando-se o fim da lógica de economia planificada do Estado e passando-se à lógica de eco-nomia de mercado. Ao mesmo tempo, os resultados eleitorais instauraram uma nova crise e não se conseguiu evitar o retorno à guerra. Uma guerra de características diferentes das anterio-res, que se traduziu na total disseminação dos focos de combate pelo país e na ocupação de cidades importantes. A dimensão do conflito alterou significativamente a composição populacional do país e produziu um grande contingente de deslocados e refu-giados, da qual parte considerável se instalou em Luanda, uma das poucas províncias de Angola que garantia o mínimo de se-gurança às pessoas.
A cidade de Luanda5 fora projetada para 700 mil habitantes no tempo colonial, e não existiam equipamentos para acolher os deslocados, muitos se dispersaram entre os bairros periféricos existentes, outros fundaram novos bairros, novas periferias, no-vos fluxos de trocas materiais e circuitos de solidariedade, mo-dificando complemente a configuração da Capital.
A guerra dobrou-se sobre a cidade e trouxe consigo os traumas dessa gente, ampliando a pobreza, agudizando a criminalidade, incrementando a prostituição e o consumo de bebidas alcoóli-
5 Para uma interessante crônica histórica da cidade de Luanda, atravessando diversos séculos e décadas do século vinte, ver Pepetela (1990).
143
Cláudio Tomás | frank marcon
cas de produção artesanal. Estas novas áreas de ocupação do entorno da cidade se tornaram algo extremamente novo. Mui-tas foram compostas na base das afinidades étnicas, levando em consideração a origem dos migrantes: Bairro Uíge, Bairro Malanjino, Bairro Huambo, etc. Rapidamente eles constituíram vida própria, a igreja6; a praça7; a casa da venda de álcool — que também era o salão de dança com música incessante8.
A crise econômica da década de 1990 provocada pelo conflito armado e pelos sucessivos planos de reformas administrativas do Estado redundou nos piores desempenhos econômicos da história do país e lançou grande parte da população em ida-de ativa para a pobreza absoluta (Rocha, 1999). A conjugação desses fatores ajudou a criar um vazio institucional e um clima de emergência social, ou seja, a capacidade institucional em as-segurar a reprodução social entrou em declínio, sendo que, ao mesmo tempo fomentou e pressionou a invenção de formas de vida alternativas para as pessoas.
Os projetos macroeconômicos do Governo apareceram um atrás do outro e as suas sucessivos falhas, conjugadas com a falta de capacidade coletiva de se pensar o futuro, deram azo a que se idealizasse o passado socialista como o paraíso perdido. Apenas na primeira metade da década de 1990, anunciaram-se meia dú-zia de programas de estabilização e de equilíbrio econômico9. Contudo, nenhum deles trouxe resultados satisfatórios. A despe-sa do Estado, com o custo da guerra, pressionou sobremaneira as finanças públicas e, diante dos baixos níveis da receita fiscal e petrolífera, o banco central procedia à emissão de mais moeda
6 Normalmente as igrejas do novo-pentecostismo. 7 Designação dada às zonas em que se aglomeram as pessoas com o objetivo de comer-cializarem diversos produtos. 8 Kiluanje Liberdade faz um retrato interessante no filme Mãe Ju. 9 http://www.ccia.ebonet.net/economia_sitmacro.html. Consultado a 12/04/2012.
144
KUDURO, jUVEnTUDE E ESTIlO DE VIDA: ESTÉTICA DA DIfEREnÇA E CEnáRIO DE ESCASSEZ
— expediente que produziu a desvalorização da mesma e co-locou a inflação monetária em níveis insustentáveis — cavando ainda mais fundo o buraco do déficit orçamentário10.
O impasse das negociações no teatro político-militar, a onipre-sença dos efeitos diretos e indiretos da guerra, a desorientação e os desaires das políticas sociais e econômicas dominaram por completo a primeira metade da década de 1990. Esses fatores minaram a possibilidade de se projetar um futuro coletivo — só restou o sonho, a utopia da nação harmônica e solidária. A incer-teza, resultante da instabilidade (Rocha, 1999) que atravessava o país, levou a que as pessoas não pensassem para além do dia de sobrevivência. O tempo cronológico passou a ser o tempo das vidas na luta pela sua manutenção e pela subsistência. O pre-sente tornou-se dominante e o dia-a-dia o palco de múltiplas im-provisações, num combativo jogo da sorte em que, no extremo, se decidia a vida ou a morte.
A produção cultural e, em particular, a musical entrou em cri-se. Produtores e músicos viram-se sem formas de financiar a manutenção e a compra de equipamentos musicais. A indústria fonográfica desapareceu e muitos artistas emigraram para o es-trangeiro, principalmente Portugal. A ausência dos músicos pro-fissionais mais conceituados teve o seu efeito: produziu o vazio institucional que servia antes de tutela aos cânones da música angolana. Nos anos 90, boa parte do que se ouviu e do que se dançou em Luanda foi facilitado por um dinâmico circuito de importação musical através do qual entrou também a “música nacional” feita no estrangeiro e, em igual proporção, a “músi-ca estrangeira” que circulava sem fronteiras globais, chegando também a Angola. Boa parte desta última era a música eletrô-nica que começava a ser produzida de forma independente na cidade e a música oriunda das pistas de dança européias e norte--americanas, conhecidas em Luanda como raves e parades.
10 http://www.oecd.org/countries/angola/35350793.pdf. Consultado a 12/04/2012.
145
Cláudio Tomás | frank marcon
Contudo, o ano de 1996 foi considerado pelos especialistas como tendo sido o da virada econômica do país: foi o ano do lançamen-to do Programa do governo Nova Vida (PNV), que se propunha ser uma nova fase de apertado controle às políticas monetárias e orça-mentais11. Com tal programa, foi de certa maneira possível estan-car a inflação galopante, bem como houve uma ligeira valorização do kwanza — que se veio notar mais acentuadamente nos anos seguintes — fruto de uma “política [monetária] que se apoiou no reforço das reservas cambiais para estabilizar a moeda nacional”12.
O PNV foi o resultado da adoção plena do pensamento econô-mico proposto pelas instituições internacionais que prestavam à assistência e assessoravam ao governo angolano na imple-mentação de políticas que visavam a estabilização econômica. O grande feito desse programa foi o do corte indiscriminado das transferências sociais do Estado, como os subsídios ao consu-mo13. Em fins dos anos noventa, de um lado, estavam presentes a consolidação macro econômica e a estabilização do mercado cambial, dois dos grandes fatores que ajudaram a impulsionar o aceleramento do crescimento econômico, e, do outro lado, a con-tinuidade da guerra e a generalizada ruptura do tecido social14.
Lentamente se estabeleceu o quadro em que a economia se ele-vou e deslocou do peso da miséria generalizada. Poucos com-partilhavam dos seus ganhos, apenas aqueles localizados muito perto da elite do poder político e outros que foram enriquecen-do com o negócio da guerra: os generais do exército angolano (Rocha, 1999, p. 29). A especulação, a acumulação e o consumo desenfreado de bens de luxo se tornaram comuns a poucos.
11 http://www.ccia.ebonet.net/economia_sitmacro.html. Consultado a 12/04/201212http://www.ccia.ebonet.net/economia_sitmacro.html. Consultado a 12/04/201213 http://www.oecd.org/countries/angola/35350793.pdf . Consultado a 12/04/201214 http://www.ccia.ebonet.net/economia_sitmacro.html. Consultado a 12/04/2012
146
KUDURO, jUVEnTUDE E ESTIlO DE VIDA: ESTÉTICA DA DIfEREnÇA E CEnáRIO DE ESCASSEZ
Num clima de crise social e de pobreza absoluta, quase que ge-neralizada, se instalou a abundância e o consumo como ideais. Tal situação produziu nas pessoas uma mistura ambígua de pos-sibilidade e impotência, de desejo e desespero. Como diz Han-nah Arendt, a abundância e a miséria são apenas duas fases da mesma moeda (1971, p. 136), na forma como se relacionam e se alimentam, criando nessa relação o que poderíamos designar como “fábrica dos desejos”.
A elite angolana desenvolveu rapidamente aquilo Achille Mbem-be designou por “rituais de ostentação” dentro de um processo que, como também refere, “consiste em mimetizar os grandes significados do consumo global” (2001, p. 198). A “fábrica de de-sejos” é também uma “fábrica de necessidades”. Essa manufatu-ra diária de necessidades, induzida pela “captação dos fluxos de troca global” (Mbembe, 2001, p. 198) produziu profundas trans-formações culturais na sociedade.
Achille Mbembe diz que nos contextos em que a carência e a escassez prevalecem, as apropriações de bens desejados se de-sencadeiam através “da pilhagem, do gozo violento, ou no reino fantasmático” (2001, p. 198). O reino fantasmático pode ser en-tendido como a negação da realidade. Em contextos de carência e escassez, a realidade apresenta-se como uma dura prisão da qual se pode escapar pela imaginação. Nesses contextos, “os poderes de imaginação são estimulados, intensificados pela própria ina-cessibilidade dos objetos de desejo” (Mbembe, 2001, p.198).
O kuduro surgiu, assim, do universo imaginário estimulado pela situação de carência e escassez que vivera Angola no período refe-rido. Esse processo foi intermediado por um registro criativo, pela estilização da linguagem e pelo desempenho corporal em que o objetivo era suspender, senão anular a realidade. Pela expressi-vidade musical dos jovens se estabeleceu uma relação dialética entre o kuduro e a realidade. Na “Origem da Tragédia Grega”, Niet-zsche refere-se ao dramaturgo como “o homem que sente a neces-
147
Cláudio Tomás | frank marcon
sidade irresistível de se transfigurar e de se exprimir em outros corpos e em outras almas” (1958, p. 98). No universo do kuduro tornou-se também notável a transfiguração da escassez e da ca-rência em ideal de opulência e autoridade, fazer-se outro daí, pela alegoria a uma condição de mando, de controle e de ostentação desejada. Por exemplo, os kuduristas adotam nomes através dos quais procuram ostentar alguma referência de poder que passam por ideais de agressividade, de superioridade e de poder de con-sumo, como: Agre-G, Gata-Agressiva, Pai Gasolina, Noite-e-dia, Pai Diesel, Puto Prata, SeBem, entre outros.
Aos poucos, criou-se ao mesmo tempo uma comunidade de par-tilha de experiências, de afetos e de dificuldades, semelhante a um coletivo anônimo de sujeitos que produz a sua própria sub-jetividade a partir da incorporação de significações imaginárias (Tello, 2003, p. 15) ou como se refere Rancière, uma “partilha do sensível” (2010, p. 13) entre os que experimentavam condições socialmente semelhantes, emergindo um produto de significa-ções em torno do kuduro.
Em tal cenário, os jovens atualizaram um costume comum em Luanda, nas décadas anteriores, que eram as festas aos finais de semana, realizadas em residências ou clubes, reunindo fami-liares e amigos, envolvidas por músicas15. Tal atualização con-sistiu no uso de um novo formato de equipamento e um novo estilo musical associado à música produzida eletronicamente e o que vinha sendo importado de outros países onde o acesso a este tipo de produção já acontecia e popularizava sonoridades elaboradas eletronicamente e digitalmente. Segundo alguns in-formantes que vivenciaram aquele momento de surgimento do estilo16, o kuduro nasceu dos encontros de jovens em que as cha-
15 Marissa Moorman (2008) estudou esta prática dos anos sessenta até os anos oitenta no livro Intonations.16 Realizamos algumas entrevistas em Lisboa, entre os anos de 2010 e 2012, e entre os jovens imigrantes envolvidos há mais tempo com o kuduro (que vivam em Luanda nos
148
KUDURO, jUVEnTUDE E ESTIlO DE VIDA: ESTÉTICA DA DIfEREnÇA E CEnáRIO DE ESCASSEZ
madas “batidas” eletrônicas eram tocadas em reuniões festivas nas ruas, casas ou discotecas, mesmo que a tal estilo ainda não se tivesse atribuído o nome de kuduro.
Mais ou menos ao mesmo tempo, apareceu Tony Amado, músico e dançarino que surgira se apresentando na Televisão Pública de Angola, com uma nova música que denominou Kuduro, em virtude de como a dançava - em várias oportunidades ele tem justificado que dera este título à música pelo fato de ser acompa-nhada por uma dança na qual deviam ser contraídas as nádegas para realizá-la17. Como a música também era produzida eletro-nicamente e num ritmo mais acelerado que os já conhecidos es-tilos semba e kizomba, sendo mais semelhante as “batidas” de que falamos acima, foi se popularizando e associando o estilo da dança ao estilo da música de batida rápida e de formato eletrô-nico. Em seguida, Sebem, um jovem animador de festas começou a popularizar uma forma de executar tais músicas, verbalizando algo de improviso por cima delas, mandando mensagens para as pessoas presentes numa dada festa - ou mesmo para as ausen-tes - às vezes com alguma provocação. Tais elementos: a música eletrônica, a dança e a animação passaram a caracterizar o que se popularizou como kuduro18.
Para além de ser uma revolução estética no domínio das per-formances artísticas locais, o kuduro também provoca uma con-
anos noventa) estas informações se repetem. Assim, como em várias entrevistas sobre o assunto, que foram gravadas de programas de televisão de Angola (Entre outros Sempre a Subir e Janela Aberta), disponíveis na rede mundial de computadores no site do youtu-be, o mesmo tipo de informação é repetida. 17 Ver trecho do programa Conversas no Quintal, com Tony amado, transmitido em 1996. Acesso em 01/06/2012: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SdmR7AZS9cE#!18 Não se trata de tomar uma posição sobre o que é ou que não é kuduro, nem mesmo de atribuir a origem do estilo aos dois nomes mencionados, mas sim trazer dois fatos publi-camente reconhecidos. Vários depoimentos neste sentido estão disponíveis no youtube. Por exemplo: http://www.youtube.com/watch?v =xSZ58M-SDZg.
149
Cláudio Tomás | frank marcon
testação da ordem social, associada à ocupação territorial de Luanda, que tornou muito apelativa a proposta de invenção e “criação” de um novo contexto de significados. Deste modo, con-sideramos que o estilo é o resultado de um “imaginário” possi-bilitado pela ascensão e o estabelecimento de um novo univer-so de sentidos19. O kuduro marcou a ascensão de um discurso de autonomia perante uma tutela da estética musical exercida por uma geração de músicos estabelecidos anteriormente, mas também a constituição de um universo que representava a le-gitimidade em transgredir as metáforas da ordem na cidade de Luanda, do domínio da tensão dual entre o asfalto e o musseque, entre integrados e excluídos, entre civilizados e matumbos20.
O estilo de uma geração: estética, produção e a circulação do kuduro
Desde fins dos anos noventa, o kuduro se transformou num es-tilo predominante entre os jovens em Luanda. Acompanhando a estabilização do modelo de economia liberal na última década no País, os jovens passaram a dedicar boa parte de seu tempo li-vre e de seu desejo de autonomia, de expressão e de visibilidade à música e à dança21.
No que diz respeito à produção, as músicas eram e continuam sen-do feitas em estúdios caseiros com uso de microcomputadores. Antes elas eram gravadas em CDs e agora também diretamente
19 Pensamos aqui “imaginário” como definido por Cornelius Castoriadis, como tratar-se “(...) de um deslizamento, ou de um deslocamento de sentido, onde símbolos já dispo-níveis são investidos de outras significações que não suas significações “normais” ou “canônicas”.” (1982, p. 154).20 Expressão pejorativa utilizada nos tempos coloniais e ainda hoje com referência aos que vem do interior, de áreas rurais, sem escolaridade e de jeito grosseiro. 21 Kiluanji Liberdade e Inês Gonçalves realizaram em 2009 um filme denominado Luan-da: fábrica da música, que reflete bem a intensidade com que os jovens da cidade viven-ciam a música.
150
KUDURO, jUVEnTUDE E ESTIlO DE VIDA: ESTÉTICA DA DIfEREnÇA E CEnáRIO DE ESCASSEZ
nas memórias virtuais, dali circulando através dos taxistas e dos DJs nas festas realizadas nos bairros. De certa forma, tal formato de circulação possibilitou a popularidade de alguns grupos que, com isto, chegaram à rádio e à televisão aberta diante do progres-sivo reconhecimento nacional que o estilo foi conquistando, o que levou alguns grupos à gravação de CDs em produtoras e distribui-doras do mercado fonográfico internacional, embora este não seja o modo mais comum de produção e de consumo do kuduro, que é caracterizado pelo próprio sentido de inovação, pela existência instantânea, avessa ao longo tempo de circulação na mídia, e pela substituição muito rápida de novos sucessos. Na lógica de consu-mo do kuduro, as novas músicas são gravadas por cima das mú-sicas que antes eram tocadas e caíram no esquecimento – talvez pela falta de um suporte fixo. Poucas delas sobrevivem à intensi-dade com que se produzem os chamados novos toques musicais, surgem novos artistas e novas coreografias de danças.
Se pensarmos ainda nos hábitos de consumo musical do kuduro entre estes jovens, percebemos que eles estão menos sujeitos aos controles das distribuidoras comerciais, pois esta modali-dade de música circula inicialmente através do contato face a face com os amigos, através dos celulares, de pen-drives e outros suportes móveis de arquivo ou principalmente através das redes sociais virtuais, das quais os membros dos grupos de kuduro fa-zem parte. Depois, podem ser mostrados nas reuniões e festas escolares e de amigos, nos táxis lotação e nas rádios e TVs.
Além destas características, chamamos a atenção para duas questões. Primeiro, desde o surgimento do kuduro, os jovens foram e são os criadores e os motivadores da produção e do consumo do estilo, que passou também a estar associado ao seu modo de ser. Ou seja, é através dos jovens que o kuduro circula e acontece. Segundo, o kuduro se movimentou com estes jovens para além das fronteiras de Luanda e de Angola, num contexto de movimentos migratórios e intercâmbios de consumo cultural e em escala global. De algum modo estas duas questões estão
151
Cláudio Tomás | frank marcon
articuladas entre si, mas antes trataremos delas em separado, pela relevância para o entendimento de uma dinâmica de socia-lização e de vivência que se alterou radicalmente nas últimas duas décadas em Angola, emergindo um ciclo em que o “faça você mesmo” pela sua diversão e por si, se tornou uma forma de expressão descomprometida, de sobrevivência econômica rele-vante ou mais recentemente também numa modalidade de rei-vindicação por democracia e ampliação de direitos políticos22.
O meio e a lógica através dos quais tais jovens aprenderam a produzir e a fazer circular o kuduro, bem como através do qual criaram possibilidades alternativas e autônomas de subsistên-cia, de acesso à informação e à comunicação, fez surgir jovens tecnicamente mais experientes, mas ativos e mais criativos, quando as possibilidades de expressão, de lazer ou de reivin-dicação passam pelo uso das tecnologias de comunicação. Esta não é uma característica exclusiva dos jovens em Angola, mas consideravelmente impactante com relação ao acesso a recursos num contexto anterior – o de escassez. Concordamos com Mar-tín-Barbero (2008), quando este autor constata que nas últimas duas décadas vivenciamos mudanças significativas nas “sociabi-lidades, tecnicidades e subjetividades entre os jovens”, a partir da popularização global das novas tecnologias de informação e comunicação, o que também se aplica aos jovens em Luanda.
22 Recentemente alguns jovens têm utilizado as redes sociais na internet como forma de contestação, mobilização e denúncia contra o governo angolano, marcando passeatas e protestos no País, o que é algo novo.
152
KUDURO, jUVEnTUDE E ESTIlO DE VIDA: ESTÉTICA DA DIfEREnÇA E CEnáRIO DE ESCASSEZ
Imagem 1: DJ e equipamentos no quarto de casa – Lisboa (2010)Fotografia de: Frank Marcon
153
Cláudio Tomás | frank marcon
O kuduro é um estilo da era dos equipamentos eletrônicos e das mídias individuais, assim como vários outros estilos de música produzida e reproduzida por computadores. Em termos estéti-cos, a sonoridade e a imagem, ou a música e a dança, têm uma re-lação direta entre si, sendo a internet o principal canal pelo qual o estilo se popularizou. Simon Frith (2002) faz uma reflexão interessante sobre como vê a simbiose entre a tevê e o rock, a partir dos anos sessenta, dizendo que a estética deste estilo mu-sical esteve profundamente associada à imagem, intensamente popularizada pela televisão. No caso de expressões musicais ele-trônicas, que emergiram nas últimas duas décadas, tal simbiose também pode ser estabelecida com referência à imagem, no sen-tido de que há uma complementaridade e interdependência com a música, se pensarmos na relação entre os domínios da produ-ção e da edição sonora e visual por parte dos músicos e do uso dos computadores e da internet. Eles dão sentido ao que fazem, articulando a expressão corporal e a sonoridade, numa relação entre as batidas, os gestos e as letras das músicas, como se atra-vés do apelo sonoro a mensagem fosse visualmente mimetizada.
Numa perspectiva social da música, como diria Sarah Thorthon (1996) sobre a cultura clubber, podemos também entender o ku-duro como uma experiência auditiva que está associada necessa-riamente à experiência do corpo em movimento: a dança. Uma fa-ceta social deste estilo que articula a motivação pela qual a música é produzida e pela qual ela é consumida. Fazer dançar é uma das principais finalidades do kuduro. A base da dança são as formas de balanço do quadril, com as nádegas contidas, associadas a uma variedade de movimentos com a cabeça, os braços, as pernas e o tórax através de acrobacias que procuram acompanhar a bati-da forte e veloz da música, que alcança 149 batidas por minuto (bpm), na linguagem dos produtores de música eletrônica.
O kuduro é dançado desacompanhado, em alguns casos é com-posto por passos solos ou, em outros, os passos são coordenados em conjunto por um dado grupo. Durante a dança, observam-se
154
KUDURO, jUVEnTUDE E ESTIlO DE VIDA: ESTÉTICA DA DIfEREnÇA E CEnáRIO DE ESCASSEZ
alguns aspectos lúdicos nas expressões corporais, tais como care-tas e formas de movimento que testam ou brincam com os limi-tes do corpo23, através de coreografias inusitadas e rapidamente alternadas (Marcon, 2012a). Seja no palco, nos vídeos postados na internet, nas exibições em festas fechadas ou nos encontros de rua, estas expressões estão repletas de sensualidade e de sarcas-mo. Se a dança ficou marcada por movimentos inusitados e pouco convencionais, nos quais se demonstram habilidades individuais e elasticidade corporal, a música se caracterizou por falar do coti-diano da vida nos bairros, das próprias festas e de temas relacio-nados às suas concepções sobre juventude, mas também de pro-blemas sociais ou ainda das disputas entre grupos rivais e de suas próprias habilidades para rimar e dançar.
Portanto, o kuduro é uma estética associada a um contexto so-cial e local de periferização, através do qual se experimenta o convívio e a comunicação entre produtores e consumidores do estilo, que são basicamente adolescentes e jovens na média dos dezoito anos, um pouco menos ou mais. As características são as produções autônomas; o fator criação; e a liberdade de ex-pressão corporal, sonora e narrativa. As letras são elaboradas em língua portuguesa, porém longe da sintaxe formal, incorpo-rando várias gírias, assim como palavras oriundas das línguas étnicas de Angola, ou mesmo palavras codificadas cujo sentido é de domínio restrito entre os jovens de um grupo ou bairro. Esta característica de zombar e distorcer a língua formal de padrão escolar e dos circuitos elitizados, de certo modo acontece tam-bém com a produção da música, quando a partir dos recortes e das misturas eles inovam no uso exagerado de recursos de efei-to, na altura das batidas ou na sua velocidade. Semelhante ao que ocorre com relação ao corpo, quando deformam os formatos de posturas padronizadas socialmente: mancando, arrastando--se, torcendo-se, saltando, virando os olhos e a boca; tais jovens
23 Ferreira (2008) tem dado ênfase a esta relação entre os usos e sentidos dados ao corpo e os estilos e culturas juvenis, como marcadores de formas de existência implicadas por certa articulação situacional e circunstancial de afetos e afinidades especificas.
155
Cláudio Tomás | frank marcon
desafiam certa lógica convencional e disciplinadora da presença do corpo na vida normativa. Ainda merece destaque a indumen-tária colorida, com adereços infindáveis (brincos, cintos, coletes, gargantilhas, pulseiras) e os cortes de cabelo extravagantes. A plenitude imaginária do consumo é assim vivenciada pela cria-tividade e pela velocidade com que se transformam os objetos e as informações do cenário de escassez em abundância e em agência expressiva por parte da juventude.
A autonomia e a criatividade para lidar com a tecnologia a partir de recursos mínimos é um ponto chave para o entendimento so-bre a produção e a circulação da música e mais recentemente dos vídeos. Se o primeiro interesse destes jovens foi ou é principal-mente a música, a dança e a diversão, incluindo-se aí o convívio e o envolvimento com outros estilos como rap, o reggae, a kizomba e o afrohouse, em alguns contextos o domínio de tais saberes e recursos tecnológicos de comunicação ganhou outros objetivos mais econômicos ou mais políticos. Estes jovens deixaram de esperar a definição, a orientação ou assistência do Estado ou da família para satisfazerem seus desejos ou resolverem seus proble-mas e passaram a criar soluções próprias e a manifestarem suas percepções de vida em vários contextos com os meios que tem a sua disposição. Em algum momento, a música foi um dos princi-pais produtos destas expressões, mas não o único e nem sempre tratando apenas de festas entre amigos ou paqueras, mas também de conflitos entre grupos rivais, de questões relacionadas às suas comunidades ou de interesse público mais amplo e, em alguns ca-sos, mais diretamente opinativos, contestadores ou políticos.
Entre as expressões destes jovens através das letras de kuduro, o refrão da música “Felicidade”, de Sebem, já nos anos noventa repetia com insistência a expressão felicidade, como uma pro-clamação do estilo e também como celebração da alegria deseja-da em Angola: “todos nós sentimos a felicidade, todos nós quere-mos a felicidade, a felicidade, a felicidade (...)”. Ao mesmo tempo ou logo em seguida, outras músicas foram surgindo em que eram
156
KUDURO, jUVEnTUDE E ESTIlO DE VIDA: ESTÉTICA DA DIfEREnÇA E CEnáRIO DE ESCASSEZ
comuns as provocações entre músicos ou grupos de músicos as-sociados aos bairros de Luanda, como as célebres provocações entre Máquina do Inferno e Pai Diesel, no início da década passa-da, e mais recentemente entre os Lambas e os Turbante. Outras são letras trazendo mensagens sobre valores compartilhados no cotidiano, como “detesto a mentira e a mentira me detesta” (Máquina do Inferno) ou como mais recentemente Puto Lílas, com uma mensagem de ordem social, na música “Lava mão com água e sabão”. Também DJ Sóttão, com mensagens moralizantes e irônicas sobre o comportamento dos adolescentes, com “Tá a se sentir moça” e “Ta a se sentir moço” criticando os modos de ser daqueles que ele considera como adiantados na indepen-dência com relação a moral familiar. O cotidiano da perseguição policial contra os jovens nos musseques também é retratado em várias oportunidades por alguns grupos como os Lambas. Já as questões associadas aos conflitos de valores entre gerações es-tão presentes em algumas letras, como na música Minguito, de Moreno Crack e Piri-Pack, e na música de Game Walla, como no refrão “a kassumuna quis me morder mais eu não deixei”, que fala metaforicamente e ironicamente da relação entre professo-res e alunos, pais e filhos. Num outro sentido, Dog Murras cele-bra Angola e a originalidade da vida efusiva, festiva, dinâmica e conflituosa nos musseques, iniciando suas músicas com uma frase “eh, a família angolana”, como na letra de “Fogo no Mus-seque”, associando aquelas características a um modo de ser da sociedade angolana. Estes músicos falam de si, do seu dia-a-dia, de suas vidas e do que acreditam.
Dispersão global e processos de re-significação do estilo
Nos últimos quinze anos o kuduro ultrapassou as fronteiras de Angola, quase que ao mesmo tempo em que foi se consolidando como um estilo de música urbana e da juventude. Lembrando da perspectiva de Paul Gilroy (2001) sobre os fluxos de pesso-as, de discursos e da própria expressão musical através do que
157
Cláudio Tomás | frank marcon
ele denominou de Atlântico Negro, vale mencionar que tanto numa perspectiva localizada quanto conectada globalmente, pode haver entre os jovens que produzem e ouvem o kuduro a configuração de um estilo de vida específico e alguma co-relação entre sentimentos coletivos de afetos, de pertencimentos e de solidariedades através de tal expressão. Por mais diferenciadas que possam ser as formas pelas quais a música ou a dança foram sendo absorvidas mundo afora, quando são associadas à palavra kuduro se tornaram significantes em disputa.
Provocados por mudanças políticas e econômicas, os fluxos de capitais, de informações e de pessoas se tornaram mais dinâ-micos e velozes nas últimas duas décadas. As fronteiras dos es-tados nacionais ficaram mais porosas e fluídas e as distâncias encurtaram com o aumento da oferta de transportes e de comu-nicação. Diante de tais observações, concordamos com a cons-tatação de Appadurai (2004) que os meios de comunicação e os movimentos migratórios de massa na contemporaneidade apre-sentam questões antropo-sociológicas que devem nos fazer pen-sar na relação das comunicações, das solidariedades, das trocas econômicas, das hierarquias, das produções, dos consumos, das identidades e das tensões frente aos fenômenos de desterrito-rialização étnica, financeira, ideológica, midiática e técnica.
Algumas destas dinâmicas têm se constituído a partir de cenários particularizados por condições específicas, como a criação de blo-cos e de comunidades econômicas e políticas transnacionais, que favorecem ou facilitam alguns fluxos de pessoas, de capitais e de informações. Entre tantos blocos e reordenações geopolíticas, foi criada a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)24, em 1996, congregando os países Angola, Brasil, Cabo Verde, Gui-né Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor
24 Alguns dados políticos da instalação da CPLP são discutidos em Bela Feldman--Bianco (2002).
158
KUDURO, jUVEnTUDE E ESTIlO DE VIDA: ESTÉTICA DA DIfEREnÇA E CEnáRIO DE ESCASSEZ
Leste.25 Esse tipo de comunidade e de aproximação transnacio-nal e transcontinental com alusão à “língua” se inscreve em inte-resses diversos de cooperação técnica, econômica e política, em meio aos crescentes rearranjos diplomáticos por posições de he-gemonia num contexto global. A CPLP é uma instituição que atua no sentido de consolidar não apenas um bloco de países, mas um tipo de comunidade supranacional, em que a justificativa de que exista uma língua portuguesa e uma história político-cultural co-muns é chamada a representar os fatores que sustentam interes-ses econômicos e o argumento político de sentimentos coletivos em torno da ideia que se faz de “comunidade”.
Quando tomamos um estilo como kuduro e pensamos em sua presença em Angola, no Brasil e em Portugal, por exemplo, per-cebemos como as experiências das juventudes de distintos lu-gares se apropriam de expressividades comuns que localmente nem sempre adquirem o mesmo sentido, mas que em virtude de algumas formas de conexão viajam e são resignificadas. Para Homi Bhabha (1998) e Stuart Hall (2003), os cenários do pós--colonial e da globalização contemporânea nos incitam pensar sobre novas modalidades de expressão de identidades e de di-ferenciação fundados em “localismos” nem sempre tão particu-lares, mas que estão diante de configurações sociais possíveis. O que significa que o reconhecimento das análises contemporâne-as de que os processos de identificação e diferenciação passam por um primado discursivo e inventivo, não impede que eles existam para aqueles que os utilizam (Almeida, 2000, p. 238). O objetivo, neste caso, é compreendermos suas formas de expres-são e percebermos suas lógicas e contradições.
Levamos em consideração que mesmo não sendo um Estado, a CPLP é uma “comunidade imaginada” no sentido que Benedict Anderson (1989) deu ao termo, mas também como na crítica de
25 Para informações sobre a história da CPLP, países membros, regimentos, objetivos, reuniões, discursos oficiais dos presidentes, acessar o site www.cplp.org/
159
Cláudio Tomás | frank marcon
Partha Chatterjee (2004) que tal imaginação se constitui a par-tir de um contexto heterogêneo, no qual aqueles que vivenciam a experiência desta imaginação produzem formas, sentimentos e sentidos distintos sobre sua significação. É interessante, por exemplo, polemizarmos questões relacionadas à juventude num contexto de países de língua portuguesa para explorarmos ques-tões que podem estar relacionadas às conexões, às inflexões e às culturas de contraste compartilhadas, mas também distintas, entre tais países ou no interior deles. Tanto na esfera do micro quanto do macro político, da economia e dos significados, há questões reflexivas significativas para questionarmos certos fenômenos sociais sob o viés do desenraizamento cultural, da perspectiva extranacional ou a partir das encruzilhadas, como sugeriram James Clifford (1997) e Paul Gilroy (2001), no sentido dos encontros culturais e dos contextos das contradições e am-bivalências das experiências sociais.
Como vimos anteriormente, aquilo que é denominado por kudu-ro é um estilo de música e dança que surgiu em Luanda, nos anos noventa, num cenário de transformações profundas na política e na economia de Angola. Países como Portugal e Brasil, além de outros, direta ou indiretamente estiveram envolvidos no pro-cesso como interlocutores, como negociadores e como investi-dores, às vezes como espectro de laços passados “contra o quê” ou “para o quê” se projetavam às expectativas do País na cons-trução do seu ideal de nação. O momento pós-independência não se traduziu necessariamente na eliminação ou na superação das representações hierárquicas de poder, mas gerou processos carregados de ambivalência. Pensarmos o kuduro e a juventu-de neste contexto implica também a necessidade de irmos além fronteira. Ou seja, é preciso seguir os jovens e pensar o kuduro dentro e fora de Angola, num movimento mais amplo, que nos coloque diante da capacidade de percebermos os elementos de uma caracterização do estilo, que se torna significativo para os que o produzem e ou o consomem de diferentes modos e impli-cados por outros gostos e sentimentos em diferentes contextos.
160
KUDURO, jUVEnTUDE E ESTIlO DE VIDA: ESTÉTICA DA DIfEREnÇA E CEnáRIO DE ESCASSEZ
Quando associado a um fenômeno global de difusão de estilos musicais, que se internacionalizou primeiro através dos movi-mentos migratórios, depois circulando através de sites, blogs e redes sociais pela internet, ao mesmo tempo em que populari-zado chegou à televisão, observamos outras facetas do kuduro, inclusive certo fetiche sobre os significados que a denominação e o estilo podem sugerir, dentro e fora de Angola. São vários os programas de rádio e televisão e os concursos de música e de dança patrocinados por empresas e pelo Governo angolano, assumindo-o como um símbolo nacional. Além de horários com programações permanentes voltadas ao kuduro, surgem pro-gramas dedicados aos debates sobre a popularidade do estilo, suas inovações, sua (boa ou má) qualidade estética e sua origem.
Através do estilo têm-se ditado modas, comportamentos e for-mas de representar o presente. Em setembro deste ano, a Tele-visão Pública de Angola começou a transmitir uma novela cujo título é o nome de uma música e de seu próprio refrão, que se tornou repentina e internacionalmente famosa no ano de 2009: Windeck26. É um exemplo de como nos últimos anos o kuduro e as mensagens que circulam juntamente com o estilo tem sido propagado como uma expressão da música nacional, tanto pelo governo quanto pela mídia angolana, deixando de ser um pro-duto de exclusiva marginalidade para se tornar um símbolo da “cultura nacional” dentro e fora do País27.
26 O autor da música é Cabo Snoop, que explica o significado da palavra como uma “cha-mada de atenção para coisas positivas”. Em entrevista ao Jornal de Angola disse que esta foi sua primeira música e que a foi passando aos amigos através do bluetooth, de repente estava em discotecas, depois de postado o vídeo no youtube se internacionalizou, com mais de um milhão de acessos. Em virtude disto, o nome de seu primeiro álbum é Blue-tooth. Acesso: http://jornaldeangola.sapo.ao/17/0/cabo_snoop_o_autor_do_tema_ win-deck. Mais sobre a novela, ver o endereço no eletrônico: http://windecktv.com/27 Alguns músicos de kuduro têm, inclusive, associado mais fortemente o estilo a símbo-los da nação como a bandeira, o escudo nacional e outros, além de músicas com letras que falam de uma angolanidade. Estes músicos têm circulado por outros países a difun-dir o estilo à convite de órgãos do Estado. Dog Murras é um deles.
161
Cláudio Tomás | frank marcon
Em Portugal, o kuduro está relacionado à questão dos jovens imigrantes, dos jovens afro-descendentes e de modo mais amplo da juventude em geral que vive na periferia da Área Metropoli-tana de Lisboa. Suas formas de expressão estão implicadas por condicionantes contemporâneos de percepção sobre inclusão e exclusão no contexto das novas configurações sociais e políticas do cenário “pós-colonial”, em que os significados de identifica-ção e diferença étnica, nacional ou racial são, muitas vezes, acio-nados e re-contextualizados. 28
O kuduro se tornou muito popular entre os jovens, principal-mente entre o enorme número de imigrantes e descendentes de africanos, como se vê nas denominadas festas ou noites africa-nas nas discotecas de Lisboa. Na programação de certas rádios e TVs, como o canal fechado AfroMusic, são apresentadas mú-sicas e videoclipes de kuduro em vários momentos do dia. Jo-vens angolanos, caboverdeanos, guineenses, e sãotomesenses se reúnem para ouvir, dançar e produzir música nas suas escolas,
28 Uma demonstração desta recontextualziação é, entre outras, a música Yah!, do grupo de kuduro de Lisboa “Buraka Som Sistema”, que expressa várias referências lingüísticas e cotidianas à Luanda, ao mesmo tempo em que se sobrepõe as referências à cena da peri-feria de Lisboa. “Acerta qui no mi kre panga; Pró meu people di Luanda; Agenti qui acetá na banda; Comigo ninguém si zangá; Na pista preto é qui comandá; Do baleizão a mayan-gá; Isso é dô molô sinhor landá; É muito bicho ná fanta!; Fim di Semana no Chiuáuá; Meto o meu people assi sákuia!; Issé a partir como tocá lá; Mas eu é qui vim pá vos comandá; Bô zé qui bouja lá de mu pua; Elevo o consumo di cuca!; Mêmo qui não gosta mi escuta!; Tou pronta prá qualquer disputa; Yah! Yah! Yah!; Yah! Yah! Yah!; Yah! Yah! Yah!; Yah! Yah! Yah!; Yah! Yah! Yah!: Garina não se atrapalha; A pretty é qui avacalhá; Estilo meu é quié puro; Dama recenté no kuduro; Aqueço noites no Mussulo; Meu kuduro cura ma culo; Batida não é só prós louco; Maluko no papa qui toco; Faço chirilá quando foco; Por más qui cuié sempré pouco; Tocá ná vizinha curi bancá; Eli perguntá quem é qui voltá; Meu estilo bati até ti chocá; Até eli se tirá roupá!; Yah! Yah! Yah!; Acerta qui no mi kre panga; Pró meu people di Luanda; Agenti qui acetá nábandá; Comigo ninguém si zangá; Na pista vai ter qui comandá; Do baleizão alma yangá; Isso é dô molô sinhor landá; É muito bicho ná fanta!; Fim di Semana no Chiuáuá; Meti o meu people assi sá pula!; Issé a partir como tocá lá; Mas eu é qui vim pá vos comandá; Bô zé qui bouja lá de mu pua; Elevo o consumo di cuca!; Mêmo qui não gosta mi escuta!; Tou pronta prá qualquer disputa; Yah! Yah! Yah!; Yah! Yah! Yah!; Yah! Yah! Yah!; Yah! Yah! Yah!; Yah! Yah! Yah!; Toma levá du kuduro não me deva; Fui!” Álbum From Buraka to the Wolrd. 2006.
162
KUDURO, jUVEnTUDE E ESTIlO DE VIDA: ESTÉTICA DA DIfEREnÇA E CEnáRIO DE ESCASSEZ
na casa de amigos e nas associações de moradores, tornando o kuduro um dos modos de ser dos jovens africanos em Portugal. Modo de socialização, de expressividade e de reconhecimento público da diferença, assim como de estratégias de lazer num contexto de estigmatização dos espaços e dos preconceitos con-tra tais jovens (Marcon, 2012a).
Algumas manifestações da mídia e do Governo têm denomina-do o kuduro em Portugal como parte efusiva das expressões da “lusofonia”29 e a música como sendo a contribuição dos jovens imigrantes neste sentido. Para aprofundarmos um entendimento crítico do termo teríamos de ir muito além do que podemos neste artigo, mas por hora cabe ressaltar que entendemos o apelo à luso-fonia como parte de uma percepção ideológica assentada no marco do colonialismo – travestido de luso-tropicalismo, de mulatismo ou de criolismo – através do qual se institui o poder dos sentidos e dos significados produzidos nestes encontros como obra do “ca-ráter português”, como potência ou emanação de um “modo de ser português” (Castelo, 1998; Margarido, 2000; Carvalho, 2003), em tempos de multiculturalismos e de pós-colonialismos.
No Brasil, o kuduro chegou timidamente com os estudantes e imigrantes angolanos e depois com outros jovens oriundos dos PALOP, assim como através da imigração e retorno de brasilei-ros para Angola nos últimos dez anos, em busca de oportunida-des temporárias de trabalho. Ao mesmo tempo, chegou também através da mídia televisiva; da descoberta do estilo por grupos musicais do carnaval bahiano; e da associação que alguns artis-tas fizeram com o funk brasileiro. Além disto, alguns programas de emissoras brasileiras de TV, que mantêm repetidoras em An-gola, começaram a promover o kuduro no Brasil, assim como artistas brasileiros começaram a trazer para o País artistas an-golanos e a produzir versões híbridas de axémusic/kuduro ou
29 Ver, por exemplo, entre notícias variadas nos jornais de Portugal, a preocupação com dis-cussão sobre a definição do termo e da ideia de lusofonia, assim como alguns entendimentos de ações como o caso do projeto Sons da Lusofonia, em http://www.sonsdalusofonia.com
163
Cláudio Tomás | frank marcon
de funk/kuduro. No Brasil, o estilo tem aparecido mais como um produto de consumo associado a uma representação da África ou de Angola, do que a um perfil social específico de consumido-res30. Por um lado, uma referência para os movimentos culturais e políticos de apelo à africanidade, de outro um estilo esvaziado de significados diretamente políticos e associado ao consumo do exótico e do efêmero, característico do mercado de circula-ção mundial da música, embora também seja significativo como meio de socialização entre os jovens oriundos dos PALOPs.
O que possa representar o kuduro, em diferentes contextos par-ticularizados, está sendo disputado e atravessado pelo cenário complexo do globalismo cultural, ora como significante da an-golanidade, da africanidade ou da lusofonia. De um lado, são os novos atores dos discursos sobre comunidades políticas que podem se apropriar do termo em movimentos de continuidade e de renovação de velhas percepções implicadas por entendi-mentos de cânones, de hierarquias e de poder. De outro, estão os jovens investidos de um estilo através do qual dão novos sen-tidos aos lugares em que vivem, constroem sociabilidades, afini-dades e afetividades alternativas, dão usos criativos inovadores as tecnologias e promovem sua própria autonomia através da diversão, da alegria e da idealização da abundância, mesmo que o cenário seja o da escassez e em cada lugar ao seu modo – seja em Luanda, em Lisboa, em Paris ou no Rio de Janeiro.
Considerações Finais
Quando analisamos os significados do kuduro e suas relações com a juventude, entendemos, por um lado, o estilo de vida que o cerca num plano da imaginação, da expressividade, da auto-nomia e da contestação e, por outro lado, num plano dos velo-
30 Algumas destas reflexões sobre os significados do kuduro para os jovens no Brasil são provisórias e estão em fase de pesquisa, embora principalmente com relação à internet, já tenham sido realizadas em outro artigo: Marcon (2012b).
164
KUDURO, jUVEnTUDE E ESTIlO DE VIDA: ESTÉTICA DA DIfEREnÇA E CEnáRIO DE ESCASSEZ
zes trânsitos que os produtos culturais assumiram na contem-poraneidade, adquirindo diferentes significados em diferentes circunstâncias, não só a partir dos movimentos de migração, mas também dos movimentos da comunicação. Neste contexto também estão presentes os formatos de redes transnacionais de contatos e amizades, através da internet. A partir destas redes os jovens compartilham vários sentidos, sensibilidades e ideias sobre a música que elaboram, sobre seus estilos de dança e so-bre seu modo de ser, se mobilizando e se influenciando mutua-mente em torno de questões comuns, num processo de partilha e negociação dos significados sobre o que fazem e pensam.
Como vimos, eles podem fazê-lo a partir de diferentes países numa mesma língua, no caso a portuguesa, mas nem por isto es-tes sentidos tenderiam a ser compartilhados com maior facilida-de ou literalmente do mesmo modo. Talvez isto só garanta uma modalidade de acesso privilegiada a um código de informações, pois as formas de vivenciar a produção ou o consumo do kuduro se estabelecem de modos diferenciados e respondem também a questões sociais distintas quando circulam com a migração ou através dos meios de informação e comunicação. O que parece evidente é que algum tipo de diálogo, de mediação, de significa-ção e de tradução pode ocorrer a partir daí. Podendo estar impli-cadas por forças semânticas e hegemonicamente centradas em entendimentos sobre comunidades políticas institucionalizadas - Portugal, Brasil, Angola, CPLP, PALOP. Ou, de outro modo, im-plicadas pela imaginação de outros sentidos de identificação e diferença – pela via étnica ou de grupo etário, por exemplo.
Diferentes estilos de vida podem surgir nas mais diversas cir-cunstâncias sócio-econômicas, não necessariamente movidas por estatutos de classes, ou como fator de coesão de alguma ideia de grupos sociais. Pelo contrário, utilizamos a categoria muitas vezes para definir uma dada modalidade de comportamento que atravessa vários grupos, pelo modo com que eles compartilham certos entendimentos, por exemplo, sobre o que consomem, por
165
Cláudio Tomás | frank marcon
que consomem e como consomem, podendo se constituir em um universo de sociabilidades específicas. No entanto, por vezes os estilos são ativados simbolicamente como significativos quando algo está em jogo, mesmo que este algo seja considerado pou-co ou muito provável. Neste caso tentamos demonstrar que a diversão, o lazer, a autonomia, a expressão, a visibilidade ou a sobrevivência, podem ativar a diferença através do estilo, aqui caracterizado pelo contraponto geracional.
Por ora, podemos concluir que o kuduro é um estilo de dança e música pelo qual uma geração de jovens viveu o rompimento com um modo de representar e agir sobre a sociedade, num mo-mento de esgotamento e de fragilidades institucionais de dife-rentes níveis – por mais que existam outros modos pelo qual tal rompimento pode ter sido também vivido. A partir de certo con-junto de estímulos e de condições eles elaboraram novos senti-dos sociais e novas estratégias de vivência, em que mesmo sob a crise de muitas ordens instauraram um modo altivo, criativo e lúdico de fazê-la através da música e das formas de sociabilidade que vieram com ela, fazendo valer outras formas imaginativas de entendimento de mundo.
Referências Bibliográficas
ANDERSON, Benedict. Nação e consciência nacional. São Paulo: Ática, 1989.
ARENDT, Hannah. Sobre a Revolução. Lisboa: Moraes Editores, 1971.
BENNET, Andy. Towards a cultural sociology of popular music. Journal of Sociology The Australian Sociological Association, 2008, Volume 44(4): 419–432. Publicado por www.sagepublications.com.
CARVALHO, Ruy Duarte de. Actas da maianga: dizer das guerras, em Angola. Luanda: Chá de Caxinde, 2003.
CASTELO, Cláudia. “O modo português de estar no mundo”: o luso-tropicalismo e a ideologia colonial portuguesa (1933-1961). Porto: Ed. Afrontamento, 1998. (Coleção Biblioteca das Ciências do Homem, História, 19).
166
KUDURO, jUVEnTUDE E ESTIlO DE VIDA: ESTÉTICA DA DIfEREnÇA E CEnáRIO DE ESCASSEZ
CASTORIADIS, Cornelius. A Instituição Imaginária da Sociedade. 5ª Ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.
CHATTERJEE, Partha. Colonialismo, modernidade e política. Salvador: EDUFBA, CEAO, 2004.
CLIFFORD, James. Traveling Cultures. In: GROSSBERG, Lawrence; NELSON, Cary; TREICHLER, Paula (Ed). Cultural Studies. New York and London: Rout-ledge, 1992. p. 96-116.
FRITH, Simon. Look! Hear! The Uneasy Relationship of Music and Television. Popular Music. Vol. 21, No. 3, Music and Television (Oct., 2002), pp. 277-290 Publicado por: Cambridge University Press Stable: http://www.jstor.org/sta-ble/853719
HALL, Stuart and JEFFERSON, Tony (Eds.). Resistance through Rituals: Londres, Hutchinson, 1976.
HEBDIGE, Dick. Subcultura. El significado del estilo. Barcelona: Paidós, 2004.
KURZ, Robert. O colapso da modernização: da derrocada do socialismo de ca-serna à crise da economia mundial. Paz e Terra: São Paulo, 1996.
MARCON, Frank. Diálogos transatlânticos: identidade e nação entre Brasil e An-gola. Letras Contemporâneas: Florianópolis, 2005.
MARCON, Frank. Identidade e estilo em Lisboa: kuduro, juventude e imigração africana. Cadernos de Estudos Africanos. Volume 24, Julho/Dezembro 2012a. (Prelo)
MARCON, Frank. O Kuduro - Estilos de Vida e os Usos da Internet pela Juven-tude do Tempo Presente. Cadernos do Tempo Presente. n. 07, Abril 2012b. Dis-ponível em: http://www.getempo.org/revistaget.asp?id_edicao=33&id_mate-ria=126
MARGARIDO, Alfredo. A lusofonia e os lusófonos: novos mitos portugueses. Lis-boa: ed. Universitárias Lusófonas, 2000. (Série Africanologia).
MARTÍN-BARBERO, Jesús. A mudança na percepção da juventude: sociabilida-des, tecnicidades e subjetividades entre os jovens. In: BORELLI, Sílvia H.S. e FREIRE FILHO, João (orgs.). Culturas juvenis no século XXI. São Paulo: Educ, 2008. p. 9-32.
MBEMBE, Achille. As Formas Africanas de Auto-inscrição. Estudos Afro-Asiáti-cos, Ano 23, nº 1, 2001.
167
Cláudio Tomás | frank marcon
MOORMAN, Marissa. Intonations: a Social History of Music and Nation in Lu-anda, Angola, from 1945 to recent times. Ohio University Press, 2008.
NIETZSCHE, Friedrich. A Origem da Tragédia. Lisboa: Guimarães Editores, 1958.
PEPETELA. Luandando. Porto, Portugal: Elf Aquitaine Angola, 1990.
RANCIÈRE, Jacques. Estética e Política, A Partilha do Sensível. Porto: Dafne Edi-tora, 2010.
ROCHA, Alves. Angola: Estabilização, Reformas e Desenvolvimento. Luanda: LAC Luanda Antena Comercial, 1999.
TELLO, Nerio. Cornelius Castoriadis Y el imaginário radical. Madrid: Campo de ideas, 2003.
THORTON, Sarah. Club cultures. Music, media and subcultural capital. Wesleyan University Press: Middletown, Connecticut, 1996.
Recebido em 01/10/2012Aprovado em 15/11/2012
Participação Política Juvenil emContextos de “Suspensão” Democrática:
a música rap na Guiné-Bissau
Miguel de Barros1
Resumo A liberalização política nos inícios dos anos noventa nos países afri-canos de língua oficial portuguesa, favoreceu o surgimento de no-vos protagonistas no espaço público. Trata-se em particular de uma sociedade civil (organizada e não organizada) na qual a juventude e os meios de comunicação social tiveram (e têm) jogado um papel preponderante na ampliação dos espaços de contestação política e da liberdade de expressão. O presente artigo visa apresentar e ana-lisar a emergência de um movimento contestatário na cidade de Bissau, resultado da articulação entre os músicos RAP e a utilização das rádios comunitárias, em particular a Rádio Jovem, o que con-tribuiu para dar visibilidade as denúncias e à reivindicação social e política por parte dos jovens num contexto onde os protestos são controlados e de baixa intensidade, transformando-os em atores ativos, incomodos e que formam a opinião pública.Palavras-chaves: Guiné-Bissau, rap, jovens, rádio, participação
1 Investigador associado ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas da Guiné-Bissau – INEP, do Núcleo de Estudos Transdisciplinares de Comunicação e Consciência da Uni-versidade Federal do Rio de Janeiro – NETCCON/URFJ (Brasil) e ainda membro do Con-selho para o Desenvolvimento de Pesquisa em Ciências Sociais em África – CODESRIA (Senegal). Tem publicado em África, Europa e América do sul e desenvolvido pesquisas nos domínios da juventude, sociedade civil, media, feiras livres e música rap.
170
PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl Em COnTEXTOS DE “SUSPEnSÃO” DEmOCRáTICA: A mÚSICA RAP nA GUInÉ-BISSAU
Political Participation of Youth inContexts of Democratic “Suspension”:
rap music in Guinea Bissau
Abstract Political liberalization in the early nineties in the African countries of Portuguese official language, favored the emergence of new ac-tors in public space. This is particularly a civil society (organized and unorganized) in which the youth and the media had (and have) played a role in the widening of spaces for political protest and fre-edom of expression. This article aims to present and analyze the emergence of protest movements in the city of Bissau, the result of coordination between rap musicians and the use of community radio stations, in particular the Rádio Jovem (Youth Radio), which contributed to give visibility to the allegations and social and policy claim for young people in a context where the protests are control-led and with low-intensity, transforming them into active players, troublesome and forming the public opinion. Keywords: Guinea Bissau, rap, young, radio, participation
Entre a instabilidade político-militar, o medo e a pobreza, o rap!
A Guiné-Bissau, é um país da África ocidental com uma área de 36.125 quilómetros quadrados, é um dos países mais po-bres do mundo, com PIB/habitantes situado na ordem de 254 dólares e um indicador de desenvolvimento humano de 0,396 em 2009, estando o país classificado em 173º posição entre 182 países do ranking índice do desenvolvimento hu-mano do PNUD. Quase dois terços (65,7%) da população vi-vem com menos de 2 dólares por dia (Banco Mundial, 2009). A taxa de desemprego é de cerca de 30%, sendo que os po-
171
miguel de Barros
bres são na sua maioria jovens (80% entre 15 e 35 anos) (MEPIR, 2011: 38 e 97).
A história política recente da Guiné-Bissau foi atravessada por profundas transformações desde a proclamação unilateral da independência em 1973, depois de onze anos da luta armada, passando pela liberalização política nos inícios dos anos noven-ta e o conflito político-militar de 1998/99.
Desde este último evento, o país tem vivido em permanente insta-bilidade política e governativa que concorreu para a fragilização das instituições do Estado e da economia, acelerou os níveis da pobreza e insegurança e o país viu-se confrontado com o fenó-meno de narcotráfico, (UNODC, 2007 e 2008; ICG, 2009 e 2012), resultando em golpes de estado baseado no jogo da presença dos militares na vida política num contexto de alianças feitas e des-feitas com políticos, dependendo das circunstâncias, impediu o país o benefício da estabilidade e alívio das tensões que tornam o desenvolvimento socioeconómico perspetivas difíceis, devido as constantes lutas pela captura e conservação do poder.
Em março de 2009, o Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas e o Presidente da República foram barbaramente as-sassinados e em 2012 um golpe de Estado militar interrompeu o processo eleitoral para a presidência entre a primeira e segunda volta, destituindo o Presidente da república e o governo.
A incapacidade do Estado corresponder às expectativas de de-senvolvimento coletivo e bem-estar pessoal da população nos quase quarenta anos de independência, a permanente instabili-dade politica e consequente insegurança pessoal, socioprofissio-nal e empresarial, contribuíram a para o surgimento de protago-nismos de atores da sociedade civil, em todas as componentes sociais, mas de relativo alcance político.
172
PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl Em COnTEXTOS DE “SUSPEnSÃO” DEmOCRáTICA: A mÚSICA RAP nA GUInÉ-BISSAU
É dentro deste ambiente que o rap tem-se projetado como o ins-trumento adotado pelos jovens para contestação dos poderes (po-líticos e militares) e denúncia da situação sociopolítica visando a mobilização cívica dos jovens para um protagonismo de maior visibilidade, superando os níveis de uma certa passividades dos diferentes grupos de pressão, ganhando forma de expressão local e dessa forma, fomentando novas identidades locais, com base em autenticidades culturais, como sustenta Bennett (2000).
O presente artigo, procura captar e analisar uma nova agência da apropriação do conceito da cidadania nos grupos juvenis, através de um movimento contestatário, principalmente na capital, Bis-sau, resultado de articulações entre os músicos rap e os produto-res de programas das rádios, contribuindo para maior visibilidade e eficácia às reivindicações sociais e política por parte dos jovens, num contexto onde os protestos eram controlados e de baixa in-tensidade. Esta combinatória, projetou para a sociedade guineen-se a voz de uma categoria social cultural, política e socialmente excluída, transformando os rappers em atores incontornáveis da vida pública (Barros, 2012; Barros e Lima, no prelo).
O contributo das emissões radiofónicas na difusão da música rap guineense
A adesão da Guiné-Bissau ao multipartidarismo em 1991, foi fruto de pressões externas e internas num contexto da falência do Estado suportado pelas políticas de ajustamento estrutural, e teve como consequências imediatas a afirmação e o reconheci-mento de outros atores sociais coletivos (para além dos partidos políticos), enquanto agentes que participam nas decisões, lutam pela diminuição das desigualdades sociais, políticas e económi-cas. A ação de alguns sectores da Sociedade Civil (Igreja, Sindica-tos, Organizações Não-Governamentais, Órgãos de Comunicação
173
miguel de Barros
Social2, Associações Profissionais e de Base Comunitária) contri-buíram de forma decisiva quer para o ensaio à democracia, quer na promoção do desenvolvimento, no combate às desigualda-des sociais e na melhoria das condições de vida das populações (Koudawo, 2000; Barros, no prelo).
Relativamente aos órgãos de comunicação social, estes evoluí-ram para um pluralismo maior, sobretudo no fim da primeira metade dos anos noventa. Os primeiros a quebrarem o mono-pólio do Estado foi a imprensa escrita no ano de 1992, seguida depois em 1995 das rádios. Neste universo, é a Rádio o meio de comunicação de excelência e de eleição3, por ter uma caracte-rística familiar (de proximidade) e abrangente, mais acessível (quer em termos de preços e utilização), reforçada pela cultura da oralidade em primazia na nossa sociedade e, também, devido ao condicionalismo da falta de infraestruturas, especialmente a que envolve a energia elétrica4.
É nesse contexto que emerge o primeiro programa radiofónico guineense dedicado ao rap. Em Julho de 1996 foi emitido, atra-vés das antenas da rádio privada “Pindjiguiti”, o programa “rap pa raperus5”, com uma hora semanal, visando a promoção deste estilo no panorama da música nacional, a expressão dos jovens
2 A maior vitalidade foi registada no campo das rádios de cariz comunitário e local, dan-do maior visibilidade aos problemas que afetam o quotidiano das populações, podendo ser a própria população, em particular os jovens, os protagonistas da ação. Neste mo-mento, a Guiné-Bissau conta com uma rede nacional de rádios comunitárias com mais de três dezenas de rádios inscritas, que cobrem todo o país.3 A alfabetização é muito baixa no país. Em 2010, a taxa de alfabetização era de 62%, sendo que para as mulheres de 15 a 24 anos foi de 39,9%, a nível nacional, 50,45% em Bissau, e apenas 9,7% nas zonas rurais, o que ilustra a magnitude do desafio para garan-tir a qualificação dos recursos humanos na Guiné-Bissau. Cf. DENARP II, 2011.4 A Guiné-Bissau não tem conseguido criar condições para o abastecimento do país em termos da energia elétrica. Só 5,7 % da população tem acesso e ainda de forma irregular. Esta proporção é de 12 % na capital, Bissau. Cf. DENARP I, 2005.5 Fazedores e amantes do rap.
174
PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl Em COnTEXTOS DE “SUSPEnSÃO” DEmOCRáTICA: A mÚSICA RAP nA GUInÉ-BISSAU
rappers e dos que se identificavam com este novo estilo e com as mensagens veiculadas.
Apresentado por dois jovens que faziam sistematicamente recur-so a uma inovadora linguagem calão6, os primeiros grupos nacio-nais a merecerem destaque neste espaço foram os Thunder Body 5, Isca Nº 0, I.C.G.D., Black Doggers, ITC Grusman, Naka B. (um dos que faziam parte do agrupamento Dance Biss), Fafa D. Masta Kolly e TCC 4. Estes aproveitavam as entrevistas no programa para fa-zer as suas gravações com mímica, batendo palmas e batucando na mesa. Tal fato fez com que o mercado de venda de beats abrisse as suas portas no país, facto que teve como corolário o desencora-jamento do playback como meio de produção da música rap, em particular da música juvenil na capital.
Na entrevista a um dos apresentadores do programa “rap pa ra-perus”, ele afirmou o seguinte:
Tornamos os jovens mais criativos e produtivos. Contribuí-mos para retirar a carga negativa que já estava a se instalar sobre os rappers, pois no início eram conotados com bandi-dos, preguiçosos e que desprestigiavam a cultura nacional. (Gomes, Cícero Spencer. [Bissau: Guiné-Bissau]: 14 janeiro de 2012. Entrevista concedida a Miguel de Barros)
O jornalista e ex director de antena da rádio Pindjiguiti exalta que:
O programa (rap pa raperus) através da rubrica «concurso de rima temáticas» permitiu dar visibilidade às denúncias e à reivindicação social por parte dos jovens, num país onde os protestos são murmúrios. (Conté, Muniro. [Bissau: Gui-
6 Foi através destes que o calão recriado no rap teve uma difusão mais sistematizada e os termos como Codiga – ntindi [compreensão] / Spiga – purblema [problema] / Kiki – djubi [ver/olhar] / Mantison di hablason - conbersa [conversa] / Si matola – parvo [tolo] / Cainga [polícia] / Bófia [polícia] / Baza [ir embora] / Forgeta - diskisi [esquece] / Nepia [nada] /N`bitan - patin [oferece-me] / Taco – dinheru [dinheiro] / Kaula [compra] / garé [cigarro] / Cubico [quarto]…, acabaram por entrar no quotidiano do crioulo urbano e ju-venil, articulando as importações dos termos em inglês, português (através das músicas) espanhol (devido ao retorno de contingente de emigrantes) e crioulo antigo.
175
miguel de Barros
né-Bissau]: 19 novembro de 2011. Entrevista concedida a Miguel de Barros)
O programa radiofónico “rap pa raperus” conseguiu manter-se no ar, ininterruptamente, durante dois anos7, sem evitar algumas ameaças aos promotores de serem detratores de uma certa cultu-ra nacional, como também por parte de alguns jovens que enten-diam que o facto de os apresentadores usarem o calão, poderia descodificar as mensagens e deixá-los ficar mais vulneráveis. Não obstante a isso, o programa assumiu uma postura de potenciação do estilo musical, como os apresentadores do programa estive-ram a liderar um processo de criação, em 2000, de uma associa-ção de rappers (sem personalidade jurídica), que neste momento conta com um programa próprio na rádio pública, a Guiné-Rap.
Com o conflito político-militar de 1998-99, os órgãos de comu-nicação social sofreram impactos catastróficos: as instalações da rádio Pindjiguiti foram completamente saqueadas, a rádio Ma-vegro perdeu parte do seu equipamento e a rádio Bombolom foi ocupada logo no primeiro dia do deflagrar do conflito, transfor-mando-se na rádio Voz da Junta Militar. Quanto às rádios comu-nitárias, elas foram simplesmente silenciadas, visto que a maio-ria delas era gerida por Organizações Não-Governamentais. No período pós-guerra civil, muitos jornalistas foram perseguidos, presos e espancados, jornais foram ameaçados de terem os seus alvarás cancelados, e houve invasão de espaços de algumas rá-dios. O princípio da liberdade de imprensa, outrora em franca projeção, foi seriamente enfraquecido por falta de um ambiente político institucional, económico e social favorável ao seu exer-cício efetivo (Koudawo, 2000: 98-99 e 109).
É nesse encadeamento que, em 2005, foi criada a Rádio Comu-nitária Jovem, uma iniciativa da Rede Nacional das Associações
7 O programa ficou suspenso pela primeira vez com o despoletar do conflito político--militar de 1998-99, tendo sido retomado em 2000, já num novo formato e só com um apresentador.
176
PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl Em COnTEXTOS DE “SUSPEnSÃO” DEmOCRáTICA: A mÚSICA RAP nA GUInÉ-BISSAU
Juvenis (RENAJ), que é uma estrutura independente do governo, dando corpo a uma dinâmica participativa juvenil marcada pelo entusiasmo, consciencialização perante os problemas e necessi-dades sociais, vontade de compromisso pela melhoria e trans-formação da realidade, enquanto bases poderosas que assistiam esses jovens e associações (Barros, 2010: 10-11). Deste modo, o propósito da rádio foi dar o eco às vozes dos jovens e estimular a criatividade juvenil, bem como a promoção da mobilização dos jovens através do associativismo.
Da grelha de programação da Rádio Jovem, destaca-se o progra-ma “Ondas Culturais”. Emitindo por dez horas durante a semana, em crioulo. O programa trouxe novos talentos e valores da mú-sica jovem feita pelos guineenses, apresentou os seus currículos, deu-lhes espaços para entrevistas em direto, abriu linha telefó-nica para que estes dialoguem com os ouvintes, criou um top se-manal/mensal/anual das músicas mais rodadas e ainda mobili-zou-se para premiar os melhores músicos jovens e as músicas da nova geração guineense. Tudo isso aconteceu numa perspetiva voluntária, feito por jovens animadores que nunca antes tinham passado pelas escolas de jornalismo ou comunicação social.
Foi dessa forma que as músicas interventivas do FMBJ, Masta Tito, Torres Gemeos, Real Power, Cientistas Realistas, Raínha Lu-ísa, Rock Salim, Bunca MC, Baloberos, Dama Cotche (Os Bravos), Raça Preto, Fil Cap, Best Friends, Daw Tchaw…. começaram a ga-nhar mais notoriedade e protagonismo. Num momento em que a intervenção militar na vida política e no espaço público era (e é) uma constante, perseguidos e algumas vezes espancados por estes, os rappers assumiram o papel de críticos e contestatários, repudiando essa postura. E as rádios, ao desenvolverem este pa-pel de posicionarem-se na interface entre os acontecimentos e o público ouvinte, transmitiram um testemunho bastante particu-lar, que os partidos políticos e o discurso público não ousavam e nem conseguiam criar condições para o ter e fazer.
177
miguel de Barros
Um outro papel exercido pelo programa “Ondas Culturais” e pelo programa “Campeonato de RAP”, emitido todas as sextas-feiras, à noite, na rádio Pindjiguiti, foi a maior divulgação e promoção dos ra-ppers guineenses na diáspora. São os casos dos países recetores de contingentes de estudantes guineenses, onde podem ser identifica-dos nomes como N`pans, Okarki Butt e MC Bunka (Rússia), Djokas, MC Mário, Issuf/Wane (Portugal), Lem (Brasil) e Fafa D (Senegal).
No programa “Ondas Culturais”, são promovidos concursos de fre-estyle todas as sextas-feiras, sendo que as vezes, esses concursos são realizadas na varanda da própria estação, servindo de palco para diferentes rappers estarem em contacto direto com os ouvin-tes, e por outro lado, permitindo ainda os ouvintes ligarem para votar nas músicas que se estreiam durante a semana, para eleger o top mensal, por outro. No “Campeonato de Rap”, para além do discurso enquanto elemento encantatório da recriação da língua crioula, através da rubrica “estilo livre” e do novo repertório, as apresentações das biografias destes músicos interventores asso-ciados ao favorecimento de maior acesso às produções e divulga-ções de videoclipes disponível online, contribuiu para encorajar a produção nacional e ainda reforçou a legitimidade e a necessida-de das mensagens, contribuindo para com que a opinião pública e política começassem a absorver (consumindo) e (re)produzir um discurso público com maior nível de (re)conhecimento dos problemas que o país enfrenta, como a instabilidade política, a questão do narcotráfico, uma eventual corrupção no aparelho ad-ministrativo público, a tendência à impunidade, o funcionamento precário dos sistema de ensino e saúde, desemprego, etc.
Ao analisar a forma como os apresentadores destes programas assumem a sua condição nas rádios, denota-se aqui o alarga-mento do papel do “tcholonadur8”, ou seja, “o mensageiro”, que
8 “Figura necessária, mesmo indispensável, com significados diversos, tanto nas culturas com base nas chamadas religiões naturais, como nas coletividades muçulmanas. Quando há algo a tratar entre dois contraentes, muitas vezes falantes de diferentes línguas, se-
178
PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl Em COnTEXTOS DE “SUSPEnSÃO” DEmOCRáTICA: A mÚSICA RAP nA GUInÉ-BISSAU
ao contrário da literatura, as rádios traduziram a necessidade e a emergência de vozes atuantes dos jovens que se faziam ouvir por todos os cantos.
Os palcos da contestação e a consagração da música rap guineense
Na transição das rádios para os palcos o rap guineense foi e é marcado pelas mudanças importantes no campo das identida-des adotando os nomes e símbolos nacionais, da estética mu-sical articulando ritmos e instrumentos tradicionais (tambor9, kora10, balafon11, tina12, nhanheru13, sikó� e bombolom14), fazendo
gundo os costumes locais, não é possível que os dois dialoguem diretamente, tornando--se necessária a presença de um terceiro, tradutor, mediador ou intermediário, que en-tão passa para cada um o que o outro diz ou responde. A posição dos oponentes, muitas vezes sentados de costas virados um para o outro, simboliza a distância, o antagonismo que o tcholonadur tenta superar” (AUGEL, 2003: 188).9 Também chamado de djembê, é um tipo de tambor originário da África ocidental, um instrumento importante de percussão (membranofone) que possui o corpo em forma de cálice e a pele tensionada na parte mais larga, que pode variar de 30 a 40 centímetros de diâmetro. O som do tambor é obtido por percursão directa com as palmas das mãos.10 Harpa-alaúde de 21 cordas, é um instrumento sagrado e místico amplamente utilizado pelos “Mandingas”, um dos maiores grupos étnicos da África ocidental originário. 11 Instrumento originário da costa ocidental de África e precursor do xilofone, possui um reduzido número de teclas e utiliza uma solução de cabaças para os ressonadores. O seu formato é retangular com amarrações em couro e cordas, tocado com duas baquetas. 12 Instrumento musical originário da Guiné-Bissau, mais precisamente um idiofone re-percutido, conhecido como tambor da água utilizado pelos grupos de mandjuandade. É constituído por um recipiente cilíndrico, quase que cheio de água, onde se encontra a boiar uma cabaça oca e é tocado batendo com a palma da mão e punho na cabaça, produ-zindo um som grave e de grande intensidade.13 Originário da África Ocidental, é uma espécie de violino de 3 cordas, utilizados sobre-tudo pela etnia “fula”, constituído, na parte cava, de oco de cabaça14 Originário da Guiné-Bissau, bombolom é um instrumento musical utilizado por alguns grupos étnicos animistas e serve fundamentalmente para transmitir mensagens e está presente em rituais de grande importância, como, cerimónias fúnebres.
179
miguel de Barros
sample de músicas nacionais clássicas de intervenção, mensa-gem watcha-watcha (terra-terra) - anti-metafórica e explícita, e da personagem dos próprios rappers – membros das associa-ções juvenis, estudantes universitários, profissionais, e as rádios difundiram toda essa mudança.
Um desses exemplos foi a canção “Ke ki mininu na tchora”, ou seja, por que chora o menino, de José Carlos Shwarz, grande expoente da música guineense, combatente da liberdade, da independência e o pio-neiro da música moderna. Este artista musicalizou o poema em forma de registo verbal que contava os horrores da guerra colonial, como po-demos observar no trecho “Ke ki mininu na tchora/I dur na si kurpu/ke ki mininu na tchora/I sangi ki kansa odja” [“Por que chora o meni-no?/Tem muita dor/Por que chora o menino?/Viu demasiado sangue” (Schwarz, ke ki mininu na tchora, registo sonoro, Bissau, 1977).
Essa música emblemática no cenário cultural guineense, foi atu-alizada pelos “Torres Gémeos”, para denunciar a situação políti-ca e governativa no contexto contemporâneo.
Ke ku guineensis na tchora?/e na tchora no governantis pa maldadi ku ten na tera/Ke ku guineensis na tchora?/e na tchora no militaris ku ka disanu vivi na paz [Por que choram os guineenses?/Por causa dos governantes, da maldade que existe na nossa terra/Por que choram os guineenses?/Por causa dos militares que não nos deixam viver em paz]. (Tor-res Gémeos, culpadus, registo sonoro, Bissau, 2008)
Sendo o rap de intervenção politicamente engajado e militantemen-te inquieto como elucidam Contador e Ferreira (1997), este foi o momento crítico onde, em rutura com a experiência ordinária do tempo como simples redução do passado, tudo (mesmo que apa-rentemente) tornou-se possível quando os artistas resgataram José Carlos Schwarz, que nos primeiros momentos da pós-independên-cia anunciara: “Gos ku ora di canta tchiga/Ninguin ka ten garganti [agora que chegou a hora de cantar/ ninguém tem a voz]. (Shwarz, Ora di canta tchiga, registo sonoro, Bissau, 1977).
180
PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl Em COnTEXTOS DE “SUSPEnSÃO” DEmOCRáTICA: A mÚSICA RAP nA GUInÉ-BISSAU
É com este sentimento de continuar e atualizar o legado que estes rappers, mesmo conscientes dos riscos que corriam, deram a voz ao manifesto, como é aqui narrado pelos FBMJ na introdução da inter-pretação do “Kaminhu Sukuru” [Caminho Escuro]:
Es musika antis ki na kunsa/no panti ba dja Hospital Na-sional Simon Mendes/nunde ku no lantanda no sartidon di obitu/i na sobra so data ku hora pa kin ku na mata pa i sina! [Antes de começarmos esta música/passámos pelo Hospital Nacional Simão Mendes/levantar a nossa certidão de óbito/Só falta a data e a hora para o matador assinar]. (FBMJ, ca-minhu sukuru, registo sonoro, Bissau, 2008)
Esta assunção interventiva ganhou maior combatividade na me-dida que os rappers apresentaram-se na condição de desenca-deadores da luta contra o sistema vigente e a cultura do medo – “Pau-pau a Luky-Luke/nha bala ka ta libra nin un marchal [...] federal [...]Ku fadin ba jeneral [Pau-pau à Lucky-Luke/As minhas balas não poupam nem um marechal [...] Federal [...] Quanto mais generais]. (Naka B., Coli-coli sensa, registo sonoro, Dakar, 1999). Ou “Si RAP i pistola no na sedu si bala!/Hip-hop Guiné-Bissau, FBMJ toleransia zero” [“Se o rap é pistola, nós seremos balas!/Hip-hop Guiné-Bissau, FBMJ tolerância zero”] (FBMJ, ca-minhu sukuru, registo sonoro, Bissau, 2008).
Contudo, os “Torres Gémeos” fazem descortinar as causas da au-sência da crítica e do protesto na sociedade guineense na atuali-dade, como no excerto abaixo.
[...] boka di pubis na tirmi ku bontadi di papia/Ma medu forka se boka ma abos tudu bo sibi pabia/Ma pabia?/Djintis medi denunsia pabia di janta ku sia/se konta, ah [...] kamara-das pudi ka fia/é o é ka fia, é pudi tchomadu pa bofia/pa tur-turadu sekretamenti suma di kustumi/pa kila kulpadu na nô metadi nunka no ka na tchoma si nomi/kusta no sedu basora koruptu, ma no ka ta muri di fomi [ [...] A boca do povo treme de vontade de falar/Mas o medo amordaça-a, todos sabem porquê/Porquê?/As pessoas têm medo de denunciar por causa de almoço e jantar/Se contarem, ah [...] Os camaradas
181
miguel de Barros
podem não acreditar/E acreditando ou não, podem ser cha-mados à bófia/Para serem torturados secretamente como de costume/Por isso entre nós nunca é denunciado o culpa-do/Podemos ser lambe-botas, mas não morremos à fome]. (Torres Gémeos, culpadus, registo sonoro, Bissau, 2008)
[...] bardadi na tchikinin, n’ misti papia ma seguransa keia/bófias ka pupa ninguin ku ta konta ke na aldeia/i fasil sedu koruptu pabia fin di mis ka ta tchiga/pursoris ta bindi nota pabia fin di mis ka ta tchiga [...] médikus ta bindi mesinhu pabia fin di mis ka ta tchiga [...] pa paga skola di mininu, renda ku djanta ku sia/deputadus na risibi bilions, na disidi sakalata/ministrus na risibi bilions, na fasi patarata/bolsas na ministérius na bandeja ki ta kulkadu/si bu pape ka tene setesentus bu ka ta selesionadu/enkuantu patetas di karte-ras na perta stangu/formadu sin tarbadju purpara stangu pa kuntangu/enkuanto patetas di kartera na perta stomagu ku frangu/bu ten ku sedu PRS, PUSD o PAIGC/pa bu tene un bon tarbadju, kasa o GMC/si nau bu na bedjusi bu kabesa na kume kaseke”[ [...] A verdade faz-me cócegas, quero falar mas não há segurança/Os bófias não poupam ninguém que falar na aldeia/Tornam-no corrupto porque o salário não chega/Os professores vendem as notas porque o salário não chega [...] Os médicos vendem os remédios porque o salário não chega [...]para pagar a escola das crianças, o aluguer e a comida/Os deputados recebem biliões e decidem asneiras/Os mi-nistros recebem biliões e fazem besteiras/Nos ministérios as bolsas são postas à venda/Se o teu pai não tem setecen-tos não és seleccionado/Enquanto os patetas nas carteiras apertam o cinto/E os formados sem emprego se preparam para comer arroz limpo/Enquanto os patetas nas carteiras apertam o cinto com frango/Tens que ser PRS, PUSD ou PAIGC/Para teres um bom emprego, casa o GMC/Se não, vais envelhecer a comer peixe seco]. (Torres Gémeos, culpa-dus, registo sonoro, Bissau, 2008)
Já no palco e exposto, uma das estratégias utilizadas pelos ra-ppers, foi fazer featuring e actuações ao vivo com músicos na-cionais consagrados, podendo passar as mensagens sem que os concertos sejam interrompidos e/ou eles torturados. Não é con-senso, mas numa perceção muito particular, entendemos que esta imaginação não deverá ser interpretada apenas do ponto
182
PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl Em COnTEXTOS DE “SUSPEnSÃO” DEmOCRáTICA: A mÚSICA RAP nA GUInÉ-BISSAU
de vista estrito da segurança, pois como sustenta Sclavi (2000), as emoções são instrumentos de conhecimento fundamentais, se apenas sabemos compreender sua linguagem, o código delas é relacional e analógico.
É neste contexto de repressão que a nova expressão musical e interventiva urbana conquista maior performance e se consoli-da entre a ação musical e a resposta do público, pela atualidade das temáticas de um contexto que ultrapassa um mero carác-ter situacional, emergindo deste modo a institucionalização da contestação num meio (re)conhecido de contestação de baixa intensidade, abafada na maior parte das vezes à nascença pelo comunitarismo exacerbado. Eis uma caraterização.
[...] droga tchiga Guiné i djumblintinu senariu/Nhu alferis ku nhu kabu/Tudu pasa sedu bida empresáriu [...] [A droga na Guiné baralhou-nos o cenário/Nho Alferes e Nho Cabo/To-dos viraram empresários]Ai o ku Ntoni i chefi di alfandiga/I tene djaudi dja[Agora que o António é chefe da alfândega/Já tem dinheiro]I ka fasi nin 2 mis ki pudu la/Vida muda [Não faz nem dois meses que foi posto lá/E a sua vida mudou]Ali gos Ntoni tene kasa, tene karu, telemóvel/I ta troka mind-jer suma ropa/I tene kumbu té na Eropa[Agora António tem casa, tem carro, telemóvel/Troca de mulher como quem tro-ca de camisa/Tem dinheiro até na Europa]Si vensimentu i 5 mil/Si subsídiu i 2 mil/Nunde ki sai ku es manga di kusas?/no ka sibi! [O seu salário é 5 mil/O seu subsídio é 2 mil/Onde é que arranjou essas coisas todas?/Não sabemos!]Amadu ki chefi di izersitu/Iooode/I ka fasi nin 2 dia ki tchiga la/Iooode/I mata Djokin i subi la[Amadu é chefe do exérci-to/Iooode/Não há dois dias que chegou lá/Iooode/Matou Joaquim e subiu até lá]Ku asasinatu ku aumenta/korupson ganha forsa[Com o aumento dos assassinatos/A corrupção ganhou força]I ta troka mindjer suma ropa/I tene kumbu té na Eropa[Troca de mulher como se troca de roupa/Tem di-nheiro até na Europa]Nunde ki sai ku es manga di kusas?/no ka sibi! [Onde é que arranjou aquilo tudo?/Não sabemos!]. (Torres Gémeos, culpadus, registo sonoro, Bissau, 2008)
183
miguel de Barros
Porém, importa dizer que, essa transição do campo de protago-nismo dos rappers guineenses ficou marcado por cinco fatores decisivos: 1) aparecimento de um rapper como voz e animador de uma campanha política protagonizado pela primeira vez na histórica recente da democracia guineense; 2) realização de fes-tivais nacionais da música rap; 4) criação dos estúdios de grava-ção no país; 3) um sistema eficaz de distribuição informal das músicas; 5) eventos comemorativos dos aniversários da Rádio Jovem e dos agrupamentos e rappers mais populares.
Analisando o primeiro fator enumerado, convém esclarecer que não se trata da ordem de importância, mas apenas da cronolo-gia dos acontecimentos, considera-se que o fenómeno Naka B., ao irromper para os palcos da campanha política nas primeiras eleições pós-conflito de 1998/99, protagonizou curiosidades e mobilizou os jovens para o debate político através das suas mensagens de intervenção com as músicas “coli-coli sença, bô pistanu nô terra / bô danu nô bandera” [com licença, empres-tem-nos a nossa terra, entreguem-nos a nossa bandeira] e o “rigimi di crimi” [regime de crime], criticando o falhanço dos diferentes regimes que vigoraram no país e reclamando o di-reito a paz e ao desenvolvimento.
Também o facto de o Naka B. ter conseguido gravar num estúdio profissional (em África, Dakar), despertou os rappers guineen-ses a procurarem possibilidades de gravação na proximidade, visto que dantes a maioria pensava (sonhava) nas inacessíveis editoras na Europa, e ainda, proporcionou maior apreensão do movimento hip-hop no país vizinho (com tradição mais antiga).
A realização dos festivais da música rap “Guiné na Lanta” [Guiné Renasce] em 200015, “Outra face da droga”, em 2007, e “Esta Ter-
15 Organizado pelos jovens da Geração Nova da Tiniguena - GNT e Agrupamento Cultural Vatos Locos da Rua 10, no estádio nacional.
184
PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl Em COnTEXTOS DE “SUSPEnSÃO” DEmOCRáTICA: A mÚSICA RAP nA GUInÉ-BISSAU
ra é Nossa!”, em 201016, contribuíram para reforçar a condição do rap como uma expressão musical onde a palavra é democra-tizada pelos jovens com criatividade e atualização músico-cultu-ral, e consequentemente inovar na produção do rap guineense. Este aspeto pedagógico dos festivais é estruturante.
Estes eventos ajudaram a consagrar grupos como Real Power e MVD + , além de temas como “crise na Guiné” - “Lus ka ten iagu ka ten [...] pon sta karu!/Lus ka ten iagu ka ten [...] arus sta karu!/Bô disa kurti karu! ” [Não há luz não há água/O pão está caro!/Não há luz não há água/O arroz está caro!/Párem de curtir carros!] (MVD+ , Crisi na Guiné, registo sonoro, Bissau, 2000).
Agora, para que haja música é preciso fazê-la. Este aspeto vai ser decisivo na manutenção, animação e atualização deste esti-lo com características identitárias nacionais. Se é verdade que começou-se a fazer a música rap no país de forma artesanal com as rádios, depois no estúdio Gumbé, mas sem capacidade de masterização e produção de beats originais, foi de facto na se-gunda metade do ano 2000 que surgiram estúdios de gravação profissionais e capazes de ir ao encontro das necessidades dos rappers, quer do ponto de vista qualitativo como quantitativo. De referir que existem neste momento no país cerca de oito (8) estúdios, algo que contribuiu para maior capacidade aquisitiva dos rappers no acesso aos beats.
Um outro aspeto importante na difusão dos temas produzidos é a questão da distribuição. Numa economia de baixa renda, fraca capacidade aquisitiva e que obedece a lógicas não con-vencionais ou informais, os transportes urbanos de Bissau - TUB, vulgos “toca-toca”, devem ser considerados como atores ativos deste processo. Sendo na maior parte os jovens que ope-ram nesse circuito (condutores, cobradores, ajudantes, anga-riadores de clientes), ora sintonizavam em direto as emissões
16 Os dois últimos organizados em 2010 pela GNT e Fórum Jovem de Bairro de Belém.
185
miguel de Barros
do programa “Ondas Culturais”, ora passavam os seus próprios repertórios que gravavam.
Isto permitiu que os “toca-tocas” conectassem áreas periféricas com o centro e, principalmente, o maior mercado do país, Bandim, levan-do a música rap juntamente com as pessoas durante os percursos. Entendemos que este elemento assume uma função chave na medi-da em que os meios de consumo coletivos vêm juntar-se aos meios de circulação (comunicação e transporte), e a concentração espacial dos meios de (re) produção, de troca e ainda das formações sociais, tornou indubitável o fervilhar dos seus efeitos e impactos na vida de uma cidade, sobretudo quando se trata da capital.
Por fim, e não menos importante, o fator concertos/espetácu-los. Quando a Rádio Jovem anunciou pela primeira vez que iria comemorar o seu aniversário com atuações dos rappers autores das músicas que marcaram o top mensal do programa “Ondas Culturais”, estava-se a preparar para consagrar o rap guineense como uma das dinâmicas cultural e política de maior impacto ao nível da capital da década de 2000-2010.
Os seus fazedores foram igualmente consagrados como os novos ídolos, não apenas da juventude, mas da sociedade bissauguine-ense na atualidade. Daqui para frente, foram várias iniciativas que os grupos e rappers realizaram para marcar a data da sua criação ou lançamento da primeira música, permitiu juntar em diferentes momentos e nos mesmos palcos os rappers que nun-ca tinham tido oportunidades para fazer um concerto, ou gravar um CD e, de um momento para outro, terem os concertos com-pletamente esgotados, aproveitando a ocasião para lançamento e apresentações de novos temas.
Ao fazermos recurso ao Goffman (1973), deparamos com o pal-co (de espetáculo) enquanto elemento da interação entre ato-res sociais é apresentado como um desempenho, vivenciado de forma a causar uma impressão e, deste modo, influenciado pelo
186
PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl Em COnTEXTOS DE “SUSPEnSÃO” DEmOCRáTICA: A mÚSICA RAP nA GUInÉ-BISSAU
ambiente e audiência, que passa a desencadear novas formas e abordagens na representação e usos do rap guineense.
Ao nosso ver, são também baseados nesses pressupostos do de-sempenho e da impressão que poderá redefinir as identidades e as mensagens do rap guineense, hoje indubitavelmente mais de intervenção. Assim, temos o rap «revolucionário», e começando a emergir já no espaço de audiência e de confluência, sobretudo no seio dos jovens, para outras variações como são casos do rap «fashion» (ilustrado aspetos ligados a festas, divertimentos), o rap «romântico» (modalidade em que privilegia os temas de na-tureza amorosa e de carácter mais sentimental) e o rap «beef» (territorial e pessoal de apelo às rivalidades sobre o protagonis-mo a volta do culto do ego), este é mais visível no seio da comu-nidade rap guineense na diáspora17.
De uma forma geral, conseguiu-se superar os ditus (crítica diri-gidas de forma indireta) pela lógica de enfrentamento para as-sumir abertamente e funcionalmente a responsabilidade e reite-rabilidade da ação participativa e cidadã através de um meio que mais eficazmente podia trazer ao público a visão e reivindicação dos jovens sobre a sua condição e o seu futuro, nesse sentido, “No sidadi sta sukuru/pabia djintis buru/no ka ten futuru/igno-rânsia ki no uru” [A nossa cidade está no escura/porque a gente é burra/não temos futuro/a ignorância é o nosso ouro]. (Paren-tis-D, no sidadi, registo sonoro, Bissau, 2000).
Assim, se na primeira fase da aparição do rap guineense, fazen-do recurso a Chartterjee (2004), esta dimensão e impacto das
17 Não obstante a essas variações existem ainda mais duas que, ao nosso ver, neste momento na Guiné-Bissau, pelas recolhas das músicas feitas junto às rádios, uma é de baixíssima intensidade (rap «gospel»), composto sobre temática intencionalmente reli-giosa e com função evangelizadora) e uma outra ausente, embora não implique necessa-riamente que não exista ou possa existir (rap «gangsta»). O mesmo que Radical: estilo de rap que se reporta às atividades ilícitas, violência e às atitudes machistas).
187
miguel de Barros
rádios faz com que desempenhem o papel de palco, uma vez que adquirida a estrutura do convencimento, as músicas veiculadas conseguem ser suficientemente mobilizadoras de uma opinião pública, sobretudo na cidade capital não pelo aspeto lúdico, mas pela intervenção, ao passo que, no segundo momento, é no palco visível da atuação (concertos) que os rappers guineenses recu-peram a sua presença em cena para consolidar o seu estatuto de tcholonaduris -“Bo obi mas ke ku ten ya/Bo obi, obi mas ke ku ten na Bissau” [Oiçam de novo o que se passa, ya/Oiçam, oiçam de novo o que se passa em Bissau]. (Baloberus, Bo obi mas, registo sonoro, Bissau, 2007).
O fenómeno “Masta Tito”: o MC régulo18?
Enquanto manifesto cultural e político mobilizador, o rap guine-ense está a transformar a identidade sociocultural dos jovens, muito em particular nos centros urbanos, numa perspetiva de agentes mais dinâmicos dos processos reivindicativos e de protesto, em particular os rappers. Pela criatividade discursiva (lírico e musical) com efeitos narrativos e impactos reflexivos da representação (Martins, 2005; Pardue, em prelo) estes pro-jetam um “eu/nós” transportando as suas experiências e as suas convicções, convertendo-se numa fórmula acessível de prática intensiva das identidades e estabelecendo assim, lógicas de au-todefinição e automanutenção que garantam a subsistência ide-ológico-identitária sobre a relação que os indivíduos e grupos sociais estabelecem com os territórios (Martins, 2008, 35).
Indo à procura de um quadro teórico orientador dos protagonis-mos com altos níveis de visibilidade dos rappers guineense na úl-tima década, parte-se de três pressupostos: a) que as relações de negociação dos significados dos processos interativos e das rela-ções sociais entre os sujeitos da situação social desencadeiam um
18 Figura máxima do poder tradicional de algumas etnias.
188
PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl Em COnTEXTOS DE “SUSPEnSÃO” DEmOCRáTICA: A mÚSICA RAP nA GUInÉ-BISSAU
processo inevitável da visualidade (Martins e Barros, no prelo); b) que o rap constituiu-se num instrumento político de uma juven-tude excluída (Andrade, 1999), c) que o rap transformou-se num manifesto que penetra no quotidiano para descrever com poesia aquilo que é aparentemente desprovido dela (Jovino, 1999).
É deste modo que o rapper guineense Masta Tito19 integra a sua intervenção musical, concorrendo para aumentar a autoestima do protestar:
Si bu fala dur, nha pubis tene dur / si bu fala dur, guiniensis tene dur / dur di pulisias koruptus / di militaris ki so fuguia / di pulítikus muntrusis
[Se falares em dor, o meu povo tem dor / Se disseres dor, os guineenses sentem dor / Dor dos polícias corruptos / Dos militares que só sabem disparar / Dos políticos mentirosos] (Masta Tito, Dur di un Povo, registo sonoro, Bissau, 2011)
19 Chama-se Tito Marcelino Morgado. Tem 28 anos, pai de uma filha e depois da pas-sagem pelo movimento associativo juvenil, começou a cantar em 2002, com a música “Vampiro”, na altura muito criticada por reportar palavras que muitos disseram serem “ultrajantes”. Das suas mensagens retiram-se palavras duras e ostensivas ao poder políti-co e militar, sobretudo. Atualmente trabalha para uma Organização Não Governamental Internacional no domínio da educação e saúde no Sul da Guiné.
189
miguel de Barros
Imagem 1: Aspeto do cartaz do rapper Masta Tito junto estátua de Cabral, fundador da nacionalidade guineense.
Fotografia de: Miguel de Barros
190
PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl Em COnTEXTOS DE “SUSPEnSÃO” DEmOCRáTICA: A mÚSICA RAP nA GUInÉ-BISSAU
A coragem do rapper em abordar de forma crítica, desde o pri-meiro momento, o bloqueio de um dos programas mais impor-tantes da estabilização da Guiné-Bissau, a reforma de defesa e segurança, com palavras de ordem:
No misti reforma na forsas armadas / ba reforma i ka pirsis konfuson [Queremos a reforma das forças armadas / Para ir para a reforma não é preciso confusão] (Masta Tito, Gover-nantins Katchuris, registo sonoro, Bissau, 2007)
Este, explora ainda as lutas políticas para controlo dos recursos do Estado numa perspetiva patrimonial, através de caricaturas corriqueiras que as representações de um simples cidadão co-mum consegue reconhecer e através dela manifestar-se. Vide por exemplo as passagens no tema “hora tchiga” no qual explo-ra as divergências entre o partido do governo (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde - PAIGC) e o prin-cipal partido da oposição (Partido da Renovação Social - PRS):
Mandatu di Guiné-Bissau i tipo skola di nhu Baron / levantou sintou, sintou levantou/ si i ka PRS i PAIGC si ka PAIGC i PRS / ora ku PAIGC na manda/ PRS na sabotea/ o PAIGC na sabótia se kabesa / ora ku PRS na manda/ PAIGC na sabótia/ na pidi so Deus pel amor, pel amor di Deus / libranu di politikus mun-trusis [O mandato da Guiné-Bissau é tipo escola de Senhor Barrão / Levantou sentou, sentou levantou / Se não é o PRS é o PAIGC, se não é o PAIGC é o PRS / Quando for o PAIGC a governar / o PRS saboteia / ou o PAIGC saboteia-se a si próprio / quando for o PRS a governar / PAIGC saboteia / Só peço a Deus por amor por amor de Deus / Livra-nos dos políticos mentirosos] (Masta Tito feat Vladimir, Ora Tchiga, registo sonoro, Bissau, 2011)
E depois, denuncia o conflito entre o falecido Presidente da República, Malam Bacai Sanhá (MAMBAS) e o então Primei-ro-Ministro, Carlos Gomes Jr., ambos pertencentes ao mesmo partido, e na altura do lançamento da música, ambos estavam no exercício, re-utilizando o slogan da campanha que levou a eleição do presidente:
191
miguel de Barros
No na lestu di diskisi nunde ku no da tapada i nunde ku no kai / (…) Mambas falanuba kuma ora tchiga / gosi propi ku ora tchiga pa presidenti ku purmeru ministru kume na mes-mu kabasa / (…) ora tchiga pa militaris para kume e farta e ba randja malkriadesa [Esquecemos depressa onde tro-peçámos e onde é que caímos / (…) Mambas dizia-nos que chegou a hora / Agora é que chegou mesmo a hora de o pre-sidente e o primeiro-ministro comerem no mesmo prato / (…) Chegou a hora de os militares comerem até se fartar e de cometerem desmandos] (Masta Tito, Ora Tchiga, registo sonoro, Bissau, 2011)
Na verdade, não foi apenas o estilo musical do rapper que con-tribuiu para a sua popularidade, mas sobretudo pelas persegui-ções que foi alvo por parte dos militares que controlam o poder político, chegando a ter concertos sucessivamente suspensos horas antes do seu início:
É músika na bai dedikadu pa tudu tropas maus… / Ke ku na medi jeneral? / tropas ka dudu pa matanu anós tudu / (…) es tropas ku sobritudu i falsu [Esta música é dedicada a todos os militares maus… / De quê tem medo o general? / Os mi-litares não são doidos para matar-nos a todos / (…) estes militares que são sobretudo falsos] (Masta Tito, Ke Ku Na Medi, registo sonoro, Bissau, 2007)
Aproveitando dessas situações, Masta Tito foi aumentando o seu repertório com mensagens de coragem e de produção de auto-estima, como se nota no tema “fosa”:
Si n medi, na muri / si n ka medi na muri / mindjor n ka medi, n muri i n diskansa / Masta Tito i régulu / régulu ka nunka medi / ami ki dunu di tchon / ami ku tene tera/ ami ku ta manda na pulítikus, pulísias ku militaris… tudu djintis / kin ku iara nha dedu dentru di si kuku di udju / pa n kontal bardadi [Se tiver medo, morro / Se não tiver medo, morro / Melhor não ter medo, morrer e descansar / Masta Tito é régulo / Régulo nunca tem medo / Eu é que sou dono do chão / Eu é que tenho a terra / Eu é que mando nos políticos, nos polícias e nos militares… em toda a gente / A quem se com-portar mal, enfio-lhe o dedo nos olhos / Para lhe dizer a verdade] (Masta Tito feat NB, Fosa, registo sonoro, Bissau, 2010)
192
PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl Em COnTEXTOS DE “SUSPEnSÃO” DEmOCRáTICA: A mÚSICA RAP nA GUInÉ-BISSAU
Um outro elemento importante nas narrativas do Masta Tito é a sua aproximação e procura de cumplicidades junto ao público, como faz notar aqui nos temas “fidju botadu” e “n`ka na medi”:
Ami i rasa kaseke/N’ ka ta medi iagu kinti/E na buskan pa pudi panhan/I pa kalantan/Ami n’ disidi muri/Ma pa tudu mininus ten futuru! [Eu sou como o peixe seco/Não tenho medo da água quente/Andam à minha procura para me apanhar/E me fazer calar/Eu decidi morrer/Mas para que todas as crianças tenham futuro!] (Masta Tito, Fidju Botadu, registo sonoro, Bissau, 2007)
No ka na medi (...) / no karmusa no kansa / gosi i pa kada kin mara si kalsa / anós tudu i guiniensi / (…) bo gosta ó bo ka gosta n ka na para kanta pa nha povu [Nós não temos medo /
Imagem 2: Público em fila para acesso ao concerto do Masta Tito no espaço Lenox (Bissau, Setembro de 2012)Fotografia de: Miguel de Barros
193
miguel de Barros
Cansámo-nos de nos pavonear / Agora que cada um amarre as calças / Somos todos guineenses / (…) Gostarem ou não gosta-rem, não vou parar de cantar para o meu povo] (Masta Tito, Nka Na Medi, registo sonoro, Bissau, 2012)
Numa entrevista realizada à Rádio Voz da América20, o rapper e intervencionista diz sentir-se “realizado, porquanto muitos con-sideram-no o porta-voz da maioria da população guineense” e afirma ainda que a sua popularidade advém do fato de expressar a verdade “só digo a verdade”.
Com efeito, esta condição e auto-representação antes inquestio-nável, foi posta em causa no seio da comunidade rap guineense, em particular junto dos pares, na medida que o Masta Tito este-ve implicado nas atividades da campanha eleitoral às eleições presidenciais de 2012, produzindo uma música apelando ao voto a este e participando nos comícios.
Anos i di Nhamadjo / (…) viva Nhamadjo / omi balenti / anós tudu no kontenti manera ku sta presenti / omi di paz / omi capaz/ Nhamadjo i AS / omi santu / (...) Nhamadjo ka susus / omi limpu pus / suma si pensamentu / pa Guiné mela tchut / (…) povo kudji paz / Nhamadjo bin ku paz / Nhamadjo i ca-paz/ povu misti paz /povu di Guiné no vota na Nhamadjo [Nós somos do Nhamadjo / (…) Viva Nhamadjo / Homem valente / Todos estamos contentes de ele estar presente / Homem de paz / Homem capaz / Nhamadjo é um ás / Homem santo / (…) Nhamadjo não é sujo / É limpo demais / Como o seu pensamento / Para que a Guiné seja só mel / (…) O povo es-colheu a paz / Nhamadjo trouxe a paz / Nhamadjo é capaz / O povo quer paz / Povo da Guiné, votemos no Nhamadjo] (Masta Tito, Serifo Nheme Adjo, registo sonoro, Bissau, 2012)
Para muitos rappers, esta ação pôs em causa a condição de “ré-gulo”, na medida que contraria os princípios e valores deste mo-
20Ver em: http://www.voaportugues.com/portuguese/news/04_01_2011_guinerapper_voanews
194
PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl Em COnTEXTOS DE “SUSPEnSÃO” DEmOCRáTICA: A mÚSICA RAP nA GUInÉ-BISSAU
vimento. Por outro lado, se dantes o rapper corria risco devido ao comportamento de militares que chegaram ao ponto de pren-der e torturar alguns rappers, Masta Tito passou a ter proteção dos militares, em particular do Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas, algumas vezes, alvo das críticas do rapper, chegando este a ser convidado pela hierarquia militar a efetuar um espetáculo para elementos das forças armadas.
Estes fatos embora problemáticos, concorrem paradoxalmente para a popularização da personagem do rapper Masta Tito, fato confirmado, com a sua última música intitulada “no kansa golpe”, em consequência do último golpe de Estado verificado no país:
Tudu ora son golpe/ pulítikus kusinha mas golpe / son golpe / militaris fasi mas golpe (No Kansa Golpe, 2012) [A toda a hora, só golpes (de Estado) / os políticos cozinharam mais um golpe / só golpes / os militares deram outra vez um golpe] (Masta Tito feat Ludy, No Kansa Golpe, registo sonoro, Bissau, 2012)
Neste registo, Masta Tito criticou diretamente políticos e milita-res com responsabilidades governativas, os principais candida-tos às últimas eleições presidenciais (atendendo ao facto que o golpe de Estado ocorre quando se preparava para ir à segunda volta das eleições presidenciais) e parece quebrar o vínculo que o ligou ao então candidato presidencial e agora nomeado Presi-dente de República de Transição, afirmando:
Kulpasinhu kulpa garandi tudu i kulpa / golpesinhu ku golpe garandi tudu i golpe / kondena tudu i kondena / (…) Serifo Nhamadjo i presidenti pabia PRS fasi golpe [Culpa pequena, culpa grande, é tudo culpa / golpe pequeno e golpe grande, é tudo golpe / condenar é tudo condenar / (…) Serifo Nhamadjo é presidente porque o PRS deu um golpe] (Masta Tito feat Ludy, No Kansa Golpe, registo sonoro, Bissau, 2012)
195
miguel de Barros
Na verdade, segundo vários autores (Cardoso & Augel, 1993; Kou-dawo & Mendy, 1996; Barros, 2004; Teixeira, 2008) as eleições se tornaram, para a liderança política e militar, apenas mais uma estratégia de posicionamento dos interesses em detrimento dos interesses vitais das populações. É deste modo que os concertos dos rappers, antes e depois das eleições, em particular do Masta Tito caracterizam-se como algo que Azevedo & Silva (1999) desig-nam um espaço capaz de expressar e compartilhar sentimentos, comportamentos e valores culturais, possibilitando que tradições sejam evocadas e transformadas em novas linguagens.
Imagem 3: Masta Tito em ação no espaço Lenox (Bissau, Setembro de 2012)Fotografia de: Miguel de Barros
196
PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl Em COnTEXTOS DE “SUSPEnSÃO” DEmOCRáTICA: A mÚSICA RAP nA GUInÉ-BISSAU
Conclusão: democratizar a palavra e ampliar os espaços de participação a protagonistas não “tradicionais”
Enquanto manifesto cultural e político mobilizador, o rap gui-neense transformou a identidade sociocultural dos jovens sem filiação partidária e/ou em estruturas formalizadas, marcadas pela mentalidade de “jitu ka ten” [não há solução], num proje-to de contestação de reconhecimento através do seu protago-nismo crítico-interventivo. Deste modo, devolveu o orgulho à juventude que é muitas das vezes criticada de não querer en-volver-se na política ou de estar mais vulneráveis ao consumo.
Relativamente ao uso do crioulo, enquanto instrumento, e à rádio, como veículo de comunicação, potenciou a resistência e contestação dos rappers sobre a situação de instabilidade polí-tica e governativa, dos desmandos dos militares, da corrupção, do direito ao futuro, por um lado, e, por outro, desconstruiu para depois construir não só uma nova representação à música rap como também do protagonismo juvenil. Enfim, a palavra foi(é) desenvolvida e partilhada com o público nas múltiplas projeções e, como sustenta Queiroz (2007), a experiência rapper guineen-se extrapola os limites territoriais do país.
Um outro aspeto importante a convocar aqui é o recurso aos instrumentos, ritmos e sons tradicionais associados à recu-peração dos temas clássicos dos grupos Cobiana Jazz e Super Mamadjombo, que contribuíram para ligar os jovens à his-tória da resistência no seu país. Este processo consagrou a geração marcada pela guerra civil de 7 de Junho de 1998 e, por consequência, mobilizou-os para as lutas “libertadoras”. Ao contrário de dinâmicas nos outros contextos, viram no rap uma forma sobretudo de ação cívica e de desafiar as desigual-dades sociais existentes, focalizando-se na necessidade de construção do Estado, através da governação. Contudo, este facto prende-se com a particularidade do contexto histórico-
197
miguel de Barros
-político que a Guiné-Bissau tem-se confrontado, desde a li-beralização política até a atualidade.
De qualquer modo, se tomarmos como base que a construção de uma democracia participativa exige ações de mobilização, esta passa a ser fundamental para o exercício da cidadania. Num for-mato em que se torna imprescindível uma interlocução entre o Estado e a Sociedade Civil, a organização dos sujeitos em grupos não formalizados em torno dos temas de interesse público é a forma de ampliação da sua potência cívica, o meio através do qual podem intervir mais ativamente no debate público e chegar às instâncias deliberativas.
Todo este conjunto compõe, portanto, um amplo espectro mobi-lizador. E é visível que, muitas vezes, os próprios movimentos ou projetos mobilizadores competem entre si pela atenção dos ci-dadãos21. Mas se, por um lado, projetos de mobilização são mui-tas vezes realizados como iniciativa isolada, muitos procuram articular-se com outros que se referem à mesma causa social ou a causas conexas. Podemos identificar também que as lutas so-ciais adquirem uma característica de luta por visibilidade (Me-lucci, 2001). Não apenas porque os movimentos ou projetos de certa forma competem pela atenção – e consequentemente pela adesão – dos cidadãos, mas também porque necessitam posicio-nar-se em relação à causa que defendem e assim buscar a todo tempo legitimação institucional.
Aí podemos identificar o papel da mídia. Tornando públicas as suas causas e as suas ações, procuram com isso reforçar sua po-tência cívica, para colocarem-se como legítimos interlocutores ou mesmo para ganharem simpatia para a causa. Diante desse
21 Recuperando Mbembe (1985), este aspeto torna-se extremamente crítico no caso dos rappers guineenses, na medida em que a situação de precariedade no qual vivem os jo-vens, sobretudo nas zonas urbanas (falta de oportunidades de formação, emprego, ha-bitação), poderá levar a cooptação destes jovens, sobretudo pela dimensão na qual têm mais sucesso – a intervenção cívica.
198
PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl Em COnTEXTOS DE “SUSPEnSÃO” DEmOCRáTICA: A mÚSICA RAP nA GUInÉ-BISSAU
novo cenário, torna-se evidente que a questão da imagem assu-me posição central para os processos de mobilização. Este não é, no entanto, um processo simples, já que a pluralidade de in-teresses faz com que o espaço de publicização, através da mídia, tenha que ser todo o tempo reivindicado e conquistado.
Por isso mesmo, a mobilização constitui-se através de uma contínua formulação estratégica de ações de comunicação que sejam capazes de sustentar uma legitimidade pública (através da visibilidade), como também de sustentar os vínculos de confiança que mantêm a coope-ração, que depende de uma capacidade de realimentar continuamen-te o debate público e reforçar os laços de identificação e de perten-cimento dos sujeitos mobilizados. É nesta base que já se começam a notar um novo estilo no rap guineense, denominado por Contador e Ferreira de “filosofia de edutimento” [educação+divertimento], orientada para a sensibilização acerca de boas práticas e baseado no divertimento, introduzindo assim elementos dançáveis.
Referências Bibliográficas
Andrade, E. N. (1999). Hip Hop: Movimento negro juvenil. In E. N. Andrade (Ed.), Rap e educação: rap é educação (pp. 83-91). São Paulo: Summus;
Augel, M. (1998). A Nova Literatura da Guiné-Bissau. Bissau: INEP: Colecção Kebur;
Azevedo, A. M. G., & Silva, S. S. J. (1999), “Os sons que vêm das ruas”, In Andrade, E. N. (Ed.), Rap e educação: rap é educação, São Paulo, Summus, p. 65-82;
BARROS, M. e LIMA, R. (em prelo). Rap Kriol(u):O pan-africanismo de Cabral na música de intervenção juvenil na Guiné-Bissau e em Cabo-Verde. Realis - Revis-ta de Estudos AntiUtilitaristas e PosColoniais;
Barros, M. (no prelo). ‘Civil Society in the process of democratization and devel-opment in Guinea-Bissau (1991-2011)’. In Olagboye, B. (ed.) Civil Society and Development in West Africa, WACSI;
Barros, M. (2010). Associativismo Juvenil Enquanto Estratégia de Integração Social: O caso da Guiné-Bissau. [Online] (URL http://repositorio-iul.iscte.pt/
199
miguel de Barros
bitstream/10071/2271/1/CIEA7_7_BARROS_Associativismo%20juvenil%20enquanto%20estrat%C3%A9gia%20de%20integra%C3%A7%C3%A3o%20social.pdf). (Accessed 20 november 2012);
Bennett, A. (2000). Popular Music and Youth Culture: Music, Indentity and Place, London: Macmillam;
Cardoso, C. & Augel, J. (eds.) (1993), Guiné-Bissau 20 anos de independência: desenvolvimento e democracia. Balanços e perspectivas, Bissau, INEP;
Contador, A. & Ferreira, E. (1997). Ritmo & Poesia: Os Caminhos do Rap. Lisboa: Assírio & Alvim;
Goffman, E. (1973). La mise en scène de la vie quotidienne. Tome 1: La présenta-tion de soi. Paris: Minuit;
Goffman, E. (1973). La mise en scène de la vie quotidienne. Tome 2: Les relations en public. Paris: Minui
Henriques, M. et. al. (2004). Comunicação e estratégias de mobilização social. Belo Horizonte: Autêntica;
ICG (2012). “Au-dela des compromis: les perspectives de reforme en Guinée--Bissau”, in Rapport Afrique n.183, Dakar/Bruxelles, 23 Janvier 2012;
ICG (2009). “Guinea-Bissau: Beyond the Rule of the Gun”, in Policy Briefing, n. 61. Dakar/Bruxelas;
Jovino, I. S. (1999), “Rapensando PCN´s”, In ANDRADE, E. N. (Ed.), Rap e edu-cação: rap é educação, São Paulo, Summus, p. 161-168;
Koudawo, F. (2000). ‘Os Media na Guiné-Bissau ’. In Nick, S. (ed.) Pluralismos de Informação nos PALOP. Cascais: Principia/ Instituto PANOS, pp. 97-126;
Koudawo, F. & Mendy, P. (eds.) (1996). Pluralismo Politico na Guiné-Bissau uma transição em curso, Bissau, INEP;
Martins, J. S. (2008). A fotografia e a vida cotidiana: ocultações e revelações. In: Pais, J. M., Carvalho, C. & Gusmão, N. (Orgs.). O Visual e o Quotidiano, Lisboa: ICS, 2008, pp. 33-58;
Martins, R. & Barros, M. (no prelo). “Da in/visibilidade da representação e sentido de pertencimento nos coletivos periféricos de jovens em São Paulo e Lisboa”;
Martins, R. (2005). Hip-Hop: O estilo que ninguém segura, São Paulo, Esetec;
Mbembe, A. (1985). Les jeunes et l’ordre politique en Afrique noire. Paris: L’Harmattan;
200
PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl Em COnTEXTOS DE “SUSPEnSÃO” DEmOCRáTICA: A mÚSICA RAP nA GUInÉ-BISSAU
Melucci, A. (2001). A Invenção do Presente. Movimentos sociais nas sociedades complexas. Petrópolis: Vozes;
MEPIR, (2011). Documento de Estratégia Nacional de Redução da Pobreza/DE-NARP II. Bissau: MEPIR;
Parude, D. (no prelo). “Chronotope Identification in Kriolu Rap”, In MARTINS, R. e CANEVACCI, M. (Orgs.), “Who we are” – “Where we are”: identities, ur-ban culture and languages of belongings in the Lusophone hip-hop, Oxford: Sean Kingston Publishing;
Queiroz, A. (2007). As Inscrituras do Verbo: dizibilidades performáticas da pa-lavra poética africana, Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE para a obtenção do título de Doutor em Teoria da Literatura: Recife: UFPE;
Sclavi, M. (2000). Arte di Ascoltare e Mondi Possibili. Milano: Le Vespe;
Schwarz, J. (1997). ‘Ke ki mininu na tchora’. In Augel, M. (ed.) Ora di kanta tchi-ga: José Carlos Schwarz e o Cobiana Djazz. Bissau: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP), p.49. (Colecção Kebur);
Semedo, O. (2010). Guiné-Bissau: história, culturas, sociedade e literatura. Belo Horizonte: Nadyala;
Silva, L., and Kayayan, A. (eds), (2004). Estratégias de Comunicação e Mobiliza-ção Socia, Brasília: Universa;
Teixeira, R. (2008). A Construção Democrática na Guiné-Bissau: Limites e Possibilidades, Conferência sobre Pluralismo Político e Democracia na Guiné--Bissau, Bissau 17-18 Outubro, CODESRIA;
UNODC (2008). Perspectives, Issue 5, Viena, May 2008;
UNODC (2007). Cocaine trafficking in West Africa: the threat to stability and development (with special reference to Guinea-Bissau), Viena, December;
Zumthor, P. (1987). La letra y la voz, Madrid: Cátedra.
Recebido em 01/10/2012Aprovado em 15/11/2012
O Socioeducativo desde as Margens:Discutindo a versão de duas jovens
Paulo Artur Malvasi1
ResumoO sistema socioeducativo constitui-se em um campo político complexo e que envolve diversos atores institucionais. No cerne de todo este emaranhado institucional, há (idealmente) o ado-lescente autor de ato infracional. Neste artigo, procuro destacar a versão de duas garotas; apresento vozes das margens do siste-ma como um contraponto ao discurso institucional. A perspec-tiva das meninas sobre a gestão de programas socioeducativos problematiza os modelos na medida em que estes tendem a ig-norar - ou mascarar - suas experiências e vozes. Palavras-chave: sistema socioeducativo – juventude – etnografia.
The Socio-Educational System from the Margins Perspective: Discussing the ver-
sion of two teenagers
AbstractThe socio-educational system is a complex socio-political field and involves several institutional actors. At the heart of all this institu-tional tangle, there is (ideally) the teen author of offense. In this ar-ticle, I highlight the version of two girls, introducing the voices of the margins of the system as a counterpoint to the institutional dis-course. The girls’ perspective on the management of socio-educa-tional programs problematizes the current models in so far as they tend to ignore - or mask - their experiences and voices.Keywords: socio-educational system – youth – ethnography.
1 Antropólogo, doutor em Saúde Pública. Pesquisador do Centro de Estudos da Metró-pole (CEBRAP) e do LIESP (FSP/USP). Docente e pesquisador do Mestrado Profissional Adolescente em Conflito com a Lei da Universidade Bandeirante-SP
202
O SOCIOEDUCATIVO DESDE AS mARGEnS: DISCUTInDO A VERSÃO DE DUAS jOVEnS
Sistema socioeducativo: controle e tutela sob a égide da partcipação.
O sistema socioeducativo constitui-se em um campo político complexo e que envolve diversos atores institucionais. Poder Judiciário, Ministério Público e Conselhos de Direitos; polícias e secretarias municipais e estaduais – principalmente áreas da saúde, assistência social e educação –, parcerias entre ór-gãos governamentais e não-governamentais. No discurso insti-tucional da política pública, esta se caracteriza pela busca por “ações descentralizadas” construídas de modo “participativo” e “articulação intersetorial das áreas de políticas públicas” no âmbito municipal, estadual e federal compõem interfaces entre os programas de atendimento para garantir a “universalidade” das políticas e dos serviços. Uma imbricada rede de interesses e perspectivas, de disputas, marcam a gestão do sistema. No cerne de todo este emaranhado institucional, há (idealmente) o ado-lescente autor de ato infracional – o “sujeito de direitos” para o qual todo o sistema deve convergir.
A noção do adolescente como sujeito de direitos é novidade em uma longa história de singularização da faixa etária da infância e da adolescência como objeto de intervenção estatal no Brasil. A preocupação em formalizar um corpo de leis e de políticas espe-cíficas voltado para os “menores” inaugurou-se, no Brasil, com o Código datado de 1927. Estas normas voltavam-se para setores da população infanto-juvenil que precisavam ser “purificados”: os “menores”, invariavelmente pobres. Era uma época em que a noção de higiene estava no centro da ação estatal. Desde o início da República – final do século XIX – políticas de saúde pública e intervenção social sobre determinados grupos sociais visavam a selecionar aqueles que dificultavam a limpeza física e moral do espaço público necessária para a construção do “projeto nacio-nal” (Mota e Santos 2003; Rizzini 2008). O código de 1927 pro-curava delinear os mecanismos de punição aos “menores” que contribuíam para o atraso do país.
203
Paulo Artur malvasi
A conotação punitiva do Código de 1927 foi mantida em 1979 – no “Código de Menores”. A história do Brasil durante o século XX re-vela uma preocupação perene em intervir sobre infâncias, adoles-cências e famílias que possam de alguma forma representar perigo à sociedade. A perspectiva “menorista” foi alvo de um luta social marcante no processo de redemocratização nos anos 80: surgiria uma nova concepção da infância, mais afinada com a concepção de crianças e adolescentes como “sujeitos de direitos especiais” (Vian-na 2002). A produção intelectual e militante dos anos 80 constituiu uma mobilização que levou à elaboração e à promulgação de uma nova legislação específica para crianças e adolescentes. Baseado na doutrina da proteção integral, lei nº 8069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) representa um esforço de superação da po-lítica instituída para o “menor” pelas legislações anteriores, e pelo organismo responsável pela execução da lei – a Fundação Nacional de Amparo e Bem-Estar do Menor (Funabem).
A luta concreta para a substituição de uma política baseada no pa-radigma da “situação irregular” por outra baseada no paradigma da “proteção integral” implica tanto a mudança normativa quanto a de valores. As crianças e os adolescentes não seriam mais vistos como “irregulares”, “abandonados”, “desviantes” – mas antes como sujeitos cujos direitos estão ameaçados ou violados e que, por con-seguinte, devem ser restaurados. A ação estatal se deslocaria, te-oricamente, da repressão para a proteção especial (Feltran 2008: 206). A transição da ditadura militar (1964-1985) para a democra-cia, entretanto, tem se mostrado um processo complexo de mudan-ças e de continuidades na sociedade brasileira2.
Na área do adolescente autor de ato infracional, o ECA representou um avanço ao instituir o direito ao devido processo legal, o direito à defesa e a ênfase na ideia de que as medidas deveriam privile-
2 Para discussões detalhadas sobre os paradoxos da democracia brasileira, ver Peralva (2000) e Caldeira (2000).
204
O SOCIOEDUCATIVO DESDE AS mARGEnS: DISCUTInDO A VERSÃO DE DUAS jOVEnS
giar o caráter socioeducativo3. Estas são mudanças de fundo e que produziram nos últimos vinte anos transformações (nem sempre exitosas) no atendimento ao adolescente. Entretanto, manteve-se a ambiguidade entre a garantia de direitos e a tutela. Os movi-mentos sociais que geraram e mantêm o discurso do adolescen-te como “sujeito de direitos” e “prioridade absoluta” mobilizam apoio político em bases amplas e eficazes, mas, ao mesmo tempo, tendem a reificar o grupo alvo de preocupações. O paradigma da “infância e adolescência” produz uma particularidade bastante di-ferente daquele que o antecedeu – o do “menor” – porém ambas as concepções possuem caráter discricionário, demarcando um grupo social que precisa de “cuidados especiais” – concepção que facilmente se torna tutela nas práticas cotidianas de profissionais que atuam no campo da infância e adolescência.
A construção do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SEDH 2005) representa na primeira década do século XXI uma al-ternativa no discurso institucional de transformação das práticas de atendimento na execução das medidas socioeducativas. Neste documento destacam-se as dificuldades de alteração das práticas, pois é “longa a tradição assistencial-repressiva em relação àqueles que, de alguma forma, transgrediram ou apresentam característi-cas de algum risco ou vulnerabilidade social” (SEDH 2005, p.14). O quadro apresentado sobre a “realidade institucional do atendi-mento socioeducativo” aponta as “grandes mudanças necessárias” para que as medidas possam ser “educativas”, ou seja, que agenciem uma transformação no sujeito. A chave para alcançar a mudança de paradigma das intervenções sobre adolescentes é a gestão. A ação racional e planejada a partir de um sistema não evita, entretanto, que as intervenções construam formas normativas de cidadania, fundadas em assumpções morais culturalmente específicas e/ou de cariz etnocêntrico recorrentes na sociedade brasileira.
3 Segundo o Artigo 113º, “na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessida-des pedagógicas, preferindo aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familia-res e comunitários”.
205
Paulo Artur malvasi
A ideia de gestão praticada no sistema socioeducativo se expres-sa publicamente como gerir – “administrar, dirigir, gerenciar” (Houaiss e Vilar 2001, p.1447) – mantendo eclipsada (mas la-tente) sua dimensão tutelar. Gestão também se origina do verbo gestar – “formar e sustentar um filho no próprio ventre” (Hou-aiss e Vilar 2001, p.1449), que remete à ideia de cuidado e pro-teção. Tal concepção compatibiliza bem com políticas discricio-nárias para “os personagens sociais que mais facilmente podem ser tomados como ‘naturalmente’ tutelados ou tuteláveis”: a infância e a adolescência (Vianna 2002, p.271). A missão peda-gógica de formar, cultivar, facilmente se transforma em cuidar, tutelar; são diferenças semânticas sutis, mas que podem indi-car práticas profundamente divergentes. Segundo Lima (2002), a tutela no Brasil se caracteriza pelo controle e alocação dife-rencial e hierarquizada de populações, para as quais se criam estatutos diferenciados e discricionários nos planos jurídico e/ou administrativo. Este é o caso das políticas públicas voltadas para “adolescentes em conflito com a lei”. No caso daqueles en-quadrados como “infratores” a tutela é muitas vezes tida como uma obrigação do Estado em defesa da sociedade.
A dicotomia das intervenções sobre os “adolescentes em conflito com a lei” é reatualizada no documento norteador do SINASE (2006). Segundo o documento, a função pedagógica das medidas socioeducativas deve ser o de auxiliar o adolescente, promover atitudes e conhecimentos para que, sobretudo, ele não reincida no ato infracional. Em suma, a finalidade da medida é mudar o comportamento dos adolescentes, com foco em evitar a reinci-dência por meio de estratégias de educação e inclusão. O SINASE salienta que é “fundamental” neste processo que tais estratégias contemplem a participação dos adolescentes na gestão dos pro-gramas. O adolescente deve “assumir conscientemente seu pa-pel de sujeito” (SEDH 2005, p.50). No documento lê-se: “as ações socioeducativas devem propiciar concretamente a participação crítica dos adolescentes na elaboração, monitoramento e avalia-ção das práticas sociais desenvolvidas, possibilitando, assim, o
206
O SOCIOEDUCATIVO DESDE AS mARGEnS: DISCUTInDO A VERSÃO DE DUAS jOVEnS
exercício – enquanto sujeitos sociais – da responsabilidade, da liderança e da autoconfiança” (SEDH 2005, p.50).
A participação popular é um ponto central do modelo de ges-tão difundido pelo Brasil pós-constituinte. O caso do SINASE é exemplar: a proposta de gestão dos programas de atendimento socioeducativo é apresentada em termos de uma “metodologia de gestão”. Salienta-se nela que o objetivo maior da gestão par-ticipativa é a constituição de uma “comunidade socioeducativa”, composta por profissionais e por adolescentes dos programas de atendimento socioeducativo. A participação dos adolescentes é idealmente contemplada pois, junto aos diversos profissio-nais que atuam no atendimento, eles compõem a “comunidade socioeducativa”4. Na descrição dos “dispositivos” que concreti-zam a “comunidade socioeducativa”, entretanto, não está clara a participação efetiva dos adolescentes. A gestão participativa – chamada de dispositivo no documento – é apresentada como a “participação de todos nas deliberações, na organização e nas decisões sobre o funcionamento dos programas”; se partirmos da caracterização da “comunidade socioeducativa” como sendo composta por profissionais e por adolescentes, será possível pressupor que os jovens também deliberam, organizam e de-cidem. A participação destes está proposta também na avalia-ção do desempenho da direção, assim como no da equipe, do próprio funcionário e do adolescente, de acordo com critérios constituídos pelo coletivo e pelos indicadores de qualidade; o adolescente, em tese, avaliaria o trabalho dos técnicos e gesto-res, embora os parâmetros de avaliação sejam técnicos.
Todas as caracterizações dos dispositivos compõem uma “meto-dologia de gestão” em que o adolescente aparece como “sujeito”
4 Nesta “comunidade”, a gestão deve ser participativa: (...) todas as operações de deliberação, planejamento, execução, monitoramento, avaliação e redirecionamento das ações devem ser compartilhadas, rotativas, solidárias, tendo como principal destinatário o coletivo em ques-tão, contemplando as peculiaridades e singularidade dos participantes (SEDH 2005, p. 99).
207
Paulo Artur malvasi
(ou “protagonista”), mas a formulação é bastante ambígua. Co-locada nos termos acima citados, a proposta de gestão partici-pativa ignora a imensa diferença de poder entre diferentes pro-fissionais do campo e, sobretudo, entre o corpo profissional e os próprios adolescentes, que são tidos, em última análise, como pessoas que precisam de tutela e de intervenção.
Em todos os dispositivos apresentados, o Plano Individual de Atendimento (PIA) é aquele que mais especifica o lugar que os adolescentes e seus familiares ocupam na gestão do programa de atendimento. O PIA, entretanto, é um instrumento de gestão que fica sob a responsabilidade dos técnicos, psicólogos e assis-tentes sociais. O adolescente é o objeto de intervenção. Numa proposição ideal, os adolescentes e suas famílias pactuariam os passos, os possíveis obstáculos e as estratégias de ação.
Outro ponto importante a ser salientado na proposta de gestão de programas do SINASE é que não está clara, no documento, a relação dos programas com forças institucionais extremamen-te marcantes na experiência dos adolescentes que passam por medidas socioeducativas: as polícias e o judiciário. As polícias e o judiciário compõem o início do processo de aplicação e execu-ção das medidas. O judiciário aparece como parte de uma “rede externa” da “comunidade socioeducativa”, e é ainda citado como necessário na criação de uma “aliança estratégica”. Para os ado-lescentes, as polícias e o judiciário desempenham um papel cen-tral na experiência de passar pelos programas de atendimento. A força que os adolescentes atribuem a estes atores institucio-nais revela um cenário bastante complexo que circunscreve a gestão de programas socioeducativos.
O sistema socioeducativo, segundo o discurso institucional, deve “reinserir” o “adolescente autor de ato infracional”. Como política pública, sua formulação parte de uma dicotomia: por um lado, o “público alvo” deve sofrer uma intervenção, pois constitui um risco
208
O SOCIOEDUCATIVO DESDE AS mARGEnS: DISCUTInDO A VERSÃO DE DUAS jOVEnS
para a sociedade não intervir sobre aqueles que são os potenciais “futuros criminosos”; por outro lado, os adolescentes são também vistos como pessoas em dificuldade, necessitados e desprotegidos, num estado permanente de “vulnerabilidade”. Nesse contexto, as medidas socioeducativas devem simultaneamente controlar “com-portamentos de risco” e cuidar de “estados vulneráveis”.
O sistema socioeducativo segue o modelo de gestão da assistên-cia social e da saúde pública, posicionando-se como um campo de construção de normativas de cidadania e de subjetividade, baseadas na participação dos “sujeitos de direitos”. A descrição de duas jovens sobre suas experiências contradizem normativas e documentos orientadores das políticas voltadas para “adoles-centes em conflito com a lei”.
Versões femininas sobre o cumprimento de medidas socio-educativas
O itinerário de cumprimento de medidas socioeducativas de duas jovens, de acordo com suas narrativas colhidas em entre-vistas individuais, expôs a violência com que os adolescentes se deparam quando participam (cumprem) medidas socioeducati-vas. As entrevistas se caracterizaram por um enfoque na situa-ção limiar de entrada no sistema socioeducativo, procurando o mínimo de interferência nos relatos. O intuito dessa abordagem foi reconhecer as ênfases das adolescentes nos pontos mais sig-nificativos da experiência de aplicação e execução das medidas.
A escolha de contar história de meninas – em universo predo-minantemente masculino5 – deve-se a aspectos que tornam os relatos delas salutares para a discussão aqui esboçada. Os rela-tos delas se caracterizaram pelos detalhes sobre a experiência
5 Segundo Levantamento Nacional Socioeducativo referente ao ano de 2009, o número de meninas no sistema gira em torno de 5%.
209
Paulo Artur malvasi
de cumprimento de medidas. As meninas, diferentemente da maior parte dos meninos, descreveram as situações enfatizan-do o sofrimento e a revolta de forma mais acentuada. Os garo-tos tendiam a tratar do processo como um componente de suas escolhas de forma fatalista, enquanto as meninas registraram maior indignação. Elas evitaram furtaram menos que os garotos de falar sobre humilhações e violências por que passaram. Fo-ram ambas, em suma, detalhistas na descrição.
Estas entrevistas foram os únicos registros relativos a depoimen-tos colhidos por mim de jovens do sexo feminino, num universo de dezessete jovens trabalhadores do tráfico de drogas que acom-panhei entre os anos de 2008 e 2011. A questão de gênero não foi apreendida sistematicamente neste estudo, mas alguns pontos merecem citação, embora sejam limitados e parciais para uma discussão profícua sobre o tema. Ao acompanhar e entrevistar meninos e meninas em cumprimento de medida socioeducativa pelo crime de tráfico de entorpecentes, uma das questões que fiz em todas as entrevistas foi sobre a diferença de gênero nes-te mercado. Distingui recorrências entre meninos e meninas. As respostas foram idênticas, mas com sinal invertido: os garotos responderam que eles são mais ágeis para fugir da polícia, mais fortes para aguentar as longas horas de trabalho, menos emotivos e mais corajosos, por isso haveria uma “grande” diferença em ser homem ou mulher para trabalhar no tráfico; as meninas predo-minantemente responderam que não havia diferença, a não ser o fato dos garotos serem mais ágeis para fugir da polícia e mais fortes fisicamente. As meninas criticaram ainda a virilidade – as “brincadeiras de mão” e as “tretas” com as quais os meninos se envolviam – e que prejudicariam os negócios. Não acompanhei a experiência das meninas nas ruas, o que impossibilita portanto uma análise mais efetiva sobre a questão de gênero.
A escolha específica pelo tratamento das histórias, simultanea-mente, deve-se ao fato de estas duas adolescentes relatarem his-tórias parecidas de envolvimento com o crime – quase o mesmo
210
O SOCIOEDUCATIVO DESDE AS mARGEnS: DISCUTInDO A VERSÃO DE DUAS jOVEnS
padrão socioeconômico, idem sobre os vínculos familiares. As duas jovens passaram pela privação de liberdade e depois cum-priram medidas em meio aberto, entre 2008 e 2009, quando as conheci em maio, em um programa de atendimento que acolheu a pesquisa6. Meu texto salienta três vínculos de ação estabeleci-dos pelas garotas: a família, os amigos do “crime” e os entes que configuram o sistema socioeducativo. A opção por entrevistar estas adolescentes especificamente ainda teve como critérios os fatos de ambas morarem no bairro do interior do estado de São Paulo – serem rés primárias – e terem cometido o crime de tráfico de drogas, recebendo, porém, diferentes medidas: uma recebeu a de privação de liberdade, e a outra de liberdade assis-tida. Este último aspecto permite uma perspectiva comparativa na discussão sobre as decisões judiciais.
Os relatos sobre as relações familiares e de amizade, a prisão e a internação são oriundos diretamente da fala das adolescentes colhidas em entrevistas individuais e confrontados com as infor-mações dos técnicos que realizam o atendimento socioeducativo. Já a experiência em meio aberto foi acompanhada in loco pelo pesquisador. Os depoimentos foram livres, com questões abertas sobre a experiência de cumprimento de medidas. Entretanto há um delineamento importante para compreendermos as versões apresentadas pelas garotas. Fui apresentado como professor dos psicólogos que realizavam o atendimento psicossocial delas. Eu disse que a entrevista era parte de uma pesquisa para escre-ver uma tese, “uma espécie de livro”, sobre o “ponto de vista” dos jovens que estão em cumprimento de medidas socioeducativas. Apresentar a pesquisa etnográfica para os interlocutores é sem-pre uma tarefa delicada. A minha escolha foi tentar seduzir meus interlocutores a mostrarem suas vidas de acordo com os seus
6 A pesquisa tem se desenvolvido em três programas de atendimento no estado de São Paulo, dois na região da zona leste da capital e um na cidade no entorno da capital; no programa específico frequentado pelas garotas, acompanhei as atividades de maio a de-zembro de 2009, quinzenalmente. Não será aqui exposto de qual programa se trata para manter a privacidade dos interlocutores.
211
Paulo Artur malvasi
valores e, pensando que faço isso, crio condições para um tipo específico de performance e discurso; estimulo uma situação em que se desenrola um jogo de linguagem7.
A versão de Danielle8
Danielle foi apresentada a mim pelos técnicos como uma me-nina de classe média, com estrutura e cuidados familiares. Ela, por sua vez, caracteriza sua família como “muito rígida”, “do tempo antigo”, e ela como uma adolescente muito “rebelde”. A garota viveu desde o nascimento com os avós e com tios, além da mãe (que também sempre morou com os avós). A mãe tem um “problema” auditivo, “ela não entende direito, ela conversa enrolado”. O pai é desconhecido. Danielle considera que sempre teve de tudo, “do bom e do melhor”. Ela e sua família moram em um bairro popular, possuindo renda aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais, em 2009) para quatro adultos e a adolescente. O fato de a família possuir casa própria, “figuras masculinas posi-tivas” de referência, o avô e um tio terem emprego com carteira registrada – o avô é metalúrgico e o tio é frentista – modela uma família considerada nos relatórios técnicos como “estruturada”.
O bairro em que ela cresceu fica na fronteira com uma favela, onde a menina constituiu sua rede de amizades durante a adolescência. Danielle diz que na escola pública ela convivia com o “geral”, com “todo tipo de gente”; o “público do crime” era uma novidade e ela
7 O jogo de linguagem é definido por Wittgenstein de forma ampla, como “a totalidade formada pela linguagem e pelas atividades com as quais ela vem entrelaçada” (Wittgens-tein 2009, p.19). Entretanto, o uso da metáfora do jogo tem implicações mais específicas na compreensão da linguagem: não é possível explicar o que é um jogo, para a compre-ensão é necessário descrever os jogos. Com o método de jogo de linguagem, Wittgenstein quis mostrar que a linguagem apenas ganha sentido em situações concretas; nestas a graça do jogo se evidencia pelo compartilhamento de formas de vida entre os parceiros da comunicação em questão.8 Os nomes dos adolescentes, de seus familiares e dos profissionais são todos fictícios; os depoimentos são oriundos de conversas informais e de entrevistas individuais, realiza-das nos dias 4 e 18 de agosto de 2009.
212
O SOCIOEDUCATIVO DESDE AS mARGEnS: DISCUTInDO A VERSÃO DE DUAS jOVEnS
foi “se envolvendo”. Aos treze anos namorava um colega de escola, e outro rapaz do bairro, chamado Anão, ameaçou dar um tiro em seu namorado, pois estava “a fim” dela. Ela aceitou ficar com Anão e começaram a namorar. Ele traficava na favela vizinha e a família dela jamais aceitou o relacionamento. Danielle fumava maconha com o namorado, mas nunca gostou de cocaína. Ficava preocupa-da com o Anão, pois ele cheirava muito, às vezes uma parte signi-ficativa do que ganahva traficando.
Passaram-se três anos em que ela namorou o rapaz mesmo com a proibição da família. Entre uma internação e outra, ela se en-contrava com ele. Durante as internações dele, ela fazia de tudo para ir visitá-lo e se correspondiam por cartas. Em uma das saí-das, ela passou dois dias fora de casa. Quando voltou, um de seus tios – envolvido com o “crime”, o único que não “embaçava” com o seu namoro - recebeu-a com um “tapa na cara” e falou: “cata sua roupa e vai, sua biscate”.
Após um mês morando com Anão, ela passou a gerenciar a “bi-queira” em que ele trabalhava. Este processo é descrito por ela da seguinte forma: “o Anão fazia muita balada, dava trabalho, tava cheirando muito; aí o patrão percebeu que eu era mais certa, né? Colocava ordem. Então, ele começou a deixar a dro-ga comigo para eu soltar... soltar é que eu distribuía as drogas e recebia no final do dia, distribuía o dinheiro para os meninos que vendiam o pacotinho e dava o lucro do patrão”. No mesmo período, ela engravidou. Parou até de fumar cigarro e maconha, mas continuou trabalhando.
A prisão ocorreu quando ela estava grávida de três meses, após seis meses distante da casa dos avôs. Eram 16 horas, um carro se aproximou e as pessoas, de dentro, perguntaram se tinha fari-nha (cocaína). Danielle não desconfiou, pois eles pareciam estar “drogados”. Ela descreve uma série de violências no momento da prisão e revela uma forma de tratamento esperada em uma abordagem policial, mas bastante diferente do que se espera
213
Paulo Artur malvasi
junto a um adolescente, se considerarmos a visão de um Sistema de Garantia de Direitos. Segundo o depoimento, ela foi obrigada a deitar no chão, mesmo dizendo estar grávida, foi puxada vio-lentamente pelo braço, trancada no carro enquanto os policiais davam um “saculejo” nos meninos. Dentro do carro, ela passou mal, “o policial olhava para minha cara e falava: ’vagabunda, vo-mita a droga que você engoliu, vomita’”.
Danielle diz que foi levada para a delegacia e lá permaneceu du-rante toda a madrugada, até ser encaminhada à “Febem”9. Na Fundação Casa, ela afirma ter sido recebida por uma mulher da segurança – que lhe entregou uma bermuda, duas camisas, duas cuecas e um conjunto de moletom – e por um médico, para ver se não tinha sarna, micose. “Daí eles já me levaram para o curral... uma salinha que eles também chamam curral, chiqueirinho, é tipo assim, lá eram quatro paredes mesmo, no canto tinha um banhei-ro, você não vê o sol, você não vê nada e a porta era de ferro, só tinha um quadradinho, mas só que era fechado, aí eu fiquei direto lá, daí tava todo mundo lá no pátio assistindo um filme e eu come-cei a chorar, daí eles me levaram para a psicóloga, porque até en-tão, a psicóloga não tinha chegado, eles falam técnica, assistente social, daí ela conversou comigo tudo né, daí a hora que foi umas 16 horas da tarde, daí eu fui para a promotoria, lá pro Fórum”.
A descrição da garota do momento da prisão ao primeiro encon-tro com o promotor de justiça é repleta de citações a situações de desrespeito aos direitos garantidos no ECA, e o acolhimen-to do momento da prisão até quase 24 horas depois, quando foi conversar com o promotor, não é interpretado pela menina como “educativo”. Segundo a menina, a primeira pergunta feita pela promotora foi: o que você quer da sua vida? “Eu dizia que
9 Atualmente, a instituição responsável pela privação de liberdade de adolescentes no estado de São Paulo é a Fundação Casa, antiga FEBEM. Apesar de o nome ter mudado em 2006, grande parte da população (inclusive os jovens atendidos) chama a Fundação Casa pelo antigo nome - FEBEM - que é identificado, popularmente, como sinônimo de prisão de adolescentes “bandidos” e “perigosos”.
214
O SOCIOEDUCATIVO DESDE AS mARGEnS: DISCUTInDO A VERSÃO DE DUAS jOVEnS
queria melhorar, eu quero mudar. Daí ela pegou e falou assim para mim: você não quer melhorar, não quer mudar, sua vidi-nha vai ser sempre esta. Você levando sacolão para o seu marido na cadeia. Daí eu pensei: putz, já tô aqui, já tô mal, tô grávida e ainda tem que ficar escutando isso dessa mulher, vou escutar o caralho”. Danielle diz que se calou e voltou para o centro de internação. Sua família, entretanto, estava amplamente presente nesta audiência e nas duas subsequentes, que ocorreram dentro do prazo de quarenta e cinco dias após sua prisão.
Dez dias após a prisão, a adolescente procurou a técnica respon-sável pelo seu acompanhamento, com quem ela diz ter estabele-cido contato apenas uma vez no período. Queria saber se não era a data de sua audiência. A garota afirma que, neste momento, a assistente percebeu que faltava apenas um dia para o encontro com o juiz. “A assistente social chamou uma outra mulher, que só fica lá na frente, acho que é a diretora”. Segundo Danielle, essa mulher orientou a técnica, dizendo “ué, coloca o comportamento dela, o que ela quer da vida dela”. Daí ela fez “rapidinho”, e falava “ai, o que o juiz vai pensar de mim...”.
No momento da audiência, toda a família – mãe, tios e avós – estavam de novo presentes. A menina disse que entrou olhando para o chão; não olhava nem para o lado, pois foi assim que a assistente social a orientou. Disse que, durante a audiência, res-pondia apenas “sim, senhor” ou “não, senhor”. Ao final, o juiz disse que daria uma oportunidade, porque era primária, estava grávida e tinha uma família “protetora”. Danielle recebeu a medi-da de liberdade assistida e a família assinou o termo de respon-sabilidade. O juiz ressalvou que se ela fosse pega traficando, de novo, cumpriria a medida duas vezes.
Danielle iniciou a liberdade assistida grávida e, durante o cum-primento, deu à luz Matheus. Sua atividade básica na liberdade assistida foi participar de encontros com a psicóloga responsá-vel. Sempre muito pontual e participativa, ela diz “adorar” as
215
Paulo Artur malvasi
conversas com a psicóloga. Ela conviveu pouco com os outros adolescentes. Os técnicos, por sua vez, consideram-na uma ga-rota inteligente e comprometida.
A última vez em que a vi, em uma visita após o final da medida, ela disse que tinha mudado de bairro com a família e estava ten-tando convencê-los a aceitarem o Anão, “ele vai mudar de vida”. Seu projeto agora era cuidar de seu filho e de seu marido, como uma “mulher adulta”.
A versão de Kelli
Quando os técnicos do programa de atendimento em meio aber-to selecionaram Kelli para participar da pesquisa, disseram que era uma menina muito inteligente e comunicativa, que tinha clareza do ato e possuía uma família “compromissada”. Como Danielle, ela relata uma experiência familiar marcada pelo cui-dado, por uma proteção do “tempo antigo”. “Minha mãe sempre me prendeu muito, não sei se é pelo fato de eu ser a única filha mulher dela, né?” Kelli tem dois irmãos homens, mais velhos. Ela define sua família como uma “família humilde”.
A mãe não trabalha, mas recebe benefícios do ex-marido, o pai de Kelli, falecido quando a menina tinha apenas dois anos. Ele era funcionário de uma indústria automobilística, deixou uma pensão, “deixou eu e minha família financeiramente bem”. A ren-da oriunda da pensão é de aproximadamente R$ 2.000,00. Os ir-mãos trabalham, entre um “bico” e outro. “Nunca faltou nada pra mim, ou bem ou mal, sempre tive as coisas, a comida da minha mãe é gostosa e nunca faltou mistura, roupa também, é simples, né, mas nunca fui zoada para a escola”.
Kelli mora na mesma casa de quando seu pai era vivo, situada em uma rua que hoje representa a fronteira entre um bairro de classe média e uma favela. Ela conta que costuma ter mais ami-zades com meninos. “Eu...assim...eu tive sempre bastante ami-
216
O SOCIOEDUCATIVO DESDE AS mARGEnS: DISCUTInDO A VERSÃO DE DUAS jOVEnS
gos, mais amigos homens do que mulher, porque normalmente não tem muito menina que trafica nem que rouba nem que faça nada desse tipo no meu bairro, mais meninos e eu sempre tive muita amizade com eles e aí a gente estudava na mesma escola, morava perto e eu até namorava com um deles. Ah, na verdade “fico” até hoje com o Júnior”. Ela – Kelli – e uma amiga de escola namoravam dois garotos que traficavam juntos. Elas matavam aula e passavam o dia com eles.
Após dois anos nessa rotina, ela começou a traficar. Ela conta que o seu início no tráfico ocorreu quando o namorado começou a trabalhar à noite. Ela comprava marmita, às vezes ela mesma fazia a comida, e levava para ele. Passou a ficar as noites na rua, fugindo de casa pela janela. “Até que um dia, ficava ele e um ou-tro menino, até que um dia o menino não veio para trabalhar. Aí o Júnior falou assim: – Ah! Eu não gosto de trampá sozinho, não sei o quê, pô ele não veio. Ai eu falei: Ah, é foda, né?! Ai eu pe-guei, tava sentada lá, assim e falei: Ah, já que eu fico aqui mesmo, estou aqui sempre, o que você acha? Daí ele falou: Ah, mas não é moiado? Eu falei: Não, a gente tá sempre aqui, eu nunca tomei enquadro, nem nada, é até melhor uma mulher”.
Algumas semanas depois que ela assumiu seu posto no tráfico, o namorado foi preso e recebeu medida de internação, ele era reinci-dente. Kelli assumiu a gerência do ponto no lugar dele. Ela se sen-tiu poderosa. Em muitos casos, ao ingressar nas práticas ilícitas, o adolescente considera incluir-se socialmente. Ele adquire dinheiro, sensações de “poder” e “prestígio”. Obtém bens de consumo que de-seja, muitas vezes inacessíveis em sua classe socioeconômica. Kelli assim resume sua motivação ao começar no tráfico:
Dinheiro. Foi um pouco de tudo, porque é legal. Ah! não vou mentir, é legal, é legal, você ganha, você, tipo que adquire um pouco de respeito, aí tipo você tá num lugar, assim numa balada, ai todo mundo te cumprimenta, os “irmão” (PCC) me chamavam para os churrascos, todo mundo te respeita (...) você... antes a pessoa que nunca ia nem olhar pra você (...)
217
Paulo Artur malvasi
quando eu traficava eu tava bem onde eu tava, então eu não queria sair, e em qualquer lugar que eu chegava todo mun-do me respeitava, quando eu ia pra balada eu não gastava meu dinheiro com bebida, nem com nenhuma outra coisa, nem com tipo, em ecstasy, eu não vou mentir, eu usava dro-ga, tomava doce, bala, lança perfume e eu não gastava meu dinheiro com isso, porque a pessoa chegava... nossa, olha aí, você que é a Kelli, né!? Ó, da hora, nossa eu tenho uma bala aqui, você quer? Você curte? E ganhava convite de rave e era maravilhoso, então, eu adorava, aí até, tava tudo ótimo, se não tinha namorado, ficava com quem eu queria a hora que eu queria, eu era livre, leve e solta (...) Ah! Eu tinha só rou-pinha de marca, Planet, Mac, Rip Curl, Bila Bong, Rocks, san-dália cara da Rocks que eu comprava, que nem tênis, Adidas, Nike, só coisa cara, tudo do bom e do melhor, perfume do Boticário, Lacqua di Fiori, maquiagem da Natura, bolsa da Carmim, sandália da Carmim, sandália da... ai um monte de marca, várias coisas da Lului, tinha tudo que eu queria, eu via, não parava pra pensar. Eu vou comprar e pronto! Eu via e comprava, porque eu tinha dinheiro.
Embora gostasse de usar maconha, ecstasy entre outras dro-gas, Kelli afirma que nunca cheirou cocaína. “Não, não cheirava, nunca gostei de cheirar, porque eu penso assim, na época que eu traficava, pra você trabalhar no tráfico, pra você se dar bem no tráfico, você só pode vender, você não pode usar, porque eu tira-va por experiência de pessoas próximas que eu conhecia, que às vezes morria, às vezes levava um coro, às vezes ficava trampan-do 2, 3 meses pra pagar a divida, porque ao invés de vender tinha usado e então nunca usei, cocaína não”.
Um dia, depois de alguns meses como gerente da biqueira, con-tou que “estava na lojinha”, com o dinheiro todo no bolso, mas a droga guardada em outro lugar, quando a “força” (força táti-ca, polícia militar) chegou. Ela disse aos policiais que estava de passagem, só descansando um pouco. “Eles falaram assim: essa história não convence, nós já sabe que você é o fervo, que você tá no movimento”. Ela “não tinha nada em cima”, mas os policiais entraram no terreno baldio ao lado da “biqueira” e acharam as
218
O SOCIOEDUCATIVO DESDE AS mARGEnS: DISCUTInDO A VERSÃO DE DUAS jOVEnS
drogas escondidas. Kelli afirma que os policiais começaram a dar risada, ironizar, “tirar com a cara” dela: “É! Vai passar uns dias lá em São Paulo, você, bonitinha desse jeito, sapatão vai adorar”. Segundo a menina, os policiais tentaram extorqui-la, pediram R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ela ligou para o “patrão”, mas ele só podia dar R$ 2.000,00 (dois mil reais). Não houve o acordo.
Acompanhada dos policiais, Kelli foi até sua casa, acordou sua mãe que, atônita, seguiu com a filha para a delegacia. Ao conver-sar com o delegado, a menina inventou uma mentira e disse que os policias haviam tentado extorqui-la e estavam com o celular dela. “Eu falei que eles eram uns corruptos, o delegado se sentiu ofendido, me xingou, xingou minha mãe e mandou me prender, eu com a minha boca grande. Aí a gente foi pro ... ai, acho que é I.M.L. Onde faz o corpo delito?” A menina diz que os policiais en-costaram em um lugar deserto, em um matagal, e bateram nela. “Porque eu tinha falado aquilo pro delegado, tudo que eu falei, bateram, bateram, bateram, bateram, bateram. Fiquei com vários hematomas no rosto, meu olho, minha cara inchada”. Kelli diz que a responsável pelo corpo de delito não acusou os ferimentos no relatório e dizia para ela que estava bem, que não tinha nada.
A garota seguiu para a Unidade de Atendimento Inicial (UAI). Uma agente a recebeu, “uma senhora muito boa”, passou ál-cool, cuidou das lesões. Kelli conta que na unidade só havia meninos e que ela ficava isolada, “na salinha de castigo dos meninos”. Quando chegaram os técnicos, a primeira coisa que ela disse foi da violência que tinha sofrido. Segundo Kelli, os técnicos procuraram acalmá-la, diziam que é normal. “Um psicólogo, acho, falou que eu procurei pelo que estava acon-tecendo. Perguntou se eu não sabia que o tráfico dá nisso”. “Eles falavam: cuida da sua vida, você é bonita. Mas não era nada que realmente me ajudasse, sabe? Não falavam: a gente vai atrás dos policias, porque a gente vai expor a sua voz pro juiz. Era isso que eu queria. Eles não escreveram nada do que
219
Paulo Artur malvasi
eu falei no relatório, eles colocaram o que tava no boletim de ocorrência, era o que os policias falaram”.
No dia seguinte teve a audiência com o promotor. “Dei a minha versão pro promotor, mas como todo mundo, ele também não acreditou na verdadeira história, deu risada, ironizou e falou que eu ia tirar uns dias em São Paulo, pra mim pensar no que eu tinha feito”. A mãe da garota não foi à primeira audiência. A impressão dos técnicos do meio aberto é o de que a mãe tem depressão, pois tem muita dificuldade de agir, é “apática”. “Minha mãe não tinha condições de me visitar, de participar das audiências. Ela não consegue chegar, pegar um ônibus. Porque a minha mãe é de Mi-nas Gerais, interior, foi meu pai que trouxe ela pra cá, 18, 19 anos atrás. Ela quase nunca sai de casa, só no bairro mesmo”.
Após aproximadamente quarenta e cinco dias de internação provisória e duas audiências sem a presença da mãe, a menina recebeu medida de internação, embora fosse primária e o delito fosse tráfico de drogas. Para cumprir a internação, foi encami-nhada para uma unidade feminina em São Paulo. Durante os três meses em que ficou, recebeu apenas uma visita da mãe, quan-do os irmãos foram com ela. Como a família mora no interior, o valor da passagem ficava caro para a renda familiar. “Se onde moramos, que é pequeno, já fica difícil pra ela andar, que mora há anos, imagine São Paulo que ela nunca foi? A gente só con-versava por cartas e telefone, eu chorava, entrei em depressão, fiquei muito mal... Eu não gosto de falar porque... dói” (silêncio e choro). É igual eles falam, que na FEBEM é o lugar onde os filhos choram e a mãe não vê, os agentes falam muito isso lá”. Disse que a maior parte das meninas era “noia” (usuárias de crack) de São Paulo e que não fez amizades durante a internação em São Paulo. “Não é preconceito meu, mas eu não me misturava muito, eu não me misturava com os usuários de crack lá, porque não faz meu feitio, não foi a educação que eu tive e não foi o jeito que a rua me criou também, me envolver com usuário”.
220
O SOCIOEDUCATIVO DESDE AS mARGEnS: DISCUTInDO A VERSÃO DE DUAS jOVEnS
Kelli conta que logo no início da internação em São Paulo rece-beu um castigo, porque não quis cortar a unha. “Eu fiquei qua-tro dias na tranca, porque foi o tanto que eu aguentei sem água, não sem água não, eles davam um copinho de água todo dia, mas sem comida, no escuro, sem tomar banho, foi o que eu aguentei, quatro dias. Daí depois decidiu: vou cortar a unha, né?! Porque se não eu vou morrer de fome, ai eu cortei a unha”. Este acon-tecimento deixou Kelli muito revoltada. Ela não dormia e fazia barulho à noite para incomodar, diz que sentia “depressiva”. Foi neste período que uma psicóloga, que não era quem fazia seu atendimento individual, se aproximou dela. Ela passou a receber calmantes para conseguir dormir, se tranquilizar e “ficar melhor psicologicamente”. Tomou os calmantes durante vinte dias.
A garota diz que apenas a psicóloga (a “senhora Claudia”) e uma agen-te de segurança, “a senhora Ilsa, que era como se fosse uma segunda mãe pra mim”, conversavam com ela durante este período. “Uma mu-lher muito boa, que acho que foi a única, uma das poucas pessoas boas que eu encontrei, nessa longa caminhada”. Kelli considera que os calmantes que a Dra Claudia lhe receitou a ajudaram muito.
As conversas com a responsável pelo seu acompanhamento, uma assistente social, tiveram enfoque apenas nos seus relató-rios técnicos, no rito burocrático profissional que é, ao mesmo tempo, o documento fundamental para a própria adolescente. A garota conta que a assistente social insistia que a versão dela so-bre sua prisão e os desdobramentos não constava no relatório. A descrição era a do boletim de ocorrência. Nas conversas, a assis-tente completava o relatório, prestava outras informações sobre a medida, salientava a “mudança” comportamental de Kelli du-rante o cumprimento da medida de internação.
Kelli comenta que a assistente social a orientava para avaliar as escolhas, se as escolhas que havia feito até então estavam valen-do a pena. “Ela dava vários conselhos pra mim, mas eu tava re-voltada. O quê? Quer saber, quando eu sair daqui eu vou traficar
221
Paulo Artur malvasi
mesmo, eu vou roubar, era o que eu pensava. Eu saí, praticamen-te... nossa, eu saí transtornada”.
A garota – que sabia que a internação poderia ser de seis meses a três anos – ficou surpresa quando, um pouco antes de seis meses, soube pela voz de sua assistente que sairia por “bom comportamento”. Kelli descreve a audiência antes da liberação como tranquila. A mãe conseguiu estar presente, compareceu acompanhada dos irmãos. Conta que o juiz conversou separada-mente com o advogado e depois com a mãe. Segundo Kelli, o juiz assim falou: “e então, mocinha, a gente tá sendo legal com você, você vai sair da internação e vai receber uma ‘l.a.’ (liberdade as-sistida), quatro horas semanais durante quatro meses. Você vai cumprir sua medida e pensar no que você fez, mas a próxima vez que aparecer aqui, eu não quero saber se é porque não está indo para a escola, se é porque brigou na escola, não quero saber, se você aparecer aqui, vai ser internada de novo”.
O juiz chamou a mãe e no ato de assinar o termo de responsabi-lidade, disse que ela era responsável por qualquer “coisa” que a menina fizesse. “Você não vai deixar sua filha traficar mais, nem fazer nada de errado”. Kelli disse para mim: “fiquei morrendo de vergonha da minha mãe, ela não tinha nada a ver com isso, não foi culpa dela, foi uma escolha minha”.
Durante os meses de cumprimento de medida de liberdade as-sistida acompanhei a participação de Kelli no programa de aten-dimento em meio aberto. A relação dela com o psicólogo era de muito diálogo. Ela considera que as conversas com o respon-sável pelo atendimento têm ajudado bastante: “Tenho voltado, colocado minha mente no lugar, porque quando saí de lá estava bastante perturbada, estava pensando... ia continuar fazendo coisas erradas, mas piores do que eu fazia. É claro que eu não conto tudo, tanto assim, igual eu tô conversando aqui, mas eles abriram um pouco minha mente, aos poucos a minha mente está voltando para o lugar”. A garota me confessou que logo que saiu
222
O SOCIOEDUCATIVO DESDE AS mARGEnS: DISCUTInDO A VERSÃO DE DUAS jOVEnS
voltou a traficar, mas um conjunto de situações de vida e inter-venções institucionais a fizeram mudar de ideia. A nova inter-venção policial que a ameaçou e os assassinatos de pessoas que trabalhavam com ela – somados ao acompanhamento psicológi-co – contribuíram para que ela escolhesse “mudar de vida”.
Acompanhei ainda a participação de Kelli em uma oficina de fotografia: ela chegava mais cedo, conversava com diversos téc-nicos do programa, formou uma turma de amigos – sobretudo meninos – e após cada encontro saíam juntos, combinando onde iriam “fumar um baseado”. Este era um motivo de grande preocu-pação dos profissionais do programa que procuravam reprimir, por meio de conversas, este hábito do grupo. Para a adolescente e seus amigos, não havia problema algum. “A gente fica na paz”, disse Kelli para o psicólogo na minha frente. Esta turma de ado-lescentes efetivamente vivenciou a dinâmica proposta na ofici-na. Em algumas ocasiões em que saíram para fotografar bairros, ruas, museus aconteceu de sofrerem discriminação. Ema uma destas atividades de campo em que eu estava presente, a polícia foi chamada por moradores para averiguação: o técnico respon-sável e eu conversamos com os policiais, e tentamos minimizar a humilhação daquele momento.
Kelli comentava comigo que em seu bairro estava “moiado”. Di-zia que sempre era abordada quando a polícia cruzava com ela pelas ruas: sentia-se “marcada”. “Não tenho nem vontade mais de ficar na rua”. Até setembro de 2009, Kelli não tinha consegui-do vaga na escola. “Como não estou estudando, porque eu não consegui vaga...” – então o juiz prolongou a medida de liberdade assistida por mais dois meses. A mãe de Kelli e a própria garota decidiram que assim que a medida acabar, ela vai morar com uma tia em Minas Gerais, para esquecer tudo o que aconteceu.
223
Paulo Artur malvasi
“Fechado” e “aberto”: meios de interação dos adolescentes com o socioeducativo
As versões das garotas sobre a aplicação e execução das medidas socioeducativas revelam interpretações alternativas sobre o mo-delo de gestão do sistema socioeducativo. Segundo o depoimento das meninas, há uma abordagem inicial violenta e autoritária das polícias (geralmente a militar); um tratamento indiferente da área de saúde no exame de corpo e delito; uma recepção fria e cruel na internação provisória; uma posição arrogante e au-toritária do judiciário; aleatoriedade do trabalho dos técnicos (psicólogos e assistentes sociais, dos agentes, da diretoria, dos educadores/oficineiros) nos centros de internação; incerteza dos técnicos do meio aberto quanto aos encaminhamentos – à “inclusão social” na escola, a cursos profissionalizantes, a ativi-dades culturais, aos serviços de saúde etc.; embora as atividades de formação sejam de interesse para alguns, não extrapolam os “muros” da instituição executora.
Destaca-se no SINASE que a exemplaridade é fundamental: “a forma como a entidade de atendimento programa e/ou organiza suas ações, a postura dos profissionais, construídas em bases éti-cas, frente a situações do dia-a-dia, contribuirá para uma atitude cidadã do adolescente” (SEDH 2005, p.50). Para as adolescentes Danielle e Kelli, o fluxo das ações não foi claro: as experiências menos negativas – e por isso mais “educativas” – deram-se pela via da afetividade (seja com um agente de segurança, com um psicólogo, assistente social ou com um educador social), e não de uma gestão “participativa”, “intersetorial”, “descentralizada”. O processo de aplicação e execução de medidas socioeducativas foi vivido pelas adolescentes que não conhecem a teoria da ges-tão do sistema, mas experimentam na pele os seus percalços. A perspectiva das meninas sobre a gestão de programas socioedu-cativos problematiza os modelos na medida em que estes ten-dem a ignorar - ou mascarar - suas experiências e vozes.
224
O SOCIOEDUCATIVO DESDE AS mARGEnS: DISCUTInDO A VERSÃO DE DUAS jOVEnS
Os caminhos para sair da internação foram o foco das garotas; a relação com os técnicos da privação de liberdade se definiu pela expectativa de obter as informações sobre o processo da medida e o comportamento esperado para alcançar a desinternação e, quando em medida em meio aberto, a extinção da medida. Para o profissional, trata-se de uma de suas principais demandas de trabalho o cumprimento do rito técnico e burocrático, a obser-vação do modus operandi. As táticas para superar ou manter as medidas socioeducativas formam o centro da relação entre as adolescentes e os profissionais responsáveis pelos relatórios. A internação para as adolescentes foi aflitiva, porque a sequência dos acontecimentos não está prevista. A internação não com-porta, por lei, tempo determinado. Segundo os artigos 99 e 113 do ECA, o juiz pode a qualquer momento avaliar a necessidade de sua manutenção. As únicas referências a tempo é que o juiz deve avaliar a medida no tempo máximo de seis meses, e que o período máximo de internação é de três anos. A decisão do juiz deve ser orientada pelos pareceres técnicos dos profissionais da área “psicossocial” da instituição responsável – no caso de São Paulo, a Fundação Casa: é obrigação das instituições de interna-ção proceder a estudo social e pessoal de cada caso (art. 94, inc. XIII), reavaliar periodicamente cada caso com intervalo máximo de seis meses, dando ciência dos resultados à autoridade com-petente (inc. XIV) (Brasil, 1990).
Conforme o Estatuto, a medida de internação possui caráter de excepcionalidade e de brevidade, e deve ser definida em função das necessidades pedagógicas do adolescente (arts. 100 e 113 do ECA). Segundo o defensor público Flávio Frasseto, o caráter pedagógico da medida de internação é “mera ilusão de um oti-mismo pedagógico dos adultos”. O defensor vai além ao afirmar que a medida de internação como exposta no ECA vai de encon-tro a ideia de garantia penal e, assim, não representa uma políti-ca para um “sujeito de direitos”: “a indeterminação temporal da medida, a ausência de critérios objetivos para a supressão an-tecipada da privação de liberdade, a idéia de conversão do sen-
225
Paulo Artur malvasi
tenciado por meio de intervenção imposta são mostras do quão ‘antigarantista’ é o modelo proposto” (Frasseto 2006, p.312).
Seguem os jovens privados de liberdade submetidos a toda a sorte de avaliação psicológica, psiquiátrica e social que re-comenda aplicação ou manutenção das medidas muito mais conforme as características pessoais de personalidade que tais estudos julgam detectar do que propriamente em razão da infração que cometeram (Frasseto 2006, p.320).
Nos casos analisados, observamos o delineamento de uma forma de gestão compartilhada de seres em “condição de desenvolvimento”, entre a família e o Estado. A família e o Estado devem se correspon-sabilizar pela gestão da vida do adolescente. Há uma contradição basilar entre os parâmetros para a gestão pedagógica do atendi-mento preconizados no SINASE e a visão dominante na sociedade, manifesta nas intervenções de promotores e dos juízes. O que real-mente se espera de uma medida é que ela evite a reincidência do ato infracional. O atendimento socioeducativo é responsável pela gestão do controle sobre os adolescentes para que eles não reincidam. E não para a “formação de um cidadão autônomo”.
A transição da medida de privação de liberdade para uma medida em meio aberto marca a possibilidade de “mudança dos projetos de vida”. Segundo o ECA, Art. 118, a medida de liberdade assisti-da será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, de auxiliar e de orientar o adolescente. Ela é uma medida bastante comum para adolescentes que passa-ram pela internação, e deve promover socialmente o adolescente e sua família, supervisionar a frequência e o aproveitamento esco-lar, esforçar-se no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho (ECA, Brasil 1990).
Nos casos acompanhados, testemunhei que as dificuldades de se obterem os meios para alcançar estes fins são enormes, a despei-to do esforço de alguns educadores e de técnicos que desenvolvem atividades educativas e buscam torná-las interessantes e engajadas
226
O SOCIOEDUCATIVO DESDE AS mARGEnS: DISCUTInDO A VERSÃO DE DUAS jOVEnS
– procurando incessantemente estabelecer relações com serviços públicos de formação profissional, educação, assistência e saúde. Neste artigo, procuro destacar a versão de duas garotas; apresento suas vozes como um contraponto ao discurso institucional sobre o modelo de gestão e a execução de seu modus operandi.
Atualmente, entre as várias estruturas estatais que compõem a “rede de proteção integral”, o serviço mais atuante nas parcerias com as entidades executoras das medidas socioeducativas em meio aberto – pelo menos naquelas que acompanhei em campo – são os Centros de Atenção Psicossocial (CAPs)10. A parceria estratégica da saúde mental com os programas de atendimento socioeducativo reforça o enredamento da vida dos adolescentes como potencial-mente viciosas. A questão da drogadição extrapola os problemas diagnosticados como “dependência química” e se amplia para to-dos os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas que fazem uso de qualquer substância psicoativa ilegal.
A entidade, ao receber o adolescente, torna-se responsável por fazer os encaminhamentos para a “rede de proteção integral” – serviços públicos (inclusive aqueles prestados por organiza-ções não-governamentais) para atender os direitos de educação formal, saúde pública, formação para o trabalho etc. Entretanto, esta “rede” que compõe os serviços públicos não tem garantido os atendimentos11. Observei em campo a reiteração do processo que Gabriel Feltran (2008) chama de “expansão da gestão”; as entidades responsáveis pelo atendimento em meio aberto assu-
10 Segundo o Ministério da Saúde, esses centros têm o objetivo de oferecer a população atendimento clinico voltado à reinserção social de seus usuários (Portaria 1101, de 12 de junho de 2002).11 Como bem destaca Gabriel Feltran, ao analisar um caso de sua pesquisa de campo, há uma série de condições que permite aos serviços negar o atendimento ao adolescente. “Pois o menino não tem escolaridade suficiente para o curso de informática; seus antecedentes cri-minais e tatuagens impedem sua inserção no trabalho formal; ele é viciado em crack e não há tratamento disponível no sistema de saúde. Não há, portanto, na rede de proteção realmente existente, possibilidade de encaminhamento desse adolescente” (Feltran 2008, p.333).
227
Paulo Artur malvasi
mem atividades que não são inicialmente de sua responsabilida-de e, assim, o adolescente fica enredado em um universo circuns-crito sem o “direito a ter direitos”. Tal enredamento contradiz o princípio de “incompletude institucional” (SEDH 2005)12.
Para Danielle e Kelli, a postura dos técnicos dos programas de atendimento em meio aberto permitiu que conversassem, com-partilhassem suas perspectivas – e assim elas ouviram as orien-tações para uma vida “saudável”: vida esta, porém, que se tornou mais difícil para ambas após a passagem pelo sistema socioedu-cativo. A marca de receber uma medida socioeducativa torna di-fícil a relação com a escola, e ainda mais difícil a possibilidade de inserção no mercado de trabalho. A ação das polícias tende a se intensificar após a internação, tornando o adolescente mais facilmente identificado como suspeito. Danielle mudou de bair-ro; Kelli mudou de cidade. A solução para a não-reincidência foi tentar fugir da “vulnerabilidade” de suas quebradas.
Violência e participação – a higiene do socioeducativo
A versão das meninas sobre o processo de cumprimento de medi-das socioeducativas é bastante distante de uma experiência de au-tonomia e de participação em uma “comunidade socioeducativa”. As falas apontam para um sistema extremamente fragmentado. A ação dos diferentes entes estatais/sociais – a escola, as polícias, o judiciário, os programas de atendimento da medida em internação e da medida em meio aberto – não se articulam e soam como uma sequência de ausências e remendos aos olhos das adolescentes.
No modelo de gestão proposto pelo SINASE, o judiciário e as po-lícias fazem o atendimento inicial, mas não compõem a “comu-
12 Segundo este princípio, “a inclusão dos adolescentes pressupõe sua participação em diferentes programas e não o seu contrário, ou seja, os programas fechados em seus próprios atendimentos e ofertas de atividades” (SEDH 2005, p.48).
228
O SOCIOEDUCATIVO DESDE AS mARGEnS: DISCUTInDO A VERSÃO DE DUAS jOVEnS
nidade socioeducativa”, composta apenas por membros “inter-nos”. Para as adolescentes, entretanto, as polícias e o judiciário continuam desempenhando um papel central na experiência de cumprimento das medidas. A entrada de um adolescente no sis-tema se dá de uma forma em que o Estado apresenta sua face repressiva e violenta. Na rua, traficando drogas, as garotas são “criminosas” e foram tratadas como membros do “crime” na guerra particular entre “polícia” e “bandido”. Xingamentos, ta-pas, humilhações compõem a tônica da descrição delas e não são poucos os relatos de diferentes agentes do socioeducativo – de juizes e promomotores, passando por psicólogos e assistentes sociais com quem me relaciono profissionalmente – que descre-vem situações análogas. A via de entrada de um adolescente no sistema socioeducativo é a abordagem policial. A primeira coisa que ele deve fazer é levar o adolescente para o exame de corpo e delito, em uma estrutura de saúde pública. Serviços de saúde po-dem parecer neutros e independentes da violência que marca a ação das forças de segurança no Brasil. A versão das meninas é a de que não o são. O exame de corpo e delito de Kelli configurou--se em um dispositivo legal que valida o desrespeito aos direitos do adolescente pego em ao infracional.
Ao realizar uma análise filosófica do poder político que englo-ba as histórias e os desdobramentos da experiência subjetiva da ação, no contexto do “adolescente em conflito com a lei”, Ed-son Teles (2010) apresenta reflexões importantes para a com-preensão dos processos pelos quais os adolescentes passam ao ingressar no sistema socioeducativo. A prisão por um ato infra-cional lança o adolescente no mundo das instituições públicas. A partir deste momento, há uma transferência de autoridade dos pais para a figura do juiz – e dos representantes deste. Dentro do sistema, o jovem não encontra espaço para a expressão de seus sentimentos, sonhos e traumas.
O rito institucional do atendimento ao adolescente infrator tende a forçar uma unanimidade de vozes e condutas em
229
Paulo Artur malvasi
torno da racionalização da prática profissional, priorizan-do significações homogêneas dos atos de violência. A con-trapartida desta abordagem institucional é o ocultar dos modos divergentes com que as subjetividades sociais, tanto dos adolescentes, quanto dos profissionais, rompem com o modelo racional. O trato homogêneo do sujeito obscurece as interpretações da memória traumática e mantém o in-cessante embate entre dominação e resistência dentro do ordenamento. A oposição entre a razão institucional pacifi-cadora – via repetição da violência – e as lembranças trau-máticas obstrui a expressão da dor e reduz a memória às emoções, acabando por construir uma nova relação social justamente sobre a negação do passado (TELES 2010, p.20).
Por este motivo, talvez, as meninas tenham dado tanta ênfase aos momentos de sofrimento vivenciados durante o processo de aplicação e execução das medidas socioeducativas – conforme ouvi em seus relatos. Com referência a técnicos, psicólogos e as-sistentes sociais, por mais que manifestassem vínculos de con-fiança, a relação foi mediada por um modus operandi do projeto institucional que demanda adesão à mudança comportamental exigida pelo juiz, representação da autoridade. Eu estava na sede do programa de atendimento, mas não era um represen-tante institucional: “foi bom, eu desabafei” era uma das expres-sões comuns ao final das entrevistas.
Referente à área da saúde, as descrições das meninas sugerem visões alternativas àquela preconizada pela visão sistêmica ins-pirada nas diretrizes do SUS. Nesta visão institucional, a realida-de dos adolescentes “em conflito com a lei” é permeada por si-tuações de “vulnerabilidade”, o que demanda o desenvolvimento da política de atendimento integrada com as diferentes áreas e uma agenda de urgências no sentido de se efetivar as políticas públicas e sociais. Os traumas, feridas e dores mencionados pe-las garotas foram consequências da ação dos entes governamen-tais; a violência policial, a privação de liberdade e a ausência do convívio familiar agravaram debilidades físicas e emocionais das jovens durante o período de internação.
230
O SOCIOEDUCATIVO DESDE AS mARGEnS: DISCUTInDO A VERSÃO DE DUAS jOVEnS
Direitos dos mais e menos humanos é um artigo seminal sobre as consequências inesperadas do Estatuto da Criança e do Ado-lescente – tendo sido escrito por Claudia Fonseca e Andréa Da-niella Lamas Cardarello (2009) dez anos depois da promulgação do ECA e dez anos antes desta pesquisa13. Sob a ótica da antro-pologia, o texto parte da premissa de que “os direitos humanos em uma forma abstrata e descontextualizada pouco significam” (Fonseca e Cardarello 2009, p.220). Pressupondo que a “frente discursiva”14 em torno dos direitos da infância e da adolescência é uma faca de dois gumes, as autoras levantam a hipótese de que se os ativistas dos direitos humanos não mantiverem um certo distanciamento deste jogo discursivo, “correm o risco de montar programas que não apenas deixam de alcançar seus objetivos mas, pior que isto, produzem novas formas de exclusão” (Fonse-ca e Cardarello 2009, p.220-221).
As autoras destacam que os rearranjos semânticos disparados pelo ECA tiveram forte impacto sobre a realidade de jovens bra-sileiros – mas nem sempre da forma esperada: sugerem que este descompasso tem a ver com a expectativa irrealista de que pelo judiciário seja possível solucionar todos os problemas da socie-dade. Tal visão de um poder da “teoria” (a lei) sobre a “prática” (a vida cotidiana) desconsidera as grandes diversidades existentes entre os adolescentes brasileiros. Pensamento e práticas institu-cionais assim orientadas redundam na normatização da condu-ta, corporalidade, moral e modo de vida dos jovens “em conflito com a lei”, realçando a dubiedade e a contradição presentes na lógica de proteção e correção do sistema socioeducativo. A per-sistência manifesta da pobreza conjugada com uma sociedade consumista gera um contexto em que o simples aperfeiçoamen-
13 O artigo foi publicado em 1999 em Horizontes Antropológicos, v.10: 83-122, 1999.14 As autoras caracterizam as “frentes discursivas” como o fruto da negociação entre di-versos grupos de interesse trabalhando em torno de um mesmo tema.
231
Paulo Artur malvasi
to das leis não é capaz de aparar as tensões sociais. Como as autoras destacam, há no Brasil uma “adolescência provedora”, isto é, pessoas que ao invés de experimentarem um período pro-longado de dependência e escolarização, tornam-se desde cedo corresponsáveis pelo sustento da família. Neste caso, o adoles-cente é muitas vezes impelido pelo seu próprio contexto de vida a procurar formas de renda. Mercados criminosos operam junto a estes segmentos, pois há mão de obra barata e disponível. Ape-nas as mudanças em legislações não resolvem este problema.
Em uma digressão sobre a infância idealizada pelas classes altas brasileiras, Fonseca e Cardarello (2009) lembram que até pouco antes da promulgação do ECA, a diferença entre as “infâncias”, a rica e a pobre, não era problematizada, pois as etapas da vida não seriam relevantes aos pobres. As autoras exemplificam lem-brando que era comum na sociedade brasileira a existência de empregadas domésticas de treze e quatorze anos em casas com adolescentes da mesma idade, vivendo a fase “despreocupada da infância” (Fonseca e Cardarello 2009, p.248). Apenas recen-temente as crianças pobres passaram a integrar-se à categoria universal do “humano”, sobretudo após a promulgação do ECA.
Mas essa inclusão de um novo grupo no horizonte huma-nitário não deixa de engendrar paradoxos: por exemplo, quando a criança (ou adolescente) faz dezoito anos e muda subitamente de status (de criança “em perigo”, merecendo atenção especiais, para ser considerada um adulto “peri-goso” contra o qual é preciso se proteger). Ou quando é preciso achar um culpado pela situação intolerável em que tantas crianças se encontram atualmente. Aí, o sacrifício que se oferece para expiar a nossa má consciência aparece na figura dos pais desnaturados. A noção de “criança rei”, irrealizável em tantos contextos, engendra seu oposto – a noção de criança martirizada – e, com esta, um novo bode expiatório: os pais algozes (Fonseca e Cardarello 2009, p.248 – grifos das autoras).
232
O SOCIOEDUCATIVO DESDE AS mARGEnS: DISCUTInDO A VERSÃO DE DUAS jOVEnS
Os estudos antropológicos contribuem para a problematização das lógicas universalistas de direitos, baseado em noções de to-talidade (a criança e a adolescência universal), identidade e não contradição (sujeito de direitos), confrontando-as com o (vazio de) sentido da violência e do caos. Como ouvir esses outros – adolescentes e suas famílias que não se enquadram no modelo “ideal” – na condição de sujeito de direitos? Modelos descontex-tualizados de direitos humanos podem reforçar mecanismos de exclusão (colocando adolescentes e famílias dentro de catego-rias rígidas, como, por exemplo, a de “família desestruturada”); mas, pior ainda, tais modelos são capazes de negar toda e qual-quer apreensão da alteridade (uma “criança provedora” em uma “família desestruturada” é inaceitável, não permite a infância almejada, a realização plena do Estatuto).
Afinal, as individualidades que existem na sociedade con-temporânea não são tão facilmente domesticadas; nem tão pouco cabem necessariamente nos rótulos das ciências ju-rídicas. E, no entanto, qualquer política pública voltada para a garantia de direitos humanos há de levar em consideração a diversidade social (...) As alteridades que precisam ser enfrentadas são aquelas que menos queremos ver – a dos jovens infratores, por exemplo, ou dos pais dos “abando-nados”. São “individualidades” que apontam dimensões de nossa realidade que preferíamos esquecer (Fonseca e Car-darello 2009, p.251 – grifos das autoras).
Neste artigo, procuro localizar a perspectiva de adolescentes so-bre o sistema socioeducativo – um sistema cujo sentido seria, se-gundo o discurso institucional, “assegurar aos adolescentes que infracionam a oportunidade de desenvolvimento e uma autênti-ca experiência de reconstrução de seu projeto de vida” (SINASE 2005). O sistema socioeducativo como uma das amplas políticas públicas para adolescentes e jovens no Brasil é composta por re-pressão das forças de segurança conjugada pela busca de consen-timento via promoção das áreas da saúde e da assistência social. A ideia é que o adolescente/jovem contribua para a melhoria dos índices da nação ao não reincidir. No sistema socioeducativo, um
233
Paulo Artur malvasi
jovem “traficante” deve reconhecer sua própria situação de “vul-nerabilidade” e aceitar mudar seu estilo de vida para ser incluído; ele deve se mostrar saudável biológica, subjetiva e socialmente, ou seja, uma inteira sujeição a uma visão de “vida saudável”. Para tanto deve distanciar-se das condições e comportamentos nor-mativamente eleitos como de “vulnerabilidade”.
Como ensina Veena Das (2006), na antropologia não se identifi-ca um padrão de escala independente da perspectiva. Para o an-tropólogo a questão é estabelecer um horizonte em que ele pode localizar os interlocutores em suas relações e interações com o outro. Essa perspectivação, no contexto estudado, leva a crítica de noções como “projeto de vida saudável”, “protagonismo ju-venil”, “empreendedorismo” entre outros, que se distanciam da experiência comum dos adolescentes; no lugar, eles revelam um sistema de fragmentos, lacunas e violências. No centro desta tra-ma, encontros humanos singulares entre pessoas (tanto adoles-centes quanto profissionais do sistema) desnudam no cotidiano a própria configuração de poder que encerra suas práticas.
Um fato que chama a atenção nos depoimentos das meninas, e que é atestado pelo histórico de medida delas, é a arbitrarieda-de da decisão judicial. O principal diferencial entre um e outro caso foi a ausência da mãe nas audiências. Embora a apreensão primária de uma adolescente por tráfico de drogas não seja pas-sível de internação, segundo o ECA, o fato de a família ter se au-sentado na audiência e não ter realizado visitas quando a jovem esteve internada configurou para o juiz a impossibilidade de a mãe controlar a adolescente Kelli. Neste caso, o Estado substi-tuiu a família, executando uma medida de internação, para ges-tar a vida da adolescente.
A ênfase dada ao contexto familiar pelas decisões judiciais indica mais do que a garantia do direito à convivência familiar, um cál-culo para a gestão de riscos: impedir situações em que o adoles-cente tenha autonomia para agir e reincidir no ato infracional. Se
234
O SOCIOEDUCATIVO DESDE AS mARGEnS: DISCUTInDO A VERSÃO DE DUAS jOVEnS
a família não é considerada apta para este fim, o juiz pode aplicar a medida de internação. Famílias certas e famílias erradas são de-limitadas por modelos idealizados. A decisão, que define o geren-ciamento da medida a ser aplicada, se baseia em hierarquias de poder. A assimetria entre a “menor” e seus responsáveis é sobre-posta entre a dos pais – potencialmente incapazes de controle – e do poder judiciário. Estas assimetrias e a execução das diferenças de poder assentam-se numa preocupação mais profunda no que diz respeito a como gerir populações potencialmente perigosas (Vianna 2002; Fonseca e Canderello, 2009).
No horizonte do sistema socioeducativo há, aparentemente, a ma-nutenção de um discurso com ênfase no social – são as condições de vida que levam à vulnerabilidade social, portanto é possível conhecer a realidade empírica e mudá-la segundo planos de exe-cução de políticas públicas. Mas as práticas de intervenção no sistema seguem uma abordagem instrumentalizada, tanto do am-biente (contextos de vulnerabilidade) quanto de indivíduos (com-portamentos delinquentes), como uma soma de fatores diversos acessíveis à análise dos especialistas (técnicos da área psicosso-cial). O aumento vertiginoso de internações por tráfico pode ser considerado uma “punição preventiva” levada a cabo pelo siste-ma socioeducativo. A prevenção é o mapeamento dos riscos me-didos por fatores impessoais. “Assim, a prevenção é a vigilância, não do indivíduo, mas sim de prováveis ocorrências de doenças, anomalias, comportamentos desviantes a serem minimizados, e de comportamentos saudáveis a serem maximizados” (Rabinow 2002, p.145). A ênfase na noção de “vulnerabilidade” permite a antecipação de possíveis locais de irrupção de “conflito juvenil com a lei”, através das estatísticas dos fatores de risco – pobreza, desemprego, violência, baixa escolaridade, baixa renda.
A individualização dos riscos e a responsabilização dos indiví-duos pela sua origem e pelas escolhas do que fazem com os seus corpos forma a base da ação socioeducativa. A “vulnerabilidade” não é apenas econômica e social; ela é também um dispositivo
235
Paulo Artur malvasi
que permite a passagem do ambiente (considerado vulnerável) para o comportamento. Desta forma, o sistema socioeducativo classifica os corpos adaptados e saudáveis. O adolescente com “perfil de não-reincidente”, aquele que recebe relatórios positi-vos, deve: se comportar de acordo com as prescrições, controlar a revolta e os desejos enquanto cumprem a medida socioeducati-va, administrar a vida íntima e emocional fortalecendo os víncu-los com a família, assumir que não usará mais “drogas” e aceitar um calmante caso seja “necessário” se tranquilizar; em suma, o perfil de não-reincidente é definido pela sujeição em participar da “comunidade socioeducativa” para o apostolado da “vida sau-dável”. Para aquele que rompe com este padrão, a tendência tem sido caracterizá-lo de alguma forma – seja pela “drogadição”, pela “desestrutura familiar” ou qualquer outro fator de vulne-rabilidade individualizante – como alguém que deve ter algum cuidado específico referente à sua saúde mental.
A “comunidade socioeducativa” redunda em uma experiência contraditória, entre um discurso idealizado de participação de-mocrática e as condições objetivas que o Estado e a sociedade oferecem à participação do adolescente autor de ato infracio-nal. As consequências emocionais para os adolescentes e para os profissionais variam da frustração ao niilismo, da revolta ao cinismo, do desespero à resignação. Mergulhados nas contradi-ções do mundo social e sem os meios para suprir as deficiências da política estatal, os profissionais da área vivem tais contradi-ções sob a forma de dramas pessoais (Fonseca e Schuch, 2009).
O trato homogêneo dos adolescentes, delineado pela noção de “vulnerabilidade” obscurece as interpretações sobre a idéia de saúde e mantém o incessante embate entre dominação e re-sistência no interior do sistema. O campo das medidas socio-educativas se constitui em modos de objetificação do sujeito que combinam a mediação de disciplinas científicas (como a epidemiologia, a psicologia e a psiquiatria, por exemplo) e a prática de exclusão, geralmente num sentido espacial (confina-
236
O SOCIOEDUCATIVO DESDE AS mARGEnS: DISCUTInDO A VERSÃO DE DUAS jOVEnS
mento ou segregação), e sempre num sentido social (Rabinow 2002, pp 27-53). Embora sejam marcadas pela coação que viti-miza e estigmatiza os adolescentes, as relações políticas entre os adolescentes e as instituições se dão por maneiras mutan-tes. Os adolescentes passam por relações diferenciadas em que tentam resistir ao ordenamento, dependendo do interlocutor. Eles são, com freqüência, os “infratores”, “moradores de bair-ros vulneráveis”, “comprometidos pelo uso de drogas”; mas nas brechas do sistema, nas possibilidades de reivindicação de sua “participação” (como ocorre em certas oficinas, debates e en-trevista como a que eu realizei) eles procuram mostrar e afir-mar os mecanismos que constituiriam suas escolhas e posicio-namentos. O exame crítico das intervenções psicossociais em sua composição com o aparato repressivo do Estado permite observar em ato a construção de tecnologias voltadas a refor-mar e redirecionar comportamentos, estilos de vida e valores morais pessoais segundo modelos normativos.
Após vinte anos da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, a “comunidade socioeducativa” proposta no SINASE é uma teoria em consonância com a “cultura parti-cipativa” estimulada em diversos mecanismos de participação democrática, como os conselhos de direitos, orçamentos parti-cipativos e conferências temáticas, sistemas universais – como o SUS, o SUAS e o SINASE –, estruturas participativas e com con-trole social. O estado de direito é amparado por um sistema de participação que tem se desenvolvido no Brasil desde a Consti-tuição de 1988. O Estatuto da Criança e do Adolescente compõe um conjunto de mecanismos democráticos que tem inovado a participação no país. Os direitos estão estabelecidos, existe um discurso de universalidade e descentralização, fóruns de partici-pação mais numerosos e diversificados se multiplicam. O Estatu-to da Criança e do Adolescente é um marco destes movimentos. Infelizmente, em torno de mecanismos institucionais previstos no ECA, como a consolidação das medidas socioedutivas, obser-vamos a reiteração da violência, do preconceito, da ausência de
237
Paulo Artur malvasi
garantia de direitos. E, ainda, a constituição de novos campos de validação do controle sobre a vida dos adolescentes.
Referências Bibliográficas
BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Crian-ça e do Adolescente e dá outras providências. Brasília: MP, 1990.
CALDEIRA, Tereza P. R. Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo. São Paulo: EDUSP, 2000.
DAS, V. Life and Words: violence and descent into the ordinary. Berkeley: Univer-sity of California Press, 2006.
FELTRAN, Gabriel S. Fronteiras em tensão: um estudo sobre política e violência nas periferias de São Paulo. Tese de Doutoramento em Ciências Sociais, São Paulo, Unicamp, 2008.
FONSECA, Claudia; CARDARELLO, Andréa D. L. Direitos dos mais e menos hu-manos. In FONSECA, C.; SCHUCH, P. (orgs). Políticas de proteção à infância: um olhar antropológico. Rio Grande do Sul: Editora da UFRGS, 2009. p. 219-242.
FONSECA, C.; SCHUCH, P. (orgs). Políticas de proteção à infância: um olhar an-tropológico. Rio Grande do Sul: Editora da UFRGS, 2009.
FRASSETO, F. A. Execução de medida socioeducativa de internação: primeiras linhas de uma crítica garantista. In: ILANUD; ABMP; SEDH. UNFPA (orgs.) Jus-tiça adolescente e ato infracional: socioeducação e responsabilização. São Paulo: ILANUD, 2006. p. 303-342.
HOUAISS, A.; VILAR, M. de S. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
LIMA, Adriana R. B. Quem deve guardar as crianças? Dimensões tutelares da gestão contemporânea da infância. In: VIANNA, Antônio C. S. L. (org). Gestar e Gerir: estudos para uma antropologia da administração pública no Brasil. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2002. p. 271-312
MOTA, A e SANTOS, M.A.C. Entre algemas e vacinas: medicina, polícia e resis-tência popular em São Paulo (1890-1920). Novos Estudos CEBRAP. São Paulo. n.65. p.152-168. 2003.
PERALVA, A. Democracia e Violência - o paradoxo brasileiro. Rio de Janeiro. Edi-tora Paz e Terra, 2000.
RABINOW, P. Antropologia da Razão. Rio de Janeiro: Relume-Dumará. 2002.
238
O SOCIOEDUCATIVO DESDE AS mARGEnS: DISCUTInDO A VERSÃO DE DUAS jOVEnS
RIZZINI, I. O século perdido: raízes históricas das políticas para a infância no Brasil. São Paulo: Cortez. 2008.
SEDH - Secretaria Especial dos Direitos Humanos. SINASE - Documento referencial para o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Brasília: SEDH, 2005.
TELES, Edson. Adolescente em conflito com a lei, direitos humanos e a fun-ção da narrativa. In: Revista Brasileira Adolescência e Conflitualidade,São Paulo, Programa de Mestrado Adolescente em Conflito com a Lei, UNIBAN, n.2. pp. 19-29. 2010.
UNICEF. Índice de Homicídios na Adolescência (IHA). Brasília: 2009.
VIANNA, Antônio C. S. L. (org). Gestar e Gerir: estudos para uma antropologia da administração pública no Brasil. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2002.
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Petrópolis: Vozes, 2009.
Recebido em 01/10/2012Aprovado em 15/11/2012
Em Torno do Corpo e da Performance: Estratégias de afirmação entre um grupo
de jovens em Maputo, Moçambique
Andrea Moreira1
ResumoEste texto é sobre questões do corpo e da performance entre um de grupo de jovens que fazem do mercado de Xipamanine na cida-de de Maputo seu lugar de sustento e/ou sua casa. O material aqui apresentado constitui fragmentos etnográficos de uma pesquisa que pretende compreender a relação entre o corpo e identidades – Quais as estratégias de afirmação utilizadas para adquirir poder e estima entre o grupo de pares e o contexto social mais amplo. Palavras chave: jovens de rua, corpo, performance, tatuagens, dança
Around the Body and Performance:Strategies for assertion between a group
of youth in Maputo, Mozambique
AbstractThis text is about issues of body and performance among a group of young people who make the market of Xipamanine in Maputo a place of sustenance and/or their home. The material presented here constitutes fragments of ethnographic research that aims to understand the relationship between the body and identity - What are the strategies used to acquire power and es-teem among the peer group and the broader social context.Key words: street youth, body, performance, tattoos, dance
1 Andrea Moreira é doutoranda em Antropologia no ISCTE-Instituto Universitário Lisboa, sob a orien-tação de Lorenzo Bordonaro e com bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia (Portugal) com re-ferência SFRH/BD/79513/2011. Desde Fevereiro de 2012 vem conduzindo sua pesquisa em Maputo.
240
Em TORnO DO CORPO E DA PERfORmAnCE: ESTRATÉGIAS DE AfIRmAÇÃO EnTRE Um GRUPO DE jOVEnS Em mAPUTO, mOÇAmBIQUE
“Põe os vídeos na net a ver se fico famoso” pede-me Stalone. Ele refere-se aos vídeos que fizemos em que ele está a dançar, mas ele já é famoso no mercado de Xipamanine. Todos o conhecem, não só por ele fazer tatuagens e dreads no cabelo mas também pela sua imagem - alto, magro, com o corpo repleto de tatuagens – e pelo seu jeito animado. Um dia, enquanto conversávamos sentados em caixas de cerveja vazias ao lado do deposito de garrafas no mer-cado, eu comento com ele o facto de todos que passavam por ali o cumprimentavam, ao que ele responde “sou um pouco famoso”.
Stalone convive diariamente, partilhando o mesmo espaço, e mantendo uma relação de amizade com um grupo de outros jo-vens que também fazem do mercado seu lugar de sustento e/ou sua casa. O seu rendimento advém das tatuagens e dreads que faz. Esporadicamente, principalmente na época mais fria quan-do menos pessoas se interessam em fazer tatuagens, ele faz al-guns biscates, tais como transportar caixas de cerveja. Ele não se envolve em pequenos furtos ou situações de violência física como grande parte dos seus amigos. Stalone diz que não é como os outros, ele nunca se envolve nas confusões deles (dos ami-gos), mas gosta de dançar e ambiciona ficar famoso pela dança. “Essa é que é a minha cena” diz ele.
Este texto é sobre questões do corpo e da performance entre um de grupo de jovens, que, é importante salientar, de maneira nenhuma constituem um grupo sociológico homogéneo. Ainda assim eles partilham uma ligação particular à rua que parado-xalmente os posiciona à margem da vida urbana e ao mesmo tempo, torna-os extremamente visíveis nos espaços públicos. A rua, portanto, é o principal terreno sobre o qual eles negoceiam as suas identidades. Acresce que o seu mundo social tem um profundo componente de género, pois o grupo é formado ape-nas por jovens do sexo masculino. Na performance da mascu-linidade o corpo toma uma posição de vanguarda. Percebe-se o corpo não apenas como uma unidade biológica, nem somente como um local inscrito pela cultura, mas também um lugar de
241
Andrea moreira
construção e negociação de identidades. Como Diouf (2003) su-gere, em última análise, os jovens têm seus corpos para se ex-pressar e negociar suas identidades.
O meu interesse por esta temática advém da experiência que vi-venciei junto destes mesmos jovens aquando da pesquisa reali-zada para a elaboração da minha tese de mestrado e no decurso dos três meses de trabalho de campo realizado em Maputo no ano de 2008. Na minha tese intitulada “What about those sho-es? Street children and NGOs in Maputo, Mozambique”, abordei questões relativas à natureza e à qualidade dos serviços pres-tados pelas organizações não-governamentais a estes jovens. Trabalhei, na época, com crianças e jovens do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos de idade, que participavam das atividades e recebiam o apoio de algumas ONGs na cidade de Maputo. Participei diariamente nas ativida-des de um dos projetos que apoiava os “meninos de rua” no bair-ro de Xipamanine. Muitos destes jovens continuam a trabalhar e/ou a viver no mercado deste bairro.
Desde Fevereiro de 2012 tenho vindo a acompanhar o quotidia-no deste grupo de cerca 15 rapazes. O material aqui apresentado constitui fragmentos etnográficos da minha pesquisa no âmbito do doutoramento em antropologia. O método de pesquisa uti-lizado é a observação-participante, em conjunto com métodos visuais, em que a produção de material visual (ou audiovisual) pretende ser um esforço colaborativo. Métodos visuais colabo-rativos, nos quais os dados são produzidos e analisados conjun-tamente pelo pesquisador e os participantes da pesquisa, per-mitem um maior investimento dos mesmos no projeto (Pink, 2007). Muda-se a perspectiva de quem é o “expert”, do pesqui-sador para o pesquisado, entendendo os últimos como aqueles que detêm mais conhecimento sobre suas próprias realidades. Desta forma distanciamo-nos de um modelo em que é apenas o pesquisador que controla qual o conhecimento produzido e como este é usado. Ademais, a fotografia e o vídeo criam a pos-
242
Em TORnO DO CORPO E DA PERfORmAnCE: ESTRATÉGIAS DE AfIRmAÇÃO EnTRE Um GRUPO DE jOVEnS Em mAPUTO, mOÇAmBIQUE
sibilidade de construir conhecimento que não é apenas baseado no discurso verbal. A câmara de vídeo encoraja os participan-tes na pesquisa a envolverem-se fisicamente na pesquisa para evidenciar suas experiências corporalmente (Pink, 2009). Deste modo, a partir dos vídeos criam-se narrativas das experiências dos jovens a partir das suas perspectivas.
O Mercado de Xipamanine desdobra-se como um enorme labi-rinto de corredores apertados com inúmeras barracas repletas de todo o tipo de produtos, qualquer coisa que se possa ima-ginar e muito mais. Para além de uma mostra heterogênea de bens, um vasto conjunto de serviços é prestado, desde um cor-te de cabelo, arranjo de roupa à oferta de refeições económicas. Xipamanine é também conhecido como o principal mercado para a aquisição de plantas medicinais. Entre as preparações de ervas tradicionais vendem-se garrafinhas coloridas de po-ções de boa sorte importadas da Africa do Sul. Misturam-se os cheiros da carne vermelha que se vende ali ao lado com os do incenso para afastar os maus espíritos. Para quem aprecia o caos este mercado é o paraíso para os sentidos. Não há quem fique indiferente à abundância de estímulos visuais, auditivos e olfactivos. O mercado oferece adicionalmente várias oportu-nidades de subsistência para os jovens, assim como atividades de lazer. Entre os biscates que arranjam com facilidade, ou os pequenos furtos que realizam no meio da confusão, os jovens vão conseguindo se alimentar e alimentar seus vícios. Uma das “atividades de lazer” que mais tempo os ocupa é o consumo de álcool. Uma pratica normalmente realizada em grupo.
Entre o grupo maior de jovens, sem uma ocupação formal, profis-sional ou educacional/formativa, que passam o dia, e alguns noite também, no mercado, grupos mais pequenos são formados. Estes grupos tendem a instalar-se em espaços determinados no merca-do, onde normalmente têm acesso mais facilitado a serviços ou oportunidades de trabalho, como perto das casas de banho onde podem fazer sua higiene diária e do deposito de garrafas onde
243
Andrea moreira
conseguem facilmente algum dinheiro a descarregar e a distribuir pelo mercado caixas de garrafas de refresco ou cerveja.
Estes grupos a que me refiro são compostos exclusivamente por jovens do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos. Embora as meninas e mulheres convivem com eles diariamente, estas estão de passagem, ou vendem no mercado. Não é que as mulheres não sejam afectadas pelas mesmas limita-ções, mas estão mais contidas no espaço doméstico e optam por outros meios de subsistência. Um dia enquanto conversava com um dos jovens que por norma encontra-se num destes locais onde fazem cargas e descargas de mercadorias, ele disse “Eu preferia ter uma filha do que um filho. Ela até podia virar prostituta mas era melhor isso do que ter um filho. Neste ambiente iria se tornar bandido, andar aí a roubar coisa de dono ou a cortar pessoas.”
Num estudo qualitativo sobre a pobreza em Maputo, Paulo, Ro-sário e Tvedten (2007) constataram que as pessoas nos bair-ros definiram o desemprego como a principal razão para a sua própria pobreza e vulnerabilidade. Nos bairros mais centrais, a alta taxa de criminalidade foi mencionada como um dos maio-res problemas que enfrentam. Muitos idosos referiram a falta de respeito entre os jovens, que já não ouvem as pessoas mais velhas. Embora as drogas e o álcool foram apresentados como o problema principal, a maioria das pessoas admite que a raiz do problema é que “os jovens não têm nada para fazer” (Paulo, Rosário e Tvedten, 2007:54).
A minha intenção não é “vitimizar” os jovens, colocando-os numa posição passiva de sujeição às difíceis condições sociais e económicas. Acredito que apesar dos reais condicionalismos ex-ternos que enfrentam, eles são agentes ativos na construção de suas vidas, embora dentro de limites que se encontram fora de seu controle. É neste sentido importante encontrar o equilíbrio certo entre a agência e a restrição (Bordonaro, 2011), analisan-do as estratégias e aspirações individuais dos jovens, ao mesmo
244
Em TORnO DO CORPO E DA PERfORmAnCE: ESTRATÉGIAS DE AfIRmAÇÃO EnTRE Um GRUPO DE jOVEnS Em mAPUTO, mOÇAmBIQUE
tempo colocando-os num contexto social diacrónico mais amplo (De Boeck e Honwana, 2005:6).
Apesar da dureza da vida na rua, existem crianças e jovens que vi-vem melhor na rua do que em suas casas ou instituições de acolhi-mento. Muitos jovens nas ruas têm família a quem recorrer, mas tomaram a decisão de separar-se de seu contexto familiar (De Boe-ck, 2005). Percebi que entre os rapazes em Xipamanine, muitos não “aguentam” o controle familiar, a imposição de limites, regras e res-ponsabilidades e preferem viver independentes, ter mais liberdade.
Nas últimas décadas os jovens têm aparecido cada vez mais como uma preocupação central dos estudos africanos (De Boeck and Honwana, 2005). Em muitos aspectos centrais na negociação da continuidade e mudança em qualquer contexto (Durham, 2000), os jovens em África têm sido reconhecidos como atores sociais, capa-zes de transformar contextos urbanos e rurais de formas marcantes e originais (Bordonaro e Carvalho, 2010). Ainda assim, grande parte dos estudos referentes aos jovens no continente Africano, sobretudo na África Subsaariana, focam aspectos problemáticos ligados à se-xualidade ou à violência, enquadrando-os na posição de vitimas ou agressores. Termos como crianças e jovens “em risco” ou “como um risco” são mobilizados quando suas ações ou estilos de vida caem do lado de fora das idealizações ocidentais da infância2.
2 A infância, como distinta da imaturidade biológica, não é universal, mas sim uma estru-tural e cultural de uma sociedade especifica (James & Prout, 2001). Isto é, todas as so-ciedades cuidam e protegem seus filhos à sua maneira, mas a “infância moderna” é uma concepção ocidental que vem sendo exportada para outras partes do mundo (Stephens, 1995). A própria categoria de “crianças de rua” é parte da globalização de um entendi-mento ocidental de infância. A ideia de que a rua é moralmente perigosa para as crianças surgiu no norte da Europa e tem sido exportada através do colonialismo e do imperia-lismo da ajuda internacional bem além das fronteiras da Europa. Boyden (2001:207) argumenta que um padrão universal de infância tem o efeito de penalizar, ou mesmo criminalizar, a infância dos pobres. As crianças de rua caem nas categorias de infâncias anormais, fora da norma e, particularmente fora do controle dos adultos. Desafiam assim as fantasias Ocidentais da criança como um ser inocente, vulnerável e dependente, que precisa da protecção do adulto (De Boeck & Honwana, 2005:3).
245
Andrea moreira
De acordo com Diouf (2003), as representações anteriores da juventude Africana como a esperança das nações africanas no período pós-independência, deram lugar à construção da juven-tude Africana como uma ameaça. As falhas dos modelos econó-micos, culturais e políticos nacionalistas tiveram um impacto particularmente negativo nos jovens, e num ambiente de es-cassos recursos muitos “invadiram” o espaço público das ruas à procura de meios de subsistência e modos de expressão alterna-tivos. Esta presença massiva de crianças e jovens no espaço pú-blico tem sido foco de atenção moral e disciplinadora (Durham, 2000), tal como, de uma preocupação recorrente por manter a “ordem social” (Phoenix, 1997).
Importa notar que o espaço da rua também tem uma forte com-ponente de género, aparecendo revestido de discursos da mas-culinidade (Frangella, 2010) e o mundo social dos jovens da rua é marcado pela prevalência de jovens do sexo masculino. Logo, o “pânico moral” se concentra a volta das masculinidades dos jovens e seu controle. Segundo Low (2000), os significados atri-buídos ao espaço público refletem valores culturais e ideias so-bre comportamento apropriado e ordem social. Desafiando as concepções do espaço público como preparado e supervisiona-do por adultos, os jovens criam modos alternativos de expressão e novas formas de ocupação da esfera pública (Diouf, 2003).
Embora a categoria social da juventude tem vindo a ganhar maior visibilidade em todo o continente Africano, ela é, no en-tanto, marcada pela ambiguidade.3 Em muitos países africanos, “a natureza da passagem cronológica e psicológica da juventu-de para a idade adulta mudou de forma extraordinária” (Diouf, 2003:3). Muitas vezes, excluídos do mundo normativo do traba-lho, da política e das responsabilidades cívicas, os jovens enfren-
3 O proprio conceito ou categoria “juventude” é contestavel. Definições e noções de ju-ventude não podem simplesmente se fundamentar com base em critérios de idade (Ca-puto, 1995).
246
Em TORnO DO CORPO E DA PERfORmAnCE: ESTRATÉGIAS DE AfIRmAÇÃO EnTRE Um GRUPO DE jOVEnS Em mAPUTO, mOÇAmBIQUE
tam maior dificuldade para fazer a transição para a idade adulta social (Comaroff e Comaroff, 2005). No entanto, e apesar de sua marginalização relativa, ou possivelmente por causa dela, eles criam culturas inovadoras de desejo, autoexpressão e represen-tação (Comaroff e Comaroff, 2005:21). Num sentido Turneriano, a juventude tende a ocupar um espaço liminar - ‘betwixt and be-tween’ - que é indefinível em termos estáticos (Turner, 1967). Neste sentido, Deborah Durham (2000) chama a atenção para o modo como a categoria “juventude” atua como um “shifter so-cial”. Um “shifter” é um termo linguístico, denotando uma pala-vra cujo significado depende do contexto em que é utilizado (por exemplo, “aqui” ou “nós” são tais termos). Ela sugere pensar a juventude menos como um grupo etário específico e mais como um conceito relacional situado num contexto dinâmico.
Em Moçambique, depois da independência em 1975, a juventu-de passou a gozar de especial atenção por parte do governo. Os jovens eram considerados a fonte principal dos futuros quadros do partido.4 A Organização da Juventude Moçambicana (OJM), criada em 1977, tinha como objectivo principal a educação pa-triótica e socialista dos jovens. Todos, entre os 14 e os 30 anos de idade, podiam fazer parte da OJM contando que cumprissem com as obrigações e deveres dos estatutos e programas, contri-buindo para edificar as bases politicas e ideológicas da socieda-de socialista então em construção (Biza, 2007). A juventude era, deste modo, fundamental para a construção de um determinado projeto social, económico e político.
A partir dos finais da década de 1970 o país vive grandes mu-danças que obrigaram a uma reorientação política e económica. Nos finais da década 1980 e inicio de 1990 com a introdução do modelo neoliberal em Moçambique e consequente diminuição do envolvimento do Estado no domínio social, a relação entre o Estado e a juventude sofre alterações. Os jovens, anteriormen-
4 FRELIMO, o movimento que liderou a conquista da independência, declara-se partido (Marxista-Leninista) em 1977.
247
Andrea moreira
te objecto de inculcação ideológica, são agora responsáveis por si próprios (Biza, 2007). Não só perderam o status prestigioso como primordiais agentes de transformação que lhes foi con-cedido no auge dos movimentos nacionalistas nas sociedades Africanas, como deixaram, acima de tudo, de representar uma prioridade nacional (Diouf, 2003).
Maputo, a capital política, administrativa e económica de Moçam-bique, sofreu um aumento drástico da sua população no período da guerra civil, entre 1980 e 1990, devido à migração interna de refugiados (Espling, 1999). No entanto, a mudança mais dramáti-ca nas condições de vida da população ocorreu com a introdução dos programas de ajustamento estrutural, e consequente redução de oportunidades de emprego formal, aumento dos custos de vida e falta de serviços urbanos (Espling, 1999).
A implementação de um programa de ajustamento estrutural em 1987, num país massacrado pelos efeitos de uma guerra que aca-bou por durar 16 anos, teve consequências devastadoras para a maioria da população. Honwana (2005) argumenta que a família e outras instituições fundamentais para a iniciação da criança em papéis adultos foram severamente perturbados pela guerra e os jovens foram forçados a dar sentido ao seu mundo num ambiente de caos social. Foi neste contexto de destruição da infraestrutura económica e social do país que se assistiu a uma presença massiva de crianças e jovens a viver nas ruas da cidade.
Loforte (1994) e a sua equipa de pesquisa contaram aproxima-damente mil “crianças de rua” em Maputo no inicio da década de 1990. Muitas das crianças entrevistadas citaram a guerra, que destruiu a vida e posses de suas famílias, como a causa de suas situações. Instabilidade familiar, maus-tratos e abuso intra familiar também foram mencionados como causa de seu recurso à vida nas ruas. De acordo com Loforte (1994), o ambiente em que estas crianças e jovens viviam era caracterizado pela violên-cia a todos os níveis, entre as próprias crianças e na interação
248
Em TORnO DO CORPO E DA PERfORmAnCE: ESTRATÉGIAS DE AfIRmAÇÃO EnTRE Um GRUPO DE jOVEnS Em mAPUTO, mOÇAmBIQUE
com outros moradores de rua. Por vezes, as crianças mais novas procuravam proteção num grupo liderado por um jovem adulto mais forte, mas, por sua vez, a integração num grupo também significava que a criança participasse em atividades ilegais.
De acordo com uma importante ONG local que trabalha com “crianças de rua”, existem hoje em dia cerca de 300 a 400 crian-ças a viver nas ruas de Maputo, das quais apenas uma pequena minoria são meninas. Um funcionário da acima referida ONG me informou que as poucas meninas que vivem na rua se hospedam principalmente em lugares fechados, como casas abandonadas, e só saem durante a noite para trabalho sexual. Já outros edu-cadores de rua me explicaram que as meninas quando chegam à rua, isto é, começam a dormir na rua, logo se envolvem numa relação com um jovem mais velho que lhes consiga assegurar alguma proteção. Existem de facto alguns locais na cidade (casas abandonadas e em ruinas ou jardins públicos) onde se encon-tram famílias constituídas na rua.
Para além da componente de género, que marca de forma signi-ficativa o mundo social dos jovens de rua e que é vulgarmente ig-norada nas politicas publicas, pelas organizações internacionais, bem como na academia, põe-se a problemática da definição de “criança de rua” que implicitamente procura capturar a realidade de milhões de jovens em variados contextos pelo mundo, como se estes constituíssem um grupo não diferenciado. Assim, classifica-ções genéricas como “crianças da rua” compreendem um variado grupo de crianças e jovens que podem oscilar entre os 6 e os 20 e poucos anos de idade, que podem estar a trabalhar na rua e voltar a suas casas regularmente, ou estar a viver a tempo inteiro na rua.
De acordo com vários autores e conforme verifiquei em Mapu-to, as crianças e jovens alternam continuamente a sua estadia na rua, com períodos passados em suas casas e instituições de acolhimento. Não obstante diversos autores se haverem já pro-nunciado sobre o facto de muitos destes jovens deixarem as ruas
249
Andrea moreira
quando atingem a idade adulta ou são confrontados com a pa-ternidade, são escassas ou quase inexistentes as pesquisas acer-ca desta transição dos jovens de rua para a idade adulta.
Hecht (1998), no contexto da cidade de Recife no Brasil, cons-tatou que a maior parte das crianças com quem tinha trabalha-do não deixaram de viver na rua à medida que foram ficando mais velhas. Muitos encontravam-se presos e outros tinham sido assassinados (Hecht, 1998). Entre os jovens com os quais eu trabalhei e tenho vindo a acompanhar suas trajetórias desde de 2008, alguns deixaram efetivamente de viver na rua, traba-lham no mercado a vender, ou noutros serviços como cobrador de chapa (transporte semicolectivo), ainda outros conciliam o trabalho com os estudos. No entanto, a grande maioria não tem trabalho, nem continuou os estudos. Vários já tiveram contacto com o sistema prisional e alguns chegam a passar mais tempo na cadeia do que na rua. No que se segue descrevo sucintamente dois casos que considero exemplificativos das possíveis trajetó-rias percorridas por estes jovens.
Paito tinha 17 anos quando o conheci há 4 anos atrás no Xipama-nine. Na altura contou-me que tinha saído de casa aos 11 anos porque tinha perdido os chinelos e tinha medo de voltar sem eles. Entretanto a mãe acabou por o encontrar e prometeu não lhe bater se ele voltasse para casa. Ele voltou com a mãe, mas como estava já “habituado à rua”, como ele disse, acabou por sair de casa de novo. Paito ficou alguns meses na baixa da cidade.
Na baixa os senhores ou senhoras chamavam para ajuda--los a levar lixo, ou empurrar carro para o posto de gasolina e depois davam dinheiro. Outros nos ofereciam comida em casa deles. Mas na baixa, os outros mais velhos que também estavam na rua, levavam meu dinheiro. Os dias que eu não tinha dinheiro vinha para aqui no Xipamanine para fazer biscates e depois voltava para a baixa. Eu dormia numa pa-ragem de machimbombo (autocarro), próximo da esquadra da policia. Mas agora eu já não durmo na rua. Fiz um quarto. Encontrei um pouco de dinheiro e comprei sacos de plástico
250
Em TORnO DO CORPO E DA PERfORmAnCE: ESTRATÉGIAS DE AfIRmAÇÃO EnTRE Um GRUPO DE jOVEnS Em mAPUTO, mOÇAmBIQUE
para vender, depois comprei caldo e vender também… e as-sim consegui o dinheiro para construir o quarto.
Paito vive na casa da mãe, no seu próprio quarto. Ele tem um filho de 2 anos que fica com a avó, enquanto ele vai para os seus dois trabalhos. Ele trabalha na venda de carvão durante o dia e à noite é guarda num parque de estacionamento.
Quando conheci Delcio no Xipamanine, ele tinha 15 anos e tinha saído da província de Gaza, onde morava com a madrasta e dois irmãos mais novos, para trabalhar em Maputo. Os pais faleceram em 2007 e em 2008 ele foi para Maputo. Ficou com uma tia no Xipamanine mas segundo ele, ela era má e ele saiu de casa dela. Foi quando começou a ficar ali no mercado com os amigos. Uma vez que ficou doente, os amigos levaram-no para casa da tia, mas “ela nem cuidou de mim” disse ele. “Veio a minha avó de Marra-cuene e curou-me. Ela conhece os tratamentos com ervas”.
Em Dezembro de 2008, uns dias antes de eu sair de Maputo, Delcio tinha desaparecido. Seus amigos me explicaram que ele teve que se esconder, desaparecer do mercado por uns tempos, porque tinha roubado um saco grande de calamidade (roupa em segunda mão) e o proprietário da mercadoria estava à sua procura. Quatro anos mais tarde, quando voltei a Xipamanine, Delcio encontrava-se na cadeia. Seus amigos contaram que ele passava mais tempo lá dentro do que cá fora. Delcio acabou por sair, mas de facto nem três meses passaram para que estivesse de novo preso e condenado a dez meses de prisão.
No que se segue procura-se contemplar a relação entre o corpo e identidades – Quais as estratégias de afirmação e de identifica-ção/pertença ao grupo, mas também demarcação de diferenças, através do corpo.
O corpo como entendido por Turner (1994, p. 28) é, em pri-meiro lugar, uma relação. É tanto subjetivo e objetivo, signi-ficativo e material, pessoal e social, e pode ser considerado a
251
Andrea moreira
“infra-estrutura material” da produção de selves, pertença, e identidades (Van Wollpute, 2004, p. 256)5.
O corpo ocupa visivelmente um local privilegiado para as nego-ciações de identidade de género. Como afirma Vale de Almeida (1997), a característica fundamental do género consiste no uso do corpo como o seu território metafórico. Neste sentido, a iden-tidade surge mais como uma performance em processo, do que um principio originário (Conquergood, 1991). Butler (1990) contempla a identidade de género como uma repetição estiliza-da de atos ao longo do tempo. Segundo a autora, o género não existe como uma identidade “natural” subjacente, mas é criado através de performances socialmente sustentáveis. De acordo com Richard Schechner, as performances “afirmam identidades, curvam o tempo, remodelam e adornam corpos, contam histó-rias” (Schechner, 2003, p. 27). Como estão os jovens a usar seus corpos na performance das suas masculinidades? As constru-ções de masculinidades em contextos urbanos africanos, uma questão só recentemente a emergir como um tema de pesquisa social, é de crucial importância para a compreensão das trans-formações e tensões sociais presentes na África contemporânea.
Diante das inúmeras dificuldades e incertezas sentidas na maior parte da África Subsaariana, bem como em outros lugares, tem havido um recente interesse académico, bem como político, no estudo da juventude e masculinidade6. De facto, a pesquisa sobre masculinidades neste continente é crescente (Lindsay e Miescher, 2003; Ouzgane e Morrell, 2005). Uma pesquisa re-cente sobre a mudança de masculinidades no contexto urbano de Maputo mostrou que os jovens desempregados são cada vez
5 Tradução minha do Inglês para o Português. 6 Hoje em dia já é um truísmo antropológico que as ideologias de masculinidade e fe-minilidade são cultural e historicamente construídas, seus significados constantemente contestados e sempre em processo de serem renegociados no âmbito das relações de poder existentes (Miescher e Lindsay, 2003:4). Portanto, vários autores sugeriram que é mais exacto falar de masculinidades múltiplas em vez de uma masculinidade singular (ex. Berg e Longhurst, 2003).
252
Em TORnO DO CORPO E DA PERfORmAnCE: ESTRATÉGIAS DE AfIRmAÇÃO EnTRE Um GRUPO DE jOVEnS Em mAPUTO, mOÇAmBIQUE
mais parceiros e pais ausentes, não querendo ou não conseguin-do assumir a responsabilidade de apoiar as suas parceiras e seus filhos. A dificuldade sentida para cumprir ideais normativos de masculinidade gera uma sexualidade com valor em si mesmo, em que o poder está concentrado no corpo, em busca de provas que a simbolizem socialmente (Aboim, 2008:293).
Numa conversa com Pedrito, um dos jovens pertencentes ao grupo de Xipamanine pude perceber que cada vez mais são as mulheres, na procura de melhorar suas vidas, que “abandonam” os homens. Situação que verifiquei nos testemunhos de outros jovens que par-tilhavam das mesmas dificuldades económicas. Pedrito, com 20 e poucos anos, não tinha emprego mas conseguia arrendar um quar-tinho perto do mercado onde vivia com a mulher e a filha.
Minha mulher me deixou, aquela que estava aqui comigo o outro dia com o bebé ao colo, minha filha. Ya, ela encontrou outro que lhe dá mais dinheiro… estas a ver, se eu dou 50 e outro dá 500 ela vai com ele. Mas, o outro pode lhe dar 500 pouco tempo, tipo uns 2 meses e depois deixa-a. Enquanto eu ia lhe dar 50 muito tempo. Ela depois vai pensar que de-veria ter ficado comigo quando o outro lhe deixar.
Pedrito, que estava excepcionalmente falador neste dia, acon-tecimento que ele associava ao facto de estar grosso, continuou falando das suas dificuldades e frustrações.
Gostava de sair daqui. Leva-me e deixa-me lá em Portugal… aqui por qualquer coisa te cortam, mesmo você estar quieto, não fazer nada para provocar, podem partir garrafa na cara. Vês como estamos cheios de cicatrizes.
A violência entre os jovens é um aspecto inegável das suas vi-vências, tal como as cicatrizes que adornam seus corpos. Diouf (2003:10) sustenta que em muitas sociedades do continente africano, o corpo pode ser visto como o principal recurso dispo-nível para a juventude expressar, na sensualidade ou na violên-cia, seus anseios e demandas. Afigura-se que o corpo é algo sobre
253
Andrea moreira
o qual o individuo consegue exercer controlo, mesmo quando não tem a possibilidade de controlar mais nada. Deste modo, os corpos de jovens, mulheres e homens, são o local privilegiado para a mediação entre a autoexpressão e forças sociais. Na sua analise sobre os “fighting boys” em Kinshasa, Pype (2007) mos-tra como os jovens usam seus corpos como o local final da exis-tência social, identificando o papel da violência na construção de identidades locais. Biaya (2000) contempla o surgimento de no-vas modalidades de relação com o corpo na negociação da sexu-alidade, masculinidade e feminilidade entre os jovens em Dakar.
Relativamente aos moradores de rua da cidade de São Paulo, Frangella (2010) sustenta que seus corpos aparecem como ul-timo território, sobre o que e por meio do qual se singularizam as manifestações de suas experiencias na cidade. A autora toma como ponto de partida a premissa que o corpo, que emerge como uma atividade simultaneamente física, simbólica, política e social, se constrói na relação com outros corpos e na interface com a di-mensão espacial e social das ruas da cidade. Percebe-se, então, o corpo como um objecto sobre o qual se inscrevem mecanismos de poder e dominação, ao mesmo tempo que se revela um agente que desafia esses mesmos mecanismos (Frangell, 2010, p. 16).
O corpo, tal como uma tela, não só é o local onde a cultura está inscrita, mas também o lugar onde o indivíduo é defi-nido e inserido na paisagem cultural. Tatuagens, cicatrizes, marcas, e perfurações, quando voluntariamente assumidas, são formas de escrever uma autobiografia sobre a superfí-cie do corpo. Estas práticas expressam pertença e exclusão, fundem o passado e o presente, e, para o indivíduo, definem o que Csordas (1994 p. 10) chamou de “uma forma de estar no mundo” (Schildkrout, 2004 p. 338).7
Chegou uma moça a falar com Stalone. Ele disse-me “É minha mu-lher”, expressão que se usa para designar a pessoa com quem se man-tém um relacionamento “assumido”, mas não implica viverem juntos,
7 Tradução minha do Inglês para o Português.
254
Em TORnO DO CORPO E DA PERfORmAnCE: ESTRATÉGIAS DE AfIRmAÇÃO EnTRE Um GRUPO DE jOVEnS Em mAPUTO, mOÇAmBIQUE
nem serem casados. Para me mostrar que ela era, ou pelo menos já ti-nha sido, de facto sua “mulher”, ele levantou a camisa dela e mostrou--me o seu nome tatuado na barriga dela. Depois mostrou-me o nome dela tatuado na mão dele. “O braço esquerdo é o braço de mulher, com rosas que é sinal de quem gosta de namorar”, explicou Stalone. “É com este braço que eu abraço as pitas” (pitas são as moças com quem não se assume um compromisso, são relações ocasionais). Já o braço direito “é o braço da falta de respeito” onde se desenham fuck you’s, folhas de suruma (cannabis), facas, armas,… “Outras pessoas põem números, tipo 26 é pessoa que gosta de dinheiro e que não gos-ta de compartilhar. Já o 28 é pessoa que rouba com facas, com armas. É de bandido mesmo”. Chongas chega e participa da conversa falando das suas tatuagens de correntes. “Significam que eu estou acorrenta-do, não vale a pena fazer feitiço, macumbarias para mim, estou pro-tegido”. Rindo-se comenta “Já acorrentei tudo com uma suruma”, pois voltava de fumar um charro de marijuana.
Imagem 1: Stalone a fazer uma tatuagem. Xipamanine, Fevereiro de 2012Fotografia de: Andrea Moreira
255
Andrea moreira
A tatuagem escreveu Gell, é “simultaneamente a exteriorização do interior, e a interiorização do exterior” (pp. 38-39 in Schil-dkrout, 2004 p. 321). A pele tatuada não só negoceia entre o individuo e a sociedade, e entre diferentes grupos sociais, bem como marca uma identidade. Pois, as aparências são usadas para estabelecer posições do sujeito e transmitir significados discre-tos aos outros (Herrera, Jones, Benitez, 2009).
A tatuagem aparece como expressão de uma individualidade que marca a diferença e ao mesmo tempo a associação e per-tença a determinado grupo. No grupo de jovens participantes na pesquisa, as tatuagens mais comuns eram as que Stalone deno-minou de “falta de respeito” (armas, correntes, fuck you’s, folhas de cannabis, …). Por um lado, funcionando como um meio atra-vés do qual podem exprimir-se contra condicionamentos sociais opressivos. Por outro lado, oferecendo reconhecimento entre os pares, acentuando a sua identificação ao grupo.
Outro aspecto que marca de forma significativa a expressão identitária destes jovens é a dança, mais especificamente um determinado tipo de dança. Voltando ao inicio deste texto, e re-tomando o pedido de Stalone para pôr os vídeos da dança na internet para ver se fica famoso, acrescento que também outros jovens abordaram a questão, embora de forma mais subtil, pe-dindo que eu levasse uma máquina de filmar profissional para melhorar a qualidade dos vídeos, e “fazer clips nice”. Gicula diz--me, “Tens que vir filmar com câmara grande que fica parada num sitio e nós dançamos em frente. Não podes ficar só a filmar a andar com tua máquina pequena”. De seguida apresento um excerto de uma noticia no jornal que pode dar uma indicação deste interesse na produção de “clips”.
O mundo acabou. Dois grupos fazem um duelo no meio da poeira, carros em chamas e cenários de cortar à faca. A sen-sualidade trespassa o ecrã, não fosse este um clip de Beyoncé. Um grupo de homens olha com ódio, raiva e algum espanto para as mulheres, lideradas pela cantora. Ela começa a dan-
256
Em TORnO DO CORPO E DA PERfORmAnCE: ESTRATÉGIAS DE AfIRmAÇÃO EnTRE Um GRUPO DE jOVEnS Em mAPUTO, mOÇAmBIQUE
çar. Dança estranha, como se os membros não lhe pertences-sem, como se tudo fosse independente, e braços e pernas me-xessem autonomamente. À sua frente, dois rapazes fazem a mesma dança. É o estilo sul-africano kwaito e eles são Mário Abel Bruce e Xavier Manuel Campione, ambos moçambica-nos. Os W-Tofo já existiam antes de Beyoncé os conhecer, mas agora são famosos, foram vistos por milhares de pessoas e já não passam despercebidos em Moçambique. O grupo ga-nhou popularidade após a sua participação, em 2011, no clip ‘Run the World (Girls)’ da cantora norte-americana Beyoncé. (Claudia Muguande, “A dupla de moçambicanos que dançou com Beyoncé”. Jornal Sol, 22 de Abril, 2012)8
O estilo de música e dança Kwaito emergiu no inicio da déca-da de 1990 na África do Sul. Desenvolveu-se particularmente nos bairros entre jovens negros na região de Johannesburg. É normalmente cantado numa “língua de bairro” que consiste na mistura de Zulu, Sotho, Inglês e Afrikaans, considerada a versão contemporânea da língua “gangster” ou “Tsotsitaal” desenvolvi-da no inicio do séc. XX (Pietila, 2012). As letras são normalmente sobre diversão, sexo e “passar um bom bocado”. É uma música para dançar, com bastantes elementos da música “house”. Con-siste numa dança energética, rápida, com movimentos coreogra-fados envolvendo improvisação por dançarinos individuais, nor-malmente realizada em grupo ou em pares vestidos com roupa simples, tais como camisas, calças de perna curta, bonés ou cha-péus de disquete e sapatilhas (tipo All Stars) (Pietila, 2012).
Stalone e Machance de facto aprenderam a dançar Kwaito com um amigo que voltou da África do Sul e lhes ensinou os passos. Dançam nas barracas/bares que têm uma jukebox onde podem escolher as músicas ou em festas. Onde o espaço permite, costu-mam fazer uma roda e vão alternando suas entradas no centro individualmente ou em pares. A dança caracteriza-se por movi-mentos corporais repetitivos e muito rápidos, com uma coorde-
8 Visto a 19/11/2012 no http://sol.sapo.pt/inicio/Cultura/Interior.aspx?content_id=47504.
257
Andrea moreira
nação rigorosa dos membros superiores e inferiores. É necessá-ria grande destreza corporal para dançar Kwaito.
Imagem 2: Stalone a dançar Kwaito. Xipamanine, Março de 2012Fotografia de: Andrea Moreira
Interessante notar que o Kwaito, uma música e dança originária da África do Sul, que reflete uma forma de expressão e comu-nicação particular dos bairros deste país, foi apropriada pelos jovens Moçambicanos. Acresce que os jovens escolhidos para representar o estilo num evento que lhes trouxe notoriedade in-ternacional eram Moçambicanos e não Sul Africanos. Os elemen-tos que compõem uma determinada cultura são móveis, estão em fluxo e os jovens navegam as possibilidades estabelecidas num espaço cada vez mais “global”, apropriando elementos “ex-ternos” e moldando-os à sua maneira enquanto procuram meios de expressão e afirmação.
258
Em TORnO DO CORPO E DA PERfORmAnCE: ESTRATÉGIAS DE AfIRmAÇÃO EnTRE Um GRUPO DE jOVEnS Em mAPUTO, mOÇAmBIQUE
Em Maputo, como em muitos outros lugares, os jovens pare-cem estar marcados pela crescente dificuldade de efetuarem a transição para o estatuto e papéis de adulto. Ficam assim num lugar ambíguo que marca seus percursos. O poder concentra--se no corpo e criam modos alternativos de expressão, como vi-mos com as tatuagens e a dança. Estas performances sublinham como os corpos dos jovens podem ser considerados eventos, re-cursos para as suas construções identitárias, em vez de objetos (Herrera, Jones, Benitez, 2009). Como Diouf (2003) sugere, em última análise, os jovens têm seus corpos para se expressar e negociar suas identidades.
Estive algumas semanas ausente, fora de Maputo, mas através de um telefonema com Stalone soube que ele estava doente, tinha sido diagnosticado com tuberculose. Quando voltei ele disse-me:
Pois é, quase que já não vinhas me encontrar aqui. Eu quase que morria. Estive mal mesmo, estava magrinho, não queria comer. Mas logo que comecei a tomar medicamento fiquei me-lhor. Fui para casa de mamã para ela cuidar de mim. Fazer co-mida, dar medicamento. Mas deixa só eu melhorar que quero fazer um clip só eu, dançar maningue (muitas) músicas!” Per-guntei o que ele pretendia fazer com o clip depois. “Ah, não dá para vender, né? Mas quero pôr na net para todos verem. Que-ro ficar mais famoso. Eu já sou um pouco mas quero ficar mais.
Confrontados com a sua marginalidade social e económica por um lado, e novos bens de consumo e desejos despoletados em grande medida pelos mass media por outro, os rapazes procu-ram a autorrealização em suas fantasias, tendo como principal recurso disponível seus corpos. Assim, “os jovens oscilam entre a aspiração e a frustração, entre escolhas possíveis e sonhos im-possíveis” (Martins, 2010 p. 17).
259
Andrea moreira
Referências Bibliográficas
ABOIM, Sofia. “Masculinidades na encruzilhada: hegemonia, dominação e hi-bridismo em Maputo”. Analise Social XLIII(2): 273-295. 2008.
BIAYA, Tshikala. “Les plaisirs de la ville: Masculinité, sexualité et féminité à Dakar (1997-2000)”. African Studies Reviw 44(2)71-85. 2001.
BERG, Lawrence and Robyn LONGHURST. “Placing Masculinities and Geogra-phy”. Gender, Place and Culture 10(4):351-360. 2003.
BORDONARO, Lorenzo and Clara CARVALHO. “Introduction: Youth and moder-nity in Africa”. Cadernos de Estudos Africanos 18/19: 9-18. 2010.
BORDONARO L. From home to the street: children’s street-ward migration in Cape Verde. In: EVERS S, NOTERMANS C and VAN OMMERING E (eds.) Not just a victim. The child as catalyst and witness of contemporary Africa. Leiden: Brill. 2011.
BOYDEN, Jo. Childhood and the Policy Makers: A Comparative Perspective on the Globalization of Childhood. in Allison James and Alan Prout (eds). (2001) Constructing and Reconstructing Childhood. Contemporary issues in the sociolo-gical study of childhood. London. Routledge Falmer. 2001.
BUTLER, Judith. Gender Trouble: feminism and the subversion of identity. New York. Routledge. 1990.
CAPUTO, Virginia. “Anthropology’s silent ‘others’: A consideration of some conceptual and methodological issues for the study of youth and children’s cul-ture” in Amit-Talai, Vered, Helena Wulff (eds.) Youth Cultures. A cross-cultural perspective London and New York. Routledge. 1995.
COMAROFF, Jean. and John COMAROFF. “Reflections on Youth. From the Past to the Postcolony”, in Honwana, Alcinda and Filip de Boeck (eds.) Makers & Breakers. Children and Youth in Postcolonial Africa. Oxford: James Currey. 2005.
CONQUERGOOD, Dwight. “Rethinking Ethnography: Towards a Critical Cultu-ral Politics”. Communication Monographs 58:179-194. 1991.
DE BOECK, Filip. The Divine Seed. Children, Gift & Witchcraft in the Democratic Re-public of Congo in De Boeck, F. & Honwana, A. (eds). Makers & Breakers. Children & Youth in postcolonial Africa. Oxford. James Currey. 2005.
DE BOECK, Filip and Alcinda HONWANA. “Introduction: Children & Youth in Africa”, in Honwana, Alcinda and Filip de Boeck (eds.) Makers & Breakers. Chil-dren and Youth in Postcolonial Africa. Oxford: James Currey. 2005.
260
Em TORnO DO CORPO E DA PERfORmAnCE: ESTRATÉGIAS DE AfIRmAÇÃO EnTRE Um GRUPO DE jOVEnS Em mAPUTO, mOÇAmBIQUE
DIOUF, Mamadou. “Engaging Postcolonial Cultures: African Youth and Pu-blic Space”, African Studies Review, Vol. 46, No. 2, pp. 1-12. 2003.
DURHAM, Deborah. “Youth and the social imagination in Africa: Introduction to Parts 1 and 2”. Anthropological Quarterly 73(3), 113-120. 2000.
ESPLING, M. Women’s Livelihood Strategies in Processes of Change: Cases from Urban Mozambique. Departements of Geography, University of Göteborg. 1999.
FRANGELLA, Simone. Corpos Urbanos Errantes. Uma etnografia da corporali-dade de moradores de rua em Sao Paulo. Sao Paulo. Anablume, Fapesp. 2010.
HECHT, Tobias. At home in the street. Street children of northeast Brazil. Cam-bridge: Cambridge University Press. 1998.
HERRERRA, Elsa and Jones, GARETH A. and Thomas de BENITEZ, Sarah Bodies on the line: identity markers among Mexican street youth. Children’s geogra-phies, 17 (1). pp. 67-81. 2009.
HONWANA, A. Innocent & Guilty. Child-Soldiers as Interstitial & Tactical Agents in De Boeck, F. & Honwana, A. (eds). Makers & Breakers. Children & Youth in postcolonial Africa. Oxford. James Currey. 2005.
JAMES, A. and PROUT, A. (eds). Constructing and Reconstructing Childhood. Contemporary issues in the sociological study of childhood. London. Routledge Falmer. 2001.
LOFORTE, A. “Street Children in Mozambique”. The International Journal of Children’s Rights 2. pp 149-168. 1994.
LOW, Setha. On the Plaza: The Politics of Public Space and Culture. Austin: Uni-versity of Texas Press. 2000.
MARTINS, Filipe. O Paradoxo das Oportunidades. Jovens, relações geracionais e transformações sociais – notas sobre Cabo Verde. Working Paper CRIA 4, Lis-boa. 2010.
MIESCHER, Stephen and Lisa LINDSAY. “Introduction: Men and Masculinities in Modern African History”, in Lindsay, Lisa and Stephen Miescher (eds). 2003. Men and Masculinities in Modern Africa. Portsmouth NH: Heinemann. 2003.
MORRELL, Robert and Lahoucine OUZGANE. “African Masculinities: An Intro-duction”, in Ouzgane, Lahoucine and Robert Morrell (eds.). 2005. African Mas-culinities. Men in Africa from the late nineteenth century to the present. New York:Palgrave Macmillan. 2005.
PAULO, M., ROSARIO, C. and TVEDTEN, I. “Xiculungo” Social Relations of Urban Poverty in Maputo, Mozambique. CMI Reports, Norway. 2007.
261
Andrea moreira
PHOENIX, Ann. “Youth and Gender: New issues, new agenda”. Young 5(3):1-19. 1997.
PIETILä, Tuulikki. “Body Politic: The Emergence of a “Kwaito Nation” in South Africa”. Popular Music and Society i:1-19. 2012.
PINK, Sarah. Doing Visual Ethnography. London: Sage Publications. 2007 (2001)
PINK, Sarah. Doing Sensory Ethnography. London: Sage Publications. 2009.
PHOENIX, Ann. “Youth and Gender: New issues, new agenda”. Young 5(3):1-19. 1997.
PYPE, Katrien. “Fighting boys, strong men and gorillas: notes on the imagina-tion of masculinities in Kinshasa”. Africa 72 (2): 250-271 . 2007.
SCHILDKROUT, Enid. “Inscribing the body”. Annu. Rev. Anthrop. 33:319-44. 2004.
SCHECHNER, Richard. Performance Theory. Taylor & Francis Group. 2003.
STEPHENS, Sharon. Children and the Politics of Culture in Late Capitalism. in Sharon Stephens (eds). Children and the Politics of Culture. Princeton Univer-sity Press . 1995.
TURNER, Victor. The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual. Ithaca, NY and London. Cornell University Press. 1967.
VALE de ALMEIDA, Miguel. “Gender, Masculinity and Power in Southern Portu-gal”. Social Anthropology 5 (2): 141-158. 1997.
WOLPUTTE, Steven Van. Hang on to your self: Of bodies, embodiment, and selves. Annu. Rev. Anthropol. 33:251-69. 2004.
Recebido em 01/10/2012Aprovado em 15/11/2012
Rappers Cabo-Verdianos e Participação Política Juvenil
Redy Wilson Lima1
ResumoNuma altura em que os jovens cabo-verdianos parecem estar de-sinteressados da vida política do país, levando alguns políticos a defender publicamente o voto obrigatório, o rap, quer seja na ver-tente pan-africanista quer seja na vertente gangsta, surge como forma de expressão política por excelência de uma juventude pe-riférica em busca de afirmação pessoal, social e identitária, numa sociedade marcadamente partida, em que a politica partidária é entendida como o principal recurso de ascensão social.Palavras-chave: juventudes, hip-hop, sociedade civil, participa-ção política, Cabo Verde
Cape-Verdeans Rappers and YouthPolitical Participation
AbstractAt a time when the young Cape Verdeans seem uninterested in the political life of the country, leading some politicians to publicly de-fend mandatory voting, RAP, whether the pan-africanist strand ei-ther in part gangsta, emerges as a form of political expression par excellence of a peripheral youth in search of personal affirmation, social and identity in a society markedly shattered, where partisan politics is understood as the principal resource for social mobility.Keywords: youths, hip-hop, civil society, political participation, Cape Verde
1 Sociólogo. Doutorando em Estudos Urbanos na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e no Instituto Universitário de Lisboa, investigador e professor assistente na Universidade de Santiago e no Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais.
264
RAPPERS CABO-VERDIAnOS E PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl
Numa altura em que os jovens cabo-verdianos parecem estar de-sinteressados da vida política do país, levando alguns políticos a defender publicamente o voto obrigatório, urge a necessidade de compreender a razão desse desinteresse, assim como a relação de promiscuidade existente entre os jovens, associações juvenis e o poder político, nomeadamente os partidos, e, consequentemente, a mútua instrumentalização existente entre esses atores.
Desta feita, partindo de uma pesquisa etnográfica em curso jun-to da população juvenil na cidade da Praia, com algumas visitas exploratórias às cidades de Assomada, Pedra Badejo e Mindelo, com o objetivo de perceber as dinâmicas e os circuitos juvenis, bem como as formas de afirmação pessoal, social e identitário dos jovens, pretendo, com este artigo, perceber de que forma os jovens cabo-verdianos se mobilizam para questões políticas.
A partir de incursões teórico-empíricos no mundo do hip-hop cabo-verdiano, tendo os rappers como sujeitos de pesquisa, pro-curo compreender, através de entrevistas semiestruturadas e observação participante, por um lado se a forma excessiva como os jovens foram institucionalmente programados pelo partido único nos anos de 1980 e apressadamente desinstitucionaliza-dos e reinstitucionalizados no advento da democracia, em 1991, repercutiu nas suas capacidades reflexivas, de modo a estrutu-rar a sua cultura política, tornando-os institucionalmente de-pendentes e, por outro, se o contexto de carência em que vivem influencia a sua consciência política.
Da castração da sociedade civil à ascensão da casta partidária A falta de consolidação de uma economia que estabeleça pa-râmetros mínimos de redistribuição de riqueza; a perceção de uma onda generalizada de corrupção institucional (Alvazzi del Frate, 2007); a segregação de oportunidades, sobretudo as oportunidades juvenis (Martins, 2010); e o agravamento da si-
265
Redy Wilson lima
tuação social do país, desigualdades, pobreza e violência urbana - poderão proporcionar algumas reflexões sobre a estruturação da cultura política dos cabo-verdianos, bem como uma avaliação do próprio processo de construção democrática. De certo modo, nos últimos anos, várias sondagens de opinião têm revelado um declínio acentuado de confiança dos cabo-verdianos em relação às instituições políticas, particularmente à classe política, assim como ao próprio sistema vigente.
No que concerne à população juvenil, nas vésperas das últimas eleições autárquicas, o jornal A Nação, na sequência da divulga-ção dos dados do último recenseamento eleitoral pela Comissão Nacional de Eleições, publicou uma reportagem dando conta do desinteresse dos jovens cabo-verdianos pela política, visto que, o registro de eleitores jovens tinha ficado aquém das expetativas.
Com a independência nacional, em 1975, houve a necessidade de se afirmar o país enquanto Estado-nação e fortalecer os laços de identidade nacional – garantir a unidade nacional e a coesão so-cial. Sendo assim, tornava-se forçoso criar organizações contro-ladas pelo partido que anulassem uma sociedade civil dinâmica, sobretudo a nível intelectual, proveniente do contexto colonial, por um lado, e assegurar uma continuidade ideológica através da instrumentalização política juvenil sob o prisma partidário, por outro. Partindo dessa premissa, foi posta em prática aqui-lo a que Cardoso (1993) chama de estratégia da destruição da autonomia da sociedade civil, visto que foi criada organizações de massa distribuídas por faixas etárias – OPAD-CV2 e JAAC-CV3, por sexo – OMCV4 ou por interesses profissionais – UNTC-CS5. Isto é, que abarcasse toda a sociedade.
2 Organização dos Pioneiros do Abel Djassi – Cabo Verde.3 Juventude Africana Amílcar Cabral – Cabo Verde.4 Organização das Mulheres – Cabo Verde.5 União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde – Central Sindical.
266
RAPPERS CABO-VERDIAnOS E PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl
Segundo Cardoso, o sucesso foi conseguido devido à agenda alie-nadora assente numa ideologia exclusiva, de natureza fascista, que sob o lema ‘criação de um homem novo’, buscava-se “criar um ser social completamente preso no universo ideológico do partido-Estado” (Cardoso, 1993, p. 185), procurando assim al-cançar uma certa apatia social e cívica, em que qualquer asso-ciação fora do alcance da bússola partidária era tida como uma afronta ao regime, catalogadas de trotskistas, antinacionais, ini-migos do progresso ou traidores do povo.
Os resquícios da institucionalização e da dependência da socie-dade civil são hoje evidentes. Ela se encontra bastante partida-rizada, tal como a própria administração pública e o Governo a apresenta como parceira na dinamização do desenvolvimento econômico e social e na aceleração da agenda de transformação. Évora e Costa (no prelo) são de opinião que a perceção positiva da sociedade civil, em Cabo Verde, poderá estar ligada à persis-tência de indicadores de promiscuidade política, prostituição in-telectual e mútua instrumentalização entre líderes das organiza-ções da sociedade civil e as estruturas político-partidárias, num contexto em que o Estado continua a ser percebido como um dos meios mais eficaz para se ascender económica e socialmente.
No entender de Cardoso, reforçado mais tarde pelas afirmações do ex-presidente do partido-Estado6, Aristides Pereira, em en-trevista a José Vicente Lopes (2012), a imposição de um igua-litarismo social tinha por base “disfarçar a sede de poder e os privilégios reais da clique dirigente, como para impedir a afir-mação pessoal dos indivíduos fora dos circuitos social e politi-camente aceitáveis” (Cardoso, 1993, p. 185). Salienta Cardoso que nesse processo, “critérios de seleção e ascensão social que valorizavam o mérito pessoal, a criatividade e a iniciativa eram
6 De 1975 a 1991, Cabo Verde teve um sistema de partido único, autoritário, em que o Partido Africano de Independência de Cabo Verde (PAICV) era o único partido político legal, confundindo-se com o próprio Estado.
267
Redy Wilson lima
subordinados ou neutralizados, em favor do grau do emprenho posto em secundar o partido nas suas relações com a sociedade” (Cardoso, 1993, p. 185).
No interior do partido-Estado havia divergências entre sensibili-dades ideológicas que Pereira (apud Lopes, 2012) explicou acu-sando os camaradas de ganância desmesurada e sede de poder de alguns dirigentes, que veio contribuir para a fulanização não só do partido-Estado como da própria sociedade.
As pessoas já não pensavam em mais nada senão no poder. Fulano é responsável do setor, ou coisa parecida, do parti-do, depois já está a pensar que tem que ir para o Conselho Nacional etc. A ganância de poder tinha-se apoderado de tal forma das pessoas que elas, nessa altura, perderam o senso comum (Lopes, 2012, p. 344).
Pereira (apud Lopes, 2012) entende que, nos finais dos anos de 1980 só a expressão “sociedade civil” assustava as pessoas, di-cussão que teve de ser retirada do III Congresso do PAICV, em 1988, da qual eram participantes os atuais dirigentes governa-mentais do país. Os jovens quadros do partido de outrora eram os mais renitentes à mudança e quem mais a expressão socieda-de civil incomodava.
Um jovem vai para o partido, não verdadeiramente por uma questão política, mas para fazer carreira, não só no partido mas depois no Estado e tudo o resto. Não podemos esquecer que o partido é que dominava tudo. A ideia com que fiquei é que essa gente já estava integrada nesse espírito. Vou fazer carreira e agora esses fulanos vêm com essa ideia que nos pode atrapalhar a vida. Portanto, para eles, o que convinha é que ficássemos na mesma. No partido único, e estariam tranquilos (Lopes, 2012, p. 344).
Este tipo de comportamento, constatado entre os jovens qua-dros, mas igualmente em alguns militantes vanguardistas, con-tém aquilo que Luz (2012) chama de inversão de tendência ne-gativa para a formação de castas no período pós-colonial, visto
268
RAPPERS CABO-VERDIAnOS E PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl
que, o acesso à organização está aberto a qualquer origem social, mas a confissão política assume a função de casta e regula com a mesma exclusividade o acesso ao poder.
A ascensão na organização, só podia ser sustentada pela reivin-dicação de um estatuto espacial que os afirmara como uma es-pécie de ‘iniciados’ e os distinguia como casta à parte, chamada de “melhores filhos do povo” (Cardoso, 1993, p. 189).
Para Cardoso (1993), a geração atual, a razão da revolução de Cabral7, corria o risco de vir sofrer com a ausência de modelos e referências positivas preconizadas pelo eudoutrimento político--partidário, o que os levaria a uma espécie de alienação profun-da. Num discurso por ocasião das festividades dos quinze anos da independência do país, segundo Cardoso (1993), a falta de diálogo entre as gerações e a aspiração juvenil manifestada pela inveja, é apontada pelo então Presidente da República como a subversão da dinâmica social e o perigo de desenvolvimento fu-turo do país. Processo esse que para o autor era o resultado da espoliação de valores com início no momento em que qualquer ação social, política ou cultural era situada recorrendo, ao siste-ma de valores do partido-Estado.
Breve contextualização teórica e formas de empoderamen-to juvenil
A juventude cabo-verdiana é quase sempre considerada como uma categoria homogênea, isto é, como uma unidade social do-tada de interesses comuns. Tal como afirma Bourdieu (2003), ao se fazer isso manipula a realidade, incorrendo ao erro de igno-rar o facto de apesar dos jovens se identificarem com outros na mesma faixa etária, identificam-se a si mesmos, também, como
7 Amílcar Cabral. Fundador do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), considerado o líder ideológico e o pai da nacionalidade de Guiné-Bissau e Cabo Verde.
269
Redy Wilson lima
pertencentes a classes sociais, a grupos ideológicos ou a grupos profissionais diferentes.
Para León (2005), é necessário pluralizar o conceito, ou seja, tratar essa população de forma heterogénea, visto que, existem diferentes juventudes.
Isso ganha vigência e sentido a partir do momento em que concebemos a categoria juventude como uma construção sociohistórica, cultural e relacional nas sociedades contem-porâneas, onde as intenções e esforços na pesquisa social, em geral, e nos estudos de juventude, em particular, têm estado focados em dar conta da etapa da vida que se situa entre a infância e a fase adulta (León, 2005, p. 10).
Fugindo às noções hegemônicas sobre juventude em Cabo Verde, é necessário construir um campo analítico que delimite as dimen-sões e variáveis que possam tornar mais claros o conhecimento empírico dessa camada populacional, que sirva de suporte na for-mulação de políticas públicas adequadas a esses sujeitos.
De pondo de vista metodológico, as estratégias de pesquisa social sobre a juventude, recorrendo ao uso de abordagens do tipo qua-litativo e centradas nas subjetividades juvenis, tem adquirido uma enorme importância (León, 2005), embora não ignorando as abor-dagens mais quantitativas. Invocando as estratégias de pesquisa qualitativa, se amplia o marco compreensivo, uma vez que, trans-formando o pesquisado em sujeito, se tem um maior aprofunda-mento analítico do seu quotidiano. A partir daí, se pode promover a interpelação aos contextos e estruturas sociais, bem como às ins-tituições. Do mesmo modo, podemos readequar ou modificar os ei-xos compreensivos das questões constitutivas da condição juvenil, através da abordagem a partir de uma leitura sociocultural (León, 2005), com destaque para os estudos sobre as culturas juvenis.
A definição da categoria juventude pode ser articulada em fun-ção das noções juvenil e cotidiano. A primeira nos remete ao
270
RAPPERS CABO-VERDIAnOS E PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl
processo psicossocial de construção de identidades e, a segun-da, ao contexto de relações e práticas sociais estruturantes.
A potência desta ótica reside substancialmente em ampliar a visão sobre o ator, incorporando a variável sociocultural à demográfica, psicológica ou a categorizações estruturais que correspondem às que tradicionalmente têm-se utiliza-do para sua definição (León, 2005, p. 14).
Desta feita, segundo León (2005), a variável vida cotidiana é a que define a experiência do período juvenil. Este olhar, segundo Reguillo (2000), citado por León (2005), permite evitar que se caia na armadilha das análises sobre a juventude que deixam, de um lado, sujeitos sem estruturas e, de outro, estruturas sem sujeitos. Igualmente permitem reconhecer a heterogeneidade juvenil a partir de diversas realidades cotidianas nas quais se desenvolvem distintas juventudes.
Das abordagens pós-modernas da juventude, destaca-se o con-ceito estilos de vida, proposta essa que apresenta-nos como solução de compromisso entre o que seria o determinismo que advém de uma localização social específica e o que pode ser en-carado como uma progressiva individualização, destituída, apa-rentemente, de ligação estável aos contextos sociais onde ocor-rem determinadas práticas (Simões, 2010). A novidade desta abordagem está na sua possibilidade de identificação de estilos de vida propriamente juvenis.
Na trajetória de socialização que vivenciam os jovens desde sua infância até a autonomia pessoal, vêem-se mergulhados simultaneamente a um sem-número de contextos culturais e redes de relações sociais preexistentes – família, amigos, companheiros de curso, meios de comunicação ideologias, partidos políticos, entre outros – dos quais selecionam e hierarquizam valores e ideais, estéticas e modas, formas de relacionamento ou convivência e vida, que contribuem para modelar seus pensamentos, sua sensibilidade e seus com-portamentos (León, 2005, p. 15).
271
Redy Wilson lima
Juntamente a estes espaços da vida cotidiana, que estruturam a subjetividade juvenil na busca de uma identidade individual e geracional, as novas tecnologias geram modos de participação mais globais que introduzem os jovens em uma nova experiên-cia de socialização distinta da familiar e escolar (León, 2005).
Estas novas definições devem ser levadas em conta pelos pensa-dores das políticas públicas, caso contrário tomam-nos como gru-pos homogêneos, acabando por impor a sua visão na elaboração e execução das políticas para os jovens, que acabam por criar aquilo que Pais (2005) chama de lógicas de linearidades que nem sem-pre se ajustam às trajetórias não-lineares dos seus cursos de vida.
Em matéria de estudos socioantropológicos sobre a juventude cabo-verdiana, tem surgido, nos últimos cinco anos, pesquisas sobre dinâmicas protagonizadas pelos jovens (Barros e Lima, no prelo; Bordonaro, 2010; Cardoso, 2012; Lima, 2012a, 2012b e 2010; Martins, 2010 e 2009; Roque e Cardoso, 2008), permitin-do um conhecimento mais amplo sobre essa nova geração glo-balizada, fugindo aos costumeiros estudos encomendados por instituições públicas que tutelam essa camada populacional, que tendem a apresentar a questão juvenil como um população de risco, destituídos de uma agencialidade.
Em Cabo Verde, a abertura democrática, em 1991, permitiu que os jovens construíssem um novo lugar social, um lugar de reivindicação, se bem que confuso. Logo, em 1992, reagindo às políticas educativas do então governo, os estudantes do Liceu Domingos Ramos e da Escola Secundária da Achada Santo An-tónio reagiram de forma organizada, estagnando as atividades educativas durante todo o dia, numa clara demonstração de for-ça. Nos anos seguintes, as reivindicações dos estudantes torna-ram-se constantes e mais violentas, fazendo com que a Polícia de Intervenção Rápida (vulgarmente designada de Polícia de Cho-que) saísse à rua tentando controlá-los, sobretudo nas violentas manifestações estudantis no ano de 1994, tendo sido a primeira
272
RAPPERS CABO-VERDIAnOS E PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl
vez em que a juventude foi utilizada como arma de arremesso político no país democrático. No ano 2000, os protestos estu-dantis voltaram desta vez contra as provas de acesso ao ensino superior, embora não tão violentos como as que o procederam.
Convém lembrar que uma das maiores forças do partido-Estado era a sua capacidade de anestesiar os jovens recorrendo a es-paços de disciplina e controlo, como no caso das organizações juvenis de massa. A educação era usada como arma ideológica na instrumentalização partidária das crianças e jovens, através da introdução de manuais escolares do ensino básico com con-teúdo ideológico do PAICV (Évora, 2004), o que facilitava o re-crutamento para as organizações juvenis e garantia a alienação político-partidária dos mais novos, por conseguinte uma supos-ta vitória final da “democracia nacional revolucionária e de par-ticipação cívica” (Cardoso, 1993, p. 183) controlada.
Os recentes episódios de violência de rua protagonizados por alguns jovens, inicialmente na cidade da Praia e, posteriormen-te, no Mindelo8, podem ser entendidos como uma nova forma de manifestação de descontentamento e de reivindicação social por parte de uma camada de população sedenta por espaço político numa sociedade em que o acesso aos recursos são limitados e controlados por uma minoria com objetivos de conservar o po-der social e simbólico adquiridos.
Percebendo isso a partir de pesquisas etnográficas iniciadas em 2007, junto de crianças e jovens em situação de rua, na cidade da Praia, Bordonaro (2010) afirma que o uso da violência por parte dos jovens é uma forma de empoderamento (social, pessoal e econômico), que de outra forma seria dificilmente conseguido, visto que estes jovens se encontravam aprisionados na estrutura de segregação e de marginalização vigentes.
8 Os meses de Dezembro de 2009 e Janeiro de 2010 foram marcados por vários assassinatos nessas duas cidades, tendo os ajustes de conta entre grupos juvenis como pano de fundo.
273
Redy Wilson lima
Considerando verdadeira tal afirmação, entendo o recurso parti-dário como uma outra forma de empoderamento (social, pesso-al e econômico), sobretudo por parte dos jovens mais próximos do centro, no sentido de proximidade ao espaço simbólico em que o poder está representado. Na entrevista concedida a Lopes, Pereira afirma que “seja o PAICV, seja o MPD9 no poder, há pes-soas que vêem nos partidos uma forma de singrarem na vida. O carreirismo e o oportunismo estão acima dos regimes políticos” (Lopes, 2012, p. 350-351). Isto é, cada um recorre aos recursos disponíveis conforme as posições dispostas no espaço social e, cada um, conforme as suas possibilidades, segue os valores so-cialmente estabelecidos como superiores.
Buddha, MC dos República, é de opinião que os jovens ao entra-rem nas estruturas juvenis do partido perdem a sua identidade, uma vez que se tornam “yes man, sempre disponíveis na espe-rança de um dia, quando o partido chegar ao poder conseguirem um bom cargo.” Ser yes man pressupõe concordar com a agenda do partido, mesmo não estando de acordo, com medo de não conseguir o tal almejado cargo que trará benefícios tanto econô-micos, quanto socias, num futuro hipotético. Quando não o faz, as consequências podem ser nefastas.
“Olha o que está a acontecer com o Medina… querem o li-xar no partido apenas porque resolveu mandar umas bocas contra. E as pessoas do partido não o querem compreender e acham que ele tinha de dizer sempre tudo bem, mesmo tendo consciência que está mal” (Batchart, Hip Hop Art).
Jovens e oportunidades sociais
Em termos dos indicadores demográficos, económicos e sociais, a população cabo-verdiana é muito jovem, uma vez que, o grupo
9 Movimento para a Democracia. Partido vencedor das eleições em 1991, com a abertura democrática.
274
RAPPERS CABO-VERDIAnOS E PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl
de idade até os 24 anos representa 54,4% da população total (INE, 2011). Segundo os dados do INE de 2005 (DECRP, 2008), a pobreza afeta em 48% a faixa etária dos 15 aos 24 anos, corres-pondendo a 38% da população economicamente ativa.
Segundo Fortes (2011), apesar da taxa bruta de escolarização no ensino secundário ser bastante alta (78%) e os que não consegui-rem terminar o ciclo escolar ter no ensino profissional uma opor-tunidade de formação, a inserção no mercado do trabalho tem sido um problema. Aliás, em relação ao emprego juvenil, a taxa de ocupação no grupo etário dos 15-24 anos é de 32,4%, com uma taxa de 38,2% nos homens e 26,3% nas mulheres (INE, 2011), o que faz da juventude, um dos segmentos da população mais pre-judicada pelo desemprego, visto que, 21,3% da faixa etária dos 15 a 24 anos encontram-se desempregados10 (INE, 2011), atingindo mais as mulheres, com uma taxa de 25,5% (INE, 2011).
As incertezas de conseguir um emprego estável, não obstante os investimentos escolares empreendidos, remetem os jovens a uma situação sentimental que varia entre aspirações e frus-trações. Essas frustrações devem-se à incapacidade de o acesso ao mercado de trabalho cada vez mais segmentado, controlado, muitas vezes, por uma rede de compadrio, de familiares, de ami-zades sexuais e de militância política.
Tem sido recorrente o discurso iniciado em 2009, pelo então Mi-nistro da Juventude e Desporto, Sidónio Monteiro, de que nunca houve tantas oportunidades para os jovens em Cabo Verde, mas não o querem aproveitar porque estão interessados em fazer outras coisas. Evidentemente que o discurso do jovem perigoso,
10 Em 2011 o INE mudou o cálculo que tinha sido usado para medir a taxa de desempre-go, apresentando em 10,7%, tendo sido por isso alvo de muitas críticas de vários secto-res da sociedade, visto que argumentava-se que o objetivo era meramente eleitoral e não se adequava à realidade cabo-verdiana. Convém lembrar que em 2008, três anos antes dessa mudança, no Documento de Estratégia de Crescimento e de Redução da Pobreza (DECRP) a taxa do desemprego corresponderia a 48% na faixa etária dos 15-24 anos.
275
Redy Wilson lima
preguiçoso, desordeiro e irresponsável não é novo e em Cabo Verde advém da época colonial. Novo é o discurso de culpabiliza-ção da juventude pelas altas taxas do alcoolismo e toxicodepen-dência existentes no país, bem como do aumento da violência de rua. Falsa ou não, estas acusações acabam por consolidar ainda mais o mal-estar juvenil no país, especialmente numa conjun-tura em que acusações de nepotismo chegam a conhecimento público, atingindo dirigentes político-partidários jovens, per-tencentes a grupos dominantes.
Martins (2010 e 2009), a partir de uma pesquisa etnográfica sobre a juventude cabo-verdiana na cidade do Mindelo, constata a exis-tência de contradições entre os jovens e os profissionais que traba-lham com esse segmento da população. Tais contradições podem ser entendidas como resultado das discrepâncias entre os padrões estandardizantes de planificação por parte das instâncias controla-doras e as trajetórias desestandardizadas dos jovens (Pais, 2005).
Por parte dos rappers, quer sejam gangsta, pan-africanistas, simpatizantes do PAICV, MPD ou apartidários, estas oportuni-dades encontram-se segmentadas e não se vislumbra nenhuma política pública adequada para os jovens.
Os sucessivos governos têm falhado nessa matéria e juven-tude é desenvolvimento… e todos os problemas que temos hoje de gangues, violência baseada no género, kasu bodi11 é devido a ausência dessa política ao longo dos anos… não quero com isso vitimizar a juventude, mas pensa por exem-plo na política habitacional, em que um jovem recém-for-mado como eu, pensar em ter casa própria é uma utopia. Nas outras ilhas tens jovens que jamais irão conseguir sair da casa dos seus pais, porque chega na idade em que está sexualmente ativo, faz um filho e o seu filho é criado na casa dos pais. Não consegue sair dali porque o emprego, se tiver, não lhe dará rendimento suficiente para pagar uma renda. […] Sem falar a guilhotina que é do empréstimo universi-tário, que o jovem ao terminar o curso terá de pagar cerca
11 Do inglês cash or body.
276
RAPPERS CABO-VERDIAnOS E PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl
de 40 mil escudos mensais, num país em que um técnico superior ganha na administração pública 53 mil escudos mensais (Batchart, Hip Hop Art).
Job for the boys é algo que sempre teve em Cabo Verde, só que agora fala-se mais. […] E se repares é algo muito am-plo. Fui à escola com o teu pai, os nossos filhos estão cres-cidos… somos camarada, o meu filho chegou do curso, olha para ele… isto faz parte da história cabo-verdiana. Vai-se reproduzindo e fica sempre quem tem melhores condições nos melhores lugares. Mas isto não quer dizer que filhos dos pobres não vencem. Vendo bem, a maior parte daque-les que hoje tem estatuto social em Cabo Verde vieram de lares pobres e a maioria do interior. Agora obviamente que a questão partidária ajuda e os jotas são um bom começo (Buddha, República).
Se vermos bem, diria, que oportunidades até existem, em-bora pouco. Chegas agora ali na Achada Grande Trás e en-contras a maioria dos jovens desempregados e dizes como é possível, tantos jovens sentados num único bairro. Oportu-nidades nada. E falo de jovens com o décimo segundo com-pleto… oportunidades talvez até existem, mas para conheci-dos (J.Rex, Wolf Gang).
Descoletivização social e a influência da cultura hip-hop nas identidades juvenis
Poder-se-á dizer que a liberalização económica, nos finais de 1980, seguida da liberalização política, no início dos anos de 1990, trouxe avanços importantes para um segmento popula-cional, enquanto, a maioria, foi relegada ao segundo plano, sen-do obrigada a buscar vias alternativas de sobrevivência, de afir-mação pessoal e social.
Como recorda Hespanha (2005), o capitalismo funciona como uma enorme máquina de exclusão exercendo uma triagem sis-temática entre as camadas sociais, visto rejeitar tudo o que não pode integrar na sua lógica. Essa ideia é reforçada por Innerarity
277
Redy Wilson lima
(2011) quando afirma que existe uma tendência excludente nas sociedades do capitalismo tardio.
A passagem de um sistema de produção estatista – centralizador – para um sistema de produção capitalista tardia – desregulamen-tado – acarretou profundas modificações sociais no país. Mais, ainda, com a agenda de reforma económica adotada a partir das orientações do Banco Mundial (BM) e do Fundo Monetário Inter-nacional (FMI). A reestruturação económica, que catapultou o ar-quipélago para um crescimento económico acima da média (cerca de 8,4 de média anual), fez com que a desigualdade na distribui-ção do rendimento disparasse, uma vez que o Índice de Gini12 au-mentou de 0,43, em 1989, para 0.59, em 2002 (INE, 2002).
De ponto de vista ideológico, a passagem inclinada de um sistema leninista-marxista (coletivista) para um sistema neoliberal (in-dividualista) passou a ideia de que a sociedade civil estaria livre dos mecanismos de repressão do aparelho do Estado. Embora a sociedade civil tenha passado a se manifestar sem receio de re-presálias institucionais, o fez de forma confusa, quase sempre no bojo dos partidos, ainda que tentando rejeitar todos os tipos de verdades oficiais, não se dando conta que, ingenuamente, repro-duzia uma nova verdade oficial, que foi consolidando aquilo que Amin (2011) denomina de farsa democrática. Ou seja, a substitui-ção da casta anterior para uma nova, em que os novos senhores detinham não o status de libertadores da pátria, como aconteceu nos anos de 1970, mas sim o status de democratas, legitimados pela ideia de terem resgatado a pátria do totalitarismo da esquer-da e instalado um “verdadeiro” Estado Democrático.
Porém, para que esta ideia se efetivasse e consolidasse, a marca ou o legado socialista teria de ser apagada da sociedade cabo--verdiana. Isto é, era necessário reescrever a história de forma a
12 O Índice de Gini indica o grau de desigualdade na distribuição dos rendimentos (ou do consumo) no seio duma população. Vai de 0 a 1 e tende para 1 quando as distribuições são muito desiguais e para 0 quando são menos.
278
RAPPERS CABO-VERDIAnOS E PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl
legitimar uma nova verdade. Tal e qual aponta Cardoso (1993), quando descreve as estratégias de dominação ideológica dos “combatentes di mato”, nos anos de 1980, a nova estratégia dos democratas passava por uma nova revisão da história, colocan-do o discurso da segunda libertação popular, na ordem do dia.
Deu-se então início a uma descoletivização social desplanifica-da, ressocializando à pressa os jovens, embora sem um modelo de referência, obrigando-os, a buscar novos símbolos de identi-ficação. Novas instituições juvenis foram criadas, teoricamente impulsionadores do livre arbítrio juvenil, mas na prática uma extensão das experiências anteriores, só que em novos moldes.
Neste quadro social, pela ausência de um modelo de referência institucional, a nova geração encontra nos grupos de pares os únicos agentes reprodutores de referência, com a ausência da figura de Cabral, que fora a referência da geração anterior. Os gangsta rappers13 surgiram como subterfúgio, cujo estilo foi ra-pidamente importado e incorporado ao cotidiano juvenil.
Primeiro rapper que ouvi e me influenciou foi o DMX. Ouvia trarabu14 e alguns outros, mas que me marcou foi o DMX. Iden-tifiquei-me com o ritmo e cantava. […] Vi aquele black igual a mim a dar flow e identifiquei-me. Só mais tarde comecei a ou-vir outros com melhores conteúdos (Kumbaa, Pompa Preto).
Gostava da maneira de ser do 2 Pac, embora ele era muito re-belde… 2 Pac era um ativista, dava a cara pelos negros, BIG era mais hustler. Ouvi muito 2 Pac na minha infância… mas Gabriel, O Pensador, também me influenciou (Buddha, República).
A maioria dos rappers cabo-verdianos foi influenciada pelo rap americano, mais concretamente o estilo gangsta, que os levou a
13 Gangsta rap um subgénero do rap que tem como característica a descrição do dia-a-dia violento dos jovens negros desafiliados das grandes cidades norte-americanas. 14 Designação para rap comercial, sem qualquer mensagem tido como positivo pelos au-toproclamados rappers conscientes.
279
Redy Wilson lima
serem responsabilizados pelo aumento da violência de rua, mais concretamente na cidade da Praia. Outros foram influenciados pelo rapper brasileiro Gabriel, O Pensador, que inclusivamente es-teve em Cabo Verde nos anos de 1990. Ao contrário daqueles que começaram a cantar nos anos de 1990, os chamados old school do rap cabo-verdiano, tiveram alguma influência do rap americano, mas também pelo chamado rap lusófono, inicialmente conhecida sobretudo pela programação da RTP África, mas hoje facilmente acedido pela internet, um dos veículos mais importante na divul-gação do rap atual, tanto do que se faz em Cabo Verde, quanto além-fronteiras por cabo-verdianos e/ou seus descendentes.
Se realmente comecei a ouvir o rap americano foi no ano de 1999/2000/2001, altura em que conheci o Ex-Pavi. […] Eu e o 4ARTK ouvíamos muito o hip-hop lusófono. Não os old school, que na altura éramos muito novos, mas tipo o Boss AC, o Vale-te… no programa Solstício da RTP África. […] O rap americano veio depois num formato tipo Wu Tang Clan. Não apanhamos a febre 2 Pac no Mindelo (que influenciou os rappers dos anos de 1990), mas acabei por vir estudar as suas músicas mais tarde, embora não tenho muita influência do rap americano, até por-que não entendia as letras (Batchart, Hip Hop Art).
Observando a cartografia da estética urbana dos países da África Ocidental, Mbaye (2011) considera que o hip-hop encontrou ali um contexto político, cultural e econômico ideal para se tornar numa expressão musical emergente, uma vez que os jovens es-tavam desiludidos com a governação, perante altos índices de desemprego. O hip-hop foi percebido como a maneira objetiva e alternativa que os jovens tinham de reivindicar os seus direitos.
Mais ao Sul, segundo Magubane (2006), é na apropriação da cul-tura afro-americana que os jovens negros sul-africanos vão se reformulando, articulando as críticas e buscando respostas para reestruturação das suas vidas. Poder-se-á dizer que o rap possibi-litou a emergência das invisibilidades sociais, na medida em que, tal como Rose (1994), citado por Magubane (2006), argumenta que a música rap é a estética responsável por tornar visível o mal-
280
RAPPERS CABO-VERDIAnOS E PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl
-estar urbano nas sociedades pós-industriais americanas, por um lado, assim como por permitir aos jovens negros guetizados criar uma forma de resposta à pobreza e à opressão a que estavam su-jeitos, tal como o desemprego, a brutalidade policial, as guerras ligadas ao narcotráfico e a violência dos gangues (Kelley, 2006).
É de salientar que o hip-hop, enquando um fenómeno pós-co-lonial (Prévos, 2001), transnacional (Kelley, 2006), glocalizado (Simões, 2010), transcultural e transurbano (Mbaye, 2011), fez emergir nos jovens dos centros urbanos africanos, em geral, e ca-bo-verdiano, em particular, identidades reflexivas e reflexivida-de estética (Pais, 2007), na medida em que reorientaram as suas identidades consoantes a sua condição social, condicionado pela modernidade impositiva (Pais, 2007), mas buscando responder a partir de uma reflexividade transformadora (Pais, 2007). Ou seja, em contextos de desigualdades, os jovens buscam identifi-car-se com estéticas performativas urbanas outsiders15, mesmo sendo percebidos inicialmente como culturalmente estranhos ao seu universo, mas com capacidades atrativas globalizantes. Deste modo, tal e qual nos outros países africanos, em Cabo Ver-de foram apropriados dois estilos identitários do hip-hop, apa-rentemente distintos. O estilo pan-africanista e o estilo gangsta.
O hip-hop surgiu no início dos anos de 1970, no South Bronx (EUA), como uma linguagem expressiva multiforme (visual, so-nora, gestual), num contexto pós-industrial, de desindustriali-zação e reestruturação social e econômica da sociedade norte--americana. Surgiu como uma espécie de cultura de resistência dos oprimidos (Simões, 2010) ou um contra-discurso dominan-te dos jovens negros marginalizados.
O gangsta rap, subgénero do rap que promove a violência e a misoginia, exalta a vida no gueto, romantiza a atividade dos gan-
15 Parto da ideia de que os hip-hoppers, no processo de construção identitária, procuram identificar-se com estéticas desviantes do padrão dominante.
281
Redy Wilson lima
gues, aclama o tráfico de drogas e apresenta a mulher ora como objeto de desejo ou troféu, ora como motivo de depreciação. Na sua origem16, no South Central, Costa Oeste dos EUA, para além de vangloriar o gangsta style, denuncia a violência estrutural e simbólica, principalmente a protagonizada pela corporação po-licial. Deste modo, convém não considera-lo como um movimen-to homogêneo, porque existe uma outra variante que produz uma representação crua da realidade, politicamente incorreta, da vida do gueto, sem, contudo, uma carga ideológica aparente, mas com alcance político evidente, na medida em que contesta a sociedade dominante através de relatos marcados por experi-ências individuais ou de grupo, que incorporam um conjunto de dificuldades associadas à sobrevivência em contextos marcados pela pobreza e violência. Para Simões (2010), embora o discur-so do gangsta rap seja manifestamente niilista e aparentemente desideologizado, diferente do rap mensagem, politicamente en-gajado, poder-se-á considerar o gangsta rap também uma forma cultural de manifestação política.
Poder-se-á considerar que o rap cabo-verdiano desenvolveu--se em 4 fases. A primeira, nos finais do ano de 1980, no seio de jovens dos grupos dominantes, nos dois maiores centros do país, Praia e Mindelo, em formato do break dance ou b-boying, em que a nova vaga performativa afro-americana foi transferida ipsis verbis para o contexto cabo-verdiano. A segunda, mais ou menos na metade dos anos de 1990, muito influenciada pelos beats caribenhos – enquanto no Mindelo as mensagens já conti-nham alguma consciencialização social, se calhar por influência dos chamados rappers conscientes ou positivos, uma caracte-rística mais afrocentrista, na Praia, o rap festa era mais eviden-te. A terceira, no início dos anos de 2000, já territorializada na periferia, mais gangsta, associado à violência de rua, uma vez que reproduzia a violência dos guetos americanos nos bairros
16 Foi criado na segunda metade dos anos de 1980 por Ice T, glorificado pelos NWA (Nig-gaz With Attitude) e mundialmente popularizado por 2 Pac nos anos de 1990
282
RAPPERS CABO-VERDIAnOS E PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl
da capital do país. A quarta, em finais da década 2000, mais pan--africanista e decididamente afrocentrista, utilizando samplers de artistas e músicas populares cabo-verdianas, influenciado em grande parte pelo ativista e comunicador da rádio Kadamawe, segundo o qual, percebeu rapidamente que o rap poderia ser um ótimo veículo de difusão de mensagens africanistas, visto que os jovens estavam cada vez mais a aderir a ela. Embora se tenha de-senvolvido dessa forma, nos dias de hoje encontramos rap cabo--verdiano a versar sobre conquistas femininas, a falar de África, das festa ou das atividades dos gangues. Digamos que hoje não existe uma variante dominante, havendo casos em que um gru-po apresenta num único mixtape todos os elementos das 4 fases.
Não há dúvidas sobre a origem do rap, elemento oral do hip-hop, descendente direto do griot17, transportado nos barcos negrei-ros para as plantações das américas. Hoje ela representa um negócio de multibilhões de dólares americanos que permite o EUA influenciar milhões de pessoas em todo o mundo, a partir da sua transformação em propaganda ideológica de dominação modernista, bem como a exportação da misoginia e da violência (Abu-Jamal, 2006).
Appadurai (2000), segundo Magubane (2006), diz que é preciso questionar de que cultura falamos quando afirmamos que o EUA é um exportador de cultura, que se tornou virtualmente uma re-ferência de segunda cultura em todo o mundo, já que aquele país é multiétnico. Nesta mesma linha, Gilroy (1993) considera a cul-tura negra como uma contracultura da modernidade presente nas Américas, na Europa e na África. Para esse autor, o legado histórico da escravidão é a razão central pelas quais as realiza-ções intelectuais e culturais das populações da diáspora negra existem apenas parcialmente dentro da grande narrativa do Oci-dente. Portanto, por isso, Magubane é de opinião que o rap é um
17 Contadores de estórias originários da África Ocidental. Considerados sábios da comunidade que através de suas narrativas passam de geração a geração as tradições dos seus povos.
283
Redy Wilson lima
bom exemplo de como uma arte pode ser exibida numa dupla tendência em relação à modernidade ocidental.
Por um lado, a música rap celebra o individualismo, chau-vinismo racial, consumismo, capitalismo e dominação se-xual – valores fundamentais que moldaram a trajetória da modernidade e seus frutos amargos, particularmente para as pessoas de cor. […] Por outro lado, a música rap também forneceu uma poderosa crítica à modernidade ocidental (Magubane, 2006, p. 210).
Em Cabo Verde, como em qualquer outro país africano, a importa-ção e o consumo da cultura americana via rap trouxe mixada no seu bojo ambas as tendências, contribuindo dessa forma para uma in-digenização18 (Magubane, 2006) da cultura juvenil cabo-verdiana.
Democracia e participação política juvenil
O conceito da desconsolidação democrática permite avaliar a saúde democrática de uma nação, dando conta do processo pelo qual as instituições públicas são usadas a partir de interesses privados (Baquero, 2001). Não pretendendo utilizá-lo da forma como normalmente é apresentado na literatura especializada, como um processo em que os poderes e os interesses econômi-cos utilizam os poderes políticos e as instituições democráticas para conservarem a sua dominação e seu regime de enriqueci-mento, com legitimidade e eficácia. Mas, percebendo as dinâ-micas de poder em Cabo Verde, uso a ideia para dar conta da forma como as instituições públicas e os partidos políticos são utilizados pelos interesses individuais e familiares para, de for-ma legitimada e eficaz, não só conservarem a sua dominação e seu regime de enriquecimento, bem como para apropriarem-se indevidamente da coisa pública.
18 Processo pelo qual os sujeitos da segunda geração de cidadãos nacionalistas pós-inde-pendentes identificam o retorno dos valores nativos de um país descolonizado, ou seja, o resurgimento de valores nativos que se oponham aos valores ocidentais (Magubane, 2006).
284
RAPPERS CABO-VERDIAnOS E PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl
Segundo Baquero,
Pensa-se que uma democracia se consolida meramente pela sua capacidade de sobreviver a atentados contra a sua insti-tucionalidade. O que constatamos no Brasil contemporâneo é que a democracia está se sustentando, mas suas institui-ções, longe de se consolidarem, estão cada vez mais subme-tidas aos interesses privados dos setores privados (Baque-ro, 2001, p. 2001).
Schmitter, citado por Baquero, faz uma avaliação sobre as demo-cracias latino-americanas e conclui que:
Apesar das instituições funcionarem anti-democraticamen-te com governos que não governam, parlamentos com mais representatividade privada do que política, eleições que elegem candidatos mas não os legitimam, instituições po-líticas que servem para o linchamento político e vinganças privadas, dão lugar a uma desordem democrática capaz de desordenar qualquer ordem e ordenamento social, mas que paradoxalmente, são naturalizadas por toda a sociedade (Schmitter, 1994, citado por Baquero, 2001).
Mesmo sendo a definição de uma realidade exterior, ela aplica-se em parte à realidade cabo-verdiana. São vários os exemplos no-ticiados dando conta de situações de aproveitamento institucio-nal para com benefícios individuais ou familiares. Para Baquero, uma das consequências da desordem democrática “é a ideia de que uma alternativa aos défices de representação política seria a maior participação política e, ignora-se, no entanto, que a par-ticipação requer uma melhoria da própria representação, o que em realidade não ocorre” (Baquero, 2001, p. 101).
Para além das peculiaridades do ser cabo-verdiano, isto é, da mora-beza19 cabo-verdiana de que nos fala Pina (2006), tal como referi-
19 Entendida como uma categoria social que melhor caracteriza e identifica o cabo-ver-diano – cordial, hospitaleiro, urbano, cosmopolita, democrático, etc.. Sobre este assunto ver Pina, 2006, pp. 73-90.
285
Redy Wilson lima
do no início deste artigo, as privações sociais estruturam a cultura política dos cidadãos, relegando-os à mercê dos apetites vorazes dos políticos e ativistas partidários. Se analisarmos o défice demo-crático e o défice de representação democrático em Cabo Verde a partir de uma perspetiva socio-histórica, perceberemos os condi-cionantes que impedem o desenvolvimento real da democracia ca-bo-verdiana. Se por um lado, o modelo econômico e político vigente tem possibilidade de criar riqueza, por outro, fruto do seu cunho neoliberal, constata-se, simultaneamente, um crescimento de ex-clusão social e pobreza, sobretudo a pobreza urbana (INE, 2010), transformando a sociedade cabo-verdiana. A representação políti-ca ao invés de defender as necessidades do povo, defende apenas os interesses individuais e familiares das elites.
Perante este cenário, com naturalidade os rappers se posicionam no lote dos grupos sociais que não acreditam na democracia.
Democracia, se formos na raiz da palavra significa poder do povo. É feito pelo povo, é o povo quem manda e quem decide. Encontras uma grande contradição no sistema cabo--verdiano, porque estamos num sistema representativo, em que o povo vota na escolha dos seus representantes e o pro-blema disso é que quando analisares bem, a classe mais pri-vilegiada no sistema político desta sociedade não é o povo. A classe mais privilegiada é a elite ou a classe governante, porque estão a usufruir do poder transmitido pelo povo, mas não estão a retribuir essa transferência. É o povo que os está a servir e não o contrário. Se o sistema democráti-co estaria a funcionar bem não teríamos tanto desemprego, tanta violência juvenil, falta de valores […] A democracia está a caminhar para um campo falacioso (Anon-rá, FARP).
A questão da liberdade de expressão é também apontada pelos rappers entrevistados como um indicador da farsa democrática, ainda mais depois que algumas músicas com mensagens mais corrosivas terem sido censuradas nas rádios públicas e privadas, assim como na televisão. Em 2010, Ex-Pavi, um dos MC’s dos Hip Hop Art diz que a música “NovaOrdeMundial”, do álbum “Raiz
286
RAPPERS CABO-VERDIAnOS E PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl
& Kultura” foi ser censurada pela televisão nacional, por alega-damente aparecer no vídeo a carregar uma cruz gigantesca. A imagem foi oficialmente considerada de má qualidade.
Mais recentemente, Batalha, MC principal dos Sindykatto de Guetto, viu o vídeo “Noz Morabeza”, do álbum “Golpe di Stadu II” ter o mesmo destino que o do Ex-Pavi, por parodiar sobre o narcotráfico, o enriquecimento ilícito, a corrupção e chamar o primeiro-ministro de mentiroso e demagogo.
Aqui existe uma falsa democracia. Uma democracia que vai até onde certos assuntos não for tocada. Há dois tipos de censura: há uma censura do tipo dizeres palavrões e a fica-res mal visto e há aquela que tem a ver com ideias. Lembro--me quando lancei o mixtape ‘Ken Ke Buddha’, havia ali uma música de nome ‘Nha Povo Nhos Corda’ e o gajo da rádio telefonou-me e disse que tinha interesse em tocá-la na rá-dio. [...] Perguntei se é mesmo essa música que ele queria to-car e ele disse que sim porque é tipo nosso povo acordem e queria tocá-lo logo de manhãzinha. Mas acho que não tocou muito, porque a música começa nosso povo acordem que trago aquela realidade censurada, aquela verdade que sabes que é verdade mas metes a cara de lado… […] És censurado no trabalho, no corredor do Estado. Há pessoas desconten-tes mas ficam calados com medo para não perderem o tra-balho. São os yes man. (Buddha, República).
Devido à cultura da necessidade, muitos jovens tem chantageado os partidos, trocando o seu voto por migalhas, chegando ao pon-to de venderem o bilhete de identidade por mil e 500 escudos, caso denunciado publicamente por vários políticos. Obviamen-te que foram os políticos e os ativistas, que usando a estrutura partidária, criaram este mercado eleitoral, que agora os assusta.
A participação política juvenil, tanto por parte dos jovens dos centros, como parte dos jovens das periferias, jogam o jogo elei-toral tentando tirar o máximo proveito possível, encarando as campanhas como um grande casino, onde quem tem mais skills e sorte tira os melhores proveitos.
287
Redy Wilson lima
Participação dos jovens do gueto na vida política é tipo, che-gando o tempo da eleição, forma-se aquele grupo de ativis-tas, integra-se um partido político e passando isso acabou, voltando a agrupar-se na próxima eleição. […] Mobilizam-se por causa do dinheiro. Vão porque recebem. Se não fosse pago de certeza não estariam ali. As pessoas não identificam com os partidos políticos ideologicamente. Nem conhecem o objetivo político do partido para quem trabalham, muito menos saber se identifica com o seu estilo de vida (Batalha, Sindykatto de Guetto).
Uma outra crítica costumeira dos rappers tem relação com a postura dos jotas, acusados de seguirem a agenda dos mais ve-lhos, incapazes de se impor perante os vanguardistas do partido. Aliás, as constantes interferências dos seniores, trazidas a públi-co pela comunicação social nos bastidores das campanhas dos jotas, é sintomático a esse respeito.
Jovens que entram na política, nos partidos, não entram com uma ideologia consolidada, trazendo algo de novo. Chegam e seguem a ideologia antiga e nada muda, sai um entra outro, durante quatro anos. Isto quer dizer que não se conseguem impor. Ainda estamos perante ideologias de vinte, trinta anos. (J.Rex, Wolf Gang).
A perceção dos rappers, de que os políticos fazem dos partidos um lugar de carreira, é também criticada:
Vês um dinossauro a fazer carreira na política. Lembras--te de ver a sua cara na parede do jardim-infantil quando eras criança, vais para o liceu e começas a votar e ainda ele está lá, mais tarde morre politicamente e dão-lhe um cargo numa empresa pública (Batchart, Hip Hop Art).
A instrumentalização dos rappers pela máquina de guerra dos partidos despoletou uma acerada discussão no ano de 2011, revigorando a luta simbólica de autenticação no campo do rap, entre os autoproclamados rappers conscientes e os tidos como rappers comerciais, que no passado desterritorializou-se do campo lírico para o espaço físico. A discussão centrou-se num
288
RAPPERS CABO-VERDIAnOS E PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl
evento realizado às vésperas das eleições legislativas de Feverei-ro, quando dias antes da comemoração de mais um aniversário da morte de Amílcar Cabral, alguém ligado ao PAICV lembrou de organizar às pressas um concerto em homenagem ao herói na-cional. Uns, ingenuamente, vendo no evento uma possibilidade de se fazer notar, quiçá de gravar um cd coletivo ou de fazer um tour pelas ilhas, como chegou a ser prometido pelos promotores do evento, ou ainda ganhar algum dinheiro extra, apresentaram--se de imediato. Outros, sabendo os reais objetivos dos ativistas partidários, ajudaram amealhar mais simpatizantes jovens, na medida em que, cada vez mais o rap tem conseguido mobilizar centenas deles, principalmente nos meios rurais.
Eles nos usam porque já sabem que mobilizamos pessoas e também aceitas porque sabes que apanhas ali um públi-co mais amplo e aproveitas para passar a tua mensagem. É igual a qualquer outro show… canto as músicas que sempre canto, contra o governo e contra os partidos. O problema é que muitas vezes, na hora do pagamento tentam fugir. Tentam adiar o pagamento para mais tarde. […] Na Praia houve casos em que rappers receberam cinquenta mil escu-dos. Com esse dinheiro tiras um mixtape para a rua na boa, com capa e tudo. É uma ajuda. Não deixas de ser menos ou mais. São oportunidades. Estás a cantar para um público e não para o partido. O que acho mal são rappers que recebem para cantar músicas dos partidos, que fala dos partidos, acho mal porque não podes vender a tua ideologia aos par-tidos, não és nem simpatizante nem militante. Acredito que não se deve cantar só pelo dinheiro mas é uma boa chance de ganhar dinheiro (J.Rex, Wolf Gang).
Tens rappers que estão vinculados em outras ideologias, ou-tras ideias, ideias políticas, que o usa enquanto instrumento de mudar consciências não só da sociedade, mas também das po-pulações mais desfavorecidas, porque rap veio de um contexto de subjugação humana, em que o homem era muito reprimi-do, tempos de escravatura mesmo. Rap é um instrumento de revolta, que fala da realidade do homem negro… tens rappers que buscam afirmar-se nas ideologias de Amílcar Cabral e ou-tros líderes que falam da reafricanização dos espíritos como
289
Redy Wilson lima
ponto de partida para uma nova consciencialização de conhe-cimento com o objetivo de estabilizar a sociedade e tens um outro rap que não se preocupa com a questão identitária, que preocupa-se apenas com a moda ou com o que vem de fora… então eles são um alvo fácil a ser usado pelos líderes políticos em troca de dinheiro, compatibilizando assim com a propaga-ção da ideologia desse sistema político. […] Podem ter músicas conscientes, de intervenção, com mensagens de que as pesso-as devem olhar a partir de um outro ângulo, ideias revolucio-nárias, mas olha onde essa mensagem vai ser deixada? Numa campanha política, onde as pessoas estão todas voltadas para o sistema partidário e não para ouvir as mensagens que que-rem passar. As pessoas lhes vêem como uma parte de anima-ção e não como um mensageiro ou um mestre de cerimónia (MC). Os MC ali são os líderes políticos, são as suas mensagens a serem ouvidas (Anon-Rá, FARP).
Que tipo de movimento é o hip-hop cabo-verdiano?
Atualmente, dois polos sociológicos disputam teoricamente o conceito de movimento social. Num dos polos, estão sociólogos, politólogos e historiadores, que enquadram-no na teoria da mo-bilização dos recursos, considerando como tal os comportamen-tos racionais de atores coletivos que tentam instalar-se ao nível de um sistema político, tentando com isso mobilizar todo o tipo de recurso, inclusive a violência; de outro lado, a teoria que o enquadra nos setores de pesquisa sociológica, percebendo-o en-quanto ação de um ator dominado e contestatário que se opõe a um adversário social para tentar apropriar-se do controle da historicidade20. Wieviorka (2010) é de opinião que essas duas grandes abordagens podem ser conciliadas, desde que se reco-nheça que elas não possuem os mesmos objetos e preocupações.
Estando a história dos movimentos sociais ligada ao movimento operário, com o advento da noção sociedade pós-industrial, com
20 O controlo da sua história enquanto grupo social.
290
RAPPERS CABO-VERDIAnOS E PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl
a automatização e posterior informatização dos espaços de pro-dução; assim como ao fim da Guerra Fria, ligando o polo mundial capitalista ao polo mundial socialista, em que as lógicas neolibe-ralistas tornaram-se hegemónicas e as ONG’s ganharam maior importância, as lutas sociais ultrapassam as fronteiras estatais e tornam-se globais, o que consistiu no nascimento de um ou-tro tipo de movimento, chamado por Wieviorka (2010) e outros pesquisadores de movimentos globais. Tanto eles apresentam caraterísticas dos movimentos sociais clássicos quanto o dos novos movimentos sociais, apresentando também elementos in-quietantes e alguma tendência para a violência.
O movimento hip-hop inscreve-se nesta categoria, numa confi-guração em que a vida social, a vida política e a vida cultural es-tão menos integrados e os movimentos contestatários culturais ultrapassam as fronteiras do Estado-nação, tornando-se trans-nacionais, diaspóricos e nômades (Wieviorka, 2010).
No caso do hip-hop ou rap cabo-verdiano reconheço que, de ponto de vista sociológico, falar de movimento hip-hop é um pouco forçado, porque falamos de uma cultura com cinco ele-mentos basilares e mais uns tantos que paulatinamente foram constituindo como a sua estética, em que tirando poucos break dancing e d-jing e quase nenhum writer, não se encontra outros elementos constitutivas dessa cultura, a não ser o elemento oral, street hip-hop fashion e street language21.
A nível ideológico, o rap pan-africanista e/ou afrocentrista po-deria se inscrever naquilo que hoje se chama de movimentos globais, mas a sua falta de interligação e solidariedade inter-nacional, sobretudo a outros movimentos pan-africanistas e afrocentristas ou mesmo ao hip-hop africano, sem falar da sua
21 Atualmente consideram-se 9 os elementos do hip-hop: break dancing, rapping, graffiti art, d-jing , beatboxing, street fashion, street language, street knowledge, street entrepre-neurialism.
291
Redy Wilson lima
incapacidade em associar-se de forma prática aos movimentos do hip-hop na diáspora cabo-verdiana, que daria lugar a um su-posto movimento de hip-hop crioulo, com alguma força de in-tervenção social e político, que integraria não só cabo-verdianos radicados no estrangeiros, como hip-hoppers afrodescendentes e das demais nações crioulas, entendo-o mais como um antimo-vimento global, de entre outras caraterísticas, pela sua tendên-cia sectária e dificuldade em organizar ações sociais e políticas fora da esfera institucional, bem como de construir um campo de força na sociedade civil e uma identidade coletiva a partir de interesses comuns, combinando princípios de solidariedades e sociabilidades horizontais, a partir da edificação de uma base referencial de valores culturais e políticos compartilhados pelo grupo, participando direta e indiretamente da luta política – não partidária – do país e contribuindo, desta feita, para o desenvol-vimento e transformação da sociedade civil e política.
Finalizando, apesar das constantes confusões entre o político e o par-tido, transversal à toda juventude e à sociedade em geral, resquícios dos tempos do partido-Estado e da forma como a própria sociedade foi organizada na pós-abertura democrática, obrigando as popula-ções a tomar partido, visto tal como tinha dito Pedro Pires nos anos de 1980, segundo Cardoso (1993), “não se pode agradar a Deus e ao Diabo ao mesto tempo”, alguns rappers pesquisados reconhecem que a sua participação é quase que somente a nível musical, tentando com isso consciencializar a juventude perante o perigo da bipartida-rização da sociedade e do que eles chamam de falsa democracia.
A maioria vota por questões de cidadania e há um grupo, alguns rappers pan-africanistas e afrocentristas que se abstêm do voto, mas sentem-se ainda incapazes em forçar a criação de um mo-vimento de apelo à abstenção como forma de pressão política. Acham que a sociedade ainda não se encontra preparada para isso, devido à sua desunião, mas não deixam de lado a possibi-lidade de num futuro qualquer passarem da teoria à ação, tal e qual fizera o seu líder ideológico, Amílcar Cabral.
292
RAPPERS CABO-VERDIAnOS E PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl
Convém por fim realçar que embora façam rap político e sintam--se atualmente incapazes de mobilizar os jovens para uma parti-cipação política que não se limita aos domingos de voto e dentro das esferas partidárias ou que não voltem as costas ao ativismo social junto das comunidades, a nível geral, falando de movi-mentos sociais, da forma como ela é pensada e definida, não o vejo ainda, possivelmente por culpa das dependências institu-cionais que transformam os rappers, tal como a generalidade da juventude cabo-verdiana da pós-abertura democrática, em ato-res apáticos, recorrendo quase sempre a esquemas informais, algumas ilegais e ilícitas, assim como à hipocrisia na relação com as instâncias de poder quando os outros recursos não surtirem efeitos, mas pensando sempre no individual e nunca no coletivo, confirmando, em parte, as teses de Cardoso (1993) e Luz (2012).
Referências bibliográficas
ABU-JAMAL, Mumia. ‘A rap thing’, ‘on rapping rap’, and ‘hip hop or homeland se-curity’, in BASU, Dipannita and LEMELLE, Sidney (Eds.), The vinyl ain’t final. Hip hop and the globalization of black popular culture. Pluto Press, pp. 23-26, 2006.
ALVAZZI DEL FRATE, Anna. Estudo sobre crime e corrupção em Cabo Verde. CCCD/UNODC, 2007. 18p.
AMIN, Samir. Como inverter a democracia do amanhã face ao desafio da farsa democrática, Pambazuka News. Consultado a 26 de Novembro. http://www.pambazuka.org/pt/category/features/80404, 2011.
BAQUERO, Marcello. Cultura política participativa e desconsolidação democrá-tica. Reflexões sobre o Brasil contemporâneo, São Paulo em Perspectiva, nº 15, pp. 98-104, 2001.
BARROS, Miguel e LIMA, Redy Wilson. RAP KRIOL(U): o pan-africanismo de Cabral na música de intervenção juvenil na Guiné-Bissau e em Cabo-Verde”, REALIS – Revista de Estudos AntiUtilitaristas e PosColoniais, no prelo.
BORDONARO, Lorenzo. Semântica da violência juvenil e repressão policial em Cabo Verde. Revista Direito e Cidadania (Edição Especial – Política Social e Ci-dadania), nº 30, pp. 169-190, 2010.
BOURDIEU, Pierre. Questões de sociologia. Fim de século, 2003. 286p.
CARDOSO, Humberto. O partido único em Cabo Verde: um assalto à esperança. Ed. do autor, 1993. 271p.
293
Redy Wilson lima
CARDOSO, Kátia. Thugs e violências: mitos, riscos e omissões, em PUREZA, José Maria, ROQUE, Sílvia e CARDOSO, Kátia (Orgs.), Jovens e trajetórias de vio-lências. Os casos de Bissau e da Praia. Almedina/CES, pp. 19-56, 2012.
DGP. Documento de estratégia de crescimento e de redução da pobreza. Minis-tério das Finanças e do Planeamento, 2008. 231p.
ÉVORA, Iolanda e COSTA, Suzano. Civil society and development in Cape Verde, Civil society and development in West Africa – Regional Review. In press.
ÉVORA, Roselma. Cabo Verde: a abertura política e a transição para a democra-cia. Spleen Ed., 2004. 134p.
FORTES, Conceição Maria. Estudo diagnóstico sobre a juventude, inovação e inserção sócio-económica. MJEDRH, 2011. 58p.
GILROY, Paul. The black atlantic. Modernity and double-consciousness. Har-vard University Press, 1993. 280p.
HESPANHA, Pedro. Mal-estar e risco social num mundo globalizado: Novos problemas e novos desafios para a teoria social, em SANTOS, Boaventura de Sousa Santos (Org.), Globalização. Fatalidade ou utopia? 3º Edição. Afronta-mento, pp. 163-193. 2005.
INNERARITY, Daniel. O futuro e os seus inimigos. Teorema, 2011. 172p.
INE. Apresentação IV Recenseamento Geral da População e Habitação 2010. INE, 2011. 26p.
INE. Perfil de pobreza em Cabo Verde: inquérito às despesas e receitas familia-res – 2001/2002. INE, 2002. 91p.
KELLEY, Robin. Foreword, in BASU, Dipannita and LEMELLE, Sidney (Eds.), The vinyl ain’t final. Hip hop and the globalization of black popular culture. Pluto Press, pp. xi-xvii, 2006.
LEÓN, Oscar Dávila. Adolescência e juventude: das noções às abordagens, em VIRGINIA DE FREITAS, Maria (Org.), Juventude e adolescência no Brasil: refe-rências conceituais. Ação Educativa, pp. 9-18, 2005.
LIMA, Redy Wilson. Bairros desafiliados e delinquência juvenil: o caso do bair-ro da Achada Grande Trás, em SILVA, Mário, PINA, Leão e MONTEIRO JR., Paulo (Orgs.), Estudos em Comemoração do Quinto Aniversário do Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais. II Volume. ISCJS, pp. 123-151, 2012a.
LIMA, Redy Wilson. Delinquência juvenil coletiva na Cidade da Praia: uma abordagem diacrónica, em PUREZA, José Maria, ROQUE, Sílvia e CARDOSO, Kátia (Orgs.), Jovens e trajetórias de violências. Os casos de Bissau e da Praia. Almedina/CES, pp. 57-82, 2012b.
LIMA, Redy Wilson, Thugs: vítimas e/ou agentes da violência? Revista Direito e Cidadania (Edição Especial – Política Social e Cidadania), nº 30, pp. 191-220, 2010.
294
RAPPERS CABO-VERDIAnOS E PARTICIPAÇÃO POlÍTICA jUVEnIl
LOPES, José Vicente. Aristides Pereira. Minha vida, nossa história. Spleen Ed., 2012. 493p.
LUZ, Rosário. “Recurso estratégico.cv”, Expresso das Ilhas. Consultado a 25 de Novembro. http://www.expressodasilhas.sapo.cv/pt/noticias/go/opiniao--recurso-estrategico-cv, 2012.
MARTINS, Filipe. O paradoxo das oportunidades: jovens, relações geracionais e transformações sociais – notas sobre Cabo Verde. Working Paper CRIA 4, 2010.
MARTINS, Filipe. The Places of Youth in Urban Cape Verde, em CRUZ, Fernan-do e CRUZ, Júlia Petrus (Orgs.), Investigação e Desenvolvimento Sócio-cultural (Actas do VI Congresso Internacional). AGIR – Associação para a investigação e desenvolvimento sócio-cultural, 2009.
MAGUBANE, Zine. Globalization and gangster rap: hip hop in the post-apart-heid city, in BASU, Dipannita and LEMELLE, Sidney (Eds.), The vinyl ain’t final. Hip hop and the globalization of black popular culture. Pluto Press, pp. 208-229, 2006.
MBAYE, Jenny. Hip-hop political production, in West Africa: AURA and its ex-traordinary stories of Poto-Poto children, em SAUCIER, Khalil (Ed.), Natives tongues: an african hip-hop reader. African Word Press, pp. 51-68, 2011.
PAIS, José Machado. Cotidiano e reflexividade. Educação & Sociedade, nº 98, pp. 23-46, 2007.
PAIS, José Machado. Ganchos, tachos e biscates: jovens, trabalho e futuro. 2ª Edi-ção. Ambar, 2005. 340p.PINA, Leão. Valores e democracia em Cabo Verde: entre adesão normal e embaraço cultural. Dissertação de mestrado. UB, 2006. 143p.
PRÉVOS, André. Postcolonial popular music in France: rap music and hip-hop culture ih the 1980 and 1990s, in Mitchell, Tony (Eds.), Global noise. Rap and hip-hop outside the USA. Wesleyan University Press, pp. 39-56, 2001.
ROQUE, Sílvia e CARDOSO, Kátia. Por que Razão os Jovens se Mobilizam…ou Não? Jovens e Violência em Bissau e na Praia. Assembleia Geral do CODESRIA, 2008.
SIMÕES, José Alberto. Entre a rua e a internet: um estudo sobre o hip hop por-tuguês. ICS, 2010.
WIEVIORKA, Michel. Nove lições de sociologia. Teorema, 2010. 287p.
Recebido em 01/10/2012Aprovado em 15/11/2012
Depois da escola, o encontro é no shopping: Sociabilidades, conectividade e jovens
surdos em Porto Alegre (RS)
Marta Campos de Quadros1
ResumoEsse artigo é um recorte de pesquisa de pós-doutoramento em desenvolvimento cujo objetivo é (re)conhecer e compreender as redes de sociabilidade de jovens surdos e as relações estabeleci-das com os espaços de lazer e com uma cultura urbana marcada pela conectividade na construção de identidades e culturas juve-nis surdas. Inscrita nos Estudos Culturais e nos Estudos Surdos, adota a etnografia pós-moderna como ferramenta teórico-me-todológica e Porto Alegre (RS) como campo para a observação. Palavras-Chaves: Estudos Culturais. Estudos Surdos. Juven-tudes. Cultura Urbana. Conectividade.
After School, the Meeting is In the Mall: Sociabilities, Connectivity and Deaf
Youths in Porto Alegre (RS)
AbstractThis article is part of a in progress post-doc research whose goal is to recognize and understand the sociability networks of young deaf people and the relationships which can be established with
1Doutora em Educação, bolsista de pós-doutoramento CAPES-REUNI junto à Faculdade de Educação da UFRGS, PPGEdu. Pesquisadora associada ao Núcleo de Estudos de Cur-rículo, Cultura e Sociedade (NECCSO/UFRGS) e ao Grupo de Pesquisa SINAIS: sujeitos, inclusão, narrativas, identidades e subjetividades –CNPq.
296
DEPOIS DA ESCOlA, O EnCOnTRO É nO SHOPPInG: SOCIABIlIDADES, COnECTIVIDADE E jOVEnS SURDOS Em PORTO AlEGRE (RS)
leisure spaces and an urban culture characterized by connecti-vity in the construction of the youth deaf identities and cultu-res. It is entered in Cultural Studies and Deaf Studies and adopts the postmodern ethnography as theoretical and methodological tool and Porto Alegre (RS) as a field for the observation.Key-words: Cultural Studies. Deaf Studies. Youths. Urban Cultu-re. Conectivity.
Reconhecendo possibilidades
Ivete Sangalo entra no palco do Planeta Atlântida. Garotos e garotas começam a pular e a gritar. Tal cena tem se repeti-do nos últimos dois anos, a cada apresentação da cantora no festival de música gaúcho. Próximo a mim, um garoto gesti-cula rápida e entusiasmadamente. A garota que está com ele responde também com gestos. Um terceiro garoto observa e, logo depois, entra na conversa. Identifico a utilização da lín-gua de sinais entre eles e me pergunto quais motivos levam garotos surdos a participarem daquele tipo de festa. Que rela-ções estabelecem com os outros jovens que frequentam estes lugares? (Excerto do Diário de Campo, fev. 2009)
[...] A esta hora, final de tarde de sábado, as tribos juvenis se misturam na praça de alimentação do Bourbon Country, shopping center na zona leste de Porto Alegre. Depois de mais de três meses observando os jovens e suas práticas de escuta neste local, sinto um movimento diferente. Perto de uma sanduicheria localizo a razão daquele ‘barulho’, já meu conhecido dos tempos de ULBRA. Um grupo grande de jo-vens surdos conversa animadamente. Percebo que os olha-res interessados são diferentes daqueles observados nos grupos de jovens ouvintes. Eles não se desviam das mãos e da face do interlocutor. Riem, brincam, parecem estar con-tando piadas. Fazem barulho! Não fosse este ‘detalhe’, seria muito provável que o passante desavisado os identificasse com os jovens ouvintes que por ali circulam: roupas, ade-reços, lanches...os marcadores juvenis parecem os mesmos. [...] (Excerto do Diário de Campo, abr. 2011)
297
marta Campos de Quadros
Escolhi estes dois excertos dos diários de campo de minha pesqui-sa de doutorado (Quadros, 2011), recentemente concluída, para iniciar este artigo por estarem relacionados às cenas cotidianas com as quais venho me deparando há seis anos (2007/2012) ao percorrer as ruas e outros tantos lugares que conformam a cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, em seus múltiplos tempos e espaços, através das práticas cotidianas dos seus 1,4 milhão de habitantes (IBGE, 2011) e outros tantos ‘tran-seuntes’. Entre as muitas situações que se repetiram com ligeiras variações enquanto meu olhar capturou a presença dos garotos e garotas com seus artefatos sonoros portáteis e os significados a eles atribuídos como marcadores identitários através de suas práticas culturais de escuta, estavam aquelas situações em que os ‘outros’ jovens – negros, índios, cegos, surdos, homossexuais, por exemplo – também eram capturados. Muito frequentemente me perguntava e ainda me pergunto sobre quem são e como são estes jovens que, diariamente, entram, circulam, se relacionam entre si, e saem das nossas escolas e de muitos outros lugares. Como se relacionam entre si e com uma cultura marcada pela tecnologia e conectividade? Por quais lugares transitam? O que fazem em suas horas de lazer, no seu tempo livre?
Tais questões sobre outras e diferentes práticas culturais envol-vendo a escuta, ou a ausência, ou a impossibilidade da mesma, não são recentes. Há algum tempo me questiono sobre a forma como as pessoas, principalmente os jovens, se relacionam com artefatos e produtos sonoros – que tipo de artefatos adquirem e a partir da ‘indicação’ de quem (mídia, amigos, família?); onde os utilizam; o que ouvem, que significados atribuem a eles na sua vida cotidiana – e como estas relações podem de alguma for-ma estar articuladas com a produção de uma certa ‘juventude’, representada na mídia e em muitos outros lugares da cultura, como “sempre conectada”.
Nos últimos anos, também tenho constatado mudanças na sala de aula universitária: estudantes de outros países e suas cultu-
298
DEPOIS DA ESCOlA, O EnCOnTRO É nO SHOPPInG: SOCIABIlIDADES, COnECTIVIDADE E jOVEnS SURDOS Em PORTO AlEGRE (RS)
ras estão presentes em diálogo com o que nós, os ‘da casa’, traze-mos com as nossas presenças; a presença cada vez mais explícita de estudantes que assumem cotidianamente a sua homossexu-alidade; o discurso militante de estudantes de diferentes etnias relativo às relações étnico-raciais no sentido de reivindicar no espaço escolar o respeito ao seu direito de ser diferente. Uma presença, contudo, tem me inquietado mais intensamente, a pre-sença dos estudantes surdos e dos intérpretes de língua brasilei-ra de sinais – me sentia e me sinto interpelada por estes novos atores que passam a integrar a cena da sala de aula universitá-ria. Seus gestos, seus modos de olhar, suas formas de relacio-namento, suas maneiras de se comunicar e de interagir, muitas vezes, ‘roubam’ a minha atenção, fazendo com que me ausente daquele ‘aqui e agora’ de aluna/professora ouvinte. Lembro-me da dificuldade de me comunicar com o primeiro aluno surdo que frequentou uma das disciplinas lecionadas por mim, em 2002, em um curso de Comunicação Social – Jornalismo. Eu não sabia sinalizar e ele não fazia leitura labial.
Foi, então, percorrendo este caminho que a possibilidade de pes-quisa se desenhou e vem tomando forma através do projeto Jo-vens Surdos, Redes de Sociabilidade e Espaços de Lazer na Metrópo-le Comunicacional, uma agenda para a educação. O objetivo de tal investigação é (re)conhecer e compreender as redes de sociabili-dade de jovens surdos e as relações que possam ser estabelecidas com os espaços de lazer e com uma cultura urbana marcada pela conectividade na construção de identidades e culturas juvenis.
Através do presente artigo busco mostrar as primeiras aproxi-mações de uma pesquisadora ouvinte que, inscrita nos Estudo Culturais2, por quase três décadas esteve ‘escutando’ ouvintes, e que agora, tal qual estrangeira busca ‘olhar’ o mundo surdo, ca-
2Os Estudos Culturais não se configuraram como uma disciplina, ao contrário, são multi- inter-disciplinares, e colocam em articulação diferentes disciplinas e conceitos visando a análise de aspectos culturais da sociedade e das relações de poder que podem neles estar envolvidas.
299
marta Campos de Quadros
racterizado, conforme Skliar (2012) pela surdez como uma dife-rença a ser politicamente reconhecida; uma determinada expe-riência visual que inclui uma língua gestual visual como natural, uma identidade múltipla ou multifacetada e localizada dentro do discurso sobre a ‘deficiência’, mas não da ‘falta’.
Nem o mesmo, nem o outro: a dupla singularidade do juvenil e da surdez
Neste sentido, parafraseando o título de um texto publicado por Serrano (2002) no qual indaga sobre a singularidade do ‘juve-nil’, ou o que o diferenciaria de outras formas de subjetividade e o que definiria o específico desta condição, me aproximo dos Estudos Surdos3, procurando construir uma articulação possível com estudos sobre o juvenil, notadamente mais concentrados na sociologia e na antropologia das juventudes. É desta forma, como sugerem Magnani, Silva e Teixeira (2008), que experimento ‘olhar de perto e de dentro’, mesmo ainda sem o domínio da língua bra-sileira de sinais (libras), língua nativa do povo surdo, e sem um conhecimento mais aprofundado do que vem sendo chamado de ‘cultura surda’, para uma dupla singularidade: o juvenil e a surdez. Dito de outra maneira, experimento olhar para os modos de ser jovem surdo no âmbito da cultura urbana contemporânea.
Conforme Serrano (2002), ‘ser jovem’, nomear-se ou ser nome-ado como ‘jovem’ constitui um ato discursivo com complexas implicações, uma vez que pressupõe a forma como se organi-zam biografias individuais, formas de interação e socialização, estilos de vida, organização das formas como as diferentes so-
3 Os Estudos Surdos constituem-se um campo de saberes e entende a surdez, não como deficiência ou experiência de uma falta, mas como uma diferença e uma experiência visual. Os Estudos Surdos se articulam com os Estudos Culturais buscando um horizonte episte-mológico no qual a surdez passa a ser reconhecida como uma questão de diferença políti-ca, de experiência visual, de identidades múltiplas, um território de representações diver-sas que se relaciona com, mas não se refere aos discursos sobre a deficiência. (Skliar, 2012)
300
DEPOIS DA ESCOlA, O EnCOnTRO É nO SHOPPInG: SOCIABIlIDADES, COnECTIVIDADE E jOVEnS SURDOS Em PORTO AlEGRE (RS)
ciedades distribuem recursos materiais e simbólicos, bem como relações de poder, entre outros aspectos. Neste sentido, o autor chama a atenção para o fato dos estudos que estão sendo desen-volvidos historicamente sobre a juventude, o juvenil, os jovens e as jovens e suas culturas, bem como os discursos midiáticos em circulação e as ‘tímidas’ políticas públicas formuladas, terem como eixo central de normalidade uma determinada adultez e posicionarem os jovens e suas culturas ou como a reprodução de um ‘mesmo’ desejável, ou como um ‘outro’, diferente, excêntrico (fora do centro), mas de qualquer forma desde uma perspectiva adultocêntrica. Para Serrano (2002) perguntar pela singulari-dade do juvenil, implica “mobilizar formas de vermos uns aos outros, questionar os lugares desde os quais nos nomeamos uns aos outros, desestabilizar posições aparentemente fixas, mas não por isso, menos frágeis” (Serrano, 2002, p. 11)4.
Da mesma forma, Padden e Humphries (1998) questionam as formas como os surdos têm sido narrados nos estudos desen-volvidos, nos discursos em circulação através das produções mi-diáticas, e nas diferentes políticas públicas. Na concepção destes e de outros autores inscritos nos Estudos Surdos, nomear-se e ser nomeado ‘surdo’ implica diferentes enquadramentos e po-sições de sujeito. Dizer-se e dizer que alguém é ‘surdo’ é um ato discursivo com efeitos complexos sobre a singularidade da ‘surdez’, ou o que a diferenciaria de outras formas de subjetivi-dade e o que definiria a especificidade desta condição. Dentro da perspectiva ouvintista, ainda considerada hegemônica, ou seja, a partir de um conjunto de representações colocadas em circulação tendo como referência os ouvintes/a audição, nas quais o surdo é posicionado e se posiciona como um ouvinte que é privado fisicamente da audição, produzem-se “as percepções do ser deficiente, do ser ouvinte; percepções que legitimam as práticas terapêuticas habituais” (Skliar, 2012, p. 15) que buscam
4 As traduções de obras referidas em suas línguas de origem sem tradução para a língua portuguesa são de responsabilidade da autora.
301
marta Campos de Quadros
incessantemente ‘corrigir’ a surdez e devolver ao ‘surdo’ a sua pressuposta normalidade, a ‘audição’.
Assim, desde o ouvintismo, os discursos sobre o surdo e a sur-dez têm como eixo central de normalidade o ouvinte/ a audição e, neste sentido, o surdo e suas culturas são posicionados, tal qual o jovem na perspectiva adultocêntrica, ou a partir de uma determi-nada audição ‘desejada’ como o ‘mesmo’, aquele que ‘pode’ ouvir, ou como um ‘outro’, diferente, excêntrico (fora do centro), defi-ciente, mas de qualquer forma em uma perspectiva audiocêntrica.
Padden e Humphries (1998), pensando a singularidade da sur-dez e das culturas surdas, argumentam a necessidade de posi-cioná-las a partir de um eixo diferente da audição e defendem que se coloque a surdez como eixo central de normalidade para buscar compreendê-las. Wrigley (1996) a partir de estudos rea-lizados na Tailândia, centrados nas circunstâncias e no posicio-namento da língua tailandesa de sinais, tendo como base as ex-periências da comunidade surda, propõe que se pense a surdez, não como uma questão de audiologia, mas ao nível epistemoló-gico, não excluindo a existência de representações que posicio-nem a surdez como uma privação sensorial que faz com que os sujeitos surdos experimentem uma vida e um mundo caracte-rizados por uma falta, por uma ausência da audição. Entretan-to, tal autor argumenta a necessidade de se analisar as relações entre conhecimento e poder, incluindo “representações sobre a surdez como deficiência auditiva e como construção visual que nos obriga a conduzir nossa reflexão numa dimensão especifica-mente política” (Skliar, 2012, p. 10).
É nesta perspectiva que buscamos mostrar e compreender, aqui de forma ainda inicial, uma determinada juventude surda urba-na que circula pela cidade de Porto Alegre e, a partir de suas práticas culturais e trânsitos, reconhecer suas redes de sociabi-lidade, conectividade e espaços de lazer através da etnografia pós-moderna como ferramenta teórico-metodológica. Esclareço
302
DEPOIS DA ESCOlA, O EnCOnTRO É nO SHOPPInG: SOCIABIlIDADES, COnECTIVIDADE E jOVEnS SURDOS Em PORTO AlEGRE (RS)
que adoto tal ferramenta na direção apontada por Geertz (1989), Geertz e Clifford (1992), Appadurai (2005), Gottschalk (1998) en-tre outros autores que, pensando as transformações decorrentes de um processo de autoquestionamento no âmbito da antro-pologia (urbana), relativas às práticas etnográficas, enfatizam a premência de mudanças. Apoiados principalmente no fato de que as populações e os lugares que antes os etnógrafos pesquisavam passaram por profundas transformações, assumindo uma feição completamente nova, estes autores argumentam que os trânsitos populacionais através do turismo, da circulação urbana, ou das migrações, muitas vezes vinculadas aos fluxos do capital, criam outras realidades mais complexas para serem observadas por um pesquisador que, necessariamente, não ‘vai mais a campo’, mas ‘vive e experimenta’ cotidianamente de dentro este mesmo campo, situação da qual me aproximo na pesquisa em questão.
Antes de seguir adiante, aclaro também que, mesmo conhe-cendo as discussões sobre cultura, identidade e comunidade surda efetivadas por Perlin (2004, 2012), Karnopp, Klein e Lunardi-Lazzarin (2011), Bauman (2007), Holcomb, Hol-comb, e Holcomb (1994), Kannapell (1994), Ladd, (2003), Lane, Hoffmeister, e Bahan (1996), Lopes e Veiga-Neto (2006) entre outros pesquisadores, aqui não me detenho nas mesmas. Centro meu olhar nas práticas culturais juve-nis, considerando, conforme Strobel (2009), a cultura surda como uma forma peculiar do sujeito surdo entender o mun-do e de modificá-lo com o objetivo de torná-lo acessível e habitável, ajustando-o às suas percepções visuais, que con-tribuem para a definição das identidades e das comunidades surdas, incluindo-se a língua, as ideias, as crenças, os cos-tumes e os hábitos do povo surdo. Tal cultura é transmitida através do compartilhamento com outros surdos em redes de sociabilidade específicas que incluem: associações e or-ganizações, frequência a determinadas escolas e locais de prática desportivas, igrejas, entre outros lugares e grupos.
303
marta Campos de Quadros
Perlin (2004) acrescenta que a cultura surda, assim como outras formas de cultura, é também um processo discursivo que atra-vés da linguagem engendra identidades em um campo de lutas por significados produzidos e articulados em meio a relações de poder. Sobre as identidades surdas, a autora (Perlin, 2012) lembra que as mesmas são produzidas no interior de represen-tações possíveis da cultura surda e se moldam de acordo com a maior ou menor receptividade cultural assumida pela pessoa surda. Identidades e alteridades são inseparáveis no âmbito da cultura, pois os processos de produção das representações que forjam as identidades, múltiplas, móveis, flexíveis, híbridas, in-completas; produzem da mesma forma as diferenças de forma sempre relacional, considerando-se um determinado tempo e espaço, portanto, historicizadas (Hall, 1999, 2005).
Especificamente sobre a comunidade (surda), Magnani, Silva e Teixeira (2008) comentam que esta é uma categoria que se faz presente frequentemente nos textos e discursos das pesso-as surdas, bem como dos estudiosos que abordam este tópico. Contudo, os autores, tomando como referência os significados clássicos de ‘comunidade’ e a experiência vivida pelos surdos, sublinham uma primeira peculiaridade relativamente à ‘comu-nidade surda’: a ausência de um território contínuo. Este aspec-to é comentado por Wrigley (1996, p.13) quando afirma que a surdez é um grande e democrático ‘país’ sem um ‘lugar’ próprio cuja ‘cidadania’ não tem uma origem geográfica, mas se consti-tui a partir do compartilhamento cultural e linguístico e atra-vessa todas as fronteiras de classe, gênero ou raça, sendo mais do que uma simples condição. Assim ainda que a tendência seja enquadrar as pessoas surdas sob um mesmo ‘rótulo’ ou ‘etique-ta’, a surdez é uma construção cultural de característica plural na qual convivem surdos oralizados, surdos implantados, sur-dos filhos de pais surdos, surdos filhos de pais ouvintes, surdos falantes nativos de língua de sinais, não surdos que utilizam lín-gua de sinais, intérpretes, surdos negros, surdos homossexuais, mulheres surdas, homens surdos, jovens surdos...
304
DEPOIS DA ESCOlA, O EnCOnTRO É nO SHOPPInG: SOCIABIlIDADES, COnECTIVIDADE E jOVEnS SURDOS Em PORTO AlEGRE (RS)
Magnani, Silva e Teixeira (2008) consideram que, no caso dos surdos da cidade de São Paulo, levando em consideração o foco analítico nas redes de sociabilidade dos mesmos, é possível afir-mar que os surdos se utilizam de um pressuposto linguístico para construírem uma noção de comunidade: o compartilha-mento da língua brasileira de sinais reconhecida no Brasil como direito humano inalienável e como língua oficial dos surdos, através da Lei Federal 10.436 de 24/04/2002, regulamentada pelo Decreto Federal 5.626 de 22/12/2005. Os mesmos auto-res ainda explicitam que se é possível identificar uma referência territorial para a comunidade surda, esta “ocorre por meio da apropriação de determinados espaços da cidade” (Magnani, Sil-va e Teixeira, 2008, p. 60).
Após (re)conhecer alguns aspectos que singularizam a surdez, volto o meu olhar para o que pode estar constituindo a singula-ridade de uma determinada juventude urbana e de suas culturas. Conforme Green e Bigum (2002), a juventude tem sido vivida con-temporaneamente de diferentes formas e em diferentes espaços e temporalidades, fazendo com que muitas vezes nos sintamos en-tre alienígenas e que passemos a utilizar o termo juventude(s) no plural como forma de assinalar a sua diversidade e os marcadores culturais de diferenças. Hall (2003, 2005, 1999) destaca o caráter fragmentário, transitório, das identidades na contemporaneidade e afirma que nossos pertencimentos estariam na ordem das po-sições de sujeito e dos traços identitários, considerando-se as di-ferenças. Da mesma forma, Feixa (2004), a partir da antropologia da juventude, reconhece a presença marcante das diferenças e ar-gumenta sobre a exigência de buscarmos compreender os jovens a partir das culturas juvenis e não de inscrevê-los numa mesma cultura e identidade a partir dos parâmetros etários.
É ainda nas palavras de Feixa (apud Martín-Barbero, 2001) que vislumbro uma das possíveis chaves para correlacionar o que te-nho observado relativamente aos jovens (surdos e não surdos) em Porto Alegre e esta característica ‘territorial’ da comunidade
305
marta Campos de Quadros
surda apontada por Magnani, Silva e Teixeira (2008). Segundo o autor catalão, as práticas juvenis tem tido uma relação com a cidade como um espaço privilegiado de mediação no processo de produção de suas identidades.
A emergência da juventude está se traduzindo em uma re-definição da cidade. A ação dos jovens serve para redesco-brir territórios urbanos esquecidos ou marginais, e para atribuir novos significados a diversas zonas da cidade. Atra-vés da festa, das rotas do ócio, mas também do graffiti, os jovens questionam os discursos dominantes sobre a cidade. (Feixa apud Martín-Barbero, 2001, p. 233)
A cidade, então, no contexto das práticas juvenis urbanas, a par-tir do proposto por De Certeau (1997), está inscrita num concei-to de espaço que difere da denominação física e é tomada como um local prático que não existe desde sempre, mas é constituído a partir da interação dos jovens com o tempo e as relações so-ciais que estabelecem. Relativamente às culturas juvenis, Garay (1996) assinala que o desenvolvimento tecnológico que pro-piciou a produção dos diferentes artefatos portáteis, também permitiu que os jovens se apropriassem do espaço urbano de diferentes formas, transformando os espaços ‘públicos’ em es-paços ‘privados’. A cidade como ponto de referência simbólico tem seus espaços delimitados por diferentes grupos de jovens, os quais servem como chaves para a memória coletiva dos gru-pos que os revestem de um valor cultural específico e são parte constitutiva das identidades juvenis.
Na mesma direção, mas buscando compreender as práticas culturais de jovens ingleses no final da década de 1980, Willis (1990) sugere a necessidade de se (re)conhecer o que de vibran-te e criativo compõe a vida cotidiana, ordinária, comum, mesmo quando isto possa estar invisibilizado, desprezado, desdenha-do. O autor argumenta que a vida de todos os dias dos jovens é “plena de expressões, sinais e símbolos através dos quais indiví-duos e grupos procuram estabelecer criativamente sua presen-
306
DEPOIS DA ESCOlA, O EnCOnTRO É nO SHOPPInG: SOCIABIlIDADES, COnECTIVIDADE E jOVEnS SURDOS Em PORTO AlEGRE (RS)
ça, identidade e significados” (Willis, 1990, p.1). Assim, é neste caráter comum, ordinário da cultura – porque disseminada por todos os lugares, resistente, forte e compartilhada – que podemos encontrar o ‘extraordinário’. Em outras palavras, é no cotidiano que os jovens expressam sua significância cultural através de distintas práticas. Refletindo sobre o que denomina de trabalho e criatividade simbólica dos jovens na vida cotidia-na, Willis (1990) enfatiza que há
uma multiplicidade de modos através dos quais os jovens usam, humanizam, embelezam, investem de significado seus espaços de vida e práticas sociais comuns e imediatos – estilos pessoais e escolha de roupas; seletivo e ativo uso da música, TV, revistas; decoração dos quartos; rituais de romance e estilos subculturais; o estilo, as brincadeiras e os dramas dos grupos de amizade; produção de músicas e dan-ças. (Willis, 1990, p. 2)
Tais práticas, segundo Willis, não são triviais ou inconsequentes, pois, nas condições moderno-tardias, podem ser cruciais para a criação e manutenção de identidades individuais e de grupo, cul-turalmente, o que implica existência de trabalho no jogo da cul-tura contemporânea. Magnani (2003, 2005, 2007) em diversos estudos realizados e orientados sobre as práticas culturais e re-des de sociabilidades de jovens em São Paulo também assinala esta dinâmica, propondo uma família de categorias analíticas que buscam ir além das dicotomias que cercam os binômios casa-rua, comunidade-sociedade, cultura-natureza. A exemplo da utilização que este autor faz das categorias pedaço, mancha, trajeto e circuito para reconhecer os circuitos de sociabilidade e lazer da juventude surda em São Paulo – sempre alertando que é necessário no de-correr do processo de investigação aprofundá-las, tensioná-las e problematizá-las –, penso nas mesmas como possibilidades.
Neste que considero um exercício de estranhamento/aproxima-ção com o ‘campo’, busco olhar para as sucessivas idas ao ‘shop-ping’, depois da escola e antes do retorno à casa ou da caminha-
307
marta Campos de Quadros
da no parque como uma espécie de circuito, ou como Magnani (2003, s/p) propõe a descrição do “exercício de uma prática ou a oferta de determinado serviço por meio de estabelecimentos, equipamentos e espaços que não mantêm entre si uma relação de contiguidade espacial, sendo reconhecido em seu conjunto pelos usuários habituais”. Magnani (2003, s/p) argumenta que o circuito designa o uso do espaço e de equipamentos urbanos possibilitando, assim, “o exercício da sociabilidade por meio de encontros, comunicação, manejo de códigos”, mas diferentemen-te das demais categorias, é menos dependente relativamente às relações espaciais, ainda que mantenha “igualmente, existência objetiva e observável: pode ser levantado, descrito e localizado”.
Ainda seguindo o exemplo de Magnani, Silva e Teixeira (2008), sublinho o caráter precário destes que são registros e reflexões preliminares da pesquisa em andamento, momento ainda mar-cado pelo desconhecimento, mas que me aproximou de uma das condições ditas clássicas da pesquisa etnográfica, o estranha-mento. Como afirmam estes autores (Magnani, Silva e Teixeira, 2008, p. 62), “para quem é introduzido pela primeira vez num meio que lhe é estranho, tudo é significativo, nada pode ser pre-viamente hierarquizado numa escala de valores entre o insig-nificante e o relevante, tudo é digno de observação e registro”. Contudo, Magnani, Silva e Teixeira nos fazem recordar que “com o tempo, esta condição vai cedendo lugar a uma maior familiari-dade com o meio, situação que apresenta ganhos (e perdas) es-pecíficos, já em outras etapas da pesquisa”. É então desta forma que olho para a escola, como uma ‘primeira estação’ do circuito de jovens surdos em Porto Alegre.
A escola é o meu mundo, mas também o mundo dos outros
Eu frequentava as sessões de fonoaudiologia duas vezes por semana e estudava com outros pares surdos na escola “es-pecial” [...]. Nessa escola adquiri a Língua Brasileira de Si-
308
DEPOIS DA ESCOlA, O EnCOnTRO É nO SHOPPInG: SOCIABIlIDADES, COnECTIVIDADE E jOVEnS SURDOS Em PORTO AlEGRE (RS)
nais naturalmente e vivi uma infância muito feliz. [...] essa escola era o espaço em que me identificava com os pares sur-dos. [...] Com onze anos, meus pais me deram a noticia que eu iria mudar de escola e explicaram o motivo: queriam que eu tivesse um processo normal de aprendizagem. [...] Embora eu quisesse continuar na escola de surdos onde eu conhecia todos os meus colegas, não tive escolha, e iniciei a terceira sé-rie do ensino fundamental, numa nova escola [...]. Ao chegar à escola dos ouvintes, percebi um outro “mundo” que me mudou completamente. Para melhor? Não, nem para pior. Só me trouxe para um mundo de identidades “contradi-tórias”. Esse mundo me fez ser “ouvinte” ao invés de surda, ser “deficiente” ao invés de diferente. [...]. Em toda minha vida pas-sei por processos de construção e desconstrução da minha identidade. [...] Voltei à escola de surdos [...] porque não que-ria terminar meu último ano com pessoas que me viam como “deficiente”. A constituição da minha identidade surda voltou a ser possível quando conversei com um amigo muito que-rido [...], por quem tenho meus eternos agradecimentos através da internet. Ele me trouxe de volta ao mundo dos surdos onde “recuperei” minha identidade e nesse momento me reconstruí como Surda. [destaques são meus]
A escola tem sido narrada pelos surdos como um importante lu-gar de constituição das identidades e de sociabilidades. Padden e Humphries (1998) enfatizam o papel central que as escolas têm junto à comunidade surda e narram que durante os perío-dos em que ocorreram proibições do compartilhamento de uma língua cultural de surdos em razão das decisões decorrente do Congresso Internacional de Educadores de Surdos, realizado em Milão, na Itália, em 1880, as crianças e jovens foram afastados de suas famílias, convivendo com crianças de famílias surdas e adultos surdos que trabalhavam de alguma forma na escola. Se-gundo os autores, era nos dormitórios das instituições de ensino e asilos, onde estudavam em regime de internato, distantes do controle estruturado das salas de aula, que as crianças surdas eram introduzidas nas formas de vida social das pessoas surdas. “No ambiente informal dos dormitórios, as crianças aprendiam não só língua de sinais, mas a cultura. Desta forma, as escolas
309
marta Campos de Quadros
tornaram-se centros de atividades das comunidades que as cer-cavam, preservando para a próxima geração a cultura das gera-ções anteriores” (Padden e Humphries, 1998, p. 6).
Da mesma forma, o excerto da carta de uma jovem aluna surda, an-teriormente transcrito, demonstra tal centralidade e o papel cultu-ral comunitário da instituição escola no que diz respeito à sociabi-lidade e produção de identidades juvenis surdas. Esta carta, assim como outras tantas, são narrativas de surdos e ouvintes produzi-das durante a segunda edição do curso de extensão e Seminário Especial do Programa de Pós-graduação em Educação da UFRGS Memórias e narrativas na Educação de Surdos5. Em quase todas as narrativas, a escola nas suas diferentes modalidades – para ouvin-tes, inclusiva, ‘especial’ para surdos, de surdos, bilíngue, de ensino Fundamental ou Médio, ou a própria universidade – aparece como um dos espaços de aproximação e encontro das pessoas surdas.
A escola, como afirmam Lopes e Veiga-Neto (2006), tem se constituído numa espécie de território para que a comunida-de surda se constitua e se mantenha como tal por afinidade, interesses comuns, continuidade das relações estabelecidas e pela convivência em um tempo e espaços comuns. “Escola e co-munidade surda parecem ser conceitos e espaços que se con-fundem no imaginário surdo”, assinalam Lopes e Veiga-Neto (2006, p. 93), enfatizando que em muitas narrativas de surdos os mesmos afirmam a preferência pela escola de surdos que é vista como “possibilidade do encontro e do movimento político por uma identidade e comunidade”.
5 O curso de extensão e seminário especial do Programa de Pós-graduação em Educação da UFRGS Memórias e narrativas na Educação de Surdos, em 2012, está em sua terceira edição e é desenvolvido como parte da pesquisa Língua de sinais e educação de surdos: políticas de inclusão e espaços para a diferença na Escola, pelo Grupo de Pesquisa SINAIS: sujeitos, inclusão, narrativas, identidades e subjetividades, registrado no Diretório do CNPq. Este grupo investiga temas relacionados a políticas educacionais e linguísticas para surdos, experiências docentes e formação de professores. Todos os participantes do curso/disciplina assinaram Termo de Consentimento Livre e Informado autorizando o uso de suas escritas e outros registros (Thoma; Giordani, 2012)
310
DEPOIS DA ESCOlA, O EnCOnTRO É nO SHOPPInG: SOCIABIlIDADES, COnECTIVIDADE E jOVEnS SURDOS Em PORTO AlEGRE (RS)
Nas palavras da jovem surda é possível identificar tais aspectos, ela “estudava com outros pares surdos na escola “especial”[...]. Nessa escola adquiri a Língua Brasileira de Sinais natural-mente e vivi uma infância muito feliz. [...]essa escola era o es-paço em que me identificava com os pares surdos”. Mas a escola também é o território do outro, lugar de reafirmação da luta dos surdos pelo reconhecimento da sua identidade/diferença como ela narra ao referir-se à necessidade de mudar de escola,
Ao chegar à escola dos ouvintes, percebi um outro “mundo” que me mudou completamente. Para melhor? Não, nem para pior. Só me trouxe para um mundo de iden-tidades “contraditórias”. Esse mundo me fez ser “ouvinte” ao invés de surda, ser “deficiente” ao invés de diferente.
Um outro marcador cultural juvenil surdo que a narrativa da jo-vem estudante possibilita constatar é a presença das tecnologias digitais no seu cotidiano. A internet é citada como um elemento que compõe a possibilidade de comunicação dos jovens surdos no âmbito dos afetos e amizades, diferentemente dos surdos mais velhos que tinham nas reuniões das associações e clubes espaços privilegiados de sociabilidade. O agradecimento ao amigo que possibilitou à estudante que recuperasse a sua identidade surda está registrado ‘publicamente’ através da internet – “A constitui-ção da minha identidade surda voltou a ser possível quando con-versei com um amigo muito querido [...], por quem tenho meus eternos agradecimentos através da internet. Ele me trouxe de volta ao mundo dos surdos onde “recuperei” minha identidade e nesse momento me reconstruí como Surda”.
Olhando especificamente para os marcadores culturais surdos e sua relação com o espaço escolar, Lopes e Veiga-Neto (2006), afirmam que as lutas geracionais são comuns a todas as culturas e que as mesmas também ocorrem no interior da cultura surda: os surdos mais velhos consideram que os jovens surdos estão desvinculados das lutas de sobrevivência da cultura surda; os surdos jovens têm erguido outras bandeiras de luta vinculadas
311
marta Campos de Quadros
à necessidade de (re)atualização permanente do movimento surdo, pois outros e novos interesses na “sociedade contempo-rânea, marcada pela tecnologia e pelo crescimento das relações imateriais e simbólicas, estão definindo os sujeitos e suas posi-ções na esfera global”(Lopes;Veiga-Neto, 2006, p.88). Os jovens surdos em nível da escola, depois de terem estabelecidos direi-tos básicos tais como o reconhecimento da língua de sinais, bus-cam conquistar um ensino de melhor qualidade, escolas mais bem equipadas e conectadas que possibilitem a eles colocações melhores no mercado de trabalho e ganhos maiores.
A escola, no circuito que buscamos observar, aparece, então, como um lugar importante de compartilhamento de práticas cul-turais de jovens surdos comuns às culturas juvenis contemporâ-neas que chegam à escola e nos fazem pensar nos diálogos (im)possíveis entre os diferentes sujeitos da educação. A presença constante das tecnologias digitais na forma de acesso à internet e às redes sociais via telefones móveis e computadores portáteis apresenta-se ao mesmo tempo como facilitadora da formação de redes de sociabilidade e como ‘atos perturbadores’ (Chambers, 1997) que recolocam em discussão questões relativas a pertur-bação de limites estabelecidos socialmente entre o público e o privado, a partir de mídias móveis, naquilo que diz respeito ao espaço coletivo aqui olhado como espaço escolar, como fica evi-denciada na observação de campo que transcrevo a seguir.
São 8h30 e aguardo no corredor da faculdade que meus co-legas e professora cheguem para o início da aula. É cedo e ainda tenho tempo de revisar o texto previsto para a aula de hoje. Abro a mochila tentando localizar o texto e a ca-neta marcador. Outros colegas também leem, conferem mensagens em seus celulares ou, com fones de ouvido plu-gados a estes, parecem escutar música. Uma colega surda chega, sorri e sinaliza um oi que retribuo em libras apesar de meu reduzido vocabulário. Ela senta, abre a bolsa e de lá tira o celular, começando uma intensa troca de mensa-gens evidenciada pelos sorrisos que lança à pequena tela do aparelho e o rápido movimento de seus dedos no teclado.
312
DEPOIS DA ESCOlA, O EnCOnTRO É nO SHOPPInG: SOCIABIlIDADES, COnECTIVIDADE E jOVEnS SURDOS Em PORTO AlEGRE (RS)
Depois dela, outros dois colegas, também surdos chegam e repetem o mesmo ‘ritual’. O rapaz utiliza o celular, a garota um tablet cor-de-rosa. Às vezes sinalizam entre si – ainda não compreendo o que dizem e fico só olhando -, mostram mensagens e vídeos postados nas várias redes sociais. Esta dinâmica se repete até a professora chegar, abrir a sala e en-trarmos. Alguns colegas ouvintes e surdos desativam seus aparelhos, outros não. A aula começa e alguns celulares con-tinuam em ação. Convivem com a dinâmica da aula que se dá em libras e em língua portuguesa. Professora e tradutora, assim como os colegas parecem estar já acostumados a esta presença e, às vezes esperam que aquele ‘diálogo colateral’ seja momentaneamente interrompido. (Excerto do diário de campo, 10 out. 2012)
Dayrell (2007) e Carrano (2008) entre outros autores problema-tizam os modos de ser de jovens que frequentam diferentes esco-las. Para estes autores, juventude é construção cultural, social e histórica, e sujeita a transformações marcadas por condições im-bricadas na cultura contemporânea. De acordo com esta perspec-tiva, as relações entre juventudes e escola não se explicam em si mesmas. A partir de uma visão ampla não focada especificamente na juventude surda, Dayrell (2007) pondera que as relações entre a educação da juventude e a escola têm sido bastante debatidas, mas acabam por cair em uma visão apocalíptica, apontando para o fracasso da instituição escolar com os diversos atores escolares culpando-se mutuamente. Carrano (2008) identifica que tal situa-ção de mútua culpabilidade está ligada a uma situação de incomu-nicabilidade entre tais sujeitos escolares.
Os dois autores comentam que professores e administradores escolares tendem a rotular negativamente seus jovens alunos como desinteressados, apáticos, indisciplinados e consumistas. Os alunos, por sua vez, argumentam que o melhor momento do cotidiano escolar é o recreio, quando efetivamente vivem a es-cola, ou a participação em projetos extracurriculares. Para os jovens estudantes, as aulas são uma ‘chatice necessária’, pois não têm sentido prático, os professores são despreparados, e
313
marta Campos de Quadros
os espaços são pobres, inadequados e marcados pela ausência de meios educacionais como computadores e acesso à internet (Carrano, 2008), contrariamente a cultura de mídia e conectivi-dade na qual estão inscritos cotidianamente.
Carrano (2008) e Dayrell (2007) entendem a escola como um espaço de sociabilidades e muitos destes problemas apontados estariam relacionados a uma “ignorância relativa da institui-ção escolar e de seus profissionais sobre os espaços culturais e simbólicos nos quais os jovens se encontram imersos” (Carra-no, 2008, p. 183) e à necessidade de compreender as práticas e símbolos implicados na condição juvenil atual, tomada como “manifestação de um novo modo de ser jovem, expressão das mutações ocorridas nos processos de sociabilização, que coloca em questão o sistema educativo, suas ofertas e as posturas pe-dagógicas que lhes informam” (Dayrell, 2007, p.1107). Esta situ-ação é narrada também pelos jovens estudantes surdos nas car-tas já referidas, nas aulas da universidade e nas (ainda poucas) conversas informais mantidas em outros locais com os mesmos.
Neste sentido, tais autores propõem a partir de diferentes con-textos que se faça uma mudança no eixo de reflexão: passar das instituições educativas para os sujeitos jovens e suas culturas, de forma que a escola possa ser repensada para responder aos desafios colocados pelas diferentes juventudes. Carrano (2008, p.183) alerta, contudo, para a necessidade de se considerar que “o poder de formação de sujeitos pela instituição escolar tor-nou-se significativamente relativizado pelas inúmeras agências e redes culturais e educativas”. Destaca que, as mídias massivas, alternativas e descentralizadas, bem como o mercado de consu-mo e os diversos grupos de identidade se tornaram lugares de intensa produção de subjetividades juvenis.
Eu e minha colega, tradutora de libras, estamos sentadas em uma das mesas do bar da faculdade. Ainda necessito de sua ajuda para compreender sobre o que os jovens surdos con-versam. Duas garotas surdas entram no bar, acomodam-se
314
DEPOIS DA ESCOlA, O EnCOnTRO É nO SHOPPInG: SOCIABIlIDADES, COnECTIVIDADE E jOVEnS SURDOS Em PORTO AlEGRE (RS)
numa mesa próxima conversando animadamente. Parecem discutir sobre algo que discordam. Pergunto a minha colega se é possível saber do que se trata. Ela olha e esclarece que a conversa gira em torno de alguma coisa que está passando na tevê ou que acessaram no You Tube. Logo a seguir che-gam mais dois jovens surdos. Um é meu colega, é um jovem surdo que usa implante coclear, mas entre os jovens surdos comunica-se por libras. A garota eu não conheço. A conversa segue sem que participemos dela. Depois de algum tempo o garoto vem até a nossa mesa, cumprimenta oralmente e me pergunta se sei o nome de uma série nova de tevê sobre duas garotas que foram trocadas na maternidade que havia sido comentada em uma de nossas aulas. Ele me faz recor-dar a situação e informa que a mesma ainda não está na tevê e que os quatro queriam acessar pela internet. Ri e em tom brincalhão diz que como sou jornalista e domino o inglês poderia saber. Eles estão interessados na série porque a mesma aborda os problemas enfrentados pelos surdos em vários lugares e na escola. Rio e penso um pouco, lembro da situação e respondo Switched at birth. Ele agradece e volta à conversa. (Excerto do diário de campo, 31 out. 2012)
Pensando sobre a escola como um dos lugares em que os jovens surdos constroem suas redes de sociabilidade lembro-me da si-tuação vivida e registrada em meu diário de campo que exponho aqui, pois a conversa me motivou a buscar mais informações so-bre a série televisiva Switched at birth [Trocadas no nascimento] como forma de compreender como também as produções mi-diáticas, muitas vezes acessadas pelos vários ambientes da in-ternet e por suas temáticas estão imbricadas na produção das identidades e culturas juvenis. Tal série produzida e veiculada pela rede de tevê norte-americana ABC, uma das componentes do Grupo Disney, através do canal a cabo ABC Family e pelo site oficial da rede somente para os Estados Unidos, onde estreou em junho de 2011, registrando cerca de 3.3 milhões de telespec-tadores ao vivo. Ao longo da primeira temporada originalmente planejada para dez episódios semanais e alargada para trinta, Switched at birth manteve a média de 2.7 milhões de telespecta-dores ao vivo. O último episódio foi exibido em agosto de 2012
315
marta Campos de Quadros
e a estreia da próxima temporada está sendo trabalhada pela equipe de divulgação da rede para início de janeiro do próximo ano (Furquim, 2012).
A razão para abordar tal produção midiática aqui, quando busco caracterizar a escola como um dos elementos dos circuitos produ-zidos por jovens surdos que circulam em Porto Alegre através de suas redes de sociabilidade, conectividade e espaços de lazer, está relacionada a esta ampliação dos espaços pedagógicos no âmbi-to da cultura contemporânea que acabam por nos ensinar a ser sujeitos de tal ou qual tipo. Criada por Elizabeth Weiss, Switched at Birth narra a história de duas adolescentes trocadas no hos-pital quando eram recém-nascidas. Bay Kennish cresceu em uma família rica cercada pela atenção de seus pais, John, ex-jogador de beisebol, e Kathryn, bem como de seu irmão Toby que é músico. Daphne Vasquez cresceu em um bairro hispânico, na companhia de sua mãe, uma cabelereira de bairro solteira, Regina.
No contexto deste artigo, interessa destacar que na trama, Daphne ainda muito pequena contrai meningite ficando surda e sendo edu-cada em uma escola especial para surdos, mas conseguindo se co-municar com as pessoas ouvintes com as quais tenha contato visual para que ela possa fazer leitura labial. As duas famílias se encon-tram por acaso e ao descobrirem sobre a troca dos bebês, decidem permanecer juntos. Nos trinta episódios já veiculados e disponíveis em vários locais da internet vários tópicos que ainda hoje pautam a comunidade, a cultura (juvenil) e as identidades (juvenis) surdas estão ali abordados, além de a trama desenvolver-se tendo a vida escolar como uma referência importante, razão da repercussão da série junto aos jovens surdos brasileiros, pois como analisa Murray (2008) para compreender as vidas surdas é preciso percebê-las em uma perspectiva transnacional, uma vez que a comunidade surda por não se estabelecer a partir de um determinado território, mas desde uma cultura singular a partir de uma determinada forma de língua gestual visual que se articula com várias culturas, mantém contatos consistentes que vão além das fronteiras nacionais.
316
DEPOIS DA ESCOlA, O EnCOnTRO É nO SHOPPInG: SOCIABIlIDADES, COnECTIVIDADE E jOVEnS SURDOS Em PORTO AlEGRE (RS)
Ao visitar o site oficial da série, um detalhe chama a atenção: a partir dos episódios, o ator Lucas Grabeel, bastante conhecido do público juvenil por sua participação em High School Music, outra produção da Disney para este segmento de público, ensina frases que aparecem nos episódios em ASL, língua de sinais americana. No referido link, o jovem internauta é convidado a “aprender a lín-gua de sinais com Lucas Grabeel”. O link que está disponível desde outubro, período em que as séries norte-americanas estão “em férias”, indaga se o jovem fã conhece a série de vídeo aulas que ensinam a língua de sinais e convoca os fãs a conferirem a cada semana, depois de cada novo episódio, as novas frases em ASL, pois este é “um bom sinal” (ABC Family, 2012).
A partir do cenário já desenhado, assinalo a urgência de uma ampliação da compreensão das práticas sociais e relações de poder implicadas no conhecimento, entrelaçadas pela escola. Steinberg e Kincheloe (2001) reforçam esta ligação quando afir-mam que as práticas culturais e as relações de poder e conheci-mento dizem respeito à Educação, não só porque, com as mídias e tecnologias digitais de conectividade, os espaços pedagógicos na vida cotidiana são ampliados, como também ‘atravessam’ os lugares tradicionais da pedagogia – especialmente a escola – a partir dos conhecimentos e instituições que são trazidos pelos jovens alunos, neste caso surdos, e produzem efeitos sobre as suas redes de sociabilidade .
Próxima parada, o shopping: a gente se encontra na praça de alimentação, depois...
Tarde de sábado, final de inverno, mas ainda faz frio. Estou na praça de alimentação do shopping Bourbon Country, um dos vários que existem nesta área da cidade. Espero o horário de almoço quando vários jovens estudantes surdos de uma escola de surdos privada localizada na zona leste da cidade se reunem. Esta não é a primeira vez que os encontro aqui. Nos nas sextas e sábados, este parece ser o point e o roteiro pare-
317
marta Campos de Quadros
ce previamente produzido: primeiro todos se reunem para o lanche do McDonalds e aquele imenso prato de batatas fritas. Depois de umas três horas de muita conversa e entra-e-sai de integrantes do grupo, é hora da sobremesa, invariavelmen-te sorvete de maquina do McDonalds. Sabores: chocolate e chocolate e creme. Garotos e garotas parecem estar com o mesmo uniforme: camiseta da escola ou com alusão a algu-ma campanha específica das lutas surdas, jeans na forma de calças, bermudas, saias...O visual também é composto por bonés, cabelos coloridos, piercings, colares e lenços. Alguns usam jaquetas da escola, outros casacos impermeáveis. Nos pés, tênis e botas, afinal, ainda faz frio. E nas mãos, os celula-res, de todas as marcas e modelos, mas sem dúvida com aces-so à internet!!(Excerto diário de campo, 11 ago.2012)
Os shopping centers têm sido apontados pelos estudos de ma-rketing e comportamento do consumidor como lugares prefe-rências dos jovens que buscam lazer coletivo com segurança nas grandes cidades. Além de oferecerem um ambiente, como cons-tatou Vitelli (2008) repleto de estimulos sonoros, visuais e ol-fativos, em outras palavras, música ambiental, vitrines, marcas, decoração sazonal, lojas com diversos perfumes, livrarias, cine-mas, pessoas que olham e são olhadas. Assim, neste momento inicial da pesquisa, como destaco através do excerto do diário de campo transcrito acima, olho para um dos shopping centers da zona leste de Porto Alegre em que constatei intensa frequencia de jovens surdos, principalmente estudantes de uma tradicional escola de surdos privada, confessional, ainda durante a pesquisa de doutorado anteriormente citada: o Bourbon Country, locali-zado próximo a dois bairros de classe média alta – Três Figuei-ras e Jadim Europa -, mas também próximos de outros bairros de classe média e média baixa como a Vila Jardim, Chacara das Pedras, Cristo Redentor entre outros.
Como equipamentos urbanos de consumo, entretenimento e la-zer, os shoppings centers cada vez mais se preparam para rece-ber seus jovens visitantes/habitantes/consumidores, pois como explicitam Oliveira, Tschiedel e Pereira (2011), eles represen-
318
DEPOIS DA ESCOlA, O EnCOnTRO É nO SHOPPInG: SOCIABIlIDADES, COnECTIVIDADE E jOVEnS SURDOS Em PORTO AlEGRE (RS)
tam uma parcela significativa da população brasileira e, desta forma, mesmo comumente sem renda própria e dependendo dos pais para custearem o que consomem, são frequentemente visados e ‘assediados’ por empresas e marcas dos mais variados segmentos que os vêem como potenciais consumidores. Ainda conforme as autoras, “os seus hábitos, crenças e valores devem ser analisados, pois se constituem em importantes indicativos daquelas que serão suas preferências de compra” (Oliveira, Ts-chiedel e Pereira, 2011, p. 113).
Entretanto, esclareço na perspectiva teórica adotada neste ar-tigo, o consumo não se reduz às estratégias comerciais das em-presas e atos de compra dos consumidores, mas está localizado no âmbito das práticas culturais, como uma dimensão da vida social fundamental nas sociedades urbanas contemporâneas, pois os bens carregam significados e atuam como sistemas de comunicação, e os indivíduos – os jovens surdos que circulam em Porto Alegre – os utilizam para produzirem significados so-bre si mesmos, sobre os outros e sobre o mundo que habitam, engendrando assim um universo compreensível (Silva, 2007).
Assim, na perspectiva proposta por Steinberg e Kincheloe (2001) anteriormente, penso o consumo, como prática cultural, como pedagógico, pois é possível constatar no âmbito da escola e fora dela as formas como garotos e garotas ‘capitalizam’ suas vonta-des de pertencimento através não só da produção e circulação de artefatos que os identificam com determinadas ideias, moda-lidade esportiva ou lugar de lazer, mas replicando os estilos de artistas, atletas, personagens preferidos tomados como modelos a serem seguidos; transformando tais elementos em uma espé-cie de marca em nível de mercado e em marcador identitário relativamente a uma determinada juventude que se distingue visualmente das demais que circulam nos ambientes urbanos.
Refletir sobre este processo vivido pelos jovens surdos possibilita visualizar a juventude como uma condição, um sintoma cultural con-
319
marta Campos de Quadros
temporâneo, como uma construção histórica que se articula sobre re-cursos materiais e simbólicos cuja distribuição social é assimétrica, conforme Margulis e Urresti (2000) e García Canclini (2005). Os autores enfatizam que “se é jovem de diferentes maneiras em função da diferenciação social, de parâmetros como o dinheiro, o trabalho, a educação, o bairro, o tempo livre. A condição de juventude não se oferece de igual maneira para todos os integrantes da categoria estatística jovem” (Margulis e Urresti, 2000, p. 133).
Considerando tais aspectos, Margulis e Urresti (2000) enfatizam ser necessário considerar a significação atribuída em determi-nado contexto ao que é consumido no sentido de identificar, dis-tinguir, conferir prestígio, localizar em determinada categoria social a quem consome. Os autores ressaltam a efemeridade da moda e a fragilidade das identidades engendradas a partir dela. Os jovens que orientam suas práticas de consumo pela moda buscando pertencimento, reconhecimento, legitimidade e, nes-ta direção, adaptam suas formas de vestir, linguagem corporal, fala, preferências musicais e aparência ao grupo a que desejam pertencer, estão sujeitos à incerteza que supõe construir a iden-tidade pessoal sobre uma exterioridade em mudança e acelera-ção permanente: a moda opera no limite da legitimidade e da exclusão, requer bens e destrezas culturais.
A partir desta lógica cultural, arrisco afirmar que tecnologia e conectividade, junto aos jovens surdos que circulam pelas esco-las e shoppings centers observados em Porto Alegre, e também por outros lugares, estão na moda e múltiplas são as táticas e destrezas culturais exigidas para nela permanecer e pertencer/distinguir-se nos vários grupos juvenis que compõem a comuni-dade surda. Silva (2007, 2009) estudou a utilização de telefones celulares e o uso do bluetooth - uma tecnologia de transmissão de dados ou voz, de fraco alcance, flexível, que permite interli-gar aparelhos sem utilização de cabos, à curta distância a partir de uma espécie de circuito de rádio – para reduzir o custo do uso do celular por garotos de uma comunidade de Florianópo-
320
DEPOIS DA ESCOlA, O EnCOnTRO É nO SHOPPInG: SOCIABIlIDADES, COnECTIVIDADE E jOVEnS SURDOS Em PORTO AlEGRE (RS)
lis. Segundo a autora, considerando que a posse de celulares en-tre garotos das camadas populares é bem superior ao acesso à internet no ambiente doméstico, o bluetooth tem cumprido um importante papel no compartilhamento de arquivos especial-mente musicais. Silva (2009, p. 1) argumenta que “desta forma, um membro de um grupo de amigos que tem acesso à internet pode passar músicas e outros conteúdos para celulares de ami-gos, que por sua vez repassam esse conteúdo via bluetooth para tantos outros, estabelecendo uma identidade comum que é tor-nada pública nos espaços coletivos”.
Situações semelhantes foram observadas junto aos jovens sur-dos frequentadores do Bourbon Country e remetem às práticas observadas no trem interurbano, nos ônibus da cidade e em eventos esportivos, nas quais se incluem os jovens ouvintes. Possuir um artefato sonoro portátil, dominar tal tecnologia, ter a destreza mental para utilizá-la e demonstrar que sabe fazê-lo em público, é uma forma destes garotos se distinguirem uns dos outros e através de suas práticas e terem determinadas posições reconhecidas pelos grupos que integram. Considerando este as-pecto, inferimos que no caso dos jovens surdos o acesso às redes sociais e o manejo da produção e distribuição de vídeos em am-bientes como You Tube – ambiente virtual no qual são postados vídeos de livre acesso aos internautas – são centrais às práticas culturais relativas à conectividade e sua relação com a produção de identidades juvenis surdas, principalmente urbanas.
De forma específica, relativamente às culturas juvenis surdas, a adesão às várias campanhas de reconhecimento de direitos da comunidade surda – Escola Bilíngue para Surdos, Legenda para quem não ouve, mas se emociona, Respeito às Línguas de Sinais e a cultura surda, por exemplo -, expressas em camisetas que ma-nifestam tal adesão e marcam seus corpos, bem como a afiliação à determinada comunidade escolar demonstrada a partir do uso dos uniformes em diversos espaços urbanos, entre os quais os ambientes do shopping center, constituem marcadores culturais
321
marta Campos de Quadros
identitários que diferenciam cada jovem surdo dos demais e, ao mesmo tempo, os une como iguais.
Sobre a relação dos modos de vestir com a frequência aos sho-pping centers como lugares de encontro, Vitelli (2008) comenta que ambos estão ligados a uma determinada estética (sentimento comum) cotidiana partilhada que funciona como elemento de co-esão grupal. Neste sentido, e a cultura surda tem a expressão cor-poral como um marcador cultural importante, assim como o olhar que constitui ao surdo e ao outro, concordo com o autor quando afirma que “o foco recai, portanto, sobre o vestuário, o ‘figurino’, todas as formas de cobrir ou mostrar o corpo e que servem de es-tandarte, muitas vezes, de ideias, de elos de pertença e mesmo de maneiras de viver essa juventude” (Vitelli, 2008, p. 28).
Outro aspecto a destacar nestas primeiras incursões de (re)conhecimento do campo para a efetivação desta pesquisa diz respeito a relação que os jovens surdos parecem manter com, principalmente, seus telefones móveis e que fica bastante evi-denciado na circulação dos mesmos nos vários espaços do Bour-bon Country. Tal qual ressalta Silva (2007) estes dispositivos portáteis parecem ser ‘acoplados’ como parte dos corpos destes jovens, prolongamentos das possibilidades expressivas e comu-nicacionais. Uma vez que saem de bolsas, mochilas e bolsos, não retornam. É comum vê-los com os telefones móveis nas mãos, seguros, e constantemente checados. Esta prática pode ser mais intensamente notada nas salas de cinema, pois a cada checagem ou ‘conversa’ mantida através de mensagens instantâneas e tela é iluminada e se destaca no ambiente escuro.
Entretanto, além do telefone móvel, mais recentemente, outros tipos de dispositivos portáteis tais como ipads, tablets e micro-computadores têm ‘frequentado’ os espaços do shopping center observado. Os jovens surdos acessam intensamente múltiplos ambientes na internet, tais como o culturasurda.com onde po-dem ser encontradas várias produções culturais, lista de inter-
322
DEPOIS DA ESCOlA, O EnCOnTRO É nO SHOPPInG: SOCIABIlIDADES, COnECTIVIDADE E jOVEnS SURDOS Em PORTO AlEGRE (RS)
nautas, links para associações de surdos com diferentes interes-ses e de diversos países, escolas e instituições, organizações e blogs, além de um link para enfoques diversos sob o título Geral. Ali estão disponíveis vários arquivos para serem transferidos e que acabam por constituir um ‘acervo próprio’ para ser consu-mido individualmente de forma cotidiana ou mesmo intercam-biado através do bluethooth ou de outras tecnologias, confor-mando uma espécie de ‘acervo coletivo’ comum.
Como a equipe do próprio site culturasurda.net (2012) anuncia em sua página inicial, ele se constitui como
um espaço para a partilha e promoção de produções culturais relacionadas a comunidades surdas de dife-rentes países do mundo. Artes plásticas, literatura, teatro, filmes, projetos, músicas em línguas gestuais: as culturas surdas em exibição. Vídeos, links, textos, entre aspas e si-nais. Produções de, para e sobre o público Surdo, parti-lhadas neste espaço virtual em língua portuguesa. (Cultura Surda, 2012)[destaque dos autores]
A equipe adverte o jovem internauta surdo, e também aos ouvin-tes, que aquele é “um site simples, com atualizações constantes e navegação descomplicada para tornar mais fácil e rápido o aces-so às produções culturais aqui divulgadas”, e que para acessar a totalidade do conteúdo do culturasurda.net, o mesmo está “or-ganizado por temas, clique em LISTA na barra de menu acima” (Cultura Surda, 2012).
Na página inicial do culturasurda.net o internauta encontra ainda ‘botões’ para compartilhar os conteúdos e o próprio site através do Twitter e do Facebook, além de um espaço para regis-trar seus comentários. O site também expõe neste ambiente as logomarcas de várias campanhas que vêm sendo desenvolvidas pelas organizações representativas da comunidade surda. Tais logomarcas já citadas anteriormente são as mesmas que circu-lam como estamparia em camisetas usadas pelos jovens surdos
323
marta Campos de Quadros
‘sempre conectados’ e em movimento, tanto nas escolas como ‘parte do uniforme’, como nos espaços de lazer por onde circu-lam e no transporte público que utilizam.
Ainda no culturasurda.net é possível ler um chamamento à defe-sa dos direitos do povo surdo em todas as suas diferenças e para que surdos e ouvintes participem destas lutas. Sua equipe con-vida o visitante a participar, opinar, criticar, discutir e divulgar o espaço virtual. Sobre o site, a jovem internauta surda, Camila Lopes do Nascimento, comentou através do Facebook, em ju-nho deste ano: “Excelente blog! Foi uma grande ajuda para meu TCC [Trabalho de Conclusão de Curso], e também serviu para ampliar meu conhecimento. Me faz sentir mais orgulho de ser surda! Muito obrigada pois não encontro mais as palavras para expressar a minha gratidão.” (Cultura Surda, 2012).
Ainda olhando as relações dos jovens surdos com a tecnologia digital como lugar de interação e sociabilidade, tenho observa-do o intenso uso destes do You Tube como uma possibilidade de produção e divulgação de conteúdos políticos, educacionais e de entretenimento, através da qual os jovens sujeitos surdos têm se representado aos outros e produzido a si mesmos. Representar como argumenta Hall (1997b) não é um simples reflexo de uma realidade externa suposta, nem uma imposição de sentidos do espectador/leitor ao objeto, mas uma produção de significados através de práticas e processos de simbolização. Concordando com Serrano (2002, p. 16) quando analisa as representações produzidas pelas narrativas de jovens e pelos discursos sobre ‘a juventude’, representar a alguém ou a si mesmo é acima de tudo criar ficções, mais ou menos legítimas e acreditáveis; é uma prática cultural que diz sobre quem representa o outro e a si e as lógicas com as quais opera.
Reconheço aqui que tais práticas culturais juvenis, para além de estarem relacionadas a pedagogias culturais que implicam na produção, circulação e consumo da cultura surda, como tem sido
324
DEPOIS DA ESCOlA, O EnCOnTRO É nO SHOPPInG: SOCIABIlIDADES, COnECTIVIDADE E jOVEnS SURDOS Em PORTO AlEGRE (RS)
investigado por Pinheiro (2012), mais amplamente têm implica-ções nas relações familiares, aparentemente mais próximas do nosso cotidiano, bem como nas relações entre os diversos atores da indústria do entretenimento e das tecnologias de conectivi-dade e seus potenciais públicos juvenis.
Sobre as implicações nas relações familiares, Nicolaci-Da-Costa (2007), focando o uso dos celulares, comenta que, muitas vezes, eles são dados aos jovens por seus pais como forma de mantê-los sob algum controle em razão da complexidade dos trânsitos da vida urbana contemporânea. Se o celular inicialmente apazigua pais e mães que pensam ter seus filhos ao alcance do teclado, ele se transforma em um presente dos céus nas mãos destes mesmos jovens que fazem usos variados desta tecnologia. Tais celulares, às vezes, destaca a autora, acabam se convertendo em elementos de insegurança, ora porque os jovens os codificam de diferentes formas e sabem quando são seus pais que buscam contato, não atendendo; ora porque são objetos de desejo de assaltantes.
Sempre (des)conectados e em movimento: jovens surdos e novas sensibilidades
As práticas culturais de jovens surdos, assim, conforme o cená-rio tecido aqui, são tomadas como marcadores culturais identi-tários que possibilitam a definição ou não do pertencimento dos jovens a determinados grupos e estão profundamente atraves-sadas pelo imperativo da conectividade e seu par a desconexão. Estar ligado através dos telefones celulares e da internet implica estar desligado de outras possibilidades tecnológicas e de comu-nicação interpessoal com o outro.
Martín-Barbero (2001) argumenta que esta lógica de fruição está relacionada às novas sensibilidades, ou seja, a uma expe-riência cultural constituída por novos modos de perceber e de sentir, de escutar e de ver que caracterizam os jovens contempo-
325
marta Campos de Quadros
râneos e se expressam na forma como habitam suas cidades e se relacionam com a tecnologia. Para este autor a partir de um pro-cesso de desenraizamento que se transforma em deslocalização, eles habitam as cidades de maneira nômade: deslocam periodi-camente seus lugares de encontro, atravessam a cidade em uma explosão que tem muitas relações com a travessia televisiva que permite o zapping – programação feita de restos e fragmentos de programas, telenovelas, informativos, esportes e espetáculos musicais. Contudo, estes jovens inscrevem-se no mundo a partir de uma profunda empatia com as tecnologias, pois constituem uma geração de sujeitos culturais que não possuem ou possuem uma fraca identificação com figuras, estilos e práticas de antigas traições que tem definido ‘a cultura’[grifo do autor].
Ainda segundo Martín-Barbero, é a partir de conexões/desco-nexões (jogos de interface) com artefatos, de uma enorme facili-dade para o domínio dos idiomas das tecnologias que implicam uma enorme capacidade de busca e absorção de informações de variados meios, complexas redes informáticas e tecnologias au-diovisuais que os jovens conformam seus ‘mundos imaginados’. Tais mundos presentes em relatos, imagens, e sonoridades, en-contram seu ritmo e seu idioma numa cumplicidade entre uma oralidade como experiência cultural primária que perdura e uma oralidade secundária que tece e organiza as gramáticas tec-noperceptivas da visualidade eletrônica, denominada pelo autor de ‘cumplicidade expressiva’.
Diferentes visualidades estão implicadas em um modo contem-porâneo de ser jovem, assinala Martín-Barbero (2002, 2004). Elas não estão isoladas, mas integradas às novas formas de sen-sibilidade engendradas pelas múltiplas telas a que estes jovens estão submetidos, pelos fluxos de informação, pelos trânsitos cotidianos e pela mediação tecnológica. Eles em suas falas con-jugam tecnologia com múltiplos elementos. Sentem necessidade de ver e serem vistos, porém o desejo se une a uma determinada estética, a um determinado estilo e um modo de viver que vai
326
DEPOIS DA ESCOlA, O EnCOnTRO É nO SHOPPInG: SOCIABIlIDADES, COnECTIVIDADE E jOVEnS SURDOS Em PORTO AlEGRE (RS)
além da moda, do consumo. No caso dos jovens surdos, confor-me descrito por Croneberg (1976), historicamente um desejo de estar junto e de pertencer que se mistura a um tipo de nostalgia de um ser surdo imaginado.
Martín-Barbero (2004) destaca que, no contexto da socieda-de midiatizada contemporânea, há uma convivência da cultura massiva com estas ‘novas tecnicidades’ caracterizadas pela mo-bilidade, portabilidade, conectividade e simultaneidade. Neste sentido, principalmente junto às populações de menor poder aquisitivo, as lan houses têm desempenhado um papel social importante, relativamente ao acesso à internet e aos produtos desenvolvidos através dela. Sua presença é cada vez maior, principalmente nos pequenos e médios municípios brasileiros.
Neste sentido, não existe uma juventude única, mas ‘juventudes’, argumentam Nilan e Feixa (2006), quando indagam sobre a existência ou não de uma juventude global e constatam que, ainda que os jovens possam estar expostos à interpelação de uma produção midiática quase comum, a forma como produzem suas identidades está atravessada por traços de classe social, gênero, raça/etnia, marcas do lugar onde vivem, dos grupos etários a que pertencem e da diversidade cultural a que estão expostos que, juntamente com diferenças como a surdez, constituem as singularidades do juvenil abordadas por Serrano (2002). Feixa (2006) reitera, assim como Murray (2008) o faz especificamen-te sobre a surdez, que em tempos de globalização, o estudo das culturas juvenis seria mais bem desenvolvido de forma trans-nacional, pois as possibilidades de conexão e informação têm se multiplicado e um mesmo fenômeno adquire nuances locais, ainda que tenda a se manifestar em vários países.
Neste contexto, argumenta Appadurai (2005), múltiplas ima-gens em circulação, através dos mais variados artefatos e tex-tos culturais participam da ‘fabricação’ de ‘mundos possíveis’ a partir da constituição de imaginários globais e locais articulados
327
marta Campos de Quadros
em panoramas subjetivos presentes na imaginação de sujeitos de diferentes partes do planeta, expandindo as possibilidades de produção de comunidades de sentido e disseminando práticas e marcas identitárias que constituem as culturas em que se ins-crevem os jovens (surdos e ouvintes) urbanos contemporâneos.
Vale aqui lembrar García Canclini (2005), quando nos provoca a refletir sobre as formas como a globalização pensada de forma circular tem integrado as práticas cotidianas das juventudes. O autor observa que, mesmo com a inovação das tecnologias de co-municação, das formas de medir o consumo cultural e do desenho de estratégias e programas midiáticos na busca da ampliação do conhecimento massivo e do consenso social, há nas práticas coti-dianas dos jovens contemporâneos algo que escapa aos conceitos e ideias amplamente difundidos. Através destas práticas, os jo-vens parecem negociar com elementos que, ao mesmo tempo em que fortalecem uma uniformização do mundo num mercado pla-netário, multiplicam diferenças, geram singularidades e tensões.
Considerando a argumentação de Appadurai (2005) sobre as imagens oferecidas pela cultura contemporânea, principalmen-te pelas produções midiáticas e pelas produções ‘artísticas’ que interpelam os jovens urbanos contemporâneos, podemos afir-mar com Hernandez (2007, p.24) que habitamos um mundo visualmente complexo e estamos vivendo um novo regime de visualidade, profundamente articulado com a técnica, com as mídias, no qual a tecnicidade é uma das possibilidades mais in-tensas de mediação cultural (Martín-Barbero, 2004). No mesmo sentido, observa García Canclini (2003), que as identidades po-dem mostrar-se na cultura visual através dos diversos sistemas de imagens e desenhos presentes na organização simbólica de cada sociedade que podem ou não se cruzar e interpenetrar.
No mesmo sentido, concordo com Hernandez (2007) quando afirma que a cultura visual - constituída pelos artefatos culturais produzidos em grande escala industrial e comercial e de fácil
328
DEPOIS DA ESCOlA, O EnCOnTRO É nO SHOPPInG: SOCIABIlIDADES, COnECTIVIDADE E jOVEnS SURDOS Em PORTO AlEGRE (RS)
aceitação pelos consumidores, que incluem desde as imagens mais corriqueiras, presentes em revistas, jornais, filmes, vídeos, programas televisivos, campanhas publicitárias, logomarcas, ou-tdoors, videogames, sites, até as imagens da arte – contribui para que os indivíduos fixem representações sobre eles mesmos, sobre os outros, sobre o mundo e sobre seus modos de pensá-los.
Assim, é possível pensar nos jovens contemporâneos, e muito es-pecialmente nos jovens surdos em razão de conhecerem/cons-truirem o mundo peculiarmente pelo olhar, como catadores de imagens e histórias a partir de Hernandez (2007) quando pro-põe que metaforicamente nos consideremos catadores de restos, tomando a ideia de ‘catar’ da tradição agrícola ligada à atividade daqueles que recolhem os restos, os reciclam e deles se nutri-rem. Segundo o autor, esta metáfora possibilita que rompamos com o discurso dualista que dá origem a pares deterministas, entre os quais emissor/receptor, arte/popular, autor/leitor, pro-dutor/consumidor, ensinar/aprender que deixam poucas possi-bilidades à capacidade de ação, de resistência e de reinvenção dos sujeitos, reduzindo os problemas a esquemas simplificados, minimizando sua complexidade.
Tomando a cultura visual como uma forma de discurso que co-loca, no debate político e da educação, a centralidade da ‘sub-jetividade’, pensando a prática de ‘catar’ como a possibilidade criativa de ruptura, de reinvenção e transformação, Hernandez (2007) se aproxima de Willis (1990), ao estudar as culturas ju-venis como culturas cotidianas, ordinárias, caracterizadas como ‘trabalho criativo’. Este autor afirma que o universo da cultura da mídia eletrônica – e eu incluiria digital – se constitui em uma im-portante fonte simbólica, poderosamente estimulante quando abordamos o trabalho criativo que a juventude produz a partir de seus fragmentos. O jovem aprenderia, de forma privilegiada, a reinterpretar códigos, reformatar produtos e mensagens, a partir da produção de um repertório atravessado por múltiplas referências. Segundo Hernandez (2007, p.18), este conjunto de
329
marta Campos de Quadros
possibilidades transformadoras liga-se ao fato de que os cata-dores atuais, além de “recolherem amostras e fragmentos da cultura visual de todos os lugares e contextos para colecioná--los e lê-los”, produzem “narrativas paralelas, complementares e alternativas, para transformar os fragmentos em novos relatos mediante estratégias de apropriação”, distanciados de dualis-mos, subordinações e limites. Inscritos no sistema capitalista, os catadores, ao se apropriarem de e reaproveitarem os restos “como excedente cotidiano necessário para que o consumo se mantenha em tensão constante” (p. 19), realizam um ‘ato de subversão’ rompendo com o papel a eles atribuído no interior da cadeia de consumo, inventando novas subjetividades.
Neste sentido, as práticas juvenis surdas e conectividade das quais estive falando até aqui, são mostrada, muitas vezes, em produções midiáticas endereçadas aos jovens surdos e às quais eles têm acesso e referem nas redes sociais e em suas conver-sas no âmbito da escola. Filmes produzidos para cinema – e que são assistidos também em outras telas menores como tevês, computadores e tablets, individual ou coletivamente, em espa-ços privados ou públicos –, telenovelas e peças de comunicação publicitária – legendadas ou traduzidas para a língua brasileira de sinais, ainda que em menor volume, colocam em circulação imagens que mostram/sugerem tais práticas.
A produção chinesa taiwanesa, Hear me [Escuta-me] (2009) pode ser tomada como um exemplo. Caracterizado como um romance juvenil, o filme disponível originalmente em taiwanês, inglês e em língua taiwanesa de sinais, narra o envolvimento de dois jo-vens taiwaneses: Yang Yang e Tian Kuo. Ela uma estudante que trabalha nas ruas como artista de rua para sustentar a irmã Xiao Peng, uma nadadora surda que se prepara para os Jogos Olím-picos Surdos e sonha com a medalha de ouro, ambas filhas de um missionário cristão que está fora do país. Ele um estudante, entregador de refeições preparadas pelo restaurante dos pais. Os conflitos que movem o enredo giram em torno da cultura sur-
330
DEPOIS DA ESCOlA, O EnCOnTRO É nO SHOPPInG: SOCIABIlIDADES, COnECTIVIDADE E jOVEnS SURDOS Em PORTO AlEGRE (RS)
da e de como os pais do rapaz que é ouvinte aceitarão, ou não a namorada surda. Contudo, este é um mal-entendido, apesar de se comunicarem através da língua taiwanesa de sinais, os dois não são surdos, mas pensam que um e outro o são. A trama é construída tendo como base os conflitos existentes relativamen-te aos preconceitos com a surdez e a ‘descrição’ de um modo de viver onde a surdez é a norma e não a audição, sendo assinalada a diferença que constitui o surdo e não a sua falta de audição, segundo argumentam Padden e Humphries (1988).
Ainda sobre a produção cinematográfica Hear Me, interessa no contexto desde artigo destacar a relação dos jovens com as tecnologias móveis e de conectividade. Várias são as cenas de caráter mais descritivo em que o garoto e a garota são caracte-rizados como ‘jovens, urbanos, contemporâneos’ a partir do uso de telefones celulares e mensagens instantâneas, da navegação em sites de relacionamentos, onde a partir de uma micro câmera conversam em língua taiwanesa de sinais e da escrita em taiwa-nês. Em cenas ambientadas nas ruas, a presença da tecnologia através das fotografias capturadas a partir dos telefones móveis, assim como de uma indumentária composta por camisetas, cal-ças jeans, tênis, mochilas e bonés e a presença intensa de ele-mentos de campanhas midiáticas de marcas reconhecidas como juvenis, são expostas reiteradamente.
Desta forma, a partir de Giddens (2002) penso que, relativamente às identidades e culturas juvenis surdas, eleger um estilo de vida aparece como parte de uma espécie de projeto de autoconstituição identitária sempre em construção a partir da escolha de ‘modelos’ que a cultura contemporânea em articulação com uma memória da comunidade surda oferece em um processo de reflexividade ‘interminável’, de construir-se a si mesmo a partir de escolhas que se multiplicam. Os jovens surdos constroem suas identidades a partir de elementos de várias origens, o que no âmbito das cultu-ras juvenis é pensado por Feixa (2006) como estilos de vida, pois para este autor, as culturas juvenis se referem em sentido amplo à
331
marta Campos de Quadros
“maneira como as experiências sociais [e culturais] dos jovens são expressas coletivamente mediante estilos distintivos, localizados fundamentalmente no tempo livre, ou em espaços intersticiais da vida institucional” (Feixa, 2006, p.84)
Fixo esta imagem como possibilidade de compreensão futura das dinâmicas constatadas junto aos jovens surdos que tenho observado e ainda vou observar, pois suas práticas fornecem in-dícios deste ‘catar’ e nos deixam perceber através das formas como se produzem integrantes desta ou daquela cultura juve-nil urbana, articulando elementos de diferentes temporalidades e produzindo o que Martín-Barbero (2001) caracteriza como destempos, ou a convivência do múltiplo, dos vários tempos si-multaneamente, na forma do palimpsesto, como característica de um novo regime de sensibilidades que articula as diferentes possibilidades oferecidas pela tecnologia.
Referências Bibliográficas
APPADURAI, Arjun Modernity at Large: cultural dimensions of globalization. 7ed. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005.
BAUMAN, H-Dirksen L. (ed.). Open Your Eyes: Deaf Studies Talking. Minneapo-lis: University of Minnesota Press. 2008.
CARRANO, Paulo. Identidades culturais juvenis e escolas: arenas de conflito e possibilidades. In: MOREIRA, Antônio Flávio; CANDAU, Vera Maria (orgs). Mul-ticulturalismo: diferenças culturais e práticas pedagógicas. 2 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. p. 182-211.
CHAMBERS, Iain. Migrancy, culture, identity. Oxon: New York: Routledge, 2005.
CRONEBERG, Carl G. The Linguistic Community, Appendix C. In: STOKOE, William C,Jr; CASTERLINE, Dorothy C.; CRONEBERG, Carl G. A Dictionary of American Sign Language on Linguistic Principles. Silver Springs, Md: Linstok Press, 1976. New Edition. p. 297-311.
DAYRELL, Juarez. A escola “faz” as juventudes? Reflexões em torno da socia-lização juvenil. Educação e Sociedade, Campinas, vol.28, n.100 – Especial, p. 1105-1128, out.2007.
332
DEPOIS DA ESCOlA, O EnCOnTRO É nO SHOPPInG: SOCIABIlIDADES, COnECTIVIDADE E jOVEnS SURDOS Em PORTO AlEGRE (RS)
DE CERTEAU, Michel. A Invenção do Cotidiano. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.
FEIXA, Carles. A construção histórica da juventude. In: CACCIA-BAVA, Augusto; FEIXA, Carles; GONZÁLES, Yanko.(org) Jovens na América Latina. São Paulo: Escrituras, 2004. p.257- 327.
FEIXA PAMPOLS, Carles. De jóvenes, bandas y tribos. 2 ed. rev. e ampl. Barce-lona: Ariel, 2006.
FURQUIM, Fernanda. Switched at birth terá novos episódios para sua 1ª tem-porada. Disponível em:< http://veja.abril.com.br/blog/temporadas/tag/swi-tched-at-birth/>. Acessado em 2 nov. 2012.
GARAY, Adrián de. El Rock como Conformador de Identidades Juveniles. Nóma-das. Santafé de Bogotá, n.4. p. 10-15, mar-ago. 1996.
GARCÍA CANCLINI, Néstor. A Globalização Imaginada. Trad. Sérgio Molina. São Paulo: Iluminuras, 2003.
GARCÍA CANCLINI , Néstor. Diferentes, Desiguais e Desconectados – mapas da interculturalidade. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2007.
GEERTZ, Clifford; CLIFFORD, James, (org.). El Surgimiento de la Antropologia Posmoderna. Comp. e Trad. Carlos Reynoso. Barcelona: Gedisa, 1992.
GEERTZ, Clifford. Estar lá, escrever aqui. Tradução de Mario Salviano Silva. Diálogo, São Paulo, v. 22, n. 3, p. 58-63, 1989.
GOTTSCHALK, Simon. Postmodern Sensibilites and Ethnographic Possibilities. In: BANCKS, Anna; BANCKS, Stephen P. (eds.). Fiction and Social Research: by ice or fire. Walnut Creek/ London/ New Delhi: Altamira Press, 1998. p. 206-227.
GREEN, Bill & BIGUM, Chris. Alienígenas na Sala de Aula. In; SILVA, Tomaz Ta-deu da (org.). Alienígenas na Sala de Aula. Uma Introdução aos Estudos Cultu-rais em Educação. Trad. Tomaz Tadeu da Silva. 4ed. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 208-243.
HALL, Stuart. Quem Precisa de Identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade e Diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis, RJ: Vo-zes, 2005. p.103-133.
HALL, Stuart. Da Diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: UFMG, 2003.
HALL, Stuart. Identidades Culturais na Pós-Modernidade. Trad. Tomaz. T. da Sil-va e Guacira Louro. 2 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 1999.
333
marta Campos de Quadros
HALL, Stuart. A Centralidade da Cultura: notas sobre as revoluções do nosso tempo. Educação & Realidade. Porto Alegre, v.22, n.2, p. 15-46, jul./dez. 1997.
HOLCOMB, Roy; HOLCOMB, Samuel; HOLCOMB, Thomas. Deaf Culture – Our Way: Anecdotes from the Deaf Community. 3ed. San Diego, California: Dawn Sign Press. 1994.
KANNAPELL, Barbara. Deaf Identity: an American Perspective. In: ERTING, Carol J. et. al.(ed.) The deaf way: perspectives from the International Conference on Deaf Culture. Washington D.C.: Gallaudet University Press, 1994. p. 44-48
KARNOPP, Lodenir. B.; KLEIN, Madalena.; LUNARDI-LAZZARIN, Márcia.(org.) Cultura Surda na Contemporaneidade: negociações, intercorrências e provoca-ções. Canoas, RS: Editora da ULBRA, 2011.
LADD, Paddy. Understanding Deaf Culture: In Search of Deafhood. Bristol, UK: Multilingual Matters, 2003.
LANE, Harlan, HOFFMEISTER, Robert, BAHAN, Ben. A journey into the deaf word. San Diego, California: DawnSignPress, 1996.
LOPES, Maura C.; THOMA, Adriana da S. (Orgs.). A invenção da surdez: cultura, alteridade, identidade e diferença no campo da educação. Santa Cruz do Sul, RS: EDUNISC, 2004.
LOPES, Maura C.; VEIGA-NETO, Alfredo. Marcadores culturais surdos: quando eles se constituem no espaço escolar. Perspectiva, Florianópolis, v.24, n. Espe-cial, p. 81-100, jul./dez. 2006.
MAGNANI, José Guilherme Cantor. A antropologia urbana e os desafios da metrópole. Tempo Social, Revista de Sociologia da USP [online], vol.15, n.1, p. 81-95, 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ts/v15n1/v15n1a05.pdf>. Acesso em 10 out 2011.
MAGNANI, José Guilherme Cantor. Os circuitos dos jovens. Tempo Social, Revis-ta de Sociologia da USP, São Paulo, v. 17, n.2, p.173-205, nov. 2005.
MAGNANI, José Guilherme Cantor. “Vai Ter Música?”: para uma antropologia das festas juninas de surdos na cidade de São Paulo. Revista do Núcleo de An-tropologia Urbana da USP. 2007. Disponível em: < http://scholar.google.com.br/scholar?q=Vai+ter+m%C3%BAsica%3F%3A+Por+uma+antropologia+das+festas+juninas+de+surdos+da+cidade+de+S%C3%A3o+Paulo&hl=pt-BR&btnG=Pesquisar&lr=>. Acesso em 10 out. 2011.
MAGNANI, José Guilherme Cantor; SILVA, César Augusto de Assis; Teixeira, Jaqueline Moraes. As festas juninas no calendário de lazer de jovens surdos na cidade de São Paulo. 2008. Disponível em: < http://www.fflch.usp.br/ceru/anais/anais2008_1_ceru04.pdf>. Acesso em 10 out. 2011.
334
DEPOIS DA ESCOlA, O EnCOnTRO É nO SHOPPInG: SOCIABIlIDADES, COnECTIVIDADE E jOVEnS SURDOS Em PORTO AlEGRE (RS)
MARGULIS, Mário; URRESTI, Marcelo. Moda y Juventud. In: MARGULIS, Mário (ed.). La juventud es más que una palabra. 2 ed. Buenos Aires: Biblos, 2000. p. 133-145.
MARTÍN-BARBERO, Jesús. Al sur de La modernidad: comunicación, globalizaci-ón y multiculturalidad. Pittisburgh: Universidad de Pittisburgh, 2001.
MARTÍN-BARBERO, Jesús. Jóvenes: comunicación e identidad. Pensar Iberoa-mérica. Revista de Cultura, n.0, fev. 2002. Disponível em: <http://oei.es/pensa-riberoamerica/ric00a03.htm>. Acessado em 22 de mar. 2009.
MARTÍN-BARBERO, Jesús. Ofício de cartógrafo: travessias latino-americanas da comunicação na cultura. São Paulo: Loyola, 2004.
MARTÍN-BARBERO, Jesús. Pistas para Entre-ver Meios e Mediações. In: Dos Meios às Mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de
Janeiro: UFRJ, 2003. p. 11-25.
MURRAY, Joseph J. Coequality and Transnational Studies: understanting deaf lives. In: BAUMAN, Dirksen L.. (ed.) Open Your Eyes: Deaf Studies Talking. Min-neapolis: University of Minnesota Press. 2008. p. 100-122.
NICOLACI-DA-COSTA, Ana Maria. Celulares: um “presente do céu” para mães de jovens. Psicologia Social, vol.19, no.3, p.108-116, set./dez. 2007. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/psoc/v19n3/a15v19n3.pdf>. Acesso em 10 set. 2010.
NILAN, Pam; FEIXA, Carles. Introduction: youth hybridity and plural worlds. In: (eds). Global Youth? Hybrid identities, plural worlds. London; New York: Routledge, 2006. p. 1-13.
OLIVEIRA, Julienne G. de; TSCHIEDEL, Laura; PEREIRA, Nayana. Os jovens e o shopping center. In: PINTO. Michele L.; PACHECO, Janie K. (orgs.). Juventude, Con-sumo e Educação3: uma perspectiva plural. Porto Alegre, ESPM, 2011. p. 113-130.
PADDEN, Carol, HUMPHRIES, Tom. Deaf in America: voices from a culture. Cam-bridge: Harvard University Press, 1998.
PERLIN, Gladis T. O lugar da cultura surda. In: LOPES, Maura C.; THOMA, Adria-na da S. (Orgs.). A invenção da surdez: cultura, alteridade, identidade e dife-rença no campo da educação. Santa Cruz do Sul, RS: EDUNISC, 2004. P. 73-82.
PERLIN, Gladis T. Identidades Surdas. In: SKLIAR, Carlos. (org.) Surdez. Um olhar sobre as diferenças. 6ed. Porto Alegre: Mediação, 2012. p. 51-73.
PINHEIRO, Daiane. You Tube como pedagogia cultural: espaço de produção, circulação e consumo da cultura surda. 2012. Dissertação (Mestrado em Edu-cação). Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria: UFSM, 2012.
335
marta Campos de Quadros
QUADROS, Marta Campos de. Tá Ligado?!: Práticas de escuta de jovens urba-nos contemporâneos e panoramas sonoros na metrópole, uma pauta para a Educação. 2011.
Tese (Doutorado em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação, Fa-culdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: UFRGS, 2011.
SERRANO, José Fernando. Ni lo mismo, ni lo outro: la singularidade de lo juve-nil. Nómadas. Santafé de Bogotá, n.16, p. 10-25, abril 2002.
SILVA, Sandra Rúbia da. Eu não vivo sem celular: sociabilidade, consumo, cor-poralidade e novas práticas nas culturas urbanas. Intexto, Porto Alegre: UFRGS, v. 2, n. 17, p. 1-17, julho/dezembro 2007. Disponível em: < http://seer.ufrgs.br/intexto/article/view/3457/>. Acesso em 20 ago. 2011.
STEINBERG, Shirley R.; KINCHELOE, Joe. Sem Segredos: cultura infantil, sa-turação de informação e infância pós-moderna. In: STEINBERG, Shirley R.; KINCHELOE, Joe.(org.). Cultural infantil: A construção corporativa da infância. Trad. George Eduardo Jupiassú Brício. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. p. 9-52.
SKLIAR, Carlos. Os Estudos Surdos em Educação: problematizando a normali-dade. In: SKLIAR, Carlos.(org.) Surdez. Um olhar sobre as diferenças. 6ed. Porto Alegre: Mediação, 2012. p. 7-32.
STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda. 2 ed. rev. Florianó-polis: Ed. da UFSC, 2009.
THOMA, Adriana da S.; GIORDANI, Liliane Ferrari. Percursos de formação: me-mórias e trajetórias de professores que atuam na educação de surdos. V CIPA – CONGRESSO INTERNACIONAL DE PESQUISA (AUTO)BIOGRÁFICA. Porto Alegre, Brasil, 2012.
WILLIS, Paul. Common Culture: symbolic work at play in the everyday cultures of the young. Buckingham, UK: Open University Press, 1990.
WRIGLEY, O. The politics of deafness. Washington: Gallaudet University Press, 1996.
VITELLI, Celso. Relação entre jovens, consume, estética e shopping centers. In: PINTO. Michele L.; PACHECO, Janie K. (orgs.). Juventude, Consumo e Educação. Porto Alegre, ESPM, 2008. p. 27-43.
336
DEPOIS DA ESCOlA, O EnCOnTRO É nO SHOPPInG: SOCIABIlIDADES, COnECTIVIDADE E jOVEnS SURDOS Em PORTO AlEGRE (RS)
Sites
ABC FAMILY, <http://beta.abcfamily.go.com/shows/switched-at-birth>. Aces-so em 2 nov. 2012.
CULTURA SURDA,<http://culturasurda.net/sobre-o-site/>. Acesso em 25 nov. 2012.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2010. Disponível em < http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/cen-so2010/sinopse.pdf>. Acesso em 2 ago. 2011.
Recebido em 01/10/2012Aprovado em 15/11/2012