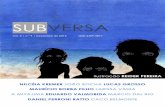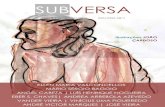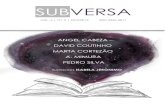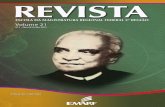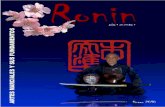Revista - Vol 1112010 Web
Transcript of Revista - Vol 1112010 Web

VOLUME 11 • NÚMERO 1 •2010

REVISTA BRASILEIRA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL(Brazilian Journal of Vocational Guidance)
(Revista Brasileña de Orientación Profesional)Revista Semestral da Associação Brasileira de Orientadores Profissionais (ABOP)
Volume 11, Número 1, 2010ISSN 1679-3390 (versão impressa) / E-ISSN 1984-7270 (versão online)
ImpressãoVetor Editora Psico-Pedagógica Ltda.
IndexadoresLILACS (Literatura Latinoamericano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, Brasil) (http://bases.bvs.br)
Index Psi Periódicos (CFP/PUCCAMP, Brasil) (www.bvs.psi.org.br)
CLASE (Indexador Latinoamericano de Revistas das Ciências e Humanidades, México)
Disponível nas bibliotecas da Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia - (ReBAP) - (www.bvs-psi.org.br/rebap)
Disponível no (http://pepsic.bvs-psi.org.br/rbop)
Revista Qualis Psicologia B2 (Avaliação ANPEPP-CAPES 2009)
A Revista Brasileira de Orientação Profissional (RBOP) é uma publicação semestral da Associação Brasileira de Orientadores Profissionais (ABOP), em parceria com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (FFCLRP-USP) e conta com o apoio da Vetor-Editora. A Revista Brasileira de Orientação Profissional (RBOP) publica trabalhos ori-ginais na área de Orientação Profissional e de Carreira nos contextos da Educação, Trabalho e Saúde e nas interfaces com outras áreas do conhecimento. São aceitos manuscritos nos idiomas português, espanhol e inglês, na versão original da língua dos autores. Os trabalhos publicados deverão enquadrar-se nas categorias: relatos de pesquisas, estudos teóricos, revisões críticas da literatura, relatos de experiência profissional, ensaios e resenhas. As normas nas três línguas estão disponíveis em http://pepsic.bvs-psi.org.br/rbop
Avaliação dos ManuscritosOs trabalhos encaminhados para publicação deverão estar de acordo com as normas. Estes serão aceitos ou recusados com base no parecer do Conselho Editorial que poderá, a seu critério, fazer uso de consultores ad hoc.
Direitos AutoraisOs direitos autorais dos artigos publicados pertencem à Revista Brasileira de Orientação Profissional. A reprodução total dos artigos desta Revista em outras publicações, ou para qualquer outra utilidade, está condicionada à autorização escrita do Editor. Pessoas interessadas em reproduzir parcialmente os artigos desta Revista (partes do texto que excederem 500 palavras, tabelas, figuras e outras ilustrações) deverão ter permissão escrita do(s) autor(es).
Encaminhamento de ManuscritosA remessa de manuscritos para publicação, bem como toda a correspondência de seguimento que se fizer necessária, deve ser endereçada para:
Lucy Leal Melo-SilvaEditora da Revista Brasileira de Orientação ProfissionalDepartamento de Psicologia e Educação da FFCLRP-USPAv. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre14040-901 - Ribeirão Preto-SPTelefone: +55 (16) 3602 3789E-mail: [email protected] / [email protected]
http://pepsic.bvs-psi.org.br/rbop
DireçãoEditora CientíficaLucy Leal Melo-Silva (Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, Brasil)
Editores AssociadosMaria Célia Pacheco Lassance (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre-RS, Brasil)Manoel Antônio dos Santos (Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, Brasil)
Comissão Executiva Marco Antonio Pereira Teixeira (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre-RS, Brasil)Sonia Regina Pasian (Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, Brasil)
Conselho EditorialDulce Consuelo Andreatta Whitaker (Universidade Estadual Paulista, Araraquara-SP, Brasil)Dulce Helena Penna Soares (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis-SC, Brasil)Jorge Castellá Sarriera (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre-RS, Brasil)Julia Maria Silva (American Psychological Association, Washington, EUA)Julio Gonzáles (Universidad de Carabobo, Carabobo, Venezuela)Luciana Albanese Valore (Universidade Federal do Paraná, Curitiba-PR, Brasil)Marcos Alencar Abaide Balbinotti (Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canadá)Marcelo Afonso Ribeiro (Universidade de São Paulo, São Paulo-SP, Brasil)Maria do Céu Taveira (Universidade do Minho, Braga, Portugal)Maria Luísa Rodrigues Moreno (Universidad de Barcelona, Barcelona, Espanha)Maria Odília Teixeira (Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal)Marina Müller (Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina)Mauro de Oliveira Magalhães (Universidade Federal da Bahia, Salvador- BA, Brasil)Sílvia Helena Koller (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre-RS, Brasil) Thaís Zerbini (Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, Brasil)
Equipe TécnicaMara de Souza Leal (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, Brasil)Eduardo Name Risk (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, Brasil)Marcia Regina da Silva (Universidade de São Paulo, Biblioteca Central, Ribeirão Preto-SP, Brasil)Maria Cristina Manduca Ferreira (Universidade de São Paulo, Biblioteca Central, Ribeirão Preto-SP, Brasil)
Revisão Izaura Maria Lemos (inglês)Julia Oscar Marques (espanhol)
Diagramação Murilo Ohswald Máximo
Revista Brasileira de Orientação Profissional . – v. 4, n. 1/2 –Edição EspecialSão Paulo, SP, Brasil : Vetor Editora, 2003 - Substitui Revista da ABOP, 1997-1999.SemestralISSN 1679-3390
1. Orientação Profissional – Periódico. I.Vetor Editora, São Paulo, SP.
CDD 371.425CDU 37.048.3

Dando início às atividades de 2010 registra-se a aprovação da inclusão da Revista Brasileira de Orientação Profissional na base de dados CLASE, que indexa documentos publicados em periódicos de revistas latinoamericanas especializadas nas ciências sociais e humanas. O Conselho Editorial tem trabalhado para ampliar as indexações da Revista de forma a torná-la mais qualificada e acessível aos leitores. Nessa direção, novas normas e diretrizes para a publicação na Revista foram estabelecidas e são divulgadas neste número, publicado na transição. Metas estão sendo definidas tendo em vista a qualidade na divulgação da produção científica.
Neste número o leitor encontrará quatro contribuições internacionais, três de Portugal e uma da Argentina. O fascí-culo contém o relatório de gestão editorial relativo ao ano de 2009, nove artigos originais, dois relatos de experiência, um ensaio e uma resenha. Registra-se o empenho na busca incessante de interlocução entre pesquisadores e profissionais, como forma de estimular pesquisas que estimulem melhorias em práticas e políticas públicas, no contexto brasileiro e a interlocução com investigadores iberoamericanos na área de Orientação Profissional.
Na Seção Artigos Originais, o primeiro estudo intitulado Será que sou capaz? Estudo diferencial de auto-eficácia com alunos do nono ano é de autoria de Susana Coimbra e Anne Marie Fontaine, da Universidade do Porto, Porto, Portugal. Trata-se de uma investigação com 449 estudantes portugueses do 9º ano de escolaridade, na situação de primeira grande decisão de carreira. O estudo objetivou analisar o efeito das variáveis gênero e nível socioeconômico sobre os interesses ocupacionais e quatro dimensões da autoeficácia (ocupacional, matemática, acadêmica e generalizada).
A seguir dois artigos tratam da avaliação psicológica no âmbito da orientação profissional e de carreira, focalizando instrumentos validados e padronizados para o contexto brasileiro. O artigo Evidências de precisão e validade do Teste de Fotos de Profissões (BBT-Br), de Sonia Regina Pasian e Erika Okino, da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, Brasil, contribui para o aprimoramento de instrumentos de avaliação psicológica. O estudo foi conduzido em uma amostra de 497 jovens, entre 16 e 19 anos de idade, de ambos os sexos, estudantes do Ensino Médio público. Foram realizadas análises de precisão e de validade do BBT-Br de Achtinich. A validação convergente com Self Direct Search (SDS) cons-titui relevante contribuição para área.
Na linha de estudos sobre avaliação vocacional, a outra contribuição é de Ana Paulo Porto Noronha e Fernanda Ottati, da Universidade de São Francisco, Itatiba-SP, Brasil. O artigo intitulado Interesses profissionais de jovens e escola-ridade dos pais analisa as relações entre os interesses profissionais de 81 alunos do ensino médio e os níveis educacionais dos pais, por meio de dois instrumentos de avaliação, a Escala de Aconselhamento Profissional e o Self Direct Search (SDS - Busca Auto-Dirigida).
Questões são debatidas em estudos teóricos. Assim, a quarta contribuição, intitulada A subrepresentatividade das mulheres em áreas tipicamente masculinas: Factores explicativos e pistas para a intervenção de Luísa Saavedra, Maria do Céu Taveira e Ana Daniela Silva, da Universidade do Minho, Braga, Portugal, focaliza a participação de mulheres e homens na educação e no trabalho nas áreas das Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas. Uma instigante contribuição de colegas portugueses, que com certeza, motivará investigadores brasileiros a discutir a pre-sença de mulheres nos “sagrados campos” das exatas. Cabe a indagação: em que os brasileiros assemelham ou dife-renciam dos portugueses?
A quinta contribuição, outro estudo teórico, desta vez inserido no contexto organizacional, intitula-se Modelo Transteórico de Mudança: Contribuições para o coaching de executivos, de Germano Glufke Reis e Lina Eiko Nakata, da Universidade de São Paulo, São Paulo-SP, Brasil. Os autores apontam a necessidade de se lastrear o coaching em evidên-cias empiricamente mais consistentes, ainda que incorporando contribuições de conhecimentos já existentes nas ciências
Disponível em http://pepsic.bvs-psi.org.br/rbop
Revista Brasileira de Orientação Profissionaljan.-jun. 2010, Vol. 11, No. 1, 1-164
EDITORIAL

Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 1-164
comportamentais e sociais. Destacam a relevância do Modelo Transteórico de Mudança para aplicações no processo de coaching e examinam possíveis contribuições e limitações do referido modelo.
Quatro estudos de revisão da literatura compõem este fascículo. O primeiro deles intitulado Os estudantes maiores de 23 anos no Ensino Superior português: Estudo crítico e revisão documental, de autoria de Rita Santos Silva e Inês Nascimento, da Universidade do Porto, Porto, Portugal, focaliza a revisão crítica da literatura relativa ao acesso dos adultos maiores de 23 anos ao Ensino Superior no contexto educativo português. São explorados modelos de formação/educação de adultos e as implicações no acesso à universidade no âmbito europeu e, sobretudo, português.
O outro artigo, também uma contribuição portuguesa, é o estudo de Paulo Jorge Santos, da Universidade do Porto, Porto, Portugal, intitulado Família e indecisão vocacional: Revisão da literatura numa perspectiva da análise sistêmica. Trata-se de uma boa contribuição para o debate sobre a questão da indecisão vocacional de adolescentes e jovens adultos em relação ao funcionamento das famílias. O autor realiza uma análise crítica da investigação familiar sistêmica aplicada às dificuldades de escolha vocacional, apresenta propostas para compreensão do problema e sugere novas linhas de pesquisa.
O oitavo estudo, de Ana Lúcia Ivatiuk e Elisa Medici Pizão Yoshida, da Pontifícia Universidade Católica, Campinas-SP, Brasil, intitulado Orientação Profissional de pessoas com deficiências: Revisão de literatura (2000-2009), trata da produção científica sobre orientação profissional nesse contexto. A análise dos dados “focalizou o tipo de suporte da pro-dução, a natureza dos trabalhos, a faixa etária da população-alvo, o modelo teórico e metodológico e as características do processo de orientação profissional”.
O outro estudo de revisão focaliza a Produção científica em congressos brasileiros de orientação vocacional e profissional: Período 1999-2009, de autoria de Lucy Leal Melo-Silva, Mara de Souza Leal e Nerielen Martins Neto Fracalozzi, da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto- SP, Brasil. O estudo sistematiza os trabalhos publicados nos livros de “Programa e Resumos” de seis eventos científicos realizados pela Associação Brasileira de Orientação Profissional (ABOP), compreendendo uma década (1999 a 2009). Foram analisados 733 resumos de apresentações orais, painéis e mesas-redondas. Os resultados permitem verificar o que tem sido produzido e as possíveis tendências para futuras investigações.
A décima contribuição é o relato de experiência intitulado Orientação profissional no contexto psiquiátrico: Contribuições e desafios, de Luciana Albanese Valore, da Universidade Federal do Paraná, Curitiba-PR, Brasil. O artigo analisa os alcances e limites de uma intervenção em orientação profissional, com pacientes psiquiátricas em vias de rece-ber alta, focalizando a construção de um projeto de vida como ferramenta para a reintegração social.
Outro relato de experiência, intitulado Um estudo de caso em Orientação Profissional: Os papéis da avalia-ção psicológica e da informação profissional é de Rodolfo Augusto Matteo Ambiel, da Universidade São Francisco, Itatiba-SP, Brasil. O estudo se baseia em resultados da avaliação psicológica e da informação profissional. Trata-se de uma prática considerada tradicional na área. A contribuição refere-se à entrevista de acompanhamento que avaliou a estabilidade de sua escolha.
Por sua vez, o ensaio de Beatriz Elena Mercado, da Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina focaliza também a avaliação: O efeito orientador do psicodiagnóstico. Para a autora, “qualquer psicodiagnóstico pode ser consi-derado um diálogo contínuo e um acontecimento com efeito orientador”. A relação entre o psicólogo e o cliente gera uma “co-produção da subjetividade” que permite a visão de uma nova orientação para o presente e o futuro.
Para finalizar este fascículo, publicamos a resenha de Eduardo Name Risk, da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, Brasil, intitulada A editoração científica em questão: Dimensões da Psicologia. O autor contribui com uma
iv

Editorial
visão especial sobre o livro “Publicar em Psicologia: Um enfoque para a revista científica”, a perspectiva dos bas-tidores da editoração. Trata-se de uma obra recomendada aos pesquisadores da área da Psicologia como um todo e fundamental para editores.
O Conselho Editorial tem trabalhado intensamente para que a revista possa continuar contribuindo para consolidar os avanços na área e para que a teoria e a prática sejam sempre objetos de reflexão crítica dos leitores e investigadores tendo em vista diferentes cenários e contextos de aplicações do conhecimento. Desejamos a todos uma instigante leitura!
Lucy Leal Melo-SilvaEditora Científica
v


Editorial.......................................................................................................................................................iiiLucy Leal Melo-Silva
Seção Especial
Revista Brasileira de Orientação Profissional: Relatório de gestão 2009.................................................01Lucy Leal Melo-Silva, Eduardo Name Risk
Artigos Originais
Será que sou capaz? Estudo diferencial de auto-eficácia com alunos do nono ano..................................05Susana Coimbra, Anne Marie Fontaine
Evidências de precisão e validade do Teste de Fotos de Profissões (BBT-Br)............................................23Sonia Regina Pasian, Erika Okino
Interesses profissionais de jovens e escolaridade dos pais..............................................................................37Ana Paulo Porto Noronha, Fernanda Ottati
A subrepresentatividade das mulheres em áreas tipicamente masculinas:Factores explicativos e pistas para a intervenção..............................................................................................49Luísa Saavedra, Maria do Céu Taveira e Ana Daniela Silva
Modelo Transteórico de Mudança: Contribuições para o coaching de executivos....................................61Germano Glufke Reis, Lina Eiko Nakata
Os estudantes maiores de 23 anos no Ensino Superior português Estudo crítico e revisão documental.......................................................................................................................73Rita Santos Silva, Inês Nascimento
Família e indecisão vocacional:Revisão da literatura numa perspectiva da análise sistêmica........................................................................83Paulo Jorge Santos
Orientação Profissional de Pessoas com Deficiências: Revisão de literatura (2000-2009).......................95Ana Lúcia Ivatiuk, Elisa Medici Pizão Yoshida
Produção científica em congressos brasileiros deorientação vocacional e profissional: Período 1999-2009................................................................................107Lucy Leal Melo-Silva, Mara de Souza Leal, Nerielen Martins Neto Fracalozzi
Relato de Experiência Profissional
Orientação profissional no contexto psiquiátrico: Contribuições e desafios............................................121Luciana Albanese Valore
Um estudo de caso em Orientação Profissional:Os papéis da avaliação psicológica e da informação profissional................................................................133Rodolfo Augusto Matteo Ambiel
Ensaio
O efeito orientador do psicodiagnostico..............................................................................................................145Beatriz Elena Mercado
Resenha
A editoração científica em questão: Dimensões da Psicologia......................................................................151Eduardo Name Risk
Normas para Publicação............................................................................................................................................155
Disponível em http://pepsic.bvs-psi.org.br/rbop
Revista Brasileira de Orientação Profissionaljan.-jun. 2010, Vol. 11, No. 1, 1-164
SUMÁRIO

Disponível em http://pepsic.bvs-psi.org.br/rbop
Revista Brasileira de Orientação Profissionaljan.-jun. 2010, Vol. 11, No. 1, 1-164
Editorial.......................................................................................................................................................iiiLucy Leal Melo-Silva
Special Section
Brazilian Journal of Vocational Guidance: Management report 2009......................................................01Lucy Leal Melo-Silva, Eduardo Name Risk
Original Articles
Can I make it? Self-efficacy differential study among 9th graders................................................................05Susana Coimbra, Anne Marie Fontaine
Evidences of reliability and validity of the Berufsbilder-Test (BBT-Br)......................................................23Sonia Regina Pasian, Erika Okino
Youth’s Professional Interests and their parents’ education...........................................................................37Ana Paulo Porto Noronha, Fernanda Ottati
The Underrepresentation of Women in Typically Male Areas:Explanatory factors and Paths for Intervention.................................................................................................49Luísa Saavedra, Maria do Céu Taveira e Ana Daniela Silva
The Transtheoretical Model of Change: Contributions to executive coaching...........................................61Germano Glufke Reis, Lina Eiko Nakata
The students oldest than 23 years in Portuguese Higher EducationCritical study and documentary review................................................................................................................73Rita Santos Silva, Inês Nascimento
Family and career indecision:Literature review from the perspective of systemic analysis..........................................................................83Paulo Jorge Santos
Vocational Guidance for People with Disabilities: Literature review (2000-2009)....................................95Ana Lúcia Ivatiuk, Elisa Medici Pizão Yoshida
Analysis of Brazilian scientific Production invocational and career guidance: Congresses in 1999-2009..............................................................................107Lucy Leal Melo-Silva, Mara de Souza Leal, Nerielen Martins Neto Fracalozzi
Professional Experience Report
Vocational guidance in a psychiatric context: Contributions and challenges..........................................121Luciana Albanese Valore
A case study in vocational guidance:the role of psychological assessment and vocational information...............................................................133Rodolfo Augusto Matteo Ambiel
Essay
The guiding effect of psychodiagnostic interaction.........................................................................................145Beatriz Elena Mercado
Review
Scientific editing in question: Psychology dimensions...................................................................................151Eduardo Name Risk
Publication Norms.......................................................................................................................................................155
CONTENTS

Disponível em http://pepsic.bvs-psi.org.br/rbop
Revista Brasileira de Orientação Profissionaljan.-jun. 2010, Vol. 11, No. 1, 1-164
Editorial.......................................................................................................................................................iiiLucy Leal Melo-Silva
Sección Especial
Revista Brasileña de Orientación Profesional: Informe de gestión 2009.................................................01Lucy Leal Melo-Silva, Eduardo Name Risk
Artículos Originales
¿Seré capaz? Estudio diferencial de autosuficiencia con alumnos de noveno año....................................05Susana Coimbra, Anne Marie Fontaine
Evidencias de precisión y validez de la prueba de Fotos de Profesiones (BBT-Br)...................................23Sonia Regina Pasian, Erika Okino
Intereses profesionales de jóvenes y escolaridad de los padres......................................................................37Ana Paulo Porto Noronha, Fernanda Ottati
La escasa representatividad de las mujeres en áreas típicamente masculinas:Factores explicativos y pistas para la intervención...........................................................................................49Luísa Saavedra, Maria do Céu Taveira e Ana Daniela Silva
Modelo Transteórico de Cambio: Contribuciones al coaching de ejecutivos..............................................61Germano Glufke Reis, Lina Eiko Nakata
Estudiantes mayores de 23 años en la Enseñanza Superior portuguesa:Una revisión crítica de la bibliografía....................................................................................................................73Rita Santos Silva, Inês Nascimento
Familia e indecisión vocacional:Revisión de la bibliografía en una perspectiva del análisis sistémico..........................................................83Paulo Jorge Santos
Orientación profesional de personas con deficiencias: Revisión de bibliografía (2000-2009).................95Ana Lúcia Ivatiuk, Elisa Medici Pizão Yoshida
Producción científica en congresos brasileños deorientación vocacional y profesional: Período 1999-2009................................................................................107Lucy Leal Melo-Silva, Mara de Souza Leal, Nerielen Martins Neto Fracalozzi
Informe de Experiencia Profesional
Orientación profesional en el contexto psiquiátrico: Contribuciones y desafíos.....................................121Luciana Albanese Valore
Un estudio de caso en Orientación Profesional:Los papeles de la evaluación psicológica y de la información profesional................................................133Rodolfo Augusto Matteo Ambiel
Ensayo
El efecto orientador del psicodiagnóstico...........................................................................................................145Beatriz Elena Mercado
Reseña
La edición científica en cuestión: dimensiones de la Psicología....................................................................151Eduardo Name Risk
Normas para Publicación...........................................................................................................................................155
SUMARIO


1
Este relatório objetiva apresentar dados referentes à tramitação editorial da Revista Brasileira de Orientação Profissional (RBOP) em 2009, a fim de tornar pública sua gestão, assim como os principais indicadores de produtivi-dade e abrangência geográfica do periódico, possibilitan-do que a comunidade acadêmica e profissional situe-o no contexto de outras publicações científicas e em seu cam-po de conhecimento. Informações sobre a gestão editorial de anos anteriores podem ser consultadas em Melo-Silva, Lassance, Santos e Risk (2008) e Melo-Silva e Risk (2009). Este relatório é descrito em três seções: (a) política edito-rial; (b) processo editorial 2009; (c) considerações finais.
Política editorial
A Revista Brasileira de Orientação Profissional é uma publicação semestral da Associação Brasileira de Orientação Profissional (ABOP), em parceria com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FFCLRP-USP), com apoio editorial da Vetor Editora. Em 2009, contou com recursos do Programa de Apoio a Publicações Científicas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A revista perfaz 13 fascículos publicados, contabi-lizados a partir de 2003, ano de sua revitalização, mudança de título e nomeação de novo corpo editorial. Informações sobre a origem do periódico, características e estruturação geral podem ser consultadas em Melo-Silva (2007).
Desde 2003 a Revista tem apresentado algumas mu-danças com vistas a sua melhoria. Porém, é em 2010 que as normas para submissão passaram por relevantes modi-
ficações. As normas nas três línguas estão disponíveis no http://pepsic.bvs-psi.org.br/rbop.
A RBOP está atualmente indexada nas seguintes bases de dados: (a) Literatura Latino-americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS); (b) Index Psi Periódicos (BVS-Psi); (c) Portal de Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC); (d) CLASE, que indexa docu-mentos publicados em periódicos de revistas latinoameri-canas especializadas nas ciências sociais e humanas.
No que tange à avaliação dos periódicos científicos da área, a Revista Brasileira de Orientação Profissional tem sido analisada de acordo com critérios instituídos pelo Qualis Periódicos, área Psicologia, da comissão conjun-ta CAPES-ANPEPP (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia). Em 2008, no-vos critérios foram definidos objetivando discriminar a qualidade e especificidades das revistas brasileiras na área da Psicologia, rompendo com a sistemática até en-tão utilizada (Bastos & Tourinho, 2008), a saber, âmbito (internacional, nacional e local) e qualidade (A, B, C), uma vez que esse sistema já não cumpria seus objetivos de identificar as características dos periódicos, segundo os autores. A nova proposta diminui o peso nos critérios formais (exigências mínimas) e amplia indicadores, ainda que indiretos, de qualidade, como por exemplo, indexa-ção em bases de dados reconhecidas internacionalmente (Bastos et al., 2009). Neste sistema há uma escala única de oito estratos (C, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1), que vão sendo ocupados conforme o preenchimento de requisitos previstos para cada um. De acordo com tais diretrizes,
Revista Brasileira de Orientação Profissional: Relatório de gestão 2009
Lucy Leal Melo-Silva1 Eduardo Name Risk
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, Brasil
1 Endereço para correspondência: Universidade de São Paulo. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto.Departamento de Psicologia e Educação. Av. Bandeirantes, 3900, 14040-901, Ribeirão Preto-SP, Brasil. Fone: (16) 36023789. E-mail: [email protected], [email protected]
Disponível em http://pepsic.bvs-psi.org.br/rbop
Revista Brasileira de Orientação Profissionaljan.-jun. 2010, Vol. 11, No. 1, 1-4
Seção Especial

2
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 1-4
alguns critérios foram considerados para a avaliação 2008 e outros poderão ser incorporados a partir de 2010. Deste modo, a Revista Brasileira de Orientação Profissional foi
classificada no estrato B2, que contempla a presença em pelo menos dois indexadores. A meta para os próximos anos é ampliar as indexações, como mostra a Tabela 1.
Tabela 1Cronograma de metas para solicitação de inclusão em bases de dados de textos completos e referenciais
Tabela 2Distribuição dos artigos submetidos e aprovados em 2009 em função das categorias
Base de dados / Indexador Solicitação de inclusão Resultado
CLASE
PSICODOC
REDALYC
CATÁLOGO LATINDEX
PsycINFO
ScieLo
FAPESP
(Universidad Nacional Autónoma de México)(Colégio Oficial de Psicólogos de Madrid/
Universidad Complutense de Madrid)
(American Psychological Association)(Scientific Eletronic Library Online,/Bireme)
10/11/2008
27/11/2008
13/10/2009
Meta para 2010
Meta para 2011
Meta para 2011/2012
Aprovado
Aguardando parecer
Aguardando parecer
–
–
–
Processo editorial 2009
No que tange ao processo editorial em 2009, o tem-po médio para aprovação de um artigo variou entre cinco e sete meses. Já o tempo médio para publicação perfez dez meses, contabilizando-se a etapa de avaliação e todo o processo de finalização, uma vez que são consumidos cerca de três meses no processo de revisão dos resumos nas três línguas (português, inglês, espanhol), revisão bibliográfica, diagramação, revisão da diagramação pelo
corpo editorial e autores, impressão e preparação do fas-cículo em HTML para disponibilização no PePSIC.
Em 2009, a RBOP recebeu 45 artigos (Tabela 2), sen-do que 13 já foram aprovados para publicação (Tabelas 2 e 3). Dentre os 45 manuscritos submetidos, dezenove (19) enquadravam-se na categoria “relato de pesquisa”, quatorze (14) na categoria “relato de experiência”, cinco (5) na cate-goria “estudo teórico”, dois (2) na categoria “ensaio”, dois (2) na categoria “revisão crítica da literatura”, dois (2) na categoria “documentos” e um (1) na categoria “resenha”.
Categoria do Manuscrito Submetidos Aprovados
Pesquisa
Teórico
Revisão crítica da literatura
Relato de experiência
Ensaio
Resenha
Seção especial
Seção Documentos
Total
19 (42,33%)
5 (11,11%)
2 (4,44%)
14 (31,11%)
2 (4,44%)
1 (2,22%)
–
2 (4,44%)
45 (100%)
13 (50%)
3 (11,54%)
1 (3,85)
1 (3,85%)
1 (3,85%)
1 (3,85%)
3 (11,54%)
3 (11,54%)
26 (100%)
Em 2009 foram publicados vinte e seis (26) traba-lhos, sendo que dezessete (17) constituem artigos origi-nais, totalizando 65,39%. Dentre estes, 50% é resultado de pesquisas empíricas e 11,54% provêm de pesquisas teóricas. O fascículo 10 (1) contém, também, a “Seção Especial” na qual foram publicados o relatório de ges-tão da Revista em 2008 e um guia para redação de texto
científico de autoria de Mark Savickas. O fascículo 10 (2), na referida seção, publicou um relevante texto sobre políticas públicas em orientação de carreira no contexto internacional de autoria de John Mc Carthy. Na “Seção Documentos” do fascículo 10 (1) foi publicado um do-cumento sobre políticas públicas e dois informes sobre congressos internacionais da International Association

Melo-Silva, L. L., & Risk, E. N. (2010). Revista Brasileira de Orientação Profissional: Relatório de gestão 2009
3
Tabela 3Distribuição das instituições de procedência dos autores de artigos nacionais publicados (n=20)
Tabela 4Distribuição das instituições de procedência dos autores de artigos internacionais publicados (n=12)
for Educational and Vocational Guidance (IAEVG). Por sua vez, no fascículo 10 (2) a referida seção contém o re-latório do congresso brasileiro da ABOP. Esses dois for-matos de seções são recentes e os textos nelas publicados cumprem a função de registrar o processo de editoração/produção científica e avanços em políticas públicas na área da orientação, visando a qualificação das práticas de intervenção do orientador educacional e profissional. São textos publicados a critério dos editores que objeti-vam estimular intervenções mais proativas na comuni-dade com perspectiva de interlocução entre diferentes atores: pesquisadores, profissionais e formuladores de políticas públicas.
Com base nos artigos publicados, nota-se que os pesquisadores têm levado a cabo trabalhos que integram prática e teoria no campo da Orientação Profissional.
Deste modo, justifica-se o empenho do corpo editorial da RBOP em propiciar maior comunicação entre profis-sionais e cientistas, a fim de estimular a realização de pesquisas e sua consequente divulgação. Por sua vez, a Orientação Profissional, como ciência e exercício de ati-vidades profissionais, tem passado por mudanças signifi-cativas impulsionadas, sobretudo pela Revista, o que tor-na relevante a existência de seções diferenciadas como a “Seção Especial” e a “Seção Documentos”, nas quais são publicados textos significativos para a produção do conhecimento e a qualificação da prática profissional, como mencionado anteriormente.
A procedência institucional das autorias nacionais dos artigos publicados em 2009 está descrita na Tabela 3. Por sua vez, a Tabela 4 descreve a origem institucional dos autores internacionais.
Instituição n
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre-RSUniversidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SPUniversidade de São Paulo, São Paulo-SPUniversidade São Francisco, Itatiba-SPInstituto de Ensino e Pesquisa emAdministração, Ribeirão Preto-SPUniversidade de Brasília, Brasília-DFUniversidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo-RS, BrasilUniversidade de São Paulo, Piracicaba-SPUniversidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RNUniversidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis-SCTotal
552211111120
Instituição nInternational Centre for Career Development and Public Policy, Strasbourg, FrançaUniversidad de Carabobo, Valencia, VenezuelaUniversidade do Porto, Porto, PortugalInternational Association for Educational and Vocational Guidance, Jyvaska, FinlândiaNortheastern Ohio Universities College of Medicine, Rootstown-Ohio, EUAUniversidad de León, León, EspanhaUniversidade de Lisboa, Lisboa, PortugalUniversidade do Minho, Braga, PortugalUniversité de Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, CanadáTotal
22211111112

4
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 1-4
Assim como nos anos anteriores (2007, 2008), nota-se predominância de autores filiados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade de São Paulo (campus Ribeirão Preto), dois importantes pólos de produção científi-ca na área da Psicologia, em particular, na subárea Orientação Profissional. A seguir destacam-se a Universidade de São Paulo (campus São Paulo) e a Universidade São Francisco (campus Itatiba). Além dos estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul, observam-se contribuições dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Distrito Federal. Quanto às contribuições estrangeiras, nota-se presença de países ibéricos, com os quais os pesquisadores brasileiros da área têm estabelecido parcerias científicas. Além de Portugal e Espanha, há contribuições advindas da França, Canadá, EUA e Venezuela. Comparando as duas tabelas anteriores observa-se que mais de 50% da autoria é internacional.
Considerações Finais
A RBOP está em circulação regular desde 2003 e nestes anos tem tido importante papel no contexto da Orientação Profissional brasileira e iberoamericana. A diversidade na procedência dos autores, por regiões do país e por institui-ções, mostra a abrangência da Revista e sua capacidade de divulgação de diferentes saberes e vozes, constituídas por profissionais e pesquisadores da Orientação Profissional e
áreas afins. Muito ainda há que ser feito com vistas ao au-mento das indexações, ao aperfeiçoamento do processo edi-torial e à distribuição dos fascículos impressos. A disponibi-lização online dos fascículos, a partir de 2007, visou a sanar as dificuldades de localização dos exemplares impressos e, ao mesmo tempo, facilitou o acesso livre de estudantes e pesquisadores, requisito fundamental para a comunidade acadêmica na contemporaneidade. Esse, sem dúvida, foi o grande passo dado em 2007 pela RBOP. Por sua vez, em 2009, o marco histórico da RBOP refere-se à obtenção de Auxílio à Editoração junto ao CNPq. No que tange às pers-pectivas de consolidação científica da RBOP, em termos de divulgação a meta é ampliar a inserção em bases de dados e, em termos operacionais, pretende-se estudar a viabilidade da implementação do processo de submissão eletrônica de manuscritos, a partir da ferramenta Open Journal Systems (OJS), componente da metodologia SciELO disponível às publicações localizadas no PePSIC, objetivando reduzir o tempo dedicado à tramitação editorial, tornando o processo de publicação e avaliação dos manuscritos mais eficaz.
O ano de 2010 torna-se outro momento de especial importância para a revista e seus colaboradores: as normas foram atualizadas visando qualificar ainda mais o periódico e aumentar sua indexação em bases de dados. Esforços na melhoria da editoração e na ampla divulgação da produção científica qualificada continuarão a ser empreendidos.
Referências
Bastos, A. V. B., & Tourinho, E. Z. (2008). Fundação CAPES. Coordenação da área de psicologia: Qualis periódicos 2008. Em Simpósio da ANPEPP, 12. Natal: Rio Grande do Norte. Recuperado em 07 agosto 2008, da BVS-PSI (Biblioteca Virtual em Saúde-Psicologia): http://www.bvs-psi.org.br/QUALIS_Periodicos_ReuniaoEditorial
Bastos, A. V. B., Maraschin, C., Tomanari, G. Y., Andery, M. A. P. A., Guedes, M. C., Yamamoto, O. H., Menandro, P. R. M., Gomes, W. B. (2009). Critérios do qualis de periódicos: Área psicologia. São Paulo: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Recuperado em 15 maio 2009, de http://www.anpepp.org.br/index-aval.htm
Melo-Silva, L. L. (2007). Histórico da Associação Brasileira de Orientação Profissional e da Revista Brasileira de Orientação Profissional. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 8(2), 1-9.
Melo-Silva, L. L., Lassance, M. C. P., Santos, M. A., & Risk, E. N. (2008). Revista Brasileira de Orientação Profissional: Relatório de gestão dos períodos 1997-1999 e 2003-2007. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 9(1), 1-12.
Melo-Silva, L. L., & Risk, E. N. (2009). Revista Brasileira de Orientação Profissional: Relatório de gestão 2008. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 10(1), 1-6.
Sobre os autoresLucy Leal Melo-Silva é Professora Doutora do Departamento de Psicologia e Educação da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, editora da Revista Brasileira de Orientação Profissional, bolsista de Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Eduardo Name Risk é psicólogo, Bacharel em Psicologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FFCLRP-USP), mestrando do Programa de Pós-graduação em Psicologia da mesma instituição, bolsista da FAPESP. Foi assistente editorial da Revista Brasileira de Orientação Profissional e da Paideia.

5
Será que sou capaz? Estudo diferencial de auto-eficácia com alunos do nono ano
1 Endereço para correspondência: Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, Centro de Psicologia Diferencial. Rua Dr. Manuel Pereira da Silva, 4200-392, Porto, Portugal. Fone: 351 226 079 765. E-mail: [email protected]
Disponível em http://pepsic.bvs-psi.org.br/rbop
Revista Brasileira de Orientação Profissionaljan.-jun. 2010, Vol. 11, No. 1, 5-22
Susana Coimbra1
Anne Marie FontaineUniversidade do Porto, Porto, Portugal
ResumoNo final do 9.º ano de escolaridade, os/as estudantes portugueses(as) confrontam-se com a primeira grande decisão de carreira. Neste processo, a avaliação subjectiva das competências possuídas (auto-eficácia) para fazer face a esta transição parece desempenhar um papel importante. Este estudo visa analisar o efeito do género e nível socioeco-nómico sobre os interesses ocupacionais e quatro dimensões de auto-eficácia: ocupacional, matemática, académica e generalizada. Para o efeito, foram administrados instrumentos a 449 estudantes do 9.º ano. Rapazes e raparigas apresentam níveis de auto-eficácia mais elevados relativamente a profissões que correspondem, em termos de este-reótipos, ao seu próprio género. Observa-se ainda que quanto mais elevado o nível sócio-económico, mais elevada a auto-eficácia para profissões de elevado estatuto. Palavras-chave: auto-eficácia, interesses profissionais, escolha profissional, género, nível sócio-económico
Abstract: Can I make it? Self-efficacy differential study among 9th gradersAt the end of the 9th grade, Portuguese students have to make their first important career decision. In this process, the subjective assessment of the skills that are required to meet the demands of this transition into high school seems to play an important role. The aim of our study was to analyse the effect of gender and socioeconomic status (SES) on occupational interests as well as four dimensions of self-efficacy: occupational, mathematical, academic and generalised. Hence, instruments were applied to 449 9th grade students. Both boys and girls are more self-efficacious towards occupations stereotypically associated to their own gender. It was also observed that the higher the students’ SES, the higher their level of academic and occupational self-efficacy.Keywords: self-efficacy, professional interests, occupational choice, gender, socioeconomic status
Resumen: ¿Seré capaz? Estudio diferencial de autosuficiencia con alumnos de noveno añoAl final del 9º año de escolaridad, los estudiantes portugueses se enfrentan a la primera gran decisión de carrera. La evaluación subjetiva de las competencias poseídas (autosuficiencia) para hacer frente a esta transición parece, en este proceso, desempeñar un papel importante. Este estudio trata de analizar el efecto de sexo y clase social sobre los intereses ocupacionales y cuatro dimensiones de autosuficiencia: ocupacional, matemática, académica y generalizada. Al efecto se administraron instrumentos a 449 estudiantes de 9º año. Varones y mujeres presentan niveles de autosuficiencia más elevados con relación a profesiones que corresponden, en términos de estereotipos, a su propio sexo. Se observa, además, que cuanto más elevada es la clase social, más elevada es la autosuficiencia para profesiones de elevado prestigio. Palabras clave: autosuficiencia, intereses profesionales, elección profesional, sexo, clase social
Artigo

6
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 5-22
A escolha de uma carreira é um processo gradual, progressivamente mais realista. São usualmente conside-rados factores como aptidões, interesses ou valores, mas também, a percepção das competências possuídas. Vários estudos realizados em diferentes sociedades e com diferen-tes grupos etários têm demonstrado que as capacidades que acreditamos possuir para completar a formação necessária, ou exercer com sucesso determinada profissão, são prepon-derantes para a tomada de decisão (Betz & Hackett, 1981, 1983, 2006). Ainda que estas crenças de auto-eficácia não correspondam milimetricamente à realidade, são elas que vão guiar as nossas escolhas, determinando a selecção das áreas profissionais que vamos considerar como plausíveis. Porque nem sempre as pessoas enveredam pelas profissões que mais lhes interessam, ou para as quais apresentam ob-jectivamente mais competência, parece importante estu-dar os determinantes contextuais do desenvolvimento de carreira. O processo de escolha de carreira é um processo dinâmico e fortemente influenciado pelas experiências de vida, em particular o desempenho escolar. Com o aumento da idade observa-se um aumento também do realismo das auto-percepções, sobretudo em termos de eficácia pessoal (Bandura, 1995; Lent, Brown, & Hackett, 1994). De acordo com a abordagem sociológica de Gottfredson (1981, 2005; Helwig, 2001), a área de interesse, o prestígio e a tipifi-cação de sexo associados a cada profissão são, por ordem crescente de importância, os critérios mais salientes no pro-cesso de circunscrição progressiva das opções de carreira e de compromisso com as consideradas viáveis. Deste modo, mais facilmente se prescindiria de uma opção de carrei-ra na área de interesse do que de uma opção de carreira avaliada como congruente com o estatuto almejado ou, em particular, com o género. Esta ordem de prioridades seria definida pela própria sequência desenvolvimental, na qual a orientação para os papéis de género surgiriam mais pre-cocemente (durante o segundo estádio, dos 6 aos 8 anos), seguida da orientação para a valorização ou prestígio social (durante o terceiro estádio, dos 9 aos 13 anos) e só depois da orientação para o self, interno e único (durante o quarto estádio, a partir dos 14 anos). A ascendência do género e do nível socioeconómico nas aspirações de carreira e em variáveis associadas, como os valores, interesses ou per-cepção de competência, não deve, pois, ser negligenciada (Gottfredson, 1981, 2005). As raparigas e os jovens pro-venientes de estratos sociais mais desfavorecidos podem, por isso, ser considerados grupos de risco em termos de desenvolvimento de carreira. Tradicionalmente, acreditam menos nas suas capacidades, restringindo as suas opções futuras, observando-se, como consequência, um amplo desfasamento na representação destes grupos sociais nos diferentes níveis da estratificação profissional.
Escola: garantia de democratização do ensino ou reprodutora de desigualdades sociais?
Portugal é um dos países da Comunidade Europeia onde existe um maior hiato entre diferentes classes sociais (EUROSTAT, 2009, 2010). Para além disso, a pobreza parece estar longe de ser residual, sendo um “fenómeno insuspeitadamente extenso” (Costa, Baptista, Perista, & Carrilho, 2008, p. 106). A pobreza parece ser uma realidade, mais transitória ou mais definitiva, para uma percentagem considerável de famílias, atingindo sobretudo os mais jo-vens: aproximadamente 1/5 dos jovens com menos de 18 anos de idade vive em risco de pobreza (Costa et al., 2008; EUROSTAT, 2009, 2010). A escola, ao preparar para o mundo do trabalho, pode promover ou limitar as oportuni-dades. A evidência empírica parece sustentar a hipótese da reprodução social escolar (Mónica, 1981; Morrow & Torres, 1997). De facto, a relação entre o nível socioeconómico e os resultados académicos é, porventura, a mais estudada des-de o início da Psicologia, sendo os resultados coincidentes em diferentes contextos e períodos. De uma forma geral, as crianças de níveis socioeconómicos mais baixos têm muito piores resultados do que as de níveis mais elevados, seja qual for o indicador considerado (retenções, notas em tes-tes, notas de final de período, ou abandono escolar precoce) (Bradley & Corwin, 2002; McLoyd, 1998).
Os percursos escolares de excelência estão correlacio-nados não só com expectativas de prolongamento de esco-laridade, mas também, com escolhas em domínios para os quais um bom desempenho em matemática e ciências é in-dispensável. Os fracos resultados da generalidade dos alunos portugueses nestas disciplinas são sobejamente conhecidos (e.g. resultados dos estudos TIMSS e PISA, Pinto-Ferreira, Serrão, & Padinha, 2007)2. A incidência de maus resultados é, porém, bem mais elevada nos estratos sociais mais des-favorecidos. A matemática e demais disciplinas científicas desempenham um papel de “filtro crítico” (Betz & Hackett, 1981, 1983), pelo qual é necessário passar para aceder a pro-fissões mais valorizadas social e economicamente.
Deste modo, se a origem social continua a ser deter-minante no sucesso escolar, também o é nas escolhas que são feitas ao longo do percurso escolar. Das duas grandes alternativas oficiais de formação – prosseguimento de es-tudos para o Ensino Superior e profissionalizante, que também habilita para a integração mais precoce no mer-cado – os jovens de nível socioeconómico mais baixo calcorreiam mais a segunda, ou a via da desistência. Esta última conduz, necessariamente, a percursos de vida in-certos ou de subsistência, de “ganchos, tachos e biscates” (Pais, 2001) que decorre de um sentimento de futilida-de face à escola (Bandura, 1995; Pais, 1998, 2001). De

Coimbra, S., & Fontaine, A. N. (2010). Auto-eficácia no 9.º ano de escolaridade
7
facto, à medida que há uma aproximação da base pirami-dal socioeconómica, a escolha da via profissionalizante aumenta e a de prosseguimento de estudos conducente ao Ensino Superior, torna-se menos frequente, o que permite antecipar um abandono escolar após o 12.º ano. Estas escolhas parecem estar relacionadas com os meno-res níveis de sucesso escolar dos alunos das classes mais baixas. Enquanto que os jovens com piores resultados es-colares escolhem preferencialmente as áreas tecnológi-cas, a excelência escolar está correlacionada não só com expectativas gerais de prolongamento da escolaridade, mas também com escolhas na área científica, sobretudo da saúde. Contudo, as adolescentes, mesmo quando têm bons resultados escolares, predominam nos cursos que conduzem a áreas de estudo com menos vagas no Ensino Superior e a profissões menos prestigiadas (por exemplo, no domínio das letras ou humanidades). Os rapazes, por sua vez, mesmo quando preferem os cursos tecnológicos, escolhem sobretudo os de carácter científico, com me-lhores perspectivas profissionais. Assim sendo, enquanto o nível socioeconómico se reflecte na reprodução das de-sigualdades, o género reflecte-se numa escolarização fiel aos estereótipos (Silva, 1999).
Diferenças de género no mercado de trabalho
A entrada mais tardia das mulheres no mercado de trabalho leva a que, mesmo nas sociedades mais desen-volvidas, as mulheres continuem a estar subrepresentadas em determinadas áreas profissionais, geralmente aquelas que são mais prestigiadas e bem remuneradas (Betz & Hackett, 1981, 1983, 2006; Gallos, 1989).
A participação das mulheres portuguesas no merca-do de trabalho é, hoje, uma das maiores da Comunidade Europeia. Nas últimas três décadas, ocorreu um aumen-to significativo da taxa de actividade feminina em todos os grupos etários (Vicente, Canço, & Meliço, 1996). Em 1981, a percentagem da população empregada do sexo fe-minino era de 39,8%, enquanto que, em 2009, era de 46,6% (Pordata, 2010). Contudo, o emprego não alivia a mulher
portuguesa das suas responsabilidades familiares tradicio-nais: ela continua a ser responsável não só por um maior número de tarefas, mas também por aquelas cujo desem-penho é mais exigente (Instituto Nacional de Estatística [INE], 2002; Nery, 2000; Perista, 1999). Esta situação pode ajudar a compreender porque é que a evolução quan-titativa do emprego no sentido de um maior equilíbrio não se reflecte também numa evolução qualitativa. A análise geral dos sectores mais feminizados faz acreditar que, no mercado de trabalho, às mulheres são essencialmente re-servadas funções semelhantes às que desempenham por tradição no seio familiar: limpar, cuidar, educar, alimentar (Neto, 2000; Perista, 1999; Vicente et al., 1996).
Alguns indicadores sugerem, contudo, que a situ-ação estrutural estará a sofrer progressivas transforma-ções. O facto de as raparigas serem melhores alunas que os rapazes e estarem mais representadas do que aqueles no Ensino Secundário e no Ensino Superior, pode indiciar que, a médio-prazo, a situação no mercado de trabalho inverter-se-á. Em termos gerais, o crescimento do sector de “serviços” e a retracção dos empregos masculinos pode criar dificuldade aos homens que, mesmo quando desem-pregados, têm mais relutância em procurar “empregos de mulheres” (Fernandes, 2000). De facto, as raparigas pa-recem menos constrangidas do que os rapazes a conside-rar opções de carreira que não são típicas do seu género (Lauver & Jones, 1991).
Contudo, há também quem advogue que a formação superior das raparigas não é mais do que uma estratégia de mobilidade ascendente para lidar com a competitividade e a discriminação no mercado de trabalho (Estanque & Mendes, 1999). Esta modalidade estaria mesmo a perder eficácia, atendendo ao aumento do desemprego nos jovens licenciados, em particular, nos domínios mais feminizados, como é o caso das Letras e das Ciências Sociais (Amaro, 1997; Leiria, 2004; Neto, 1997, 1998; Nery, 2000).
Dificilmente as diferenças entre grupos sociais podem ser exclusivamente atribuídas a défices intelectuais ou a di-ferenças ao nível de aptidões específicas. Parecem assumir especial importância as experiências de socialização dos
2 Nos estudos TIMSS (Third International Mathematics and Science Study) e PISA (Programme for International Student Assessment) os alunos portugueses surgem entre os piores colocados nas suas competências matemáticas e científicas. Os resultados da edição 2006 do estudo PISA sobre a literacia científica, por exemplo, revelava que os alunos e alunas portugueses são os que mais valorizam as ciências exactas, alimentando a expectativa de vir a seguir uma carreira nesse domínio. Contudo, os jovens portugueses avaliados, com 15 anos de idade, ainda têm um longo caminho a percorrer para concretizar o seu sonho: apenas um quarto dos alunos portugueses domina as competências científicas mais simples, ocupando Portugal a 37ª posição entre 57 países avaliados. Mais importante do que a constatação das dificuldades, será saber quais os motivos que estão por detrás de tão desastrosos resultados. As diferenças parecem ultrapassar em muito os muros da escola e até o investimento do Estado. Se fossem comparados alunos que partilhassem o mesmo nível socioeconómico, as diferenças seriam muito menores; o nosso país tem uma maior percentagem de alunos de nível socioeconómico baixo do que a média dos países avaliados, enfrentando-se um “desafio maior”: o de “combater o impacto do contexto socioeconómico” (Pinto-Ferreira, Serrão, & Padinha, 2007).

8
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 5-22
indivíduos que podem ou não desenvolver as potenciali-dades individuais (Almeida, 1988; Faria, 1998; Fontaine, 1991). A importância destas experiências parece, aliás, ser confirmada pelo facto de haver, nas novas gerações, uma redução das diferenças entre ambos os géneros nos níveis de aptidão numérica/matemática e verbal (Hyde, Fennema, & Lamon, 1990; Hyde & Linn, 1988).
Teoria da Auto-eficácia e suas aplicações
ao desenvolvimento de carreira
As crenças de auto-eficácia podem ser definidas como as “crenças nas capacidades próprias para organizar e exe-cutar os cursos de acção requeridos para lidar com situações prospectivas” (Bandura, 1995, p. 2). As experiências ante-riores do(a) próprio(a), as experiências observadas ou vica-riantes, a persuasão verbal ou social e os estados fisiológi-cos e emocionais (ansiedade, stresse) são as fontes onde as pessoas vão recolher informação que permite fortalecer ou debilitar as suas crenças de eficácia pessoal. Os estudos têm demonstrado que as crenças de auto-eficácia determinam se as pessoas pensam de modo produtivo ou debilitante, se são pessimistas ou optimistas. Deste modo, influenciam o tipo de metas estabelecidas, mais ou menos desafiantes (cognição), assim como a quantidade de esforço dispendi-do para as alcançar, e a manutenção da motivação e perse-verança, ou a desistência à primeira dificuldade (motiva-ção). Reflectem-se ainda na regulação emocional, no nível de vulnerabilidade ou resistência ao stresse e à depressão (emoção). Por fim, as crenças de auto-eficácia influenciam o nível de realização que as pessoas podem atingir através das escolhas que vão sendo feitas (selecção).
De uma forma geral, as pessoas só se envolvem em actividades nas quais se sentem competentes e evitam todas aquelas que pensam que não lhes são acessíveis. Se é ver-dade que o nível real de aptidão das pessoas desempenha um papel importante no que elas escolhem ou não fazer, é necessário também ter presente que as pessoas interpretam os seus resultados e fazem julgamentos acerca das suas ca-pacidades e conhecimentos. Estas interpretações raramente são rigorosas, exactas ou objectivas. Por este motivo, as crenças da auto-eficácia não raras vezes permitem predi-zer melhor o comportamento e a escolha do que as reais capacidades e conhecimentos (Bandura, 1989, 1995, 1997, 2006a, 2006b; Maddux, 1995; Pajares, 2006).
A auto-eficácia tem sido estudada em diferentes domí-nios (negócios, desporto, saúde). É, contudo, no domínio escolar e na escolha de carreira que mais floresceu porque as aplicações são bastante directas: os estudantes mais au-to-eficazes trabalham mais, persistem mais, mesmo quan-do encontram adversidade, têm mais optimismo e menor
ansiedade e, consequentemente, têm melhores resultados. A auto-eficácia influencia as suas estratégias cognitivas e metacognitivas, de auto-regulação e as escolhas de car-reira. Por si só, explica, aproximadamente, um quarto da variância da predição dos desempenhos académicos, mais do que a inteligência sob a forma de QI (Bandura, 1997; Bandura, Barbaranelli, Vittorio, Caprara, & Pastorelli, 1996, 2001; Bandura & Schunk, 1981; Pajares, 1996, 1997, 2006; Schunk, 1995; Schunk & Meece, 2006; Zimmerman, 1995; Zimmerman & Cleary, 2006).
Neste quadro, a percepção de eficácia em matemática ocupa um lugar de destaque. Os estudos que se debruçam mais especificamente sobre a auto-eficácia matemática po-dem ser divididos em duas grandes áreas (Lent & Hackett, 1987; Multon, Brown, & Lent, 1991; Pajares & Miller, 1994, 1995). A primeira tem investigado as relações entre as crenças de auto-eficácia, a motivação e os resultados escolares (Lent, Brown, & Gore, 1997; Pajares, 1996; Schunk, 1995; Schunk & Meece, 2006; Zimmerman, 1995; Zimmerman & Cleary, 2006). A segunda tem ex-plorado a ligação entre as crenças de auto-eficácia na ma-temática e as escolhas académicas e de carreira nos domí-nios científicos (Bandura et al., 1996, 2001; Betz, 2006; Betz & Hackett, 1981, 1983, 2006; Hackett, 1995; Hackett & Betz, 1995). No âmbito desta última, há a destacar o trabalho pioneiro de Betz e Hackett que, há quase três dé-cadas atrás, demonstravam que as crenças de auto-eficácia matemática mais baixas das mulheres podiam explicar as diferenças de género nos comportamentos de escolha aca-démica e de carreira técnicas e/ou científicas. Os homens e mulheres não diferiam de forma significativa quando as tarefas matemáticas que lhes eram propostas faziam apelo as aptidões envolvidas em actividades tradicionalmente femininas (compras, culinária ou costura). Esta conclu-são parece constituir um indicador claro da ascendência dos estereótipos de género sobre os julgamentos acerca da competência pessoal (Betz & Hackett, 1981, 1983, 2006). Os resultados dos primeiros estudos realizados com es-tudantes universitários foram replicados com novos gru-pos, permitindo evidenciar o desenvolvimento precoce das mesmas diferenças em faixas etárias mais jovens (2.º e 3.º ciclo do Ensino Básico), assim como, em função de outras variáveis, nomeadamente do nível socioeconómi-co. As diferenças entre grupos sociais são mais exacer-badas quando são consideradas carreiras que envolvam a matemática e as ciências (Betz, 2006; Betz & Hackett, 1981, 1983, 2006; Fouad & Smith, 1996; Hannah & Kahn, 1989; Lauver & Jones, 1991; Lopez & Lent, 1992; Post-Krammer & Smith, 1985, 1986).
Atendendo às características idiossincráticas da popu-lação portuguesa, em termos das desigualdades de género e

Coimbra, S., & Fontaine, A. N. (2010). Auto-eficácia no 9.º ano de escolaridade
9
de nível socioeconómico que continuam a ser observadas, o presente estudo pretendeu averiguar se as mesmas diferenças de auto-eficácia são observáveis numa amostra portuguesa de uma faixa etária semelhante. Selecionou-se o 9º ano de escolaridade, uma vez que é nesta altura que os jovens por-tugueses se deparam com o primeiro grande momento de escolha académica. Devem decidir se continuam ou não os seus estudos e, no caso afirmativo, qual a área a seguir.
Método
Para melhor compreender os determinantes das esco-lhas de carreira nesta idade, foi avaliado o efeito das vari-áveis género e nível socioeconómico nos interesses e cren-ças de auto-eficácia ocupacionais (referentes a profissões de baixo e alto estatuto e estereotipadamente femininas e masculinas), e nas crenças de auto-eficácia generalizada, matemática e académica (referentes às disciplinas do 10.º ano de escolaridade). Para além disso, foram explorados, qualitativamente, os motivos que contribuem de forma mais decisiva para as escolhas de carreira efectuadas. A investigação no domínio da auto-eficácia ocupacional tem-se centrado sobretudo na avaliação das diferenças entre grupos para diferentes tipos de profissões, assumin-do que a auto-eficácia desempenha um papel central no desenvolvimento de carreira. O estudo qualitativo, visou contribuir para uma exploração das diferentes razões que, na óptica dos próprios jovens, poderão estar por detrás das suas escolhas académicas e profissionais. Serão sistema-tizados os diferentes factores e avaliada a preponderância da auto-eficácia e interesses ocupacionais neste processo.
A próxima secção, apresenta os procedimentos de re-colha e tratamento dos dados, caracteriza a amostra e descre-ve, de forma sucinta, os instrumentos de medida utilizados.
Amostra e Procedimento
A amostra foi constituída por 449 alunos e alunas de diferentes níveis socioeconómicos3, residentes em meios urbanos e não urbanos do norte e centro de Portugal4. Os participantes tinham idades compreendidas entre os 13 e os 19 anos, com uma média de 15.27. Uma caracterização mais detalhada da amostra está disponível na Tabela 1.
Podemos verificar que existe uma evidente sub-represen-tação de sujeitos de nível socioeconómico médio e alto, nas escolas não urbanas, e de nível socioeconómico mais baixo nas áreas urbanas. Apesar de se ter procurado selec-cionar escolas heterogéneas em termos socioeconómicos, este dado parece reflectir a própria realidade nacional, em que as zonas não urbanas oferecem menos oportunidades de emprego e são mais deprimidas economicamente.
A participação no estudo foi antecedida de consenti-mento informado. Os questionários foram administrados colectivamente durante o tempo lectivo.
As qualidades psicométricas dos instrumentos fo-ram avaliadas através do estudo do poder discriminativo dos itens, análise factorial exploratória (em Componentes Principais, com rotação varimax) e análise da consistên-cia interna (alfa de Cronbach). A comparação entre jovens de ambos os géneros e com diferentes níveis socioeconó-micos, nas dimensões de auto-eficácia generalizada, aca-démica e ocupacional, foi realizada com recurso a testes estatísticos (one-way ANOVA, seguida do teste post-hoc Scheffe, no caso do nível socioeconómico). Os dados quantitativos foram tratados com recurso ao software in-formático SPSS (Statistical Package for Social Sciences). A análise de conteúdo das respostas referentes às causas percebidas como mais decisivas para a escolha de carreira foram analisadas tendo como suporte o software informá-tico QSR Nud*ist 6 (N6).
SexoÁreaNSEBaixoMédioAltoTotal
NU56221189
U243464122
T805675211
NU593314106
U324555132
T917869238
Total
171134144449
Masculino Feminino
Nota. NSE = Nível Socioeconómico; AREA = Área deResidência; NU = Não Urbano; U = Urbano; T = Total.
Tabela 1Amostra: Distribuição em Função do Sexo, Nível Socioeconómico e Área de Residência
3 O nível socioeconómico foi aferido a partir do somatório obtido em dois dos critérios propostos pela Classificação de Graffar: profissão e nível de instrução/habilitações literárias do pai e da mãe. Quando o resultado médio (do pai e da mãe) em ambos os critérios se inseria na categoria 1 ou 2, o participante era classificado como pertencendo a um nível socioeconómico baixo, quando se inseria na categoria 3, era classificado como pertencendo a um nível socioeconómico médio e quando se inseria na categoria 4 ou 5, era classificado como pertencendo a um nível socioeconómico elevado. Não foram contempladas as 5 categorias por termos uma representatividade muito baixa de participantes inseridos nas categorias extremas de 1 e 5.
4 Nas localidades de Porto, Coimbra, Águeda e Arouca.

10
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 5-22
Instrumentos
Foram administrados quatro instrumentos de medi-da da auto-eficácia: o Questionário de Auto-eficácia na Matemática de já previamente criado no contexto nacio-nal (Barros de Oliveira, 1996), a Escala de Auto-eficácia Generalizada de Schwarzer e Jerusalém (Schwarzer, 1997) (adaptada no contexto deste estudo à população portuguesa) e as Escala de Auto-eficácia Académica e Escala de Auto-eficácia Ocupacional, adaptadas a par-tir dos estudos originais de Betz e Hackett (1981, 1983, 1998). Os dados referentes à estrutura factorial e consis-tência interna da generalidade dos instrumentos e escalas estão disponíveis na tabela 2. Como pode ser observado, estas características garantem a fiabilidade e validade dos dados recolhidos, o que autoriza a sua utilização para estudar as diferenças entre grupos.
Para além destes instrumentos, foi ainda recolhida in-formação complementar que tinha como objectivo caracte-rizar os participantes do ponto de vista sócio-demográfico:
assim, foi solicitada informação relativa ao sexo, idade, sucesso escolar (número de reprovações e média do 8.º ano de escolaridade) e nível socioeconómico (profissão e habilitações literárias do pai e da mãe) dos participantes. Estes foram ainda questionados acerca das razões por detrás das suas escolhas profissionais através da seguinte questão: “Existem muitas razões pelas quais as pessoas fazem as suas escolhas ocupacionais. Gostaríamos que enumerasses as razões que, no teu caso pessoal, te levam a escolher de-terminada carreira e rejeitar outras possíveis.”
O Questionário de Auto-eficácia Matemática (QAEM) foi seleccionado por ter sido criado e utilizado no contexto português com amostras próximas, em termos etários, à do nosso estudo, revelando características psico-métricas e validade empírica satisfatórias. O QAEM é um questionário unidimensional constituído por 8 itens (e.g. Tenho muitas dúvidas acerca das minhas capacidades para a Matemática). No âmbito deste estudo, as respos-tas eram sinalizadas numa escala de likert de 4 pontos (de 1=discordo totalmente até 4=concordo totalmente).
Tabela 2 Instrumentos de Medida: Designação, Número de Itens, Número de Dimensões e Consistência Interna
Nome Dimensões Consistência Interna
Questionário deAuto-eficácia na
Matemática(adaptado de Barrosde Oliveira, 1996)
Escala de Auto-eficácia Generalizada
(adaptada de Schwarzer& Jerusalém,1993)
Escala deAuto-eficácia
Académica para asDisciplinas 10.º ano(a partir de Betz &
Hackett, 1983)
Escala deAuto-eficáciaOcupacionalFormação
DesempenhoInteresses
Unidimensional
Unidimensional
Científicas eMatemáticas
Línguas
Humanidades e Artes
Técnicas eTecnológicas
Profissões Masculinasde Baixo Estatuto
Profissões Femininasde Alto Estatuto
Profissões Femininasde Baixo Estatuto
Profissões Masculinasde Alto Estatuto
0.78
0.77
0.91
0.87
0.82
0.79
Número de Itens
9 itens
10 itens
30 itens
33 itens
0.84; 0.84; 0.83
0.80; 0.80; 0.80
0.77; 0.77; 0.77
0.65; 0.64; 0.62

Coimbra, S., & Fontaine, A. N. (2010). Auto-eficácia no 9.º ano de escolaridade
11
A Escala de Auto-eficácia Generalizada (EAEG) foi construída por Schwarzer e Jerusalem em 1981, apresen-tando um formato inicial de 20 itens. Posteriormente, em 1992, foi reduzida para a sua versão actual de 10 itens (e.g. É fácil para mim manter os meus objectivos e atin-gir as minhas metas). Foi criada com o objectivo de estu-dar um sentimento de competência pessoal mais amplo e estável do que é habitual no âmbito da teoria e investiga-ção da auto-eficácia, aproximando-se, por conseguinte, da noção de optimismo. Neste estudo foi adoptada a es-cala de likert de 4 pontos, como no caso do QAEM. Este instrumento tem sido utilizado numa grande variedade de projectos de investigação, com adolescentes e adultos de diferentes níveis socioeconómicos e educacionais de diversas culturas, mantendo boas qualidades psicométri-cas e uma estrutura unidimensional (Scholz, Gutiérrez-Doña, Sud, & Schwarzer, 2002; Schwarzer, 1997).
A Escala de Auto-eficácia Académica (EAEA) foi uti-lizada para avaliar a auto-eficácia académica. Solicitou-se aos alunos que antecipassem as notas que pensavam vir a obter no decorrer do 10.º ano de escolaridade (1=fracas, até 10 valores; 2=médias, de 11 a 13 valores, 3=boas, de 14 a 16 valores ou 4=muito boas, para 17 ou mais valores). As disciplinas, representativas dos diferentes agrupamentos de formação disponíveis no contexto nacional, foram distri-buídas por quatro grupos Científico-matemáticas (com 10 itens, e.g. Matemática), Línguas (com 7 itens, e.g. Inglês), Humanidades e Artes (com 7 itens, e.g. História) e Técnicas-Tecnológicas (com 6 itens, e.g. Informática) (Tabela 1).
A Escala de Auto-eficácia Ocupacional (EAEO), inspirada no instrumento original de Betz e Hackett (1981, 1983, 1998), solicitava que os participantes ex-pressassem, relativamente a cada uma das 33 profissões, a percepção de capacidade para corresponder com suces-so quer às exigências educacionais/de formação, quer às exigências associadas ao seu desempenho. O nível de auto-eficácia era aferido através do grau de certeza de conseguir ter sucesso na formação necessária e no de-sempenho de cada profissão. Este grau de certeza era si-nalizado numa escala de likert de 4 pontos (0=nenhuma, 1=pouca, 2=alguma, 3=toda). O interesse era aferido através da expressão da manifestação de preferência re-lativamente a cada uma das profissões numa escala de li-kert de 3 pontos (2=gosto, 1=indiferente, 0=não gosto).
Na versão original, a escala era composta por 10 profissões tradicionalmente masculinas e 10 profissões tradicionalmente femininas. É assumido, tendo em con-sideração o contexto dos Estados Unidos da América, que as profissões masculinas são também de elevado estatuto e as femininas de baixo estatuto. Para o estudo presen-te, as profissões que constituem os itens das 3 subescalas
(formação, desempenho e interesse) foram seleccionadas tendo em consideração quer a Classificação Nacional das Profissões (Instituto de Emprego e Formação Profissional [IEFP], 1994), quer a representatividade de homens e mu-lheres no mercado de trabalho nacional (INE, 1998, 2002). Estas profissões foram agrupadas, de acordo com a estru-tura sugerida por análise factorial exploratória para cada uma das 3 subescalas, em 4 factores: 10 profissões mas-culinas de baixo estatuto (e.g. operário/a de construção civil), 6 masculinas de alto estatuto (e.g. engenheiro/a), 8 femininas de baixo estatuto (e.g. cabeleireiro/a) e 9 femi-ninas de alto estatuto (e.g. professor/a).
Está disponível, na Tabela 2, informação relativa à consistência interna destes 4 factores nas subescalas de formação, desempenho e interesse. O facto do grupo das profissões masculinas de alto estatuto ser composto por um número inferior de profissões poderá justificar os índi-ces mais baixos de consistência interna.
Resultados
Não foram observadas diferenças de género nos índi-ces de auto-eficácia generalizada, académica para as dis-ciplinas do 10.º ano e matemática.
Na Tabelas 3 e Tabela 4 apresentam-se as médias de ambos os grupos nas dimensões de auto-eficácia para a formação e desempenho das diferentes profissões. Como pode ser observado, as raparigas apresentam índices su-periores de auto-eficácia para a formação e desempenho de profissões tipicamente femininas e os rapazes para as profissões tipicamente masculinas, independentemente do estatuto dessas profissões.
A Tabela 5 apresenta as médias dos níveis de interesse manifestados relativamente aos diferentes tipos de profis-sões. Observa-se um padrão semelhante ao da auto-eficácia: maior interesse pelas profissões tradicionalmente associadas ao próprio género. Contudo, quando considerado os níveis de interesse face ao somatório das profissões, as raparigas apresentam valores mais elevados do que os rapazes.
Os jovens de nível socioeconómico mais baixo apresen-tam índices mais baixos de auto-eficácia generalizada e ma-temática do que os jovens de nível socioeconómico elevado. Para além disso, apresentam também um nível inferior aos dos restantes grupos de auto-eficácia académica relativamen-te a todos os grupos de disciplinas avaliados (Tabela 6).
A Tabela 7, Tabera 8 e Tabela 9 apresentam as médias dos jovens pertencentes aos diferentes níveis socioeconó-micos nos níveis de auto-eficácia para a formação e desem-penho e de interesse relativamente a profissões de baixo e alto estatuto. É possível observar que os jovens apresen-tam níveis superiores de auto-eficácia para profissões cujo

12
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 5-22
estatuto é mais próximo do da sua família de origem. Deste modo, os jovens de nível socioeconómico mais elevado apresentam uma superioridade de auto-eficácia relativa-mente a profissões de elevado estatuto, acontecendo o in-verso relativamente a profissões de baixo estatuto.
Tabela 5Análise da Variância (one-way ANOVA): Diferenças nos Interesses Ocupacionais de Acordo com o Género
Feminino( = 238)n
Masculino( = 211)n
Género
M(DP)
M(DP)
M(DP)
M(DP)
M(DP)
F(1, 447)
PFB
PFA
PMB
PMA
Total
Nota.
p p
PFB = Profissões Femininas Baixo estatuto; PFA = ProfissõesFemininas Alto estatuto; PMB = Profissões Masculinas Baixo estatuto;PFA = Profissões Masculinas Alto estatuto.** < .01 *** < .001.
104.32***
72.48***
70.47***
47.15***
6.32**
7.72(3.57)
8.91(4.37)
4.23(3.10)
4.48(2.43)
25.87(9.12)
4.35(3.10)
5.33(4.17)
7.52(4.60)
6.20(2.63)
23.18(11.70)
Contudo, relativamente aos interesses profissionais, o padrão não é exactamente semelhante: os jovens de ní-vel socioeconómico baixo interessam-se mais pelas pro-fissões de baixo estatuto, masculinas e femininas (Tabela 9), mas não são observadas diferenças no interesse ma-nifestado relativamente às profissões de elevado esta-tuto femininas (F(2,446)=1.216; p=.298) e masculinas (F(2,446)=.488; p=.614).
Para além de uma análise mais quantitativa, foram analisadas qualitativamente as razões que levam os su-jeitos a escolher e a rejeitar um projecto de carreira. Dos 449 participantes, 380 responderam à questão colocada. Na análise destas respostas, foi possível identificar 696 unidades de registo de natureza semântica que correspon-dem às razões enumeradas para escolher uma profissão. A análise de conteúdo realizada, análise de ocorrências, tinha como objectivo averiguar se, efectivamente, a au-to-eficácia é um motivo evocado com maior frequência do que os demais para as decisões de carreira. Por esse motivo, recorremos a uma análise de frequência das uni-dades de registo. As categorias de análise foram estabe-lecidas a priori, de acordo com a revisão da literatura, e aperfeiçoadas a posteriori, de acordo com as respos-tas obtidas. A classificação foi realizada por três juízes,
Tabela 3Análise da Variância (one-way ANOVA): Diferenças na Auto-eficácia Ocupacional – Formação de Acordo com o Género
Tabela 4Análise da Variância (one-way ANOVA): Diferenças na Auto-eficácia Ocupacional – Desempenho de Acordo com o Género

Coimbra, S., & Fontaine, A. N. (2010). Auto-eficácia no 9.º ano de escolaridade
13
Tabela 6Análise da Variância (one-way ANOVA): Diferenças na Auto-eficácia Generalizada, Matemática e Académica de Acordo com o Nível Socioeconómico
profissionais com formação superior em Psicologia, sen-do o acordo interjuízes de 95%.
Pudemos constatar que a razão mais frequentemen-te apontada para escolher uma profissão é o gosto por ela ou o desinteresse por outras possíveis (interesse pelo domínio profissional), seguido da preferência pelas dis-ciplinas que fazem parte da formação para o seu exer-cício (interesse pelo domínio académico). A percepção de capacidade ou incapacidade para ter sucesso nestas
disciplinas aparece como terceiro factor mais relevante nas justificações apresentadas pelos alunos para as suas escolhas (auto-eficácia domínio académico). Esta ordem de importância dos factores é igual no grupo de rapazes e raparigas e no grupo de participantes de classe social alta, média e baixa5. Apesar de com menor expressão, outros factores são também enumerados: questões eco-nómicas e sociais, bem como ao exemplo e influência de outros significativos (Tabela 10).
5 Apesar de existir algum desfasamento no número de argumentos enumerado por ambos os géneros: as raparigas são mais profícuas nas suas respostas, fornecendo 2/3 das unidades de registo analisadas (448 versus 248).

14
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 5-22
Nota.
p p p
PFB = Profissões Femininas Baixo estatuto; PFA = Profissões Femininas Alto estatuto;PMB = Profissões Masculinas Baixo estatuto; PFA = Profissões Masculinas Alto estatuto.* < .05 ** < .01 *** < .001.
NSEAlto
( = 144)n
8.61b
(6.89)
13.47a
(8.88)
10.00b
(8.97)
9.30a
(4.76)
Médio( = 134)n
12.02a
(7.74)
12.19(8.26)
9.94b
(8.51)
8.39(5.21)
Baixo( = 171)n
13.42a
(7.35)
10.13b
(8.50)
13.10a
(9.58)
7.21b
(5.38)
M(DP)
M(DP)
M(DP)
M(DP)
PFB
PFA
PMB
PMA
12.07***
4.08*
4.19*
5.35**
F(2, 446)
Tabela 8Análise da Variância (one-way ANOVA): Diferenças na Auto-eficácia Ocupacional – Desempenho de Acordo com o Nível Socioeconómico
Tabela 9 Análise da Variância (one way-ANOVA): Diferenças nos Interesses Ocupacionais de Acordo com o Nível Socioeconómico
Nota.
p p
PFB = Profissões Femininas Baixo estatuto; PFB = Profissões Femininas Baixo estatuto;PMB = Profissões Masculinas Baixo estatuto; PFA = Profissões Masculinas Alto estatuto.** < .01 *** < .001.
NSEAlto
( = 144)n
4.35b(3.11)
4.42b(3.56)
21.55b(9.58)
Médio( = 134)n
6.59a(3.74)
5.30b(4.01)
25.77a(8.96)
Baixo( = 171)n
7.28a(3.69)
7.31a(4.43)
26.72a(10.58)
M(DP)
M(DP)
M(DP)
PFB
PMB
Total
22.92***
16.26***
7.95**
F(2, 446)
Nota.
p p
PFB = Profissões Femininas Baixo estatuto; PFA = Profissões Femininas Alto estatuto;PMB = Profissões Masculinas Baixo estatuto; PFA = Profissões Masculinas Alto estatuto.** < .01 *** < .001.
NSEAlto
( = 144)n
9.60b(7.41)
13.93a(8.43)
12.41b(10.49)
9.30a(4.76)
Médio( = 134)n
11.50(7.90)
11.44b(8.37)
10.67b(9.66)
8.39(5.21)
Baixo( = 171)n
12.73a(1.35)
9.94b(7.99)
15.16a(10.04)
7.21b(5.38)
M(DP)
M(DP)
M(DP)
M(DP)
PFB
PFA
PMB
PMA
5.42**
7.26***
5.93**
5.35**
F(2, 446)
Tabela 7 Análise da Variância (one-way ANOVA): Diferenças na Auto-eficácia Ocupacional – Formação de Acordo com o Nível Socioeconómico

Coimbra, S., & Fontaine, A. N. (2010). Auto-eficácia no 9.º ano de escolaridade
15
Tabela 10Categorias de Análise de Conteúdo: Definição e Exemplificação
AUTO
EFICÁCIA
DomínioAcadémico
Percepção de posse de capacidade combase nos resultados obtidos nas
disciplinas curriculares até ao 9.º ano deescolaridade e/ou nas representações
acerca das disciplinas do ensinosecundário e superior.
“Eu acho que não tenho cabeçapara estudar.”
“... porque é às disciplinas a quetenho melhores resultados em
todos os anos.”
12%
Percepção de posse de capacidade combase em experiências extracurriculares.não estritamente associadas ao contexto
escolar.
DomínioExtra-curricular
“Acho que tenho jeito para oscomputadores...”
“... e além disso desenho bem”4%
Percepção de posse de determinadascaracterísticas pessoais. de um “jeito”
particular. que permitirá um bomdesempenho profissional.
DomínioProfissional
“Tudo isto vai da maneira dapessoa eu sou uma pessoa
inovadora...”“Ter mais jeito para lidar com as
pessoas...”
5%
INTE
RES
SE
DomínioAcadémico
Manifestação de interesse pelasdisciplinas curriculares até ao 9.º ano de
escolaridade e/ou pelas disciplinas doensino secundário e superior.
Manifestação de interesse emexperiências extracurriculares. nãoestritamente associadas ao contexto
escolar.
“Eu gosto. particularmente. deportuguês e línguas.”
“...eu gosto de tudo que tenha a vercom números mais propriamentecom matemática (pois é a minha
disciplina preferida).”
“Porque gosto bastante decomputadores e gosto muitíssimo
de andar a inventar noscomputadores a fazer
brincadeiras.”“Porque gosto de jogar
computador e estudar por ele.gosto de cantar.”
19%
10%
DomínioProfissional
Manifestação de interesse ou gosto porcaracterísticas da actividade
profissional. incluindo a percepção deque a carreira será a concretização de
um sonho.
“Acho que correspondem à minhavocação. Eu sempre gostei de
ensinar principalmente crianças.”“Eu acho que o meu sonho é entrar
no mundo da Arte.”
28%
DomínioExtra-curricular
QUES
TÕES
ECONÓMICASESO
CIAIS
Acesso rápidoe directo aomundo dotrabalho
Saídasprofissionais
Remuneraçãoe estatuto
Benefíciosadicionais
Enveredar por uma formação quepermita um acesso mais rápido e/oudirecto ao mundo do trabalho. com oobjectivo de garantir. a curto prazo. a
subsistência financeira.
Enveredar por uma formação quepermita um acesso a cursos e/ou
carreiras com mais saídas profissionais.que aumentem a possibilidade de
encontrar trabalho.
Enveredar por uma formação quepermita um acesso a uma carreira bemremunerada e/ou com elevado estatuto
social.
Enveredar por uma formação quepermita um acesso a uma carreira com
benefícios adicionais como horárioflexível. a possibilidade de viajar. a
estabilidade e segurança.
“É só para começar a minha vida.”“Para sair do curso e ir logo
trabalhar.”
“... também porque acho que medá as saídas que eu pretendo.”
“... não têm tantas saídas para omundo do trabalho.”
“Acho que é uma profissão comfuturo”
“Adorava ser modelo. serfamosa…”
“Dá dinheiro.”
“... gostar muito dessa profissão ede tudo a ela ligado (viajar.comunicar. conhecer outras
pessoas).”“... a independência e flexibilidadedo horário. também a possibilidadede viagens ou mudança de país ...”
2%
5%
5%
4%

16
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 5-22
EXEM
PLO
OUIN
FLUÊN
CIA
Pais ou outros familiares
“... e gosto de gerir fábricas. comodo meu avô.”
“... não só para fazer a vontade aosmeus pais...”
2%
0.4%
0.1%
0.4%
0.3%
0.4%
Amigos ou conhecidos
Exemplo ouinfluência de
pessoassignificativasque. directa ouindirectamente.
estejamrelacionadascom a escolhaocupacional.
“... e alguns colegas meus vãopara essa área”
“... fico na turma da minhanamorada”
Professores ou outros formadores“...o meu professor de História ...seria uma honra fazer o que ele
fez”
Psicólogos. OEP
“... ao longo do tempo que andeino psicólogo escolar me apercebique era para isso que tinha mais
aptidões e mais jeito”“... vou gostar pelo que o
psicólogo disse”
Figuras públicas“Adoraria ser colega do ProfessorHermano Saraiva e todos os outros
historiadores”
Outros significativos ou nãoespecificado
“... por me terem influenciado.”“...e como tenho pessoas que
trabalham em profissões iguais...”
OUTR
OS
Outros motivosou motivos nãoespecificados
Motivos não inscritos em nenhuma dascategorias ou não especificados/
indefinidos.
“Não gosto da escola quefrequento”
“Foi a minha opinião sincera”“Depende da maneira como me
integro na turma. da maneira comoo professor lida com os alunos...”
2%
Discussão
Apesar de as raparigas serem, regra geral, melhores alunas, não são observadas diferenças nos níveis de auto-eficácia académica relativamente às disciplinas do ensino secundário, nem mesmo naquelas disciplinas mais cono-tadas com as suas áreas académicas habituais de compe-tência como as humanidades e as línguas. Uma tendência para alguma subestimação feminina na avaliação da sua própria competência, por comparação com uma tendência para a auto-congratulação dos rapazes, tem sido observada em diferentes estudos (Pajares & Graham, 1999; Wigfield, Eccles, & Pintrich, 1996). Todavia, também não foram observadas as diferenças de género habituais nos níveis de auto-eficácia matemática (Betz & Hackett, 1981, 1983; Fennema, sd) ou generalizada (Scholz et al., 2002) o que poderá ser consequência de mudanças sociais nas gera-ções mais jovens ou do facto de uma maior diferenciação de género só emergir mais tarde, mais perto da transição para vida adulta. Já os resultados referentes às diferenças de género nas dimensões ocupacionais parecem reflectir
inequivocamente a socialização de acordo com estereóti-pos tradicionais. Isto é, rapazes e raparigas interessam-se e antecipam-se como mais eficazes na formação e desem-penho de profissões estereotipadamente associadas ao seu próprio género. Estes resultados são consistentes com os encontrados noutras culturas: a socialização de género surte efeitos precocemente no desenvolvimento de pro-jectos profissionais, exercendo influência inequívoca logo aquando da primeira grande decisão de carreira no nosso sistema de ensino, que ocorre no final do 9.º ano de esco-laridade (Betz, 2006; Betz & Hackett, 1981, 1983, 2006; Fouad & Smith, 1996; Hannah & Kahn, 1989; Lauver & Jones, 1991; Lopez & Lent, 1992; Post-Krammer & Smith, 1985, 1986).
Parece evidente que estatuto e género não são, de uma forma geral, variáveis totalmente independentes. As características masculinas e todos os aspectos a elas associadas, incluindo as profissões, continuam a possuir um estatuto mais elevado (Leung & Plake, 1990). Por esse motivo, tem sido observado nas sociedades ociden-tais que, nas últimas décadas, as mulheres têm perfilhado

Coimbra, S., & Fontaine, A. N. (2010). Auto-eficácia no 9.º ano de escolaridade
17
mais traços masculinos, de instrumentalidade e asserti-vidade, mas os homens não demonstram uma tendência semelhante para perfilhar traços femininos de expressi-vidade e comunhão (Twenge, 1997, 2009). A tentativa de dissociação, em termos metodológicos, entre o nível de estatuto e o grau masculinidade das profissões incluídas na Escala de Auto-eficácia Ocupacional, pouco comum em estudos anteriores, sugere a predominância do géne-ro nas orientações futuras, visto que os jovens pensam ser mais competentes em profissões que consideram pró-prias para o seu género, independentemente do estatuto socioeconómico das mesmas (Gottfredson, 1981, 2005; Helwig, 2001; Leung & Plake, 1990). Há que sublinhar, contudo, que as raparigas do nosso estudo se interessam mais do que os rapazes pelo conjunto das profissões glo-balmente consideradas, sugerindo que são mais flexíveis nas suas escolhas, o que vai de encontro a resultados ob-tidos noutras sociedades (Lauver & Jones, 1991). Para além disso, enquanto que as raparigas, quando antecipam a sua vida enquanto adultas, tendem a ter em linha de conta não só o seu papel como profissionais, mas tam-bém os seus papéis familiares de mãe e esposa, o grupo dos rapazes tende a considerar exclusivamente o seu pro-jecto de carreira, garantindo, através deste, o seu papel de chefe de família e ganha-pão (Curry, Trew, Turner, & Hunter, 1994; Glick, Wilk, & Perreault, 1995; Jackson & Tein, 1998; Spence & Hall, 1996). Por este motivo, uma intervenção que vise a diminuição de estereótipos nas decisões de carreira deve visar tanto as raparigas, grupo tido tradicionalmente como de risco, como os próprios rapazes, menos predispostos a considerar carreiras ou mesmo papéis de adulto transversais a ambos os géneros ou mais típicos do género oposto.
A reprodução da estratificação social da família de origem parece espelhar-se, no nosso estudo, na baixa auto-eficácia apresentada sistematicamente pelos alunos de nível socioeconómico baixo. Estes jovens antevêem-se como menos competentes para obter bons resultados na disciplina de matemática e todos os grupos académi-cos (auto-eficácia matemática e académica), acreditando também menos nas suas capacidades para lidar eficaz-mente com a globalidade das situações (auto-eficácia ge-neralizada). Para além disso, os alunos de classe social mais baixa apresentam uma notória inferioridade das suas crenças de auto-eficácia para profissões de elevado estatuto, interessando-se e considerando-se mais aptos para as profissões de baixo estatuto. Este padrão de ex-pectativas pode até ser classificado como realista, uma vez que, na nossa amostra, como é habitual, os alunos de nível socioeconómico mais baixo têm, efectivamente, piores resultados escolares.
Os interesses avaliados no nosso estudo, contrariamente à auto-eficácia para a formação e desempenho profissional, parecem manifestar-se sobretudo em relação às profissões que são mantidas em aberto como possibilidades de carreira desejadas, ainda que pouco prováveis. Contudo, por vezes, os interesses traduzem um maior pessimismo ou realismo, quando existem constrangimentos demasiado evidentes aos julgamentos de eficácia pessoal. Estes constrangimentos parecem ser impostos, fundamentalmente, pelo baixo nível socioeconómico. Esta situação justificaria que os jovens de nível socioeconómico mais baixo não se distinguissem no nível de interesse manifestado relativamente às profissões de elevado estatuto, mas manifestassem um nível superior de interesse pelas profissões de baixo estatuto.
As diferenças de nível socioeconómico encontradas no presente estudo parecem, pois, inequívocas e dignas de reflexão. Ainda que a valorização de uma profissão e a rea-lização pessoal que pode decorrer do exercício da mesma, não seja proporcional ao seu prestígio ou estatuto, pode-se pensar que os alunos de classe social mais baixa apre-sentam, já ao nível do 9.º ano de escolaridade, projectos de carreira de subsistência, enquanto os seus colegas de classes mais elevadas, apresentariam projectos de carreira de realização pessoal. Isto porque para os alunos de classe social alta parece existir uma convergência entre os pa-drões de interesse e as crenças de eficácia para fazer face à formação e ao desempenho, ambos mais elevados para profissões de alto estatuto, enquanto, no caso dos alunos de classe baixa, existe um desfasamento: manifestam-se interessados pelas profissões de alto estatuto mas, pelo seu grau de eficácia, parecem considerá-las inacessíveis.
Considerações Finais
Na sua globalidade, no presente estudo são observa-das diferenças de género e de nível socioeconómico em dimensões académicas e ocupacionais que já haviam sido reportadas em estudos realizados noutras sociedades. Sugere, contudo, também algumas características idios-sincráticas da sociedade portuguesa e/ou desta geração ou faixa etária. Existem evidentes limitações metodológicas relacionadas, nomeadamente, com o facto de a amostra não ser representativa de toda a população portuguesa ou a aspectos específicos dos instrumentos de medida (e.g. índices de consistência interna das subescalas relativas às profissões masculinas de baixo estatuto). Para além disso, a mera constatação de diferenças não permite o esclarecimento cabal dos processos que conduzem a es-sas diferenças e das repercussões que as mesmas podem efectivamente ter na escolha profissional. Para tal, seria necessário realizar um estudo longitudinal que incidisse

18
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 5-22
também sobre outras variáveis que podem contribuir para a emergência das crenças pessoais de competência, como é o caso das variáveis familiares e escolares.
A este propósito, valeria a pena reflectir, por exem-plo, sobre as práticas escolares e sobre as expectativas e comportamentos dos professores. De facto, a forma como os professores lidam com os seus alunos parece influen-ciar as crenças que os alunos têm em relação às tarefas e em relação a eles próprios, crenças estas que interferem no seu desempenho. Se o(a) professor(a) acredita que as alunas se esforçam mais que os alunos, ou que os alunos de classe baixa têm mais dificuldades de aprendizagem, a convicção de que são menos dotados intelectualmente vai ser transmitida aos alunos pertencentes a estes grupos, afectando o modo como os próprios alunos passam a acre-ditar menos nas suas capacidades (Croizet & Claire, 1998; Madon, Jussim, Keiper, & Eccles, 1998).
De acordo com a teoria da auto-eficácia, para desen-volver a auto-eficácia nos seus alunos, o(a) professor(a) deveria, antes de mais, propor actividades desafiadoras, com um grau óptimo de dificuldade, que dêem oportuni-dade ao aluno de experimentar sucesso mediante dispên-dio de esforço. Deveria também organizar actividades de grupo em que os próprios colegas possam servir de mo-delo de eficácia uns dos outros: embora com diferentes níveis de mestria das actividades, são necessariamente mais próximos entre si em termos de competência e de outras características do que em relação ao/à professor(a). Ao proporcionar reforços, o(a) professor(a) deveria ainda enfatizar os pontos fortes do aluno, de uma forma realista, concreta e, em termos temporais, o mais próxima possível do desempenho do aluno. Por fim, o(a) professor(a) deve-ria certificar-se que os alunos se sentem bem, em termos físicos e afectivos, na sala de aula.
Parece, contudo, evidente que os professores não são, nem poderiam ser, os únicos responsáveis pela pro-moção de práticas que minimizem as diferenças entre
grupos sociais em termos escolares e vocacionais. Parece também insuficiente uma intervenção de carreira, como aquela que é tradicionalmente proporcionada por restri-ções orçamentais, limitada no tempo (9.º e/ou 12.º ano), confinada aos muros escolares e implementada exclusi-vamente por psicólogos ou professores. É necessário im-plementar intervenções que passem pela desmontagem de estereótipos enraizados na sociedade, pela diminuição das desigualdades associadas à pertença a grupos específicos, numa verdadeira articulação com os pais e outros agentes educativos e sociais (Metz & Guichard, 2009).
As razões evocadas, no âmbito do estudo qualitativo, para a escolha ou rejeição de uma carreira não permitem, obviamente, elucidar as relações que diferentes factores mantêm entre si ou o peso que cada um deles tem neste processo. Contudo, apesar de um leque relativamente alar-gado de variáveis consideradas (relacionais, de modelação e, sobretudo, económico-sociais), parecem ser, de facto, os interesses e as crenças de auto-eficácia os factores que in-tervêm de forma mais significativa na tomada de decisão. Por este motivo, parece importante que, além das aptidões objectivamente medidas, as crenças subjectivas acerca dessas aptidões sejam também alvo de avaliação. Só deste modo, poderão ser corrigidas e trabalhadas crenças irre-alistas que possam constranger as opções dos jovens. É bem verdade que crenças irrealistas por excesso, quando os jovens acreditam que têm capacidades muito superiores àquelas que realmente possuem, podem ter um impacto negativo e ser facilmente infirmadas pelos resultados obti-dos. Contudo, as expectativas irrealistas, por defeito, não dão oportunidade às pessoas de promover as capacidades que possuem e desconheciam, no confronto com a reali-dade. Porque o optimismo é o melhor motor da mudan-ça, “… os realistas podem adaptar-se bem às realidades existentes. Mas os que possuem uma auto-eficácia obsti-nada estão mais preparados para mudar essas realidades” (Bandura, 1995, p. 13).
Referências
Almeida, L. (1988). O raciocínio diferencial dos jovens: Avaliação, desenvolvimento e diferenciação. Porto: Instituto Nacional de Investigação científica.
Amaro, G. (1997). Qualidade em educação: A avaliação externa das aprendizagens em Portugal. Inovação, 10, 259-275.Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. American Psychologist, 44, 1175-1184.Bandura, A. (1995). Exercise of personal and collective efficacy in changing societies. In A. Bandura (Org.), Self-efficacy
in changing societies (pp. 1-45). Cambridge: University Press.Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.Bandura, A. (2006a). Adolescent development from an agentic perspective. In F. Pajares & T. Urdan (Eds.), Self-efficacy
beliefs of adolescents (pp. 1-43). Greenwich, CT: IAP – Information Age Publishing.Bandura, A. (2006b). Toward a psychology of human agency. Perspectives on Psychological Science, 1, 164-180.

Coimbra, S., & Fontaine, A. N. (2010). Auto-eficácia no 9.º ano de escolaridade
19
Bandura, A, Barbaranelli, C., Vittorio Caprara, G., & Pastorelli, C. (1996). Multifaceted impact of self-efficacy beliefs on academic functioning. Child Development, 67, 1206-1222.
Bandura, A, Barbaranelli, C., Vittorio Caprara, G., & Pastorelli, C. (2001). Self-efficacy beliefs as shapers of children’s aspirations and career trajectories. Child Development, 72, 187-206.
Bandura, A., & Schunk, D. H. (1981). Cultivating competence, self-efficacy, and intrinsic interest through proximal self-motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 41, 586-598.
Barros de Oliveira, A. M. (1996). Atribuições causais e expectativas de controlo no desempenho na matemática. Braga: Centro de Estudos em Educação e Psicologia.
Betz, N. (2006). Developing and using parallel measures of career self-efficacy and interests with adolescents. In F. Pajares & T. Urdan (Eds.), Self-efficacy beliefs of adolescents (pp. 225-244). Greenwich, CT: Information Age Publishing
Betz, N., & Hackett, G. (1981). The relationship of career-related self-efficacy expectations to perceived career options in college women and men. Journal of Couseling Psychology, 28, 399-410.
Betz, N., & Hackett, G. (1983). The relationship of mathematics self-efficacy expectations to the selection of science-based college majors. Journal of Vocational Behaviour, 23, 329-345.
Betz, N., & Hackett, G. (1998). Manual for the Occupational Self-efficacy Scale. Recuperado em 19 Setembro 1999, de http://seamonkey.ed.asu.edu/~gail/occse1.htm#intro
Betz, N., & Hackett, G. (2006). Career self-efficacy theory: Back to the future. Journal of Career Assessment, 14, 3-11. Bradley, R. H., & Corwyn, R. F. (2002). Socioeconomic status and child development. Annual Review of Psychology, 53,
371-399.Costa, A. B., Baptista, I., Perista, P., & Carrilho, P. (2008). Um olhar sobre a pobreza: Vulnerabilidade e exclusão social
no Portugal contemporâneo. Lisboa: Gradiva.Croizet, J. C., & Claire, T. (1998). Extending the concept of stereotype threat to social class: The disadvantage underperformance
of students from low socioeconomic backgrounds. Personality and Social Psychology Bulletin, 24, 588-594.Curry, C., Trew, K., Turner, I., & Hunter, J. (1994). The effect of life domains on girls’ possible selves. Adolescence, 29,
133-150.Estanque, E., & Mendes, J. M. (1999). Análise de classes e mobilidade social em Portugal. Revista Crítica de Ciências
Sociais, 52/53, 173-198.EUROSTAT. (2009). Social cohesion. Recuperado em janeiro 2010, de http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/
portal/structuralindicators/indicators/social cohesionEUROSTAT. (2010). Combating poverty and social exclusion: A statistical portrait of the European Union 2010.
Luxembourg: European Union.Faria, L. (1998). Desenvolvimento diferencial das concepções pessoais de inteligência durante a adolescência. Fundação
Calouste Gulbenkian.Fennema, E. (sd). Gender equity for mathematics and science. Recuperado em 19 Julho 2001, de http: //www.woodrow.
org.teachers/math/gender/02fennema.htmlFernandes, J. M. (2000, 8 de Março). Por uma igual desigualdade. Público, p. 3. Fontaine, A. M. (1991). Desenvolvimento do conceito de si próprio e a realização escolar na adolescência. Psychologica,
5, 13-31.Fouad, N., & Smith, P.L. (1996). A test of social cognitive model for middle school students: Math and Science. Journal
of Counseling Psychology, 43, 338-346.Gallos, J. V. (1989). Exploring women’s development: Implications for career, theory, practice, and research. In M. B.
Arthur, D. T. Hall, & B. S. Lawrence (Eds.), Handbook of career theory (pp. 110-132). Cambridge: Cambridge University Press.
Glick, P., Wilk, K., & Perreault, M. (1995). Images of occupations: Components of gender and status in occupational stereotypes. Sex Roles, 32, 565-582.
Gottfredson, L. S. (1981). Circumscription and compromise: A developmental theory of occupational aspirations. Journal of Counseling Psychology, 28, 545-579.

20
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 5-22
Gottfredson, L. S. (2005). Using Gottfredson’s theory of circumscription and compromise in career guidance and counseling. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (pp. 71-100). New York: Wiley.
Hackett, G. (1995). Self-efficacy in career choice and development. In A. Bandura (Org.), Self-efficacy in changing societies (pp. 232-258). Cambridge University Press.
Hackett, G., & Betz, N. (1995). Self-efficacy and career choice and development. In J. E. Maddux (Org.), Self-efficacy, adaptation, and adjustment: Theory, research, and application (pp. 249-278). New York: Plenum Press.
Hannah, J. S., & Kahn, S. E. (1989). The relationship of socioeconomic status and gender to the occupational choices of grade 12 students. Journal of Vocational Behavior, 34, 161-178.
Helwig, A. A. (2001). A test of Gottfredson’s theory using ten-year longitudinal study. Journal of Career Development, 28, 77- 95.
Hyde, J. S., Fennema, E., & Lamon, S. J. (1990). Gender differences in mathematics performance: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 107, 139-155.
Hyde, J. S., & Linn, M. C. (1988). Gender differences in verbal ability: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 107, 53-69.
Instituto de Emprego e Formação Profissional. (1994). Classificação nacional das profissões. Lisboa: Assessoria Técnica de Informação e Documentação do IEFP.
Instituto Nacional de Estatística. (1998, 12 de Novembro). Estatísticas do emprego. 3.º trimestre de 1998. Indicadores do mercado de trabalho. Recuperado em 18 Janeiro 1999, de http://infoline.ine.pt/si/prodserv/destaque /d981112/d981112.html
Instituto Nacional de Estatística. (2002, 21 de Outubro). Census 2001 – Resultados definitivos. Recuperado em 1 Novembro 2002 de http://www.ine.pt
Jackson, D. W., & Tein, J-Y (1998). Adolescents’ conceptualization of adult roles: Relationships with age, gender, work goal, and maternal employment. Sex Roles, 38, 987-1008.
Lauver, P. J., & Jones, R. M. (1991). Factors associated with perceived career options in isadvan isadv, white, and isadvan rural high school students. Journal of Counseling Psychology, 38, 59-166.
Leiria, I. (2004, 29 de Janeiro). Resultados medíocres nas provas aferidas de 2002. Público, p. 27.Lent, R. W., & Hackett, G. (1987). Career self-efficacy: Empirical status and future directions [Monograph]. Journal of
Vocational Behavior, 30, 347-382. Lent, R.W., Brown, S. D., & Gore, P. A. (1997). Discriminant and predictive validity of academic self-concept, academic
self-efficacy, and mathematics-specific self-efficacy. Journal of Counseling Psychology, 44, 307-315. Lent, R.W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic
interest, choice, and performance [Monograph]. Journal of Vocational Behavior, 45, 79-122. Leung, S. A., & Plake, B. S. (1990). A choice dilemma approach for examining the relative importance of sex type and
prestige preferences in the process of career choice compromise. Journal of Counseling Psychology, 37, 399-406.Lopez, F. G., & Lent, R. W. (1992). Sources of mathematics self-efficacy in high school students. The Career Development
Quarterly, 41, 3-12.Maddux, J. E. (1995). Self-efficacy theory: An introduction. In J. E. Maddux (Org.), Self-efficacy, adaptation, and
adjustment: Theory, research, and application (pp. 3-33). New York: Plenum Press.Madon, S., Jussim, L., Keiper, S., & Eccles, J. (1998). The accuracy and power of sex, social class, and ethnic stereotypes:
A naturalistic study in person perception. Personality and Social Psychology Bulletin, 24, 1304-1318.McLoyd, V. C. (1998). Socioeconomic disadvantage and child development. American Psychologist, 53, 185-204.Metz, A. J., & Guichard, J. (2009). Vocational Psychology and new challenges. Career Development Quarterly, 57,
310-318.Mónica, M. F. (1981). Escola e classes sociais. Lisboa: Presença.Morrow, R. A., & Torres, C. A. (1997). Teoria social e educação. Porto: Afrontamento.Multon, K. D., Brown, S. D., & Lent, R.W. (1991). Relation of self-efficacy beliefs to academic outcomes: A meta-
analytic investigation. Journal of Counseling Psychology, 38, 30-38.

Coimbra, S., & Fontaine, A. N. (2010). Auto-eficácia no 9.º ano de escolaridade
21
Nery, I. (2000, 5 de Março). As mulheres portuguesas são mesmo as ‘super-mulheres’! Notícias Magazine, 406, 26-32. Neto, D. (1997, 11 de Junho). Maior estudo internacional sobre a aprendizagem de Matemática e Ciências nos 3.º e 4.º
anos: Portugal entre os piores. Público, p. 27.Neto, D. (1998, 7 de Abril). Não sabem resolver problemas. Público, p. 2.Neto, D. (2000, 8 de Março). A guerra contra o homem acabou. Público, p. 2. Pais, J. M. (2001). Ganchos, tachos e biscates. Porto: Âmbar. Pais, J. M. (1998). Grupos juvenis e modelos de comportamento em relação à escola e ao trabalho: Resultados de análises
factoriais. In M. V. Cabral & J. M. Pais (Coords.), Jovens portugueses de hoje (pp. 135-176). Oeiras: Celta Editores.Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research, 66, 543-578.Pajares, F. (1997). Current directions in self-efficacy research. In M. Maehr & P. R. Pintrich (Eds.), Advances in motivation
and achievement (Vol. 10, pp. 1-49). Greenwich, CT: JAI Press.Pajares, F. (2006). Self-efficacy during childhood and adolescence: Implications for teachers and parents. In F. Pajares
& T. Urdan (Eds.), Self-efficacy beliefs of adolescents (pp. 339-367). Greenwich, CT: IAP – Information Age Publishing.
Pajares, F., & Graham, L. (1999). Self-Efficacy, motivation constructs, and mathematics performance of entering middle school students. Contemporary Educational Psychology, 24, 124–139.
Pajares, F., & Miller, M. D. (1994). Role of self-efficacy and self-concept beliefs in mathematical problem solving: A path analysis. Journal of Educational Psychology, 86, 193-203.
Pajares, F., & Miller, M.D. (1995). Mathematics self-efficacy and mathematics performances: The need for specificity of assessment. Journal of Counseling Psychology, 42, 190-198.
Perista, H. (1999). Os usos do tempo e o valor do trabalho: Uma questão de género. Lisboa: CIDES.Pinto-Ferreira, C., Serrão, A. E., & Padinha, L. (2007). PISA 2006: Competências científicas dos alunos portugueses.
Lisboa: GAVE – Gabinete de Avaliação Educacional do Ministério da Educação. Recuperado em 26 Setembro 2008, de http://www.gave.min-edu.pt
Pordata. (2010). População do sexo feminino empregada em % da população empregada. Recuperado em 17 março 2010, de www.pordata.pt
Post-Krammer, P., & Smith, P. L. (1985). Sex differences in career self-efficacy, consideration, and interests of eighth and ninth graders. Journal of Couseling Psychology, 32, 551-559.
Post-Krammer, P., & Smith, P. L. (1986). Sex differences in math and science career self-efficacy among disadvantaged students. Journal of Vocational Behavior, 29, 89-101.
Scholz, U., Gutiérrez-Doña, B. G., Sud, S., & Schwarzer, R. (2002). Is general self-efficacy a universal construct? Psychometric findings from 25 countries. European Journal of Psychological Assessment, 18, 242-251.
Schunk, D. M. (1995). Self-efficacy and education and instruction. In J. E. Maddux (Org.), Self-efficacy, adaptation, and adjustment: Theory, research, and application (pp. 281-303). New York: Plenum Press.
Schunk, D. H., & Meece, J. L. (2006). Self-efficacy development in adolescence. In F. Pajares & T. Urdan (Eds.), Self-efficacy beliefs of adolescents (pp. 71-96). Greenwich, CT: IAP – Information Age Publishing.
Schwarzer, R. (1997). General perceived self-efficacy scale in 14 cultures. Recuperado em 10 novembro 2009, de http://www.userpage.fu-berlin.de/~health/world14.htm
Silva, C. G. (1999). Escolhas escolares, heranças sociais. Oeiras: Celta Editores.Spence, J. T., & Hall, S. K. (1996). Children’s gender-related self-perceptions, activity preferences, and occupational
stereotypes: A test of three models of gender constructs. Sex Roles, 35, 659-691. Twenge, J. M. (1997). Changes in masculine and feminine traits over time: A meta-analysis. Sex Roles, 36, 305-325.Twenge, J. M. (2009). Status and gender: The paradox of progress in an age of narcissism. Sex Roles, 61, 338-340.Vicente, A., Canço, D., & Meliço, A. (1996). Mulheres portuguesas 1960-1990: Actividade e natalidade. In M. Nash & R.
Ballester (Coords.), Mulheres, trabalho e reprodução: Atitudes sociais e políticas de protecção à vida. Actas do III Congresso da ADEH (Associação Ibérica de Demografia Histórica) (Vol. 2, pp. 23-32). Porto: Edições Afrontamento.
Wigfield, A., Eccles, J. S., & Pintrich, P. R. (1996). Development between the ages of 11 and 25. In D. C. Berliner & R. C. Calfee (Eds.), Handbook of educational psychology (pp.148–185). New York: Simon & Schuster Macmillan.

22
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 5-22
Zimmerman, B. J. (1995). Self-efficacy and educational development. In A. Bandura (Org.), Self-efficacy in changing societies (pp. 202-231). Cambridge: Cambridge University Press.
Zimmerman, B. J., & Cleary, T. J. (2006). Adolescents’ development of personal agency: The role of self-efficacy beliefs and self-regulatory skills. In F. Pajares & T. Urdan (Eds.), Self-efficacy beliefs of adolescents (pp. 45-69). Greenwich, CT: IAP – Information Age Publishing.
Recebido: 13/11/20091ª Revisão: 25/03/20102ª Revisão: 27/04/2010
Aceite final: 28/04/2010
Sobre as autorasSusana Coimbra é Professora Auxiliar da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade
do Porto.Anne Marie Fontaine é Professora Catedrática da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade do Porto.

23Disponível em http://pepsic.bvs-psi.org.br/rbop
Revista Brasileira de Orientação Profissionaljan.-jun. 2010, Vol. 11, No. 1, 23-35
Evidências de precisão e validade doTeste de Fotos de Profissões (BBT-Br)1
Erika Tiemi Kato Okino2
Sonia Regina PasianUniversidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, Brasil
ResumoConsiderando a necessidade de aprimoramento dos instrumentos de avaliação psicológica apontada pela literatura in-ternacional e nacional, este trabalho examinou indicadores de precisão e de validade do Teste de Fotos de Profissões (BBT-Br). Foram avaliados 497 voluntários, de 16 a 19 anos de idade, de ambos os sexos, estudantes do Ensino Médio público, por meio de aplicações coletivas do BBT-Br e do Self-Directed Search (SDS-CE). Neste trabalho, foram realizadas análises de precisão (consistência interna, pelo Alfa de Cronbach) e de validade do BBT-Br (análise fatorial e validação convergente com SDS). As evidências empíricas encontradas demonstraram bons índices psico-métricos de precisão e de validade do BBT-Br, sobretudo a partir das associações significativas encontradas com o modelo RIASEC do SDS, fortalecendo as hipóteses interpretativas do BBT-Br no contexto brasileiro.Palavras-chave: Interesse, Validade, Precisão, SDS; BBT-Br
Abstract: Evidences of reliability and validity of the Berufsbilder-Test (BBT-Br)Considering the need for improvement of the instruments of psychological assessment, as highlighted by both international and national literatures, this paper examined the indicators of reliability and validity of the Berufsbilder-Test (BBT-Br). Four hundred ninety-seven volunteers with ages varying from 16 to 19 years old, of both sexes, doing their high school senior grade at a public school, were assessed collectively by the BBT-Br and the Self-Directed Search (SDS-CE). In this paper, reliability analysis (Cronbach’s alpha) and validity of the BBT-Br (factorial analysis and convergent validation with SDS) were done. The empirical evidences showed good psychometric levels of reliability and validity of the BBT-Br, chiefly relating to the significant associations with the RIASEC model, thus improving the interpretative hypothesis of the BBT-Br in the Brazilian context.Keywords: Interests, Validity, Reliability, SDS, BBT-Br
Resumen: Evidencias de precisión y validez de la prueba de Fotos de Profesiones (BBT-Br)Considerando la necesidad de perfeccionamiento de los instrumentos de evaluación psicológica apuntada por la bibliografía internacional y nacional, este trabajo examinó indicadores de precisión y de validez de la Prueba de Fotos de Profesiones (BBT-Br). Se evaluó a 497 voluntarios, de 16 a 19 años de edad, de ambos sexos, estudiantes de la Enseñanza Media pública, por medio de aplicaciones colectivas de la BBT-Br y de la Self Directed Search (SDS-CE). En este trabajo, se realizaron análisis de precisión (consistencia interna, por el Alfa de Cronbach) y de validez de la BBT-Br (análisis factorial y validación convergente con SDS). Las evidencias empíricas encontradas demostraron buenos índices psicométricos de precisión y de validez de la BBT-Br, sobre todo a partir de las asociaciones significativas encontradas con el modelo RIASEC del SDS, fortaleciendo las hipótesis interpretativas de la BBT-Br en el contexto brasileño.Palabras clave: Intereses, Validez, Precisión, SDS, BBT-Br
Artigo
1 Investigação realizada com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Cooperação Internacional Brasil/ Portugal: convênio CAPES/GRICES).
2 Este artigo descreve parte dos resultados da Tese de Doutorado da primeira autora, sob orientação da segunda, junto ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (FFCLRP/USP). As autoras agradecem à Profa. Dra. Maria Odília Teixeira, da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa pelas relevantes contribuições.

24
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 23-35
A avaliação psicológica, dentro do processo de Orientação Vocacional/Profissional (OVP), pode funcionar como processo facilitador da compreensão da dinâmica psi-cológica dos indivíduos, conquistando uma posição de re-levante contribuição nesse contexto (Teixeira & Lassance, 2006). De acordo com Noronha, Freitas e Otatti (2003), a adequada identificação das necessidades individuais e o bom uso das técnicas de avaliação psicológica, pertinen-tes aos objetivos delineados, eleva a responsabilidade dos profissionais da área em sua prática cotidiana, reforçando assim, a importância da formação em orientação profis-sional e de carreira. Estes argumentos são reforçados por Lassance, Melo-Silva, Bardagi e Paradiso (2007). Também de acordo com Duarte (2008), a avaliação psicológica cons-tituiria “instrumento de base para ajudar os indivíduos a rea-lizarem suas escolhas” (p. 139), devendo ser compreendida como processo integrador de determinantes situacionais e características pessoais do indivíduo. Dentro desse proces-so, os modelos de intervenção implementados nos diver-sos serviços de OVP e a utilização das estratégias técnicas adequadas às demandas específicas dos indivíduos, incluin-do avaliação psicológica, poderão favorecer uma escolha satisfatória da profissão, segundo Melo-Silva e Jacquemin (2001) e Melo-Silva, Lassance e Soares (2004).
No Brasil, como afirmam Draime e Jacquemin (1989), Noronha et al. (2002), Hutz (2002) e Bandeira, Trentini, Winck e Lieberknecht (2006), entre outros, pode-se identificar algumas imprecisões na utilização de instrumentos de avaliação psicológica em OVP, fato que colaborou para a criação de preconceitos por parte da po-pulação e também dos próprios psicólogos para com essas técnicas. Esse contexto exigiu (e exige) verificação espe-cífica da qualidade técnica dos instrumentos disponíveis para avaliação psicológica, no intuito de aprimorar a sua utilização. Nessa perspectiva, Otatti e Noronha (2003) examinaram os parâmetros psicométricos de inventários de interesse profissional comercializados no Brasil no iní-cio do século XXI. Verificaram reduzida qualidade técnica em quase todos os instrumentos psicológicos avaliados, sendo que a maioria dos problemas concentrava-se na au-sência de estudos de validade, precisão e normas.
A necessidade de aprimoramento dos instrumentos de avaliação psicológica utilizados no Brasil foi claramen-te apontada pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), levando à elaboração da Resolução 002/2003 (CFP, 2003). Este documento define e regulamenta a elaboração e a co-mercialização de testes psicológicos no contexto brasilei-ro, oferecendo claras diretrizes para a adequada utilização e qualificação dos instrumentos de avaliação psicológica.
Dentre os testes psicológicos avaliados pelo CFP, de acordo com Mansão (2005), o Teste de Fotos de Profissões
(BBT-Br) caracteriza-se como único teste projetivo utiliza-do em OVP com parecer favorável para uso e comerciali-zação no contexto brasileiro. O BBT-Br é um instrumento projetivo de avaliação psicológica composto por 96 fotos de profissionais no exercício de sua profissão, apresentan-do-se nas versões masculina e feminina. Foi proposto ori-ginalmente por Achtnich (1988, 1991), com o objetivo de avaliar inclinações motivacionais, compreendidas como re-presentantes dos interesses e das necessidades individuais ao longo da vida, passíveis de modificação em função de variáveis internas ou do contexto sociocultural, possuindo, portanto, uma natureza de permeabilidade e de desenvolvi-mento, ultrapassando uma concepção determinística única para o comportamento humano. Em sua proposta haveria estreita ligação entre a satisfação das necessidades do indiví-duo e sua escolha profissional e pessoal de vida, resultantes da integração entre características de personalidade e inte-resses. A gratificação básica das inclinações motivacionais do indivíduo, em atividades laborais ou cotidianas, seria um elemento favorecedor de saúde mental, representando um aspecto de preservação da própria vida. Originalmente esta técnica denominava-se Berufsbilder-Test, marcando sua origem suíça, conhecido pela sigla BBT. Este teste foi introduzido no Brasil por André Jacquemin na década de 1980, passando por amplo processo de adaptação sociocul-tural a este contexto, resultando nas versões masculina e feminina do BBT-Br (Jacquemin, 2000; Jacquemin, Okino, Noce, Assoni, & Pasian, 2006; Okino et al., 2003).
Os estudos de adaptação e padronização da versão masculina do BBT foram publicados em Jacquemin (2000). Esse trabalho detalhou as etapas realizadas para adequar os estímulos (fotos de atividades profissionais) ao contexto brasileiro, bem como apresentou os padrões de desempe-nho nesta técnica projetiva obtidos com 472 estudantes de escolas públicas e particulares do Ensino Médio, 227 uni-versitários e 31 profissionais. Estudos semelhantes foram realizados com a forma feminina do BBT (Jacquemin et al., 2006), apresentando resultados encontrados em 512 alunas do Ensino Médio de escolas públicas e particula-res, além de 352 universitárias, apontando especificidades de inclinações motivacionais em função da origem escolar dos adolescentes. Os resultados destas investigações gera-ram as versões adaptadas do Teste de Fotos de Profissões (BBT) ao contexto brasileiro, denominadas de BBT-Br (masculino) e BBT-Br (feminino), abarcando a elaboração de novas fotos e padrões normativos para o instrumento. O BBT-Br, portanto, corresponde ao BBT original, com as mesmas bases teóricas e técnicas, propondo-se a avaliar as tendências motivacionais do indivíduo, informando sobre suas estruturas (primária e secundária) de interesses e de rejeições de atividades.

Okino, E. T. K., & Pasian, S. R. (2010). Precisão e validade do BBT-Br
25
De acordo com os trabalhos publicados por Jacquemin e Pasian (1991) e Noce, Okino, Assoni e Pasian (2008), o BBT-Br pode ser aplicado com eficiência em processos de OVP em função da riqueza das informações e hipóte-ses interpretativas decorrentes de sua correta utilização. Estas evidências também foram apresentadas nos estudos de Pasian e Jardim-Maran (2008) e Melo-Silva, Pasian, Assoni e Bonfim (2008).
Pode-se afirmar que as possibilidades de uso do Teste de Fotos de Profissões em processos de interven-ção em OVP no Brasil têm sido exploradas. Melo Silva e Jacquemin (2000) focalizaram o uso do BBT como instru-mento auxiliar na avaliação de processos de intervenção grupal em OVP com estudantes do Ensino Médio. Seus re-sultados permitiram apontar o BBT como uma ferramenta importante na ampliação das possibilidades diagnósticas do indivíduo em OVP. Bernardes (2000), por sua vez, realizou estudo longitudinal com adolescentes do ensino médio, com intervalo de aproximadamente quatro anos entre as aplicações do BBT. Os resultados confirmaram a capacidade prognóstica do BBT, fortalecendo pressupos-tos teóricos e técnicos do instrumento. Sbardelini (1997), por sua vez, utilizou o BBT para tentar compreender a re-opção da carreira durante os estudos de graduação, esta-belecendo prognósticos sobre a adaptação à nova escolha profissional. Os resultados permitiram a identificação de necessidades específicas dos alunos estudados, atestando a contribuição do Teste de Fotos de Profissões (BBT) para esclarecer motivações intrínsecas implicadas nos proces-sos de reopção profissional, evidenciando, assim, sua vali-dade clínica no contexto universitário.
Em outro estudo, Melo-Silva, Noce e Andrade (2003) aplicaram o BBT-Br em 136 adolescentes com o objetivo de investigar os alcances terapêuticos de proces-sos individuais e grupais em OVP. Apresentaram dados de produtividade e da estrutura de inclinação motivacio-nal positiva e negativa de acordo com o sexo dos sujeitos, destacando semelhanças e diferenças em função desta va-riável. Conseguiram apontar evidências de utilidade no uso do BBT-Br na investigação das necessidades e dos interesses em adolescentes que procuram OVP, demons-trando sua validade clínica.
Relevante investigação do BBT-Br foi desenvolvida por Campos (2003), pesquisando a congruência/incongru-ência entre o perfil vocacional (evidenciado pela técnica projetiva) e as características da profissão desempenhada por adultos. Os resultados evidenciaram associações signi-ficativas entre a estrutura de inclinações motivacionais do BBT-Br e o grau de satisfação nas atividades desempenha-das no trabalho, as quais se relacionaram claramente com as intercorrências de saúde por eles vivenciadas. Quando
existia congruência entre as inclinações motivacionais evi-denciadas pelo BBT-Br e as atividades profissionais efe-tivamente realizadas, identificou-se, no histórico de vida destes indivíduos avaliados, menor número de problemas de saúde geral e de afastamentos do trabalho por motivos de doença. Este estudo apresentou, desta forma, evidência empírica confirmadora do pressuposto de Achtnich (1991) de que o grau de satisfação em atividades ocupacionais favorece a preservação da saúde mental e geral.
Buscando a interface do BBT-Br com outras técni-cas de avaliação psicológica, Jardim-Maran (2004) ava-liou estudantes do terceiro ano do Ensino Médio público e particular de ensino, com idades entre 16 e 19 anos, por meio de entrevista, BBT-Br e Questionário Desiderativo. Os resultados evidenciaram sinais de interface qualitativa entre os fatores de inclinação motivacional mais escolhi-dos ou rejeitados no BBT-Br e os mecanismos de defesa e os conteúdos rejeitados no Questionário Desiderativo, evidenciando que o uso associado destes instrumentos de avaliação psicológica é enriquecedor na compreensão dos temores e ansiedades dos adolescentes.
Com o objetivo de verificar as possibilidades infor-mativas do BBT-Br quanto a indicadores de maturidade para a escolha profissional e na perspectiva de fundamen-tar empiricamente algumas de suas hipóteses interpretati-vas, Noce (2008) avaliou individualmente alunos do ter-ceiro ano do Ensino Médio público, de ambos os sexos. Os resultados demonstraram a existência de especificida-des motivacionais na produção dos adolescentes diante do BBT-Br em função do nível de maturidade e do sexo, confirmando, empiricamente, evidências da influência so-ciocultural na determinação dos interesses profissionais.
Uma síntese histórica das pesquisas realizadas no Brasil com o Teste de Fotos de Profissões (BBT e sua ver-são brasileira BBT-Br) foi apresentada em Pasian, Okino e Melo-Silva (2007). A partir desses trabalhos, pode-se de-preender adequadas condições técnicas no Teste de Fotos de Profissões (BBT-Br) para investigação dos interesses no contexto brasileiro. No entanto, ao verificar a própria construção desse instrumento projetivo de clarificação das inclinações motivacionais, nota-se a falta de investigações sobre a sustentação teórica da estrutura de fatores motiva-cionais pressuposta por Achtnich (1991).
O Teste de Fotos de Profissões de Achtnich (1991) foi estruturado com base em oito radicais de inclinação motivacional, postulados como elementos básicos para classificar as tendências, as aspirações fundamentais e as inclinações essenciais dos interesses. Esses oito radicais coexistem num mesmo indivíduo, combinados entre si de maneiras múltiplas e são expressivos de necessidades motivacionais específicas. Achtnich (1991) os nomeou

26
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 23-35
da seguinte maneira: Fator W (associado à sensibilidade, prazer ao toque, delicadeza e subjetividade); Fator K (re-lacionado à força física e psíquica, agressividade); Fator S, apresentado em duas vertentes: Sh (representante da necessidade de ajudar o outro, do interesse por relações interpessoais) e Se (caracterizado pelo dinamismo, ener-gia psíquica, busca por mudanças e soluções de desafios); Fator Z (necessidade de mostrar-se, de reconhecimento, de valorização pessoal, de apreço ao belo e apuro estético); Fator V (caracterizado pela racionalidade, objetividade, organização e precisão lógica); Fator G (abstração, ima-ginação criativa, intuição e elaboração de idéias, investi-gação); Fator M (necessidade de lidar com o concreto do ambiente, com limpeza; apego ao passado, conservador); Fator O, apresentado em duas vertentes: Or (necessidade de comunicação verbal) e On (necessidade e interesse por nutrição e aspectos da alimentação).
Não foi possível identificar, dentro de nosso conhe-cimento, trabalhos dirigidos à investigação da validade de construto das pressuposições interpretativas do Teste de Fotos de Profissões, mais especificamente sobre os cha-mados fatores Achtnich (W, K, S, Z, V, G, M, O), como adequados representantes das inclinações motivacionais humanas. Este desafio precisa ser enfrentado para o apri-moramento desta técnica projetiva, dadas as várias pes-quisas apontadas anteriormente e que demonstraram sua adequada validade clínica, sobretudo em OVP.
Um ponto central das formulações de Achtnich (1991) é a noção de que a integração da personalidade e o equilíbrio psíquico do indivíduo são dependentes (embora não de maneira exclusiva) do nível de satisfação de suas necessidades no exercício ocupacional e profissional. Em termos de princípios teóricos, é possível notar que esses pressupostos básicos estabelecidos por Achtnich (1991), aproximam-se da reconhecida Teoria de Holland (1997) denominada como Personalidade Vocacional. Ambas pos-tulam a preservação da saúde mental do indivíduo como fortemente determinada pela concretização e satisfação das necessidades motivacionais no trabalho e nas ativida-des ocupacionais em geral. Outro ponto comum entre as formulações destes referidos pesquisadores, está no fato de que ambos criaram instrumentos de avaliação psico-lógica específicos como estratégias embasadoras e nor-teadoras das práticas de intervenção em OVP. Entre ou-tras técnicas de exame psicológico, Holland, Fritzsche e Powell (1994) elaboraram o Self-Directed Search – SDS – Career Explorer (CE), enquanto Achtnich (1991) criou o Berufsbilder-Test (BBT) ou Teste de Fotos de Profissões.
A universalmente reconhecida teoria da Personalidade Vocacional de Holland (1997) afirma que os indivíduos e os ambientes poderiam ser classificados em seis tipos
psicológicos. Estes tipos ficaram estruturados no mode-lo RIASEC, podendo-se esquematicamente sistemati-zar suas principais características nos seguintes termos: Realista (R): estilo pessoal prático e concreto, resolutivo de problemas; Investigativo (I): marcado por estilo analí-tico, investigativo, reflexivo e intelectualizado; Artístico (A): estilo pessoal onde predomina a expressão criativa de idéias, emoções e sentimentos; Social (S): centrado na sociabilidade, em humanitarismo e interesse por relações interpessoais de ajuda ao outro, empatia; Empreendedor (E): caracterizado pela energia, dinamismo, habilidade verbal, capacidade persuasiva e de liderança nas relações; Convencional (C): estilo pessoal conformista, conscien-cioso, prudente e mantenedor de regras e rotinas ordena-das, e que valoriza o poder nas relações sociais. Na base destas formulações, reside a noção de que um tipo psi-cológico congrega o conjunto global das características pessoais do indivíduo, em termos hereditários, culturais e ambientais. A relevância da concepção teórica de Holland (1997) e de suas ricas possibilidades de compreensão e de intervenção com indivíduos que buscam OVP foram amplamente demonstradas em estudos internacionais, po-dendo, citar, por exemplo, os trabalhos de: Ackerman e Beier (2003), Gupta, Tracey e Gore (2008), Hedrih (2008), Rounds, Tracey e Hubert (1992), Rounds e Tracey (1996), Staggs, Larson e Borgen (2003), Sverko e Babarovic (2006). Evidências similares também puderam ser encon-tradas no Brasil, com resultados bastante positivos advin-dos dos estudos que utilizaram esta perspectiva teórica, sobretudo a partir da utilização dos instrumentos de ava-liação psicológica elaborados com base nas concepções teóricas de Holland (Balbinotti, Magalhães, Callegari, & Fonini, 2004; Magalhães, 2005; Mansão, 2005; Mansão & Yoshida, 2006; Primi et al., 2002; Sparta, 2003; Primi, Mansão, Muniz, & Nunes, 2010).
Derivado da teoria da Personalidade Vocacional de Holland (1997) cabe destacar, especificamente, o seu instrumento de avaliação de interesses denominado SDS (CE). Pode-se afirmar que, além de robusta sustentação teórico-metodológica, constitui-se num instrumento de avaliação psicológica com seguros índices de precisão e de validade. Na realidade brasileira, o SDS (CE) foi extensamente estudado por Mansão (2005) e Primi et al. (2010), demonstrando adequados resultados psicométri-cos, subsidiando a aprovação de seu uso pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2009). Este último trabalho (Primi et al., 2010) constitui, na verdade, o manual técni-co da versão brasileira do SDS, onde estão apresentadas as investigações científicas realizadas com este instru-mento, que passa a ser denominado SDS - Questionário de Busca Auto-Dirigida.

Okino, E. T. K., & Pasian, S. R. (2010). Precisão e validade do BBT-Br
27
Com base nestas considerações, configurou-se como possibilidade profícua para o aprimoramento dos instru-mentos de avaliação psicológica utilizados em OVP, verifi-car possíveis interseções entre os fundamentos teóricos pro-postos por Holland e por Achtnich, contrapondo evidências empíricas de suas técnicas de avaliação de interesses, res-peitando-se suas especificidades teóricas. Apesar das espe-cificidades do SDS (CE) e do BBT-Br, ambos se dispõem a examinar o mesmo construto (interesses profissionais) den-tro de uma perspectiva estrutural (ou tipológica) e assumem como ponto de partida que características de personalidade, disposições afetivas e emocionais têm reflexo nas escolhas motivacionais (e profissionais) ao longo do desenvolvimen-to humano, favorecendo ou não a satisfação de necessidades pessoais e o equilíbrio interno. Diante dessas possibilida-des, pretendeu-se neste estudo buscar evidências empíricas de validade convergente entre BBT-Br e SDS (CE), bem como examinar especificamente o BBT-Br em termos de precisão e de validade de construto (por análise fatorial) em adolescentes que estão vivenciando o momento da escolha profissional, na realidade brasileira contemporânea.
Método
Participantes
Com base nos objetivos no presente trabalho, deli-neou-se uma amostra com número significativo de parti-cipantes para viabilizar as análises estatísticas pretendidas com os instrumentos em questão. A amostra ficou, então, composta por 497 adolescentes de 16 a 19 anos de idade, estudantes do terceiro ano do Ensino Médio público, sen-do 295 (59%) do sexo feminino e 202 (41%) do sexo mas-culino. O grupo feminino teve idade média de 16,9 anos (±0,6), sendo praticamente igual à idade média do grupo masculino, correspondente a 17,0 anos (±0,7). As escolas que colaboraram com o estudo e forneceram participantes localizam-se na região central de uma cidade do interior do estado de São Paulo (SP) e foram selecionadas, por conveniência, pelo fato de reunirem alunos de diversos bairros (representando diversidade de experiências socio-culturais), além de possuírem infraestrutura operacional que permitiu a realização do estudo.
Materiais
Foram utilizados dois instrumentos de avaliação psi-cológica para a coleta de dados sobre interesses dos estu-dantes, como descrito a seguir.
Teste de Fotos de Profissões (BBT-Br). Elaborado originalmente por Achtnich (1991) e adaptado ao Brasil
por Jacquemin (2000 – versão masculina) e por Jacquemin et al. (2006 – versão feminina).
O Teste de Fotos de Profissões – Berufsbilder Test (BBT) é um instrumento projetivo no qual o indivíduo é convidado a fazer escolhas (preferências, rejeições e áreas neutras) a partir 96 fotos que representam diferentes pro-fissionais em situação de trabalho. A partir da freqüência de distribuição de escolhas (positivas e negativas) dos fa-tores (representados em cada foto do teste) é possível ela-borar as estruturas de inclinação motivacional (primária e secundária, positiva e negativa) do indivíduo.
Dentre as pesquisas realizadas com o BBT e BBT-Br, no âmbito de suas evidências psicométricas, identificam-se trabalhos voltados ao estudo de sua validade interna (Jacquemin, 2000; Jacquemin et al., 2006), validade predi-tiva (Bernardes, 2000) e validade de critério (Noce, 2008). Relativamente à precisão, Sbardelini (1997) examinou a estabilidade das estruturas motivacionais identificadas pelo Teste de Fotos de Profissões, encontrando bons resultados nesta direção. Com relação aos parâmetros normativos do BBT-Br no Brasil têm-se os estudos desenvolvidos por Jacquemin (2000) e Jacquemin et al. (2006).
Self-Directed Search - Career Explorer (SDS - for-ma CE). Elaborada originalmente por Holland, Fritzche & Powell (1994) e adaptado ao Brasil por Primi et al. (2010), denominando-se SDS - Questionário de Busca Auto-Dirigida. Este material foi gentilmente cedido por Ricardo Primi para uso neste estudo, dado ser o interlocu-tor brasileiro inicialmente responsável pelos contatos com a Psychological Assessment Resources (PAR) para investiga-ções com o SDS (CE).
Trata-se de um inventário de interesses profissionais, auto-aplicável, com itens organizados em quatro seções distintas (11 em Atividades, 11 em Competências, 12 em Carreiras e 12 em Habilidades). Cada item avalia a prefe-rência relativa à tipologia RIASEC, sendo que o indivíduo deve assinalar “sim” para os itens que lhe interessam e “não” para aqueles que não lhe interessam. Ao final da avaliação, elabora-se o Código Holland, composto pelos dois tipos psicológicos que atingiram maior escore no SDS como um todo, possibilitando ao orientador conhecer interesses e o tipo psicológico do indivíduo, segundo as concepções da Personalidade Vocacional de Holland (1997).
Quanto aos parâmetros psicométricos do SDS (CE) no contexto brasileiro, Mansão (2005) e Primi et al. (2010), apontaram, em termos de precisão, coeficientes superiores a 0,80. O estudo de Mansão (2005) detalhou os índices de consistência interna (Alfa de Cronbach variando de 0,87 a 0,90) e de precisão teste-reteste (va-riando de 0,82 a 0,91) em amostras de adolescentes bra-sileiros. Por sua vez, o manual elaborado por Primi et al.

28
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 23-35
(2010), traz as informações relativas dos vários estudos desenvolvidos com o SDS no Brasil, apresentando inclu-sive referenciais normativos.
Procedimentos
A pesquisa foi inicialmente avaliada e aprovada por um Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Foram tomados os devidos cuidados relativos ao uso de instrumen-tos de avaliação psicológica com adolescentes em contex-to escolar, firmando, por escrito, o Consentimento Livre e Esclarecido dos participantes e de seus pais ou responsáveis.
A partir do interesse manifesto em colaborar com o estudo, foram agendadas as aplicações coletivas dos ins-trumentos em horário regular de aula. Em função das duas formas do BBT-Br (masculina e feminina), foi necessá-rio separar os participantes para o processo de aplicação dos instrumentos, contando-se com a colaboração de dois psicólogos para a aplicação dos testes em sessões simultâ-neas em diferentes salas de aula. O primeiro instrumento aplicado foi o BBT-Br, na forma de slides, e após a sua finalização, aplicou-se o SDS (CE).
Os dados do BBT-Br e do SDS foram analisados de acordo com recomendações constantes em seus respectivos referenciais técnicos (Achtnich, 1991; Holland et al., 1994; Holland, 1997). Neste trabalho serão focalizados, conforme objetivos delineados, os resultados referentes ao BBT-Br.
A consistência interna do BBT-Br foi calculada em função de sua versão masculina e feminina, por meio da estimativa da homogeneidade dos itens representativos dos construtos, neste caso, de cada fator de Achtnich. Para isso, utilizou-se o coeficiente Alfa de Cronbach (α), ado-tando-se nível de significância igual ou menor a 0,05.
Para o estudo da validade do BBT-Br foram adota-das duas estratégias técnicas, aplicadas à versão feminina e masculina: a) análise fatorial exploratória (análise dos componentes principais); b) análise da convergência en-tre resultados do SDS (CE) e do BBT-Br. Como proce-dimento anterior à análise fatorial, foram examinados o coeficiente de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o Teste de Esfericidade de Bartlett para verificar a condição de utili-zação do método de Análise dos Componentes Principais (ACP). Esta foi realizada com rotação Varimax, com o objetivo de identificar fatores latentes e simplificadores da distribuição dos resultados em cada versão do BBT-Br. Optou-se, nestas ACP, pelo agrupamento dos 96 itens (fotos) em oito fatores, seguindo-se a idéia original do ins-trumento, postulado como estruturado em oito radicais de inclinação motivacional (Achtnich, 1991).
A seguir foi realizada análise correlacional entre os resultados das duas técnicas de avaliação psicológica aqui
utilizadas, procurando-se validar a convergência entre BBT-Br e SDS (CE), tomando-se como critério-padrão as evidências relativas ao instrumento de Holland. Foram calculados os coeficientes de correlação de Pearson (p ≤ 0,05) entre a frequência de escolhas positivas nos oito fa-tores de cada versão específica do BBT-Br (W, K, S, Z, G, V, M, O) e os resultados das preferências pelos tipos psicológicos (RIASEC) do SDS (CE).
Resultados
A análise da precisão das duas versões do BBT-Br foi avaliada pelo índice de consistência interna de cada radi-cal de inclinação, calculando-se o Alfa de Cronbach. Os coeficientes gerais estimados para cada fator do BBT-Br estão apresentados na Tabela 1.
Tabela 1Coeficientes Alfa de Cronbach dos fatores do BBT-Br, de acordo com o sexo dos participantes
Fatores BBT-Br
WKSZVGMO
SexoFeminino( = 295)n0,700,590,750,800,740,710,590,57
Masculino( = 202)n0,740,680,730,790,800,750,750,64
Os coeficientes gerais encontrados para o conjunto da amostra apresentaram uma variação entre 0,57 a 0,80, va-lores classificados por Sisto (2007) como indicadores de níveis medianos de precisão do instrumento. Examinando estes resultados em função do sexo, notou-se variação entre 0,57 e 0,80 para o grupo feminino e, para o grupo masculino, valores entre 0,64 e 0,80. Esses valores cons-tituem-se em índices razoáveis da fidedignidade do BBT-Br, corroborando sua adequada consistência interna, tanto em sua versão masculina quanto a feminina.
Para examinar a viabilidade de realização de uma análise dos componentes principais (ACP) do BBT-Br, inicialmente estimou-se o coeficiente de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), verificando-se KMO = 0,75 e p < 0,000 no grupo masculino e, no grupo feminino, KMO = 0,79 e p < 0,000. Esses valores, bem como os resultados do Teste de Esfericidade de Bartlet (p < 0,000) indicam que

Okino, E. T. K., & Pasian, S. R. (2010). Precisão e validade do BBT-Br
29
Tabela 2Resultados da análise fatorial (rotação varimax) das duas versões do BBT-Br
Tabela 3Índices de correlação (Pearson) entre SDS(CE) e BBT-Br (versão masculina)
as correlações entre os itens (escolhas das fotos positivas) mostraram-se suficientes e adequadas para proceder a uma análise fatorial exploratória dos dados de cada versão do BBT-Br. A ACP foi realizada com rotação Varimax, sendo
que os respectivos autovalores, porcentagem da variância explicada e respectiva porcentagem da variância explica-da acumulada, para versão do BBT-Br (masculina e femi-nina) estão apresentados na Tabela 2.
Fatores
12345678
Autovalor Variância explicada % Variância acumulada %Masc.*16,005,104,613,052,662,492,192,06
Fem.*13,284,664,533,902,982,682,462,33
* Masc = versão masculina / Fem = versão feminina
Masc.16,675,324,803,172,772,602,282,14
Fem.13,834,864,714,073,102,792,572,42
Masc.16,6721,9926,7829,9632,7335,3337,6039,75
Fem.13,8318,6923,4027,4730,5733,3735,9338,36
Pode-se notar que a ACP com solução de oito fatores, na versão feminina do BBT-Br, explicou 38,36% da variân-cia dos resultados, enquanto abarcou 39,75% dos dados em sua versão masculina. Estes resultados sugerem evidências de confirmação da estrutura interna das duas versões do BBT-Br, configurando-se como evidência de validade dos postulados de Achtnich (1991), associados a oito radicais de inclinação motivacional.
Na continuidade das análises relativas à validade do BBT-Br, apresentam-se os coeficientes de correlação de Pearson en-tre a frequência de escolhas positivas nos oito fatores do BBT-Br e os resultados das preferências pelos tipos psicológicos do SDS (CE). Inicialmente serão apresentados os dados obtidos na amostra masculina (n = 202), constantes na Tabela 3.
A análise interpretativa dos dados da Tabela 3 foca-lizou as associações estatisticamente significativas com valor igual ou superior a | 0,30 |. Foi possível observar que, entre os participantes do sexo masculino, o fator W apresentou correlação significativa moderada (Sisto, 2007) com o tipo Social (r = 0,417). Tendo em conta os significados atribuídos por Holland (1997) ao tipo Social, pode-se depreender, dessa correlação, que o fator W do BBT-Br pode sinalizar interesses em atividades de inte-ração com o outro e motivação para relacionamentos de ajuda, com caráter humanista. Esta associação, portanto, pode ser compreendida como confirmação dos aspectos postulados por Achtnich (1991) para este componente (fator W) de sua técnica.
Tipos do SDSRealista
InvestigativoArtísticoSocial
EmpreendedorConvencional
* Correlação significativa ( 0,05) ** Correlação significativa ( 0,01)p p≤ ≤
Fatores do BBT
W0,261**0,231**0,218**0,417**0,165*0,281**
S0,367**0,254**0,235**0,416**0,240**0,169*
Z0,142*0,199**0,559**0,396**0,266**0,195**
G0,271**0,435**0,421**0,423**0,229**0,254**
V0,406**0,367**0,1070,285**0,372**0,418**
M0,371**0,172*0,200**0,325**0,1270,129
O0,185**0,1150,268**0,396**0,420**0,284**
K0,536**0,1340,0920,1290,138*0,054

30
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 23-35
Da mesma forma, os dados indicaram moderada correlação significativa entre o fator K e o tipo Realista (r = 0,536), caracterizado pelo pensamento prático, concre-to, pragmático. Esta associação entre as técnicas permite, portanto, fortalecer a hipótese de Achtnich (1991) relativa à interpretação do fator K, correspondendo a uma atitude de determinação e de força (física e psíquica).
O fator S do BBT-Br mostrou associação significati-va e moderada com o tipo Social (r = 0,416), caracterizado por Holland (1997) como associado a empatia, sociabili-dade, relações humanitárias de ajuda ao outro. Este dado pode ser compreendido como fortalecimento das possibi-lidades interpretativas da vertente Sh do fator S do BBT-Br. Este fator apresentou também moderada correlação significativa com o tipo Realista (r = 0,367), marcado pelo pragmatismo e interesses nos aspectos concretos da rea-lidade, dando margem para reforçar as interpretações da vertente Se do fator S de Achtnich (1991), vinculadas à boa disposição e energia vital.
Já para o fator Z, identificaram-se moderadas cor-relações significativas com o tipo Artístico (r = 0,559), característico pela expressão criativa de idéias e emoções, e o tipo Social (r = 0,396), caracterizado pela empatia e sociabilidade. Reiteram-se, deste modo, as possibilidades interpretativas do fator Z do BBT-Br como significativa-mente associadas a características de apuro estético e de apreciação do belo, acompanhadas de elementos de cria-tividade, intuição e emotividade, no geral também impli-cando em contatos interpessoais, onde há possibilidade de reconhecimento social.
O fator G apresentou moderadas correlações signi-ficativas com os tipos Investigativo (r = 0,435), Social (r = 0,423) e Artístico (r = 0,421). Estes dados podem ser compreendidos como evidências de fortalecimento da in-terpretação do fator G do BBT-Br como referentes ao pen-samento abstrato, criatividade, originalidade e interesse em atividades de investigação e de pesquisa, já consolida-das como hipóteses plausíveis para o tipo Investigativo de Holland, aqui adotado como critério de sustentação teóri-ca para as correlações encontradas.
O fator V do BBT-Br apresentou moderadas correla-ções significativas com quatro dos tipos RIASEC, a saber: o tipo Convencional (r = 0,418), marcado pelo aspecto consciencioso e organizado nas atividades; o tipo Realista (r = 0,406), caracterizado pelo rigor lógico e pragmatis-mo; o tipo Empreendedor (r = 0,372), caracterizado pelo dinamismo, pela habilidade verbal, persuasiva; e o tipo Investigativo (r = 0,367), caracterizado pela criatividade em sua expressão ideativa. Essa aproximação retrata re-presentações de interesse em atividades que envolvam re-lacionamentos interpessoais, habilidade verbal, motivados
pelo dinamismo, entusiasmo e extroversão, porém perme-ados pela lógica, precisão e organização do pensamento, como teoricamente proposto por Achtnich (1991) para o fator V. Desta forma, estes dados pareceram favorecer a hipótese interpretativa deste fator como sinal de organi-zação, raciocínio lógico, presentes em várias atividades e contextos, além de rigidez, conservadorismo e apreço por bens materiais, típicos das características atribuídas ao tipo Convencional de Holland (1997).
O fator M apresentou moderada correlação significa-tiva com os tipos Realista (r = 0,371), marcado por um es-tilo pragmático e concreto, e com o tipo Social (r = 0,325), com sua característica de empatia e sociabilidade. Cabe ainda apontar, diante dos dados da tabela 3, que o fator O apresentou moderada correlação significativa com o tipo Empreendedor (r = 0,420), caracterizado pela energia e dinamismo nas relações interpessoais e com o tipo Social (r = 0,396), marcado pela sociabilidade e humanitarismo nas relações interpessoais. Diante do conjunto destes re-sultados e ao recorrer à sólida Teoria da Personalidade Vocacional como base interpretativa, as moderadas e sig-nificativas associações aqui encontradas configuram-se como evidências empíricas suficientes para interpretar os construtos do BBT-Br como sustentados por aspectos teó-ricos do RIASEC de Holland.
A seguir foram realizadas as análises dos resulta-dos da correlação entre SDS (CE) e o BBT-Br obtidos no grupo feminino de estudantes (n = 295). Estes dados compõem a Tabela 4.
Novamente foram destacadas as correlações com valor igual ou superior a | 0,30 | para análise interpreta-tiva. Diante da versão feminina do BBT-Br, observou-se que o fator W não apresentou índices de correlação importantes, embora significativos, com a tipologia de Holland (1997). Quanto ao fator K, observou-se mode-rada correlação (r = 0,523) com o tipo Realista, marcado pelo pragmatismo e objetividade. Esta associação forta-lece a base interpretativa do fator K do BBT-Br como representante do interesse por atividades racionais, im-plicando em força física e psíquica e em forte vínculo com o ambiente de vida do indivíduo.
O fator S mostrou moderada correlação significa-tiva com o tipo Social (r = 0,514), caracterizado pela empatia, sociabilidade e interesse pelas relações in-terpessoais de ajuda ao outro. Esta evidência pode ser compreendida como subsídio empírico para as hipóteses interpretativas atribuídas por Achtnich (1991) ao fator S, principalmente em sua vertente Sh, no sentido de ex-pressarem interesse por atividades que englobam rela-ções interpessoais de ajuda, focadas no cuidado com o outro e na sensibilidade.

Okino, E. T. K., & Pasian, S. R. (2010). Precisão e validade do BBT-Br
31
Tipos do SDSRealista
InvestigativoArtísticoSocial
EmpreendedorConvencional
* Correlação significativa ( 0,05) ** Correlação significativa ( 0,01)p p≤ ≤
Fatores do BBT-Br
W0,123*0,0650,171**0,204**0,156**0,081
S0,207**0,231**0,182**0,514**0,148*0,148*
Z0,347**0,142**0,495**0,242**0,321**0,214**
G0,312**0,474**0,313**0,362**0,228**0,259**
V0,399**0,330**0,230**0,151**0,348**0,496**
M0,365**0,300**0,200**0,171**0,0930,145*
O0,206**0,110**0,183**0,339**0,274**0,259**
K0,523**0,187**0,213**0,0350,192**0,137*
Tabela 4Índices de correlação (Pearson) entre SDS (CE) e BBT-Br (versão feminina)
O fator Z mostrou-se correlacionado, de modo signi-ficativo e importante, com três tipos de Holland, a saber: Artístico (r = 0,395), Realista (r = 0,347) e Empreendedor (r = 0,321). Essas associações fortalecem as característi-cas atribuídas ao fator Z do BBT-Br relacionadas aos in-teresses estéticos, criatividade sem perda do vínculo com a lógica e a racionalidade, necessidade de reconhecimento de si ou de seu trabalho.
Identificou-se novamente moderada correlação sig-nificativa entre o fator G com os tipos Investigativo (r = 0,474), Realista (r = 0,312), Social (r = 0,362) e Artístico (r = 0,313) de Holland (1997). Nota-se, portanto, que este fator do BBT-Br apresentou quatro associações importantes com os tipos RIASEC, sugerindo tratar-se de uma caracterís-tica que permeia os interesses do grupo feminino de estudan-tes. Pelas associações encontradas, pode-se inferir que esses dados confirmam as possibilidades de interpretação do fator G referentes à riqueza imaginativa e à capacidade de pensar de modo abstrato, aspectos relacionados à organização do pensamento, mostrando-se úteis no exercício das relações interpessoais e de ajuda ao outro, advindas da interpretação atribuída aos tipos de Holland com os quais houve relevante correlação.
O fator V também apresentou quatro índices de correla-ção significativa e moderada com os tipos da Personalidade Motivacional, a saber: Convencional (r = 0,496), Realista (r = 0,399), Investigativo (r = 0,330) e Empreendedor (r = 0,348). Procurando-se compreender estas associações encontradas entre as variáveis do BBT-Br e do SDS (CE), pode-se depreender que o fator V reúne interesses lógicos e formais, permeados de disposição e de análises racionais sobre os estímulos, oferecendo suporte empírico às inter-pretações de Achtnich (1991) relativas a esse fator.
Por sua vez, o fator M mostrou índices significativos de correlação, de força moderada, com os tipos Realista (r = 0,365) e Investigativo (r = 0,300). Essa associação
reforça características atribuídas ao fator M do BBT-Br, relacionadas ao apego a coisas materiais, a ligação com a concretude dos fatos, aliados ao rigor lógico.
Por fim resta apontar que, quanto ao fator O, ob-servou-se moderada correlação significativa com o tipo Empreendedor (r = 0,339), caracterizado pela energia, dinamismo, habilidade verbal e capacidade persuasiva nas relações humanas. Depreende-se, portanto, evidências empíricas sinalizadoras de integração entre motivações empreendedoras com as possibilidades de comunicação oral e contatos interpessoais, fortalecendo as interpreta-ções de Achtnich (1991) relativas ao fator O.
Discussão
Inicialmente cabe apontar que os objetivos delinea-dos para o presente trabalho foram plenamente alcança-dos. Foram obtidas evidências positivas sobre a fidedigni-dade e a validade das duas versões brasileiras do Teste de Fotos de Profissões, mais conhecido como BBT-Br.
Dado o caráter projetivo do BBT-Br, o qual possibilita vivências individualizadas dos estímulos, pode-se assumir que os atuais índices de consistência interna demonstram sua precisão, embora em valores classificados por Sisto (2007) como medianos. Além disso, é preciso destacar que esta precisão foi demonstrada para as duas versões do BBT-Br e pelo método da análise da consistência interna, constituindo-se numa diretriz ainda inédita no Brasil até o momento, atribuindo às atuais evidências um caráter de sistematização psicométrica para esta técnica projetiva. O estudo de Sbardelini (1997), por exemplo, permitiu veri-ficar, entre outros objetivos, a estabilidade temporal das estruturas de inclinação motivacional (teste-reteste), por meio de delineamento longitudinal, em amostra de menor tamanho, cujos dados foram interpretados, sobremaneira, numa perspectiva clínica. Portanto, as atuais evidências

32
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 23-35
empíricas de precisão do BBT-Br aqui apresentadas forta-lecem as possibilidades de reconhecimento da qualidade deste instrumento projetivo de avaliação de interesses no contexto brasileiro.
Ainda no sentido de aprofundamento dos estudos psicométricos do BBT-Br, o modelo teórico associado ao instrumento foi testado e sua estrutura interna verifi-cada, por meio da Análise dos Componentes Principais (ACP) dos resultados. A ACP com solução de oito fato-res explicou 39,8% da variância dos resultados na amos-tra masculina e 38,4% na amostra feminina. Esta análise possibilitou o detalhamento das características estruturais do instrumento, verificando sua complexidade e a multi-plicidade de fatores que compõem as profissões, conforme Achtnich (1991) já ponderava em suas considerações te-óricas e clínicas. Desta forma, a presente análise apontou que as fotos do BBT-Br, em suas duas versões, abordam os elementos teoricamente previstos, no entanto, numa distri-buição onde estes oito radicais de inclinação motivacional não explicam suficientemente a distribuição dos interesses verificada nos adolescentes, o que exigirá novos estudos, ultrapassando as atuais possibilidades.
A análise da possível associação dos resultados pro-venientes do SDS (CE) e do BBT-Br mostrou-se também bastante promissora em termos de validade para esta técnica projetiva. Pode-se identificar grande número de correlações significativas e moderadas entre os referidos instrumentos de avaliação psicológica, confirmando-se a convergência entre seus resultados. Devido à multifato-riedade das profissões e também ao fato do SDS ter em sua tipologia seis fatores e o BBT-Br oito radicais de in-clinação motivacional, pode-se observar convergência de mais de um fator de Achtnich para um mesmo tipo de Holland. No entanto, houve alguns valores de correlação mais elevados entre a tipologia RIASEC e os fatores do BBT-Br, cujos índices foram esmiuçados e destacados na interpretação dos dados das tabelas 3 e 4. Considerando-se que o SDS (CE) constitui-se num instrumento de ava-liação de interesses já consagrado na literatura científica internacional, as informações resultantes dessa análise convergente são muito favoráveis e positivas no sentido de confirmar a validade de construto do BBT-Br, certifi-cando-o como um instrumento projetivo que avalia inte-resses profissionais.
De acordo com as ponderações de Holland (1996, 1999), os inventários de interesses também se constitui-riam como inventários de personalidade. Essa afirmação acompanha as reflexões teóricas e empíricas de Achtnich (1988, 1991), no sentido de afirmar que a escolha profis-sional estaria diretamente relacionada às características de personalidade do indivíduo, sendo que uma boa escolha seria favorecedora de saúde mental e de bem estar.
A concepção integradora dos conceitos de cognição, personalidade e interesses tem se mostrado uma tendência atual na literatura da área de Orientação Profissional em interface com a avaliação psicológica. Vários trabalhos confirmaram a hipótese de comunalidade dos construtos citados e reforçam a sua importância no processo de esco-lha profissional (Ackerman & Beier, 2003; Bueno, Lemos, & Tomé, 2004; Gasser, Larson, & Borgen, 2004; Primi et al., 2002; Roberti, Fox, & Tunick, 2003). Esse ponto de vista teórico, a priori, assume que as características de personalidade e as disposições afetivas e emocionais de um indivíduo se refletem diretamente em suas escolhas motivacionais ao longo de seu desenvolvimento, podendo favorecer (ou não) a satisfação das necessidades pessoais.
Poder-se-ia aqui argumentar que, dentro dessa visão abrangente de integração destes citados construtos, a teoria de Holland (1997) apresentou-se como um modelo estrutu-ral interativo ou tipológico interativo. Por sua vez, o modelo de Achtnich (1991) assumiu que as motivações profissio-nais também poderiam ser classificadas em fatores interati-vos. Isso decorre do fato de serem constituídos por variáveis que se inter-relacionam constantemente e, por isso, no caso do BBT-Br, nenhuma atividade profissional poderia ser ca-racterizada somente por um fator. Portanto, identificam-se pontos de similaridade teórica entre os dois modelos, como inicialmente pressuposto nesta investigação. Esta hipótese foi aqui confirmada por meio da elevada convergência dos resultados provenientes do SDS e do BBT-Br.
Essas ponderações se harmonizam com as orienta-ções de Messick (2000) a respeito da necessidade de vá-rias evidências empíricas cruzadas para, em sua integra-ção, conseguir-se demonstrar a validação de um construto ou hipótese. Este processo tornou-se profícuo e eficaz no presente trabalho, onde foi possível fortalecer os indica-dores de validade das técnicas de avaliação psicológica utilizadas, nomeadamente as duas versões do BBT-Br.
Referências
Achtnich, M. (1988). Introduction au Test de Photos de Professions (BBT) et à son utilization dans la consultation d´orientation professionnelle et de carrière. Revue de Psychologie Appliquée, 38, 295-324.
Achtnich, M. (1991). O BBT, Teste de Fotos de Profissões: Método projetivo para a clarificação da inclinação profissional. São Paulo: Centro Editor de Testes e Pesquisas em Psicologia.

Okino, E. T. K., & Pasian, S. R. (2010). Precisão e validade do BBT-Br
33
Ackerman, P. L., & Beier, M. E. (2003). Intelligence, personality, and interests in the career choice process. Journal of Career Assessment, 11, 205-218.
Balbinotti, M., Magalhães, M., Callegari, S., & Fonini, C. R. (2004). Estudo fatorial exploratório da versão brasileira do inventário de preferências profissionais. In Sociedade Brasileira de Psicologia. (Org.), XXXIV Reunião Anual de Psicologia [CD-ROM]. Ribeirão Preto, SP: SBP.
Bandeira, D. R., Trentini, C. M., Winck, G. E., & Lieberknecht, L. (2006). Considerações sobre as técnicas projetivas no contexto atual. In A. P. P Noronha, A. A. A. Santos, & F. F. Sisto (Orgs.), Facetas do fazer em avaliação psicológica (pp. 125-139). São Paulo: Vetor Editora Psicopedagógica.
Bernardes, E. M. (2000). O Teste de Fotos de Profissões (BBT) de Achtnich: Um estudo longitudinal com adolescentes. Dissertação de Mestrado não-publicada, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP.
Bueno, J. M. H., Lemos, C. G., & Tomé, F. A. M. F. (2004). Interesses profissionais de um grupo de estudantes de psicologia e suas relações com inteligência e personalidade. Psicologia em Estudo, 9, 271-278.
Campos, M. I. R. S. (2003). BBT-Br na avaliação das relações entre o perfil vocacional, da profissão e a saúde. Dissertação de Mestrado não-publicada, Universidade São Francisco, Itatiba, SP.
Conselho Federal de Psicologia. (2003). Resolução 002/2003. Brasília, DF. Recuperado em 15 Julho 2008, de http://www.pol.org.br
Conselho Federal de Psicologia. (2009). Lista de testes com parecer favorável. Brasília, DF. Recuperado em 15 novembro 2009, de http://www2.pol.org.br/satepsi
Draime, J., & Jacquemin, A. (1989). Os testes em orientação vocacional e profissional. Arquivos Brasileiros de Psicologia, 41(3), 95-99.
Duarte, M. E. (2008). A avaliação psicológica na intervenção vocacional: Princípios, técnicas e instrumentos. In M. C. Taveira & J. T. Silva (Orgs.), Psicologia Vocacional: Perspectivas para a intervenção (pp. 139-157). Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.
Gasser, C. E., Larson, L. M., & Borgen, F. H. (2004). Contributions of personality and interests to explaining the educational aspirations of College students. Journal of Career Assessment, 12, 347-365.
Gupta, S., Tracey, T. J. G., & Gore, P. A. (2008). Structural examination of RIASEC scales in high school students: Variation across ethnicity and method. Journal of Vocational Behavior, 72, 1–13.
Hedrih, W. (2008). Structure of vocational interests in Serbia: Evaluation of the spherical model. Journal of Vocational Behavior, 73, 13–23.
Holland, J. L. (1996). Exploring careers with a typology: What we have learned and some new directions. American Psychologist, 51, 397-406.
Holland, J. L. (1997). Making Vocational Choices: A theory of vocational personalities and work environments (3rd ed.). Lutz: Psychological Assessment Resources, Inc.
Holland, J. L, Fritzsche, B. A., & Powell, A. B. (1994). SDS – Self-Directed Search: Technical Manual. Lutz: Psychological Assessment Resources.
Holland, J. L. (1999). Why interest inventories are also personality inventories. In M. L. Savickas & A. R. Spokane (Orgs.), Vocational interests: Meaning, measurement, and counseling use. Palo Alto: Davies-Black Publishing, Consulting Psychologists Press.
Hutz, C. S. (2002). Responsabilidade ética, social e política da avaliação psicológica. Avaliação Psicológica, 2, 81-74.Jacquemin, A. (2000). O BBT-Br: Teste de Fotos de Profissões: Normas, adaptação brasileira, estudos de caso. São
Paulo: Centro Editor de Testes e Pesquisas em Psicologia.Jacquemin, A., & Pasian, S. R. (1991). O BBT no Brasil. In M. Achtnich, O BBT, Teste de Fotos de Profissões: Método projetivo
para a clarificação da inclinação profissional (pp. 208-222). São Paulo: Centro Editor de Testes e Pesquisas em Psicologia. Jacquemin, A., Okino, E. T. K., Noce, M. A., Assoni, R. F., & Pasian, S. R. (2006). O BBT-Br feminino: Teste de Fotos de Profissões:
Adaptação brasileira, normas e estudos de caso. São Paulo: Centro Editor de Testes e Pesquisas em Psicologia.Jardim-Maran, M. L. C. (2004). Dinamismo psicológico na adolescência diante da escolha profissional: Uma contribuição
do BBT-Br e do Questionário Desiderativo. Dissertação de Mestrado não-publicada, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP.
Lassance, M. C. P., Melo-Silva, L. L., Bardagi, M. P., & Paradiso, A. C. (2007). Competências do orientador profissional: Uma proposta brasileira com vistas à formação e certificação. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 8(1), 87-93.

34
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 23-35
Magalhães, M. O. (2005). Personalidades vocacionais e desenvolvimento na vida adulta: Generatividade e carreira profissional. Tese de Doutorado não-publicada, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
Mansão, C. S. M. (2005). Interesses profissionais: Validação do Self-Directed Search Career Explorer - SDS. Tese de Doutorado não-publicada, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP.
Mansão, C. S. M., & Yoshida, E. P. M. (2006). SDS – Questionário de Busca Auto-Dirigida: Precisão e validade. Revista Brasileira de Orientacão Profissional, 7(2), 67-79.
Melo-Silva, L. L., & Jacquemin, A. (2000). Contribuição para a interpretação do BBT de Martin Achtnich: A história das cinco fotos preferidas. Psic: Revista de Psicologia da Vetor Editora, 1(3), 72-79.
Melo-Silva, L. L., & Jacquemin, A. (2001). Intervenção em orientação vocacional/profissional: Avaliando resultados e processos. São Paulo: Vetor Editora Psicopedagógica.
Melo-Silva, L. L., Noce, M. A., & Andrade, P. P. (2003). Interesses em adolescentes que procuram orientação profissional. Psic: Revista de Psicologia da Vetor Editora, 4(2), 6-17.
Melo-Silva, L. L., Lassance, M. C. P., & Soares, D. H. P. (2004). A orientação profissional no contexto da educação e do trabalho. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 5(2), 31-52.
Melo-Silva, L. L., Pasian, S. R., Assoni, R. F., & Bonfim, T. A. (2008). Assessment of vocational guidance: The Berufsbilder Test. Spanish Journal of Psychology, 11, 301-309.
Messick, S. (2000). Consequences of test interpretation and use: The fusion of validity and values in psychological assessment. In R. D. Goffin & E. Helmes (Orgs.), Problems and solutions in human assessment: Honoring Douglas N. Jackson at seventy (pp. 3-20). Boston: Kluwer Academic.
Noce, M. A., Okino, E. T. K., Assoni, R. F., & Pasian, S. R. (2008). BBT- Teste de Fotos de Profissões: Teoria, possibilidades de uso e adaptação brasileira. In A. E. Villemor-Amaral & B. S. G. Werlang (Orgs.), Atualizações em métodos projetivos (pp. 367-390). São Paulo: Casa do Psicólogo.
Noce, M. A. (2008). O BBT-Br e a maturidade para a escolha profissional: Evidências empíricas de validade. Tese de Doutorado não-publicado, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP.
Noronha, A. P. P., Ziviani, C., Hutz, C. S., Bandeira, D., Custódio, E. M., Alves, I. B., Alchieri, J. C., Borges, L. O., Pasquali, L., Primi, R., & Domingues, S. (2002). Em defesa da avaliação psicológica. Avaliação Psicológica, 2, 173-174.
Noronha, A. P. P., Freitas, F. A., & Otatti, F. (2003). Análise de instrumentos de avaliação de interesses profissionais. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 19, 287-291.
Okino, E. T. K., Noce, M. A., Assoni, R. F., Corlatti, C. T., Pasian, S. R., & Jacquemin, A. (2003). Adaptação do BBT – Teste de Fotos de Profissões: Para o contexto sociocultural brasileiro. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 4(1/2), 87-96.
Ottati, F., & Noronha, A. P. P. (2003). Parâmetros psicométricos de instrumentos de interesse profissional. Estudos e Pesquisa em Psicologia, 3(2). Recuperado em 15 Julho 2008, de http://www.revispsi.uerj.br/v3n2/artigo2v3n2.html
Pasian, S. R., Okino, E. T. K., & Melo-Silva, L. L. (2007). O Teste de Fotos de Profissões (BBT) de Achtnich: Histórico e pesquisas desenvolvidas no Brasil. Psico-USF, 12(2), 173-187.
Pasian, S. R., & Jardim-Maran, M. L. C. (2008). Padrões normativos do BBT-Br em adolescentes: Uma verificação da atualidade das normas disponíveis. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 9(1), 61-74.
Primi, R., Bighetti, C. A., Munhoz, A. H., Noronha, A. P. P., Polydoro, S. A. J., Di Nucci, E. P., & Pellegrini, M. C. K. (2002). Personalidade, interesses e habilidades: Um estudo correlacional da BPR-5, LIP e do 16PF. Avaliação Psicológica, 1, 61-72.
Primi, R., Mansão, C. S. M., Muniz, M., & Nunes, M. F. O. (2010). SDS – Questionário de Busca Auto-Dirigida – Manual técnico da versão brasileira. São Paulo: Casa do Psicólogo.
Rounds, J. B., Tracey, T. J. G., & Hubert, L. (1992). Methods for evaluating vocational interests structural hypotheses. Journal of Vocational Behavior, 4, 239-259.
Rounds, J. B., & Tracey, T. J. G. (1996). Cross-cultural structural equivalence of RIASEC models and measures. Journal of Applied Psychology, 43, 310-329.
Roberti, J. W., Fox, D. J., & Tunick, R. H. (2003). Alternative personality variables and the relationship to Holland´s Personality Types in College Students. Journal of Career Assessment, 11, 308-327.
Sbardelini, E. T. B. (1997). A reopção de curso na Universidade Federal do Paraná. Tese de Doutorado não-publicada, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP.

Okino, E. T. K., & Pasian, S. R. (2010). Precisão e validade do BBT-Br
35
Sisto, F. F. (2007). Delineamento correlacional. In M. N. Baptista & D. C. Campos (Orgs.), Metodologias de Pesquisa em Ciências: Análises quantitativa e qualitativa (pp. 90-101). Rio de Janeiro: LTC.
Sparta, M. (2003). O desenvolvimento da orientação profissional no Brasil. Revista Brasileira Orientação Profissional, 4(1/2), 1-11.
Staggs, G. D., Larson, L. M., & Borgen, F. H. (2003). Convergence of specific factors in vocational interests and personality. Journal of Career Assessment, 11, 243-261.
Sverko, I., & Babarovic, T. (2006). The validity of Holland´s Theory in Croatia. Journal of Career Assessment, 14, 490-507.Teixeira, M. A., & Lassance, M. C. P. (2006). Para refletir sobre a avaliação psicológica na orientação profissional.
Brasileira Orientação Profissional, 7(2), 115-117.
Recebido:16/12/20091ª Revisão:17/05/2010
Aceite Final:24/05/2010
Sobre as autorasErika Tiemi Kato Okino é psicóloga e Doutora em Psicologia. Atua como psicóloga no Departamento de Psicologia
e Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.Sonia Regina Pasian é psicóloga, Mestre em Filosofia, Doutora em Saúde Mental, Docente do Departamento de
Psicologia e Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Coordenadora do Centro de Pesquisas em Psicodiagnóstico. Bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq e assessora ad hoc da FAPESP e de periódicos científicos da área.


37Disponível em http://pepsic.bvs-psi.org.br/rbop
Revista Brasileira de Orientação Profissionaljan.-jun. 2010, Vol. 11, No. 1, 37-47
Interesses profissionais de jovense escolaridade dos pais
Ana Paula Porto Noronha1
Fernanda OttatiUniversidade de São Francisco, Itatiba-SP, Brasil
1 Endereço para correspondência: Rua Alexandre Rodrigues Barbosa, 45, 13.251-900, Itatiba-SP, Brasil. Fone: (11) 4534-8118. E-mail: [email protected]
ResumoEstudos brasileiros apontam que cursar o ensino superior é um projeto de indivíduos de diferentes culturas e níveis socioeconômicos. A universidade é vista como uma das possibilidades de alcançar o sucesso no mundo do trabalho, bem como a ascensão social, o que pode levar a escolhas profissionais inadequadas. Nesse sentido, revela-se a im-portância dos processos de orientação profissional para auxiliar indivíduos a realizarem escolhas mais consistentes. O presente estudo buscou as relações entre os interesses profissionais de 81 alunos do ensino médio e os níveis educacionais dos pais, por meio de dois instrumentos, Escala de Aconselhamento Profissional (EAP) e SDS (Self Directed Search) - Busca Auto-Dirigida. Os resultados indicam que os alunos almejam cursar uma universidade e, especialmente os que têm pais de formação até o ensino médio, apresentaram interesses por áreas que caracterizam profissões reconhecidamente tradicionais. Adicionalmente investigou-se a relação entre os instrumentos; foram en-contradas correlações significativas e positivas.Palavras-chave: Orientação vocacional, testes psicológicos, avaliação psicológica, interesses profissionais
Abstract: Youth’s Professional Interests and their parents’ educationBrazilian studies indicate that attending higher education is a project of individuals from different cultures and socioeconomic levels. Higher education is seen by individuals as one of the ways of achieving success in the job market, as well as social ascension, which could lead them to make inadequate career choices. This way career counseling is important, in order to help individuals to make more appropriate choices. This study aimed at investigating relations between the career interests of 81 high school students and their parents’ levels of education. Two instruments were used: Career Counseling Scale (Escala de Aconselhamento Profissional - EAP) and Self Directed Search (SDS). The results indicated that most students wanted to attend university and, specially the ones who had parents who had concluded at least high school, showed interests for traditionally valued professions. Additionally, we investigated the relationship between the instruments and the correlations were significant and positive. Keywords: vocational guidance, psychological tests, psychological assessment, professional interest
Resumen: Intereses profesionales de jóvenes y escolaridad de los padresEstudios brasileños indican que cursar la enseñanza superior es un proyecto de individuos de diferentes culturas y niveles socioeconómicos. La universidad es vista como una de las posibilidades alcanzar el éxito en el mundo del trabajo, así como la ascensión social, lo que puede llevar a elecciones profesionales inadecuadas. En ese sentido se revela la importancia de los procesos de orientación profesional para auxiliar individuos a realizar elecciones más consistentes. El presente estudio buscó las relaciones entre los intereses profesionales de 81 alumnos de la enseñanza media y los niveles educacionales de los padres por medio de dos instrumentos: Escala de Aconselhamento Profissional (EAP) y SDS (Self Directed Search) - Busca Auto-Dirigida. Los resultados indican que los alumnos ansían cursar una universidad y, especialmente los que tienen padres de formación hasta la enseñanza media, presentaron intereses por áreas que caracterizan profesiones reconocidamente tradicionales. Adicionalmente se investigó la relación entre los instrumentos y se encontraron correlaciones significativas y positivas.Palabras clave: Orientación vocacional, pruebas psicológicas, evaluación psicológica, intereses profesionales
Artigo

38
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 37-47
A adolescência é vista como uma fase de grandes mudanças na vida do indivíduo. É nesse momento que o jovem passa por transições e, dentre as tarefas mais impor-tantes no período, destaca-se a escolha de uma carreira e/ou ocupação profissional. O momento de escolha passa a ser um aspecto decisivo na vida dos adolescentes, além de ser visto como uma necessidade pela família, pela socie-dade e por eles mesmos (Lucchiari, 1993; Santos, 2005).
Assim, não raras vezes, observam-se adolescentes indecisos diante da tarefa de escolha de um curso e de uma carreira, sendo que esta decisão, poderá ser determi-nante em sua futura profissão. Primi, Moggi e Casellato (2004) defendem que a escolha envolve o comprometi-mento com um determinado caminho, que implicará em preparação para o ingresso em uma profissão específica. É nesse cenário que a Orientação Profissional (OP) se jus-tifica. Ela tem sido definida como o processo pelo qual o indivíduo é ajudado a escolher e a se preparar para entrar e progredir numa ocupação, auxiliando-o a se conhecer melhor como indivíduo inserido num contexto social, econômico e cultural (Andrade, Meira, & Vasconcelos, 2002; Super & Junior, 1980).
No sistema social brasileiro a passagem pelo ensino superior é quase uma unanimidade nas expectativas dos adolescentes e adultos jovens das classes média e alta. De acordo com Soares (2002), especificamente para estes jo-vens parece não existir outra forma de profissionalização ou inserção no mercado de trabalho. A análise realizada por Silva (1995), da população inscrita em um serviço de OP da Universidade de São Paulo, identificou que todos que procuravam o serviço esperavam receber ali o auxílio para a escolha de um curso superior, o que está em conso-nância com a afirmação do autor anterior.
Ainda no que se refere à escolha profissional e sua relação com as classes sociais, outras pesquisas realizadas com diferentes grupos, como adolescentes desempregados (Pizzinato, Boeckel, Dellazzana, Coral, & Sarriera, 2001), adolescentes de escolas públicas e privadas (Ribeiro, 2003; Sparta, 2003) e alunos de baixa renda (Sparta, Bardagi, & Andrade, 2005), por exemplo, revelam que freqüentar um curso superior é um projeto definido por indivíduos de diferentes culturas e grupos econômicos. No que se refe-re à atuação dos pais no momento de escolha, pesquisas (Cavalcante, Cavalcante, & Bock, 2001; Oliveira & Dias, 2001; dentre outras) indicam um papel mais diretivo des-tes, seja sugerindo certas profissões ou mesmo determi-nando-as. A este respeito, Bohoslavsky (1993) afirma que alguns pais buscam se realizar por meio dos filhos.
Hutz e Bardagi (2006) destacam que o papel da famí-lia não deve ser considerado e analisado como um fator iso-lado no contexto da escolha profissional de adolescentes,
e sim, conjuntamente com a sua situação econômica, edu-cacional, oportunidades e percepção do vestibular em si. Os autores destacam que o papel da família é salientado em teorias do desenvolvimento de carreira, porém a natu-reza da influência ainda não é clara e permanece como um grande campo de investigação.
Dentre os estudos já realizados sobre a escolha pro-fissional, expectativas familiares e nível sócio-econômico, a seguir alguns receberão destaque. As relações entre apti-dão intelectual e as discrepâncias entre variáveis relativas às aspirações e expectativas profissionais, de pais e ado-lescentes, foram investigadas por Angelini e Agatti (1984). Eles usaram o Teste das Matrizes Progressivas de Raven e o Inventário de Interesses Profissionais de Angelini, o que permitiu concluir que os filhos aspiravam profissões superiores a dos pais e eles, por sua vez, aspiravam para os filhos, as profissões mais altas, independentemente da capacidade intelectual dos filhos.
Os dados da pesquisa (Angelini & Agatti, 1984) permitem inferir que, além de o ensino superior ser visto como uma continuidade natural dos estudos, as pessoas acreditam que somente obtendo um diploma universitário conseguirão alcançar sucesso no mundo do trabalho, assim como a ascensão social. A este respeito, Bardagi, Lassance e Paradiso (2003), ao investigarem características sócio-demográficas e vocacionais de 59 alunos de baixa renda, observaram a insuficiente informação profissional dos par-ticipantes. Ao lado disso, era presente o desejo de ingresso em um curso de nível superior, o que para as autoras, está pautado em um projeto profissional inconsistente, pois a entrada em uma universidade ainda tem sido preferida por ser uma possibilidade de ascensão social.
Assim, compreende-se o processo de OP como um importante serviço, visto que um dos seus objetivos é au-xiliar os indivíduos com dúvidas no que se refere à car-reira profissional, além de avaliar características pessoais, com vistas a realizar escolhas profissionais apropriadas (Savickas, 2004). Há mais de 30 anos, Holland e Holland (1977) já anunciava que a OP deveria contribuir com a identificação das preferências dos sujeitos, a fim de que obtenham informações sobre as diferentes áreas profissio-nais e explorem suas opções de escolhas. Destarte, o le-vantamento dos interesses profissionais nesse contexto pa-rece bastante apropriado, embora com a ressalva de que os interesses não podem ser estudados isoladamente, e, sim, em comunalidade com outros construtos, pois devem ser vistos como um conjunto de variáveis, cujo conhecimento favorece o processo de escolha profissional.
Especialmente no que diz respeito aos interesses, Donald Super propôs, diante da queixa da dificuldade de definir e operacionalizar os interesses, quatro diferentes

Noronha, A. P. P., & Ottati, F. (2010). Interesses profissionais de jovens
39
formas de entendê-los e avaliá-los, quais sejam, expres-sos, manifestos, provados ou inventariados (Mattiazzi, 1977). Os expressos foram definidos como aqueles pelos quais o sujeito diz ter interesse, seja de forma verbal ou escrita; os manifestos dizem respeito aos que são passíveis de observação e estão relacionados às atividade cotidianas do sujeito nos mais variados contextos; provados são os interesses relacionados àquilo em que a pessoa demons-tra conhecimento, ou seja, acredita-se que o que a pessoa aprende é fruto daquilo que lhe interessa; e por fim, os inventariados, que assim como os expressos, são mani-festações de gosto e aversão a determinadas atividades. A diferença entre os expressos e os inventariados está no tratamento estatístico que as manifestações de interesses recebem e que possibilitam a contrução de escalas e pon-tuações, ou seja, os inventariados são aqueles passíveis de serem medidos por instrumentos (Leitão & Miguel, 2004; Levenfus, 2005; Mattiazzi, 1977).
Outros teóricos procuraram definir interesses, porém, assim como em outras áreas da Psicologia, parece não ha-ver um pensamento unificado, o que explica as diferentes perspectivas que os estudiosos atribuem ao campo dos in-teresses profissionais, algumas vezes com enfoque mais psicológico, educacional, ou ainda, filosófico (Athanasou & Van Esbroeck, 2007). De acordo com Leitão e Miguel (2004), a concepção de Savickas (1999) parece ser a mais completa. O autor conceitua interesse profissional como uma tendência para buscar a satisfação de necessidades e de valores pessoais, caracterizada pela prontidão de res-posta a estímulos ambientais específicos, que podem ser objetos, atividades, pessoas ou experiências. Dessa forma, o interesse é resultado de um processamento cognitivo gerador de emoções e volição que acionam as interações sujeito-ambiente, gerando ações que satisfaçam necessi-dades e valores, promovendo o desenvolvimento pessoal, a adaptação ao contexto e à consolidação da identidade. A Escala de Aconselhamento Profissional (EAP) (Noronha, Sisto, & Santos, 2007), objeto de estudo da presente pes-quisa, adota esta concepção. O outro instrumento utilizado presentemente para avaliar os interesses é o Self Directed Search (SDS) (Holland & Holland, 1977), cuja apresenta-ção da concepção teórica encontra-se a seguir.
A teoria de Holland gerou o Self-Directed Search Career Explorer (SDS), instrumento amplamente utilizado no contexto internacional, porém ainda pouco conhecido no Brasil (Mansão & Yoshida, 2006). A versão em português do instrumento recebeu a denominação de Questionário de Busca Auto-Dirigida (Primi, Mansão, Muniz, & Nunes, 2010). A Teoria Tipológica de Holland define os interesses profissionais como reflexos da personalidade do indivíduo, o que possibilitaria a compreensão dos diferentes tipos
de personalidade. O autor propõe seis tipos e seis mode-los ambientais que possuem uma descrição comum e po-dem ser classificados com terminologias iguais. São eles: Realista, Investigativo, Artístico, Social, Empreendedor, Convencional (RIASEC) e, igualmente, os modelos am-bientais com as mesmas nomenclaturas (Mansão & Yoshida, 2006). Estes tipos fazem parte do Modelo Hexagonal de Holland (1963) que tem grande relevância nos estudos sobre interesses profissionais, pois integram tipos de personalida-de às áreas profissionais. A congruência entre estes aspec-tos, quais sejam, interesses e personalidade, tende a gerar escolhas profissionais mais harmônicas e saudáveis, assim como o oposto pode levar à insatisfação profissional, a uma performance mais baixa e, conseqüentemente, aos históri-cos de carreiras instáveis (Holland & Holland, 1977).
Mais especialmente sobre o RIASEC, o tipo R (Realista) descreve pessoas mais voltadas para realizações observáveis e concretas; o Tipo I (Investigativo) é mais introvertido e voltado à exploração intelectual, preferindo mais pensar do que agir; o Tipo A (Artístico) tende a ser mais a-social como o Tipo I, porém mais emotivo e envol-vido com atividades que favoreçam a expressão individu-al. Já o Tipo S (Social) define pessoas mais extrovertidas e dependentes que gostam de atividades de ajuda, ensino e tratamento e que possuem maior necessidade de atenção; o Tipo E (Empreendedor) relaciona aqueles mais oralmen-te agressivos, cuja preferência é voltada às atividades nas quais possa dominar, persuadir e liderar os outros e, por fim, o Tipo C (Convencional) descreve pessoas mais con-formistas e controladas que preferem atividades estrutura-das, envolvendo a obediência às ordens e regras (Holland, Fritzsche, & Powell, 1994; Primi et al., 2004).
No que se refere às pesquisas no âmbito da OP, espe-cificamente sobre avaliação dos interesses profissionais, a literatura é abundante, seja no Brasil ou no estrangeiro. A grande maioria dos estudos é realizada com adolescen-tes estudantes de ensino médio, mas também se verifica uma tendência a pesquisar grupos distintos como adultos e universitários (Abade, 2005; Noronha & Ambiel, 2008; Sparta et al., 2005; Teixeira, Lassance, Silva, & Bardagi, 2007). Nesse sentido, serão apresentadas a seguir alguns trabalhos que utilizaram os instrumentos EAP e SDS.
Sartori (2007) avaliou as preferências profissionais de 132 estudantes de Ensino Médio, de escolas particula-res, com idade entre 14 e 19 anos, por meio da aplicação da EAP e do SDS. Os resultados apresentaram correlações significativas entre as dimensões dos dois instrumentos, a saber, Ciências Exatas e os tipos Realista, Investigativo e Convencional; Artes e Comunicação e os tipos Artístico, Social e Empreendedor; Ciências Biológicas e da Saúde e os tipos Investigativo e Social; Ciências Agrárias e Ambientais

40
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 37-47
e os tipos Investigativo e Social. Ao lado disso, obser-vou correlação entre as Atividades Burocráticas e os tipos Convencional, Realista e Empreendedor; Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e os tipos Investigativo, Artístico, Social e Empreendedor; Entretenimento e os tipos Artístico, Social e Empreendedor. Convém destacar que as correlações fo-ram investigadas quanto às seções do SDS, Atividades, Carreiras e Competências. A seção Habilidade, por sua vez, não foi analisada pela autora. Adicionalmente, a magnitude das correlações variou de baixa a moderada (Sisto, 2007). Os resultados também indicaram a não diferenciação dos interesses por série escolar e, em relação à diferença en-tre sexos, somente na dimensão Ciências Biológicas e da Saúde, a pontuação para o sexo masculino foi significativa, evidenciando que nesta amostra, os homens tiveram mais preferência que as mulheres por essa área.
Com vistas a analisar as relações entre os interesses e as notas escolares, Noronha e Ambiel (2008) pesquisa-ram 245 estudantes de ensino médio (24,1% do primeiro ano; 40,8% do segundo, e 35,1% do terceiro ano) de uma escola particular do interior de Minas Gerais. As idades va-riaram entre 14 e 19 anos (média = 16,3 anos; DP = 0,93) e 60,8% dos participantes eram mulheres. Houve mais cor-relações significativas na terceira série, sendo que elas en-volveram cinco das sete dimensões do EAP e seis das 10 disciplinas avaliadas. Como exemplos, a dimensão Ciências Humanas e Sociais apresentou correlações com três discipli-nas, quais sejam, Português (r = 0,25; p < 0,05), Geografia (r = 0,24; p < 0,05) e Redação (r = 0,26; p < 0,05). A fim de compreender melhor as relações convém destacar que algu-mas atividades que definem a dimensão são: escrever e revisar textos; estudar a origem e evolução do homem e da cultura; classificar e indexar livros, documentos e fotos; estudar o passado humano em seus múltiplos aspectos. Ao lado disso, a única correlação negativa encontrada foi entre a dimensão Entretenimento, que envolve atividades com turistas, com moda ou publicidade, destacando o caráter de trabalho com o público, no sentido de promover o bem-estar por meio do lazer e da diversão, e a disciplina História (r = -0,22; p < 0,05).
A investigação do nível de cristalização de preferên-cias profissionais de 860 estudantes de Ensino Médio de escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul, com idades entre 14 e 18 anos, foi o objeto de pesquisa de Balbinotti, Wiethaeuper e Barbosa (2004). O instrumen-to aplicado foi a Escala de Avaliação Vocacional (EAV) com objetivo de verificar a existência de diferenças nos níveis de cristalização de preferências profissionais segun-do o sexo, a idade, o ano de instrução no ensino médio e, finalmente, o tipo de escola. Os resultados indicaram existir apenas diferença significativa na variável tipo de escola. Para os autores isso se explicaria pelo fato de que
o jovem da rede pública poderá se ver forçado, por proble-mas de ordem financeira, a aceitar as oportunidades que aparecem, sem uma maior reflexão quanto a seus gostos e preferências no mundo do trabalho.
Partindo da premissa que os interesses vocacionais desenvolvem-se a partir de experiências de vida que re-forçam o gosto por determinados tipos de atividades e que podem também ser influenciados por uma característica do funcionamento cognitivo chamada dependência-inde-pendência de campo, Magalhães, Martinuzzi e Teixeira (2004) pesquisaram 186 estudantes de Ensino Médio, de 16 a 18 anos. O objetivo do estudo foi verificar se indi-víduos com diferentes tipos de interesse profissional, re-velados pelo instrumento Chave Profissional, baseado na teoria tipológica de Holland, apresentavam diferenças no nível de independência de campo. Os achados indicaram diferenças entre os tipos de personalidade de Holland de acordo com a teoria da independência de campo como, por exemplo, que o grupo de sujeitos realistas, investigativos e artísticos, obteve escores de independência de campo su-periores ao do grupo de sujeitos sociais, empreendedores e convencionais, sugerindo que as pessoas mais indepen-dentes de campo tendem a se interessar por áreas profis-sionais que exigem competências analíticas com ênfase no abstrato e no teórico, e baixo envolvimento interpessoal.
No contexto internacional, Leung e Hou (2005) inves-tigaram a estrutura dos interesses de carreira de estudantes chineses do Ensino Médio de três escolas de Hong Kong. Foram sujeitos da pesquisa 777 jovens, sendo 456 do sexo feminino e 321 do sexo masculino, sendo que os instrumen-tos utilizados foram o SDS e um questionário demográfico com informações pessoais, educacionais e planos de car-reira. Os resultados indicaram um modelo hierárquico dos interesses com seis fatores primários, de acordo com o SDS (RIASEC). Para essa população específica, formaram-se três grupos de interesse, cujas características relacionam-se entre si, sendo que o primeiro refere-se ao realista e investi-gativo, o segundo ao artístico e social e o terceiro grupo traz o social juntamente com o empreendedor e convencional.
As diferenças de média entre interesses e personali-dade entre os sexos foram investigadas por Rottinghaus, Lindley, Green e Borgen (2002). Para tanto, foram uti-lizados dois instrumentos, o SDS, para a avaliação dos interesses e o Big Five, para a personalidade. Os autores pesquisaram 365 universitários e encontraram, no que concerne aos interesses, médias significativamente mais altas nas dimensões Social e Artística para as mulheres. Ao lado disso, os homens, tiveram médias significativa-mente maiores nos tipos Realista e Investigativo.
Sartori, Noronha e Nunes (2009) buscaram anali-sar diferenças de médias entre os instrumentos Escala

Noronha, A. P. P., & Ottati, F. (2010). Interesses profissionais de jovens
41
de Aconselhamento Profissional (EAP) e o Self-Directed Search Career Explorer (SDS), em relação ao sexo e sé-rie escolar, em 177 estudantes do Ensino Médio de quatro escolas particulares do estado de São Paulo, com idades entre 14 e 19 anos. Os achados revelam que os homens obtiveram maiores médias na dimensão Ciências Exatas da EAP, e as mulheres nas dimensões Ciências Biológicas e da Saúde, Artes e Comunicação e Entretenimento. No que se refere ao SDS, nos tipos Realista, Investigativo e Empreendedor os homens apresentaram médias significa-tivamente mais elevadas que as mulheres, que preferem mais o tipo Social. De acordo com as autoras, há coerência entre os dois instrumentos, pois as mulheres apresentaram um padrão de interesses mais voltado para o cuidado físi-co e psicológico de outras pessoas, além do caráter assis-tencial, enquanto os homens interessaram-se mais por ati-vidades que exigem precisão, o trabalho com coisas como números e bancos de dados, em contraposição ao trabalho com pessoas, mais característico das mulheres.
Nesse ensejo, o presente estudo objetivou analisar a relação entre interesses profissionais, quando avaliados por dois instrumentos, o EAP e o SDS. Foram também investi-gadas as diferenças entre os interesses de jovens e a escolari-dade dos pais. Trata-se de uma pesquisa com uma amostra de conveniência, exploratória, que versa sobre o levantamento de variáveis que devem ser consideradas quando do proces-so de OP, e cujos estudos ainda são incipientes no Brasil.
Método
Participantes
Participaram da pesquisa 81 adolescentes, estudantes do terceiro ano do ensino médio de uma escola particular de Curitiba. Desses, 61,7% eram do sexo feminino e 38,3% do sexo masculino, com idades entre 16 e 17 anos (média 16,2 e desvio-padrão 0,503). Os estudantes eram participantes de um programa de orientação profissional em grupo, cujo modelo era psicométrico, com foco no autoconhecimento (Taveira & Silva, 2008), oferecido pela escola. No que se refere ao nível educacional dos pais dos alunos, a Tabela 1 sintetiza apenas estes dados, organizando-os em nível fun-damental (compreende de 1º ao 9º ano), médio (1º ao 3º ano), superior (quando destacada a realização de curso su-perior) e pós-graduação (no âmbito do lato sensu ou stricto sensu). Os resultados evidenciaram que a maioria possui curso superior, sendo 64,6% dos pais e 59% das mães.
A renda mensal é superior a 15 salários mínimos em 50% dessas famílias, entre 10 e 15 salários em 25%, entre 5 e 10 salários em 16,2% e entre 1 e 5 salários em 8,8% das famílias.
NívelEducacional
FundamentalMédioSuperior
Pós-GraduaçãoNão informaram
N
0751212
Pai N Mãe
08,9%64,6%26,6%
1946223
1,3%11,5%59%28,2%
Tabela 1Distribuição da escolaridade dos pais dos participantes
Instrumentos
Para a coleta de dados foram utilizados a Escala de Aconselhamento Profissional (EAP) e o Questionário de Busca Auto-Dirigida (SDS).
A Escala de Aconselhamento Profissional (EAP) é um instrumento para avaliação dos interesses profissionais, composto por 61 itens que representam diversas ativida-des profissionais e foi desenvolvido por Noronha, Sisto e Santos em 2007. O formato da escala é Likert, cujas res-postas devem variar de freqüentemente (5) a nunca (1), de acordo com o interesse do avaliando em desenvolver cada atividade e não há limite de tempo para aplicação.
Os estudos psicométricos foram realizados a partir de uma amostra de 762 estudantes universitários de 13 car-reiras distintas, sendo a maioria do estado de São Paulo. Em relação às evidências de validade, destaca-se o estudo de validade de construto que, por meio da análise fato-rial, chegou a uma solução composta por sete dimensões, a saber: Ciências exatas, Artes e comunicação, Ciências biológicas e da saúde, Ciências agrárias e ambientais, Atividades burocráticas, Ciências humanas e sociais apli-cadas, e Entretenimento, cujos índices de saturação foram superiores a 0,30 e variância explicada de 57,31%.
A validade de critério também foi considerada, uma vez que foram comparadas as médias obtidas pelos participantes em cada dimensão em relação ao curso de cada um, revelan-do que houve discriminação dos cursos em relação às dimen-sões do EAP. Quanto à precisão, os estudos de consistência interna foram realizados, sendo que os valores de alfa de Cronbach ficaram entre 0,79 e 0,94 e os de Spearman-Brown e Guttman entre 0,75-0,91. Em síntese, o instrumento EAP possui evidências de validade e por isso já possui parecer favorável do Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2009).
O Questionário de Busca Auto-Dirigida (SDS) é uma versão brasileira do Self-Directed Search Career Explorer, desenvolvido com base no modelo hexagonal de John Holland, com objetivo de verificar os interesses profissionais (Primi et al., 2010). Ele está estruturado

42
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 37-47
em quatro seções: atividades, competências, carrei-ras e habilidades, sendo que os itens são representa-tivos dos tipos propostos por Holland, quais sejam, Realista (R), Investigativo (I), Artístico (A), Social (S), Empreendedor (E) e Convencional (C). As seções ativi-dades, competências e carreiras são compostas por 66 itens cada, e são apresentadas em estilo dicotômico – S (sim) ou N (não). A seção habilidades possui 12 itens, tipo Likert de sete pontos, variando de 1 (baixa habili-dade) até 7 (alta habilidade). A partir das respostas em cada seção são definidas as duas primeiras áreas com maior escore de pontos, construindo assim o código de Holland (RIASEC), que representa o perfil de interes-ses do sujeito.
Com relação aos estudos de validade e precisão, Primi et al. (2010) apresentaram breves descrições de es-tudos desenvolvidos com o SDS nos Estados Unidos, cujo objetivo foi estabelecer parâmetros de precisão e validade. Com relação à análise de consistência interna, os coefi-cientes tiveram variação entre 0,90 e 0,94, além de estabi-lidade temporal medida após três meses cujos resultados foram coeficientes entre 0,76 e 0,89.
Procedimento
Os participantes responderam aos testes coleti-vamente, em grupos não superiores a 30 estudantes por sala, durante duas das sessões do processo de OP, conduzido por uma psicóloga e por duas estagiárias de
psicologia. As instruções dadas em relação aos instru-mentos foram as específicas de cada um, ou seja, para a EAP pediu-se que os participantes atribuíssem uma nota de um a cinco para as atividades profissionais listadas, de modo que quanto maior a nota, maior a preferência por elas. Já quanto ao SDS, o instrumento é auto-aplicável, e, portanto, os alunos deveriam ler e seguir as instruções fornecidas nos cadernos.
O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi assinado pelos responsáveis dos adolescentes. O tempo de aplicação total foi de aproximadamente uma hora e a reali-zação se deu nas dependências da própria escola. Embora não tenha sido objeto de análise, convém destacar que houve uma sequência fixa das aplicações; deu-se início pela EAP e, em seguida, passou-se ao SDS.
Análise dos resultados
A fim de atender aos objetivos do presente estudo, foram utilizadas as estatísticas descritivas e inferenciais. Inicialmente são apresentadas as médias e respectivos pa-drões dos instrumentos. Posteriormente, passou-se às aná-lises de diferenças de médias e à correlação de Pearson.
Resultados e Discussão
A Tabela 2 refere-se aos dados do EAP, organiza-dos pelas dimensões que o compõe. São apresentadas as estatísticas descritivas.
Mínimo Máximo Média DPCiências ExatasArtes e ComunicaçãoCiências Biológicas e da SaúdeCiências Agrárias e AmbientaisAtividades BurocráticasCiências Humanas e SociaisEntretenimento
11,09
11111
4,8355
4,64,5
4,575
2,502,812,613,002,692,652,85
1,081,051,170,780,930,851,14
Tabela 2 Estatística descritiva da Escala de Aconselhamento Profissional (N=81)
Como é possível observar, a maior média encontra-se na dimensão Ciências Agrárias e ambientais e, a menor, em Ciências Exatas. Assim, é possível compreender que há maior preferência por atividades que focam questões do meio ambiente, tais como preservação, prevenção de doenças referentes ao campo e animais, planejando e desenvolvendo tecnologias. Em contrapartida, a menor
preferência é por atividades que abordam cálculo, análise e interpretação de dados numéricos, desenvolvimento de programas de computadores, como montar bancos de da-dos digitais e sistemas digitais para fábricas.
A obtenção destas informações, assim como das que se seguem, é útil uma vez que favorecem a compreensão do grupo em estudo. Em contrapartida, por não se tratar de

Noronha, A. P. P., & Ottati, F. (2010). Interesses profissionais de jovens
43
Tabela 3Estatística descritiva do Questionário de Busca Auto-Dirigida (SDS) (N=81)
Tabela 4 Prova de Tukey na dimensão Ciências Exatas do EAP
uma amostra ampla e com controle de variáveis demográ-ficas, não é possível fazer generalizações destes resultados para qualquer contexto de OP. A Tabela 3 sintetiza os da-dos relacionados ao SDS.
A fim de se realizar as análises com o instrumento, decidiu-se somar os valores correspondentes às quatro se-ções (Atividades, Carreiras, Competências e Habilidades). Assim, obteve-se um escore total para cada um dos tipos do SDS. A maior média está no tipo Empreendedor, o que revela o maior interesse dos estudantes por atividades nas quais possam dominar, persuadir e liderar os outros. Já a
menor, encontra-se em relação ao tipo Realista, indicando que os alunos têm menor preferência por atividades que envolvam manipulação de objetos, ferramentas, máqui-nas ou animais (Holland et al., 1994). No que se refere aos menores interesses, os resultados dos jovens são con-cordantes em ambos os instrumentos, pois, a dimensão Ciência Exatas da EAP e o fator Realista do SDS abordam atividades semelhantes. No entanto, o mesmo não pode ser dito em relação às áreas de maior interesse, pois Ciências Agrárias e o tipo Empreendedor distinguem-se quanto às atividades (Noronha et al., 2007; Primi et al., 2004).
Mínimo Máximo Média DPRealista TotalInvestigativo TotalArtístico TotalSocial TotalEmpreendedor TotalConvencional Total
4737102
404243454444
16,8525,6922,6927,0828,3719,64
8,5310,0711,048,639,239,72
Para responder a um dos objetivos da presente pes-quisa, de verificar as diferenças entre os interesses de jo-vens e a escolaridade dos pais, pretendeu-se analisar a diferença de média, quando os participantes eram compa-rados quanto à escolaridade dos pais. Para tanto, os parti-cipantes foram organizados em grupos tomando como re-ferência a escolaridade dos pais. Ensino Médio, Superior e Pós-Graduação foram os nomes atribuídos aos grupos, tal como explicitado no método desse estudo. O ensino fundamental não foi agrupado por não ter aparecido ne-nhum caso nesta condição. As Tabelas 4, 5 e 6 informam sobre os resultados.
Como é possível observar, as Tabelas não trabalham com o total de participantes desse estudo, pois alguns deles não responderam algumas questões. Tomando-se como referência a EAP, as análises de diferença de média, foram realizadas por meio da ANOVA separa-damente para mães e para pais. Não foram encontradas diferenças significativas nas médias dos alunos, compa-rados à escolaridade da Mãe, revelando que o fato da mãe ter nível educacional superior ou não, não parece acarretar diferenças nas preferências dos filhos por uma ou outra dimensão.
Em relação aos pais, três dimensões se diferenciaram quanto à escolarização deles. As preferências pelas dimen-sões Ciências Exatas (F[2, 75] = 3,347; p = 0,041), Artes e Comunicação (F[2, 75] = 2,964; p = 0,058) e Ciências
Biológicas e da Saúde (F[2, 75] = 3,005; p = 0,055) reve-laram, por meio da análise de Tukey, que nas três dimen-sões as médias se organizaram em dois conjuntos, de tal modo que a maior preferência se deu por aqueles sujeitos cujos pais têm apenas o Ensino Médio.
Os dados revelados na análise do EAP permitem in-ferir que os alunos que preferem as dimensões Ciências Exatas, Artes e Comunicação e Ciências Biológicas e da Saúde têm pais, prioritariamente com formação ape-nas até o Ensino Médio. Ou seja, mais ilustrativamente, pode-se afirmar que jovens cujos pais não têm cursos universitários, interessaram-se mais por profissões como Engenharia, Artes, Medicina, Fisioterapia, Nutrição, Publicidade e Jornalismo, por exemplo. Assim, em relação à presente amostra, a menor formação acadêmica dos pais pode servir como estímulo para que seus filhos busquem uma formação em nível superior (Noronha & Ambiel, 2008; Sartori et al.,2009).
Formação
Pós-graduaçãoSuperiorEnsino Médio
N
20476
Subgrupos para alpha = 0,051
2,042,64
2
2,643,12

44
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 37-47
Tabela 5 Prova de Tukey na dimensão Artes e Comunicação do EAP
Tabela 6 Prova de Tukey na dimensão Ciências Biológicas e da Saúde do EAP
Formação
SuperiorPós-GraduaçãoEnsino Médio
N
51217
Subgrupos para alpha = 0,051
2,712,73
2
3,72
Formação
Pós-graduaçãoSuperiorEnsino Médio
N
21517
Subgrupos para alpha = 0,051
2,302,70
2
2,703,50
Por fim, já em relação ao SDS, não houve diferen-ças significativas entre as médias quanto à escolaridade de pais. No entanto, quando a análise foi em relação à escola-ridade da mãe, houve uma diferenciação de média signifi-cativa no tipo Convencional (F[2, 75] = 2,719; p = 0,051). A prova de Tukey neste caso não pode ser realizada, em razão da pouca freqüência em alguns grupos, não permi-tindo esclarecer o agrupamento da escolaridade em ra-zão da menor ou maior preferência pelo tipo em questão.
Tabela 7 Correlação de Pearson entre dimensões do EAP e os tipos do SDS
Realista Investigativo Artístico Social Empreendedor Convencional
Ciências Exatas
Artes e Comunicação
Ciências Biológicas e da Saúde
Ciências Agrárias e Ambientais
Atividades Burocráticas
Ciências Humanas e Sociais
Entretenimento
0,550,0000,09
0,4020,12
0,2740,09
0,3820,12
0,305-0,150,2140,03
0,831
0,640,0000,10
0,9350,57
0,0000,39
0,0000,04
0,7370,12
0,3190,04
0,714
0,020,8650,68
0,0000,10
0,3610,08
0,489-0,300,0060,27
0,0180,04
0,747
-0,120,3040,33
0,0020,33
0,0030,29
0,0090,11
0,3150,62
0,0000,27
0,021
0,140,2370,12
0,260-0,120,286-0,040,7370,59
0,0000,11
0,3570,47
0,000
0,270,019-0,160,151-0,050,6560,01
0,9590,76
0,0000,03
0,7790,33
0,004
rprprprprprprp
De qualquer forma, pode-se refletir que o Convencional prefere seguir ordens e atingir objetivos claros. Ganhar dinheiro e ter poder em ocupações sociais, comerciais ou políticas são alguns dos valores desses indivíduos (Primi et al., 2010).
Dando sequência à apresentação dos resultados, pretendeu-se analisar a correlação entre os instrumen-tos. A Tabela 7 apresenta os coeficientes de correlação de Pearson entre as dimensões do EAP e os tipos do SDS.
Considerando que ambos os instrumentos avaliam o construto interesses profissionais, embora com con-ceitos distintos, era esperada a existência de correlações significativas entre eles. A dimensão Ciências Exatas do EAP correlacionou significativamente com o tipo Investigativo do SDS (r = 0,64; p < 0,00). Estes dois des-critores são bastante próximos, já que a preferência pela dimensão Ciências Exatas evidencia pessoas que apre-sentam características voltadas para situações que envol-vam análise e interpretação de dados numéricos, ou que envolvam o desenvolvimento de equipamentos de moni-toramento e controle das condições ambientais, o estudo de propriedades físicas dos solos e da atmosfera, o que está em consonância com a preferência do Investigativo. Mais especialmente, o tipo Investigativo é caracterizado pela apreciação em trabalhar com o raciocínio, usando palavras ou idéias, habilidade de pesquisa, mecânica, e aritmética, bem como a preferência por atividades que envolvem a investigação sistemática e criativa dos fe-nômenos físicos, biológicos e culturais (Holland et al., 1994; Noronha et al., 2007; Primi et al., 2004).

Noronha, A. P. P., & Ottati, F. (2010). Interesses profissionais de jovens
45
A dimensão Artes e Comunicação preferida por pes-soas com características voltadas para desenhar, escre-ver e revisar textos, criar logotipos e embalagens, editar vídeos, filmes e trilhas sonoras, montar cenas de filmes, dublar, criar, mixar, além de recuperar obras e objetos de arte, apresentou alta correlação com o tipo Artístico (r = 0,68; p < 0,000), que revela interesses por atividades livres e pouco sistematizadas, com direito à manipulação de materiais físicos, verbais ou humanos para criar for-mas de artes ou produtos (Holland et al., 1994; Noronha et al., 2007; Primi et al., 2004).
Outro destaque refere-se à alta correlação entre a di-mensão Atividades Burocráticas, que caracteriza pessoas que preferem atividades organizadas, de planejamento de dados e tarefas, bem como interesse por processos de de-partamento pessoal (atuação nas relações entre empresas e funcionários, departamento financeiro na arrecadação de impostos e taxas e de produção de empresas e indús-trias e planejamento de dados e tarefas) com os tipos Empreendedor e Convencional (r = 0,76; p < 0,000), cujas características são respectivamente, interesse por ativida-des em que possa comandar, buscando estabelecer contato com os outros, senso prático, conformidade e meticulosi-dade, com valorização do trabalho metódico e preferência por atividades que envolvam a manipulação sistemáti-ca e ordenada de dados. Ainda sobre essa dimensão do EAP, houve correlação significativa e negativa com o tipo Artístico (r = -0,30; p < 0,006), indicando que indivídu-os que gostam da sistematização comum às Atividades Burocráticas, não possuem um jeito livre e criativo, ca-racterístico dos que escolhem o Artístico (Holland et al., 1994; Noronha et al., 2007; Primi et al., 2004).
Por fim, a dimensão Ciências Humanas e Sociais (EAP), que indica a preferência de pessoas que tendem a se identificar com a elaboração de programas assisten-ciais voltados ao desenvolvimento humano, nos âmbi-tos sociais, educacionais e das relações pessoa-empresa, correlacionou-se altamente com o tipo Social (SDS) (r = 0,62; p < 0,000), escolhido pelos que apreciam a inte-ração social, procurando atividades que envolvam o con-tato com outros para informar, treinar, desenvolver, curar ou educar. Tais resultados encontram-se em consonância com as asserções de Holland et al. (1994), Noronha et al. (2007) e de Primi et al. (2004).
Considerações Finais
O presente estudo destinou-se a analisar a relação entre interesses profissionais, avaliados por dois instrumentos, o EAP e o SDS e a escolaridade dos pais. Inicialmente buscou-se verificar se jovens cujos pais possuíam um determinado
nível de escolaridade, preferiam uma determinada área pro-fissional. A justificativa para o estudo se deu em razão do baixo número de pesquisas que incluem esta variável. Além disso, assim como anunciado por Pizzinato et al. (2001), Ribeiro (2003), Silva (1995), Soares (2002), Sparta (2003), Sparta et al. (2005), deve-se considerar que adolescentes e jovens brasileiros têm expectativa, independente da classe social, de freqüentar um curso superior.
Assim, presentemente, os dados indicaram que os alunos, especialmente aqueles que se interessaram por áreas que caracterizam profissões reconhecidamente tra-dicionais, como Engenharia, Medicina e Jornalismo, têm pais com formação até o ensino médio. A este respeito, Angelini e Agatti (1984) já haviam anunciado há quase trinta anos, a partir de seus estudos, que os filhos aspira-vam profissões superiores às dos pais. No entanto, para outra parte da amostra estudada, qual seja, a que se in-teressou pelas demais dimensões avaliadas, não foi pos-sível estabelecer diferenças significativas entre suas pre-ferências e a escolaridade dos pais (Ciências Agrárias e Ambientais, Atividades Burocráticas, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Entretenimento). O mesmo pode ser dito em relação ao outro instrumento usado (SDS). Em al-guma medida, os achados sugerem a necessidade de mais estudos envolvendo a variável escolaridade dos pais, ou mais amplamente, nível sócioeconômico.
No que diz respeito à comparação entre os instru-mentos, pode-se afirmar que os resultados encontrados corroboram os de outras pesquisas como a de Sartori (2007), que também avaliou as preferências profissionais de estudantes de Ensino Médio, de escolas particulares, por meio do EAP e do SDS. A autora encontrou cor-relações significativas entre as dimensões dos dois ins-trumentos, como por exemplo, Ciências Exatas e o tipo Investigativo; Artes e Comunicação e o tipo Artístico; Atividades Burocráticas e os tipos Convencional e Empreendedor; Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e o tipo Social.
Quanto às limitações dessa pesquisa, destaca-se que se tratou de um estudo exploratório, que não res-pondeu a todas as demandas da área no que se refere à relação entre estes elementos mencionados. Dentre os principais limitadores, destaca-se o pequeno número de participantes e a regionalização deles. No entanto, pare-ce relevante que investigações de natureza semelhante sejam realizadas, a fim de aumentar a compreensão so-bre a relação entre a formação dos pais e a preparação profissional de seus filhos.
Por fim, reacende-se a importância dos processos de Orientação Profissional, visto que um dos seus objetivos principais é avaliar características pessoais com vistas a

46
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 37-47
auxiliar os indivíduos a realizarem escolhas profissionais apropriadas (Savickas, 2004). O auxílio na construção de um projeto profissional que não necessariamente tenha
como prioridade o vestibular em si, também pode ser um importante fator para tomada de decisões mais adequadas e consistentes (Bardagi et al., 2003; Sparta et al., 2005).
Referências
Abade, F. L. (2005). Orientação profissional no Brasil: Uma revisão histórica da produção científica. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 6(1), 15- 24.
Andrade, J., Meira, G., & Vasconcelos, Z. (2002). O processo de orientação vocacional frente ao Século XXI: Perspectivas e desafios. Psicologia Ciência e Profissão, 22(3), 46-53.
Angelini, A. L., & Agatti, A. P. R. (1984). Interesses profissionais e aptidão intellectual. Arquivos Brasileiros de Psicologia, 36(1), 80-88.
Athanasou, J. A., & Van Esbroeck, R. (2007). Multilateral perspectives on vocational interests. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 7, 1-3.
Balbinotti, M. A. A., Wiethaeuper, D., & Barbosa, M. L. L. (2004). Níveis de cristalização de preferências profissionais em alunos de ensino médio. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 5(1), 18-28.
Bardagi, M. B., Lassance, M. C. P., & Paradiso, A. (2003). Trajetória acadêmica e satisfação com a escolha profissional de universitários em meio de curso. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 4(1-2), 153-166.
Bohoslavsky, R. (1993). Orientação vocacional: A estratégia clínica. São Paulo: Martins Fontes.Cavalcante, A. C. S., Cavalcante, R., & Bock, S. (2001). Orientação profissional para estudantes de ensino médio em
Teresina-PI [CD-ROM]. In Anais do Congresso Norte Nordeste de Psicologia, 2.Conselho Federal de Psicologia. (2009). Sistema de avaliação de testes psicológicos. Recuperado em 08 maio 2009, de
http://www.pol.org.br/satepsiHolland, J. L. (1963). Explorations of a theory of vocational choice and achievement: II. A four-year prediction study.
Psychological Reports, 12, 547-594. Holland, J. L., & Holland, J. E. (1977). Vocational indecision: More evidence and speculation. Journal of Counseling
Psychology, 24, 404-414. Holland, J. L., Fritzsche, B. A., & Powell, A. B. (1994). SDS - Busca Auto Dirigida (R. Primi, C. A. Biguetti, M. C. K.
Pelegrini, A. M. H. Munhoz, & E. P. D. Nucci, Trads.). Florida: Psychological Assessment Resources. Hutz, C. S., & Bardagi, M. P. (2006). Indecisão profissional, ansiedade e depressão na adolescência: a influência dos
estilos parentais. Psico-USF, 11(1), 65-73.Leitão, L. M., & Miguel, J. P. (2004). Avaliação dos interesses. In L. M. Leitão (Org.), Avaliação psicológica em orientação
escolar e profissional (pp. 179-262). Coimbra: Quarteto.Leung, S. A., & Hou, Z. J. (2005). The structure of vocational interests among chinese students. Journal of Career
Development, 31, 74-90.Levenfus, R. S. (2005). Interesses e profissões: Suporte informativo ao orientador vocacional. São Paulo: Vetor Editora
Psico-pedagógica. Lucchiari, D. H. P. S. (1993). Pensando e vivendo a orientação profissional. São Paulo: Summus. Magalhães, M. O., Martinuzzi, V., & Teixeira, M. A. P. (2004). Relações entre estilos cognitivos e interesses vocacionais.
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 5(2), 11-20. Mansão, C. S. M., & Yoshida, E. M. P. (2006). SDS-Questionário de busca auto-dirigida: Precisão e validade. Revista
Brasileira de Orientação Profissional, 2(1), 67-79. Mattiazzi, B. (1977). A natureza dos interesses e a orientação vocacional. Petrópolis: Ed. Vozes Noronha, A. P. P., & Ambiel, R. A. M. (2006). Orientação profissional e vocacional: Análise da produção científica.
PsicoUSF, 11(1), 75-84.Noronha, A.P. P., & Ambiel, R. A. M. (2008). Estudo correlacional entre Escala de Aconselhamento Profissional e Self-
directed Search (SDS). Interação em Psicologia, 12(1), 21-33. Noronha, A. P. P., Sisto, F. F., & Santos, A. A. A. (2007). Escala de Aconselhamento Profissional- EAP: Manual de
aplicação. São Paulo: Vetor Editora Psico-Pedagógica Ltda.Oliveira, I. D., & Dias, C. M. S. B. (2001). De quem é o vestibular? Mãe frente ao processo de diferenciação do filho
[CD-ROM]. Anais do Congresso Norte Nordeste de Psicologia, 2.

Noronha, A. P. P., & Ottati, F. (2010). Interesses profissionais de jovens
47
Pizzinato, A., Boeckel, M. G., Dellazzana, L. L., Coral, R. V., & Sarriera, J. C. (2001). Projetos vitais, ocupacionais e profissionais em adolescentes desempregados [Resumo]. Anais Simpósio Brasileiro de Orientação Vocacional e Ocupacional, 4 (p. 373). São Paulo: ABOP.
Primi, R., Moggi, M. A., & Casellato, E. O. (2004). Estudo correlacional do Inventário de Busca Auto Dirigida (Self-Directed Search) com o IFP. Psicologia Escolar Educacional, 8(1), 47-54.
Primi, R., Mansão, C. M., Muniz, M., & Nunes, M. F. O. (2010). SDS - Questionário de Busca Autodirigida: Manual Técnico da versão brasileira. São Paulo: Casa do Psicólogo.
Ribeiro, M. A. (2003). Demandas em orientação profissional: Um estudo exploratório em escolas públicas. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 4(1/2), 141-151.
Rottinghaus, P. J., Lindley, L. D., Green, M. A., & Borgen, F. H. (2002). Educational aspirations: The contribution of personality, self-efficacy, and interests. Journal of Vocational Behavior, 61, 1–19.
Santos, L. M. M. (2005). O papel da família e dos pares na escolha profissional. Psicologia em Estudo, 10, 57-66. Sartori, F. A. (2007). Estudo Correlacional entre a Escala de Aconselhamento Profissional (EAP) e o Self- Directed
Search Career Explorer (SDS). Dissertação de Mestrado não-publicada, Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em Psicologia, Universidade São Francisco, Itatiba, SP.
Sartori, F. A, Noronha, A. P. P., & Nunes, M. F. O. (2009). Comparações entre EAP e SDS: Interesses profissionais em alunos de Ensino Médio. Boletim de Psicologia, 59(130), 17-29
Savickas, M. L. (1999). The psychology of interests. In M. L. Savickas & A. R. Spokane (Eds.), Vocational interests: Meanings, measurements and counseling use (pp. 19-56). Palo Alto, CA: Davies-Black.
Savickas, M. L. (2004). Um modelo para a avaliação de carreira. In L. M. Leitão (Ed.), Avaliação psicológica em orientação escolar e profissional (pp. 21-46). Coimbra: Editora Quarteto.
Silva, F. F. (1995). O atendimento em orientação profissional numa instituição pública: Modelos e reflexões. In A. M. B. Bock, C. M. M. Amaral, & F. F. Silva (Org.), A escolha profissional em questão (pp. 161-175). São Paulo: Casa do Psicólogo.
Sisto, F. F. (2007). Delineamento correlacional. In M. N. Baptista & D. C. Campos (Orgs.), Metodologias de pesquisa em ciências (pp. 33-45). Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora S.A.
Soares, D. H. P. (2002). A escolha profissional: Do jovem ao adulto. São Paulo: Summus. Sparta, M. (2003). A exploração e a indecisão vocacionais em adolescentes no contexto educacional brasileiro. Dissertação
de Mestrado não-publicada, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.Sparta, M., Bardagi, M. P., & Andrade, A. M. J. (2005). Exploração vocacional e informação profissional percebida em
estudantes carentes. Aletheia, 22, 79-88. Super, D. E., & Bohn, M. J., Jr. (1980). Psicologia ocupacional (E. Nascimento & J. F. Santos, Trads.). São Paulo: Atlas. Taveira, M. C., & Silva, J. T. (2008). Psicologia vocacional perspectivas para a intervenção. Coimbra: Imprensa da
Universidade de Coimbra.Teixeira, M. A. P., Lassance, M. C. P., Silva, B. M. B., & Bardagi, M. P. (2007). Produção científica em orientação
profissional: Uma análise da Revista Brasileira de Orientação Profissional. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 8(2), 25-40.
Recebido:16/11/20091ª Revisão:27/4/2010
2ª Revisão: 21/05/2010Aceite Final:24/05/2010
Sobre as autorasAna Paula Porto Noronha é Doutora em Psicologia, Profissão e Ciência, pela Pontifícia Universidade Católica de
Campinas. Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia da Universidade São Francisco. Bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq.
Fernanda Ottati é psicóloga, Mestre em Avaliação Psicológica pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia da Universidade São Francisco. Docente do Curso de Psicologia da Universidade São Francisco.


49Disponível em http://pepsic.bvs-psi.org.br/rbop
Revista Brasileira de Orientação Profissionaljan.-jun. 2010, Vol. 11, No. 1, 49-59
A subrepresentatividade das mulheres em áreas tipicamente masculinas: Factores explicativos e
pistas para a intervenção
Luísa Saavedra1
Maria do Céu Taveira Ana Daniela Silva
Universidade do Minho, Braga, Portugal
1 Endereço para correspondência: Universidade do Minho. Campus de Gualtar, Escola de Psicologia , 4710-057, Braga, Portugal. Fone: 00351- 253601397. Email: [email protected]
ResumoApesar de alguns progressos verificados em relação à igualdade de participação de mulheres e homens na educa-ção e no trabalho, determinadas áreas de ensino e do mercado de trabalho continuam a ser altamente deficitárias na representação feminina. É o caso das Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas. Esta constatação é de particular importância para a Psicologia Vocacional, pois interfere com o processo de tomada de decisão, plane-amento e ajustamento de carreira de mulheres adolescentes e adultas. Este artigo começará por referir dados que exemplificam a extensão do problema para, posteriormente, se centrar em algumas das explicações encontradas para este fenómeno. Terminar-se-á com a apresentação de diversas propostas de intervenção, desde o plano micro até ao plano macrossistémico. Palavras-chave: escolha vocacional, género, mercado de trabalho, mudança social
Abstract: The underrepresentation of women in typically male areas: Explanatory factors and paths for intervention
Despite some advances regarding equality of participation of sexes in both education and work, certain areas of education and the labour market continue to be highly lacking in female representation. This is the case of Science, Technology, Engineering and Mathematics. This fact is of particular importance to vocational psychology because it interferes with the processes of decision making, career planning and career adjustment of girls and women. This article provides data that caracterize the problem and focuses on some of the explanations found for this phenomenon. Some suggestions are made for actions from both the micro and the macro-systems. Keywords: Career choice, gender, labour market, social change
Resumen: La escasa representatividad de las mujeres en áreas típicamente masculinas: Factores explicativos y pistas para la intervención
A pesar de algunos progresos verificados con relación a la igualdad de participación de mujeres y hombres en la educación y en el trabajo determinadas áreas de la enseñanza y del mercado de trabajo continúan siendo muy deficitarias en la representación femenina. Es el caso de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Esta constatación es de particular importancia para la Psicología Vocacional pues interfiere en el proceso de toma de decisión, planeamiento y ajuste de carrera de mujeres adolescentes y adultas. Este artículo empezará por referir datos que ejemplifican la extensión del problema para, posteriormente, centrarse en algunas de las explicaciones encontradas para este fenómeno. Se terminará con la presentación de diversas propuestas de intervención desde el plano micro hasta el plano macrosistémico. Palabras clave: elección vocacional, género, mercado de trabajo, cambio social
Artigo

50
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 49-59
Nas sociedades ocidentais, apesar da presença elevada de adolescentes do sexo feminino e mulheres em todos os níveis de educação e no Mercado de Trabalho (Bouville, 2008; Graf & Diogo, 2009; Kohlstedt, 2004; Kulis, Sicotte, & Collins, 2002), registam-se ainda assimetrias profundas entre os dois sexos neste âmbito, nos domínios das Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas (CTEM). Com efeito, a investigação indica que o número de jovens de am-bos os sexos que se interessam por estas áreas de conheci-mento é idêntico até aos doze/treze anos de idade. Contudo, a partir dessas idades, verifica-se um decréscimo no núme-ro de adolescentes do sexo feminino que escolhem aque-les domínios, em todos os níveis de ensino subsequentes (Bouville, 2008; van Anders, 2004; Xu, 2008). Para ilustrar esta realidade tem-se recorrido à metáfora do “oleoduto que pinga” (“the leaky pipeline”). Isto é, à medida que se avan-ça na escolaridade e, posteriormente, na carreira profissio-nal, o número de elementos do sexo feminino é cada vez mais reduzido. A literatura aponta alguns dos momentos mais cruciais em que as adolescentes e mulheres tendem a sair daqueles domínios: (a) quando (não) escolhem uma carreira e fazem a transição de um programa de graduação para um programa de pós-graduação (Kohlstedt, 2004), (b) a fase que se segue aos cursos de pós-graduação, sobretu-do quando não são contratadas para ficar como docentes na Universidade, (c) quando têm que decidir se devem ou não continuar na chefia ou coordenação dos ambientes acadé-micos ou industriais (Van der Walls, 2001).
Apesar da investigação neste domínio ser transversal a diversas áreas de conhecimento, o estudo das dispari-dades entre homens e mulheres nas escolhas vocacionais, é um tema que interessa particularmente à Psicologia Vocacional porque interfere com o processo de tomada de decisão e planeamento de carreira das mulheres mais jo-vens, e também com o ajustamento à carreira ao longo do tempo. Interessa, por isso, compreender este fenómeno e discutir formas de intervenção que possam ajudar a mino-rar os inconvenientes pessoais e sociais dele resultantes. Nesta linha procuraremos, em seguida, rever a literatura no sentido de identificar as principais explicações encon-tradas para esta tendência. Recorrendo ao modelo bioeco-lógico, terminar-se-á com algumas propostas ou pistas de intervenção ao nível dos vários subsistemas conceptuali-zados por Bronfenbrenner (1979, 1992).
Factos sobre as mulheres nas CTEM
A assimetria de género das áreas das CTEM veri-fica-se em quase todos os Países ocidentais e orientais ditos desenvolvidos, quer na Europa, quer na Ásia e nos Estados Unidos da América, como poderemos demonstrar
seguidamente, através de dados relativos ao ensino supe-rior e à carreira universitária.
Neste contexto, em Portugal, no que respeita à gradu-ação no ensino superior, no ano de 2005, a taxa de femi-nização era de 59.8%, o que evidencia uma representação superior das mulheres face aos homens (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, 2007). No entanto, se atendermos à representação feminina por curso, regista-se uma maior disparidade nos números. Assim, enquan-to a taxa de feminização atinge 86.3% no domínio da Educação, ou até 66.5% no domínio das Ciências Sociais, no domínio da Engenharia é apenas de 33.4%, conside-rando as engenharias como um todo (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, 2007).
Apesar de ser considerado, em muitas áreas, um dos Países mais desenvolvidos da Europa, no que diz respei-to ao ensino e à representação feminina a Alemanha pode, segundo Fuchs, Von Stebut e Allmendinger (2001), ser considerado um País “atrasado”. Nos anos 70, as mulhe-res nas engenharias representavam apenas 3.8% do total de estudantes. Perto dos anos 90, embora esse número tivesse aumentado consideravelmente, não ultrapassava os 7.3% e, em 2001, a percentagem de alunas nas engenharias era apenas de 12% (Fuchs et al., 2001). Nos Países da União Europeia, as mulheres representam menos de 20% nas Universidades da maior parte dos Países (OECD, 2006) e apenas 9% das posições de topo (Fuchs et al., 2001). Nos E.U.A., quando os estudos são prolongados até ao doutora-mento, as mulheres têm três vezes mais probabilidades do que os seus colegas homens de trabalhar a tempo parcial ou de ficar sem emprego após a realização do doutoramento (National Science Foundation, 1999). Em 1995, no que diz respeito às investigadoras universitárias, 84% das mulheres concentravam-se nas áreas das Ciências da Vida (Biologia, Bioquímica ou Medicina, por exemplo), Ciências Sociais e Psicologia. Apenas 11% das mulheres nas Ciências Físicas e Engenharias (National Science Foundation, 1998). No domínio da investigação, o desfasamento de representação por género é maior no Japão, Coreia, Áustria e Suíça, e menor na Eslováquia, Grécia, Portugal, Espanha e Nova Zelândia. No entanto, quando as mulheres se dedicam à investigação, tendem a concentrar-se nos domínios da Biologia, Ciências da Saúde, Agricultura e Farmácia (cer-ca de 60%), e bastante menos em Física, Computação ou Engenharia (OECD, 2006).
Esta situação preocupou os mais altos níveis políticos e científicos tendo dado origem à constituição de diversos grupos de trabalhos na União Europeia e em diversos es-tados membros dedicados a tentar compreender o que está subjacente a esta assimetria de representação das mulhe-res nestas áreas de conhecimento (Fuchs et al., 2001)

51
Saavedra, L., Taveira, M. C., & Silva, A. D. (2010). Fraca representatividade das mulheres em áreas tipicamente masculinas
Explicando a situação das mulheres nas CTEM
Nos últimos 20 anos, a investigação tem procurado ex-plicações para esta situação. Embora não existam quadros teóricos exclusivamente compreensivos deste fenómeno, algumas teorias sobre a carreira abordaram certos aspec-tos desta problemática, como é o caso da Teoria Sócio-Cognitiva da Carreira, relativamente à auto-eficácia das jovens para a matemática (Betz & Hackett, 1981, 1983) ou ainda, da Teoria das Aspirações Vocacionais (Gottfredson, 1981) que procura explicar como o género circunscreve o leque de escolhas de ambos os sexos. De uma forma geral, a revisão da literatura permite detectar barreiras à tomada de decisão, ao prosseguimento de estudos e à inserção no mercado de trabalho, baseadas no género e nas quais o papel da socialização e da cultura é determinante. Umas ocorrem mais precocemente, durante a infância e percurso académico e, outras, após a inserção no mercado de tra-balho. Designaremos as primeiras por “constrangimentos iniciais” e as segundas por “constrangimentos do merca-do de trabalho”. Em seguida, abordamos mais em detalhe cada um destes tipos de constrangimentos ao percurso vo-cacional, por parte de mulheres, em áreas tradicionalmen-te ocupadas, na sua maioria, por homens.
Constrangimentos iniciais
Os constrangimentos iniciais, ligados à educação e à projecção na vida de adulto apontam para um leque alar-gado de explicações que incluem (a) o papel de modelos (pais, mães, professores/as e outros) e a forma como estas figuras e a sociedade influenciam a construção dos interes-ses vocacionais e as expectativas de auto-eficácia, (b) con-cepções estereotipadas acerca da feminilidade ou masculi-nidade associada a certas profissões e (c) a antecipação do conflito família-trabalho. Deter-nos-emos, seguidamente nestas barreiras tentando explicitar como elas podem ex-plicar uma parte do “leaking pipeline effect”, sobretudo no primeiro momento atrás referido, ou seja, antes da entrada para o ensino superior - evitando que muitas alunas esco-lham os domínios das Ciência, Tecnologia, Engenharias e Matemáticas no ensino secundário - quando não escolhem o prosseguimento de estudos no ensino superior nestas áreas e quando, para aquelas que o fazem, evitam pós-graduações nestes domínios.
A nível familiar, pais e mães, têm um papel fundamen-tal no desenvolvimento dos modelos identitários da criança.
Muita da investigação conduzida nesta área evidenciou que as crenças e representações que os pais e mães têm acerca do que é feminino ou masculino (nomeadamente, quanto às disciplinas a seguir, cursos ou profissões), têm um papel de-terminante nas práticas educativas, influenciando os com-portamentos e as futuras expectativas das/os educandas/os (Vieira, 2006). Neste sentido, a forma como os pais e mães lidam com a vida familiar e com o trabalho tem uma grande influência nos valores dos jovens e nas suas expectativas relativamente aos papéis familiares e profissionais a desem-penhar futuramente. Por exemplo, há evidência de que as adolescentes criadas em famílias de dupla carreira estão mais preparadas para planificar a sua carreira de forma a encontrar equilíbrio entre o trabalho e a família nas suas vi-das futuras tendendo, igualmente, a escolher companheiros que partilhem desta perspectiva (Gilbert & Rader, 2008).
Esta influência dos pais e mães2, bem como de outros agentes educativos – entre os quais se contam professores, colegas e meios de comunicação –, estende-se a diversas dimensões directamente relacionadas com o domínio vo-cacional, nomeadamente à forma como são construídos os interesses profissionais e certas expectativas acerca de si próprias. Linda Gottfredson (1981), na sua Teoria da Circunscrição, explica que por volta dos 6-8 anos de idade as crianças começam a ter consciência da influên-cia do género na determinação de profissões adequadas e inadequadas e que esta “estrutura” será dificilmente modificável quando se chega à adolescência, momento em que são exigidas as primeiras grandes decisões face à carreira. Logo nesta fase cada criança define, em função do que socialmente aprendeu, que certas profissões são adequadas para o seu sexo, enquanto outras não o são de todo. Assim, só na adolescência os interesses, capacida-des e valores são usados para restringir a gama possível de escolhas em função das profissões que anteriormente foram seleccionadas como as mais adequadas. São diver-sos os trabalhos que dão consistência a esta teoria enfati-zando como certas profissões estão associadas ao ser fe-minino ou masculino e como escolher uma profissão não tradicional do ponto de vista do género pode constituir-se como uma ameaça à identidade sexual. Leder (1996) por exemplo, observou que as jovens bem sucedidas na mate-mática eram marginalizadas pelas colegas e ridiculariza-das pelos rapazes, dando origem a sentimentos de culpa e ambiguidades face à sua feminilidade.
As expectativas de auto-eficácia desempenham, igualmente, um papel importante nesta interacção entre
2 A propósito da influência das mães, de diversos níveis sócio-económicos, ver o interessante artigo, publicado nesta Revista, de Fiamengue e Whitaker (2003)

52
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 49-59
o mundo profissional e o género, afectando o comporta-mento vocacional das mulheres, limitando as suas aspira-ções e realizações e, consequentemente, circunscrevendo o âmbito dos seus processos de exploração de carreira e o seu desenvolvimento vocacional (Betz & Hackett, 1981, 1983; Faria, Taveira, & Saavedra, 2008). Na mesma linha de pensamento, Stickel e Bonett (1991), verificaram que as mulheres acreditam possuir maior capacidade de exercer profissões tradicionalmente femininas e mais dificuldades em desempenhar profissões não tradicionais. Estes resulta-dos corroboram, assim, o reduzido número de adolescentes e mulheres que enveredam pelas CTEM.
Em paralelo com as baixas expectativas de auto-efi-cácia para domínios socialmente associados ao masculino, tudo leva crer que as jovens podem ter, no momento da tomada de decisão face à carreira, consciência de papéis tradicionais mais femininos ou masculinos (Lobato & Koller, 2003) e de que certas profissões, nomeadamente as mais ligadas às Ciências e Tecnologias, tornam difícil a gestão dos papéis profissionais, familiares e domésticos (Saavedra & Taveira, 2007). Por isso, alguns investigadores e investigadoras defendem que a percepção antecipada do conflito família-trabalho representa, para as adolescentes, uma barreira no processo de tomada de decisão vocacio-nal para certos domínios profissionais (Cinamon & Hason, 2005; Peake & Harris, 2002; Saavedra & Taveira, 2007), tendendo a baixar o nível das suas aspirações profissionais (Leung, Conely, & Schell, 1994). Segundo Archer (1985) estes conflitos estão mesmo na base da maior dificuldade das adolescentes em construir uma identidade vocacional.
Condicionantes do mercado de trabalho
A par dos factores que ocorrem na fase de planificação e implementação de uma escolha vocacional existem outros condicionalismos que surgem na entrada para o mercado de trabalho e no decurso da própria carreira. Em cada um destes momentos há mulheres que se afastam, ou são afas-tadas, de ambientes profissionais mais exigentes, como é o caso das Universidades e dos lugares de chefia em empresas devido a uma intrincada interacção de factores. A literatura destaca como principais causas para este fenómeno a dis-criminação na contratação e nas promoções, a falta de ca-pital social (Etzkowitz, Kemelgor, & Uzzi, 2000) e a falta de apoio no trabalho (Sonnert & Holton, 1996; Xu, 2008), bem como conflitos entre a carreira e família (Cinamon & Hason, 2005; Graf & Diogo, 2009; Peake & Harris, 2002).
Apesar da proporção de mulheres que têm realizado doutoramento em Ciências e Tecnologias ter aumentado consideravelmente nos últimos 20 anos (Nelson, 2007) verifica-se, no entanto, que existe um grande desfasamento
relativamente à sua contratação como docentes universitá-rios. Um estudo realizado durante um período de dez anos entre as estudantes que tinham realizado doutoramento e aquelas que posteriormente eram contratadas como as-sistentes nas Universidades, põe esta realidade em evi-dência (Nelson, 2007). Mesmo quando as mulheres são numericamente superiores aos homens, os homens bran-cos conseguem a maior parte dos lugares de Assistentes. Em parte, este aspecto parece dever-se ao próprio facto de poucas mulheres com doutoramento concluído concor-rerem aos lugares de Assistentes, provavelmente porque percebem o ambiente como pouco desejável, optando por lugares no ensino onde o ambiente se afigura mais aco-lhedor (Nelson, 2007). Por outro lado, a literatura indica que as mulheres que iniciam os seus estudos superiores nestas áreas, experienciam um sentimento de exclusão que conduz a pouca colaboração, a falta de contactos e reco-nhecimento, bem como um sentimento geral de isolamen-to (Perna, 2001; Sonnert & Holton, 1996; Xu, 2008). No mesmo sentido, Etzkowitz et al. (2000) usam a expressão “efeito em cascata” (o efeito em cascata é uma cadeia de acontecimentos não visíveis devido a um acto que afecta o sistema) para caracterizar a experiência das mulheres em Ciências, querendo significar que o seu entusiasmo e ener-gia são constantemente abalados. Um estudo realizado por Xu (2008) indica, ainda, que as mulheres com maior nú-mero de publicações na área são aquelas que têm maior intenção de abandonar a carreira universitária. A autora considera que este facto se pode dever, precisamente, à maior insatisfação com as suas experiências de trabalho e com a maior vontade de encontrar um local de trabalho em que sejam mais valorizadas e vejam os seus esforços recompensados. Outros autores (Etzkowitz et al., 2000) indicam que as mulheres que trabalham no domínio das Ciências lidam com uma considerável falta de capital so-cial (Bourdieu, 1986) que, mais do que o capital de co-nhecimento e formação, parece ser fundamental para se ser bem sucedido na carreira. Este aspecto, pode ser ex-plicado pela extrema importância que actualmente assume o trabalho colaborativo nas Universidades, devido à enor-me complexidade da investigação. Assim, os laços sociais tornam-se fundamentais para a mobilidade na carreira dos investigadores. Ainda segundo os mesmos autores, devido à entrada recente das mulheres nestes meios, bem como ao seu isolamento profissional, as mulheres parecem ter bastante menos redes sociais do que os homens tanto den-tro com fora dos seus departamentos. Para ultrapassar esta falta de capital social as mulheres, mais do que os homens, precisam de ter um maior capital de conhecimento, ou seja, precisam de trabalhar muito mais para demonstrar o seu valor e serem aceita pelos colegas.

53
Saavedra, L., Taveira, M. C., & Silva, A. D. (2010). Fraca representatividade das mulheres em áreas tipicamente masculinas
No que diz respeito às mulheres que trabalham na Indústria foram também encontradas diferenças estrutu-rais consideráveis nas carreiras de homens e mulheres. No início das suas carreiras parece não haver grandes diferen-ças nas possibilidades de promoções, pois estas baseiam-se essencialmente no mérito. Contudo, posteriormente, as mulheres ficam em desvantagens pois as promoções sub-sequentes surgem “por convite” ou baseiam-se em crité-rios subjectivos (Evetts, 1996). Alguns estudos indicam, ainda, que as discriminações nos locais de trabalho podem envolver a própria linguagem usada. Uma investigação realizada na Universidade por Thorgerdur Thorvaldsdóttir (2004) indica que no processo de selecção dos candidatos, as características femininas são usadas para tornar femi-ninos homens ou mulheres consideradas indesejáveis e, dessa forma, questionar a sua credibilidade como cientis-tas sendo que as qualificações ou atributos positivos são, geralmente, expressos numa linguagem masculina.
As carreiras académicas, e também nas empresas, sendo baseadas no modelo tradicional masculino de par-ticipação no mercado de trabalho, implicam muitas horas de trabalho, com dedicação total e sem quaisquer outras obrigações sociais (Cozzens, 2004; Rees, 2004) o que dificulta, mais para as mulheres do que para os homens, a gestão de diversos papéis de vida. Neste contexto, as mulheres cientistas ou engenheiras têm frequentemente de escolher entre fazer ciência ou ser boas mães, pois a com-petição neste meio profissional torna mais difícil para as mulheres em início de carreira alcançar o equilíbrio entre o trabalho e a família. Em Portugal, e no que diz respeito à vida familiar, as mulheres passam mais três horas do que os homens em tarefas familiares e domésticas (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, 2007). Sonnert e Holton (1995) reforçam esta ideia defendendo que a maior parte das mulheres que desenvolvem a sua carrei-ra universitária no domínio das Ciências, a não ser que escolham ficar sozinhas ou abdiquem da maternidade, se vêem obrigadas a sincronizar três relógios: o relógio da carreira, o relógio biológico e o relógio da carreira dos seus parceiros. Adicionalmente, devido às expectativas e exigências da gestão, estas mulheres tendem a evitar a maternidade para minimizar as exigências da vida familiar (Evetts, 1996; Saavedra & Taveira, 2007).
Quanto aos constrangimentos e liberdade de cada pessoa face à sua carreira a opinião dos autores/as não é consensual. Evetts (1996) tem uma postura mais optimista
defendendo que nem o sujeito nem a organização têm total controlo sobre a progressão na carreira. Estes avanços são um processo dinâmico que resulta da interacção entre es-colhas conscientes (com base em expectativas, interesses e experiências) e circunstâncias (estrutura da organização, processos culturais). Pelo contrário, para Etzkowitz et al. (2000) a situação das mulheres nas CTEM depende mais dos contextos do que de escolhas pessoais.
Certo é que a exclusão das mulheres de lugares de di-recção na Industria e nas Universidades as impede de au-mentar os seus contactos, de mostrar a sua capacidade e de tornar estes lugares mais sensíveis ao género, dificultando o acesso de um maior número de mulheres a estes locais.
Pistas para a intervenção
A metáfora do oleoduto, que anteriormente usamos, serve para ilustrar duas formas de intervir no problema: aumentar o “fluxo” e impedir que “pingue” (Kulis et al., 2002). As intervenções que nos propomos desenhar pre-tendem contribuir para colmatar estas duas situações, ou seja, promover o aumento do número de estudantes do sexo feminino que ingressem em carreiras nas CTEM nos vários graus de ensino e, simultaneamente, criar condi-ções para que estas não abandonem ou interrompam os seus percursos nesses domínios.
As teorias e estudos apresentados no âmbito das bar-reiras baseadas no género apontam para intervenções pre-coces, no âmbito vocacional, de forma a evitar a instau-ração destes estereótipos de género, pois quando muitas intervenções vocacionais têm lugar3 certas áreas já foram definitivamente eliminadas há muitos anos. Nesta ordem de ideias, é importante que estas intervenções não se cin-jam à proximidade do momento de escolha da carreira, mas que se iniciem o mais precocemente possível, tendo em conta que segundo Linda Gottfredson (1981) por volta dos 6/8 anos de idade os estereótipos de género acerca das profissões estão já definidos, contribuindo para que cer-tas áreas profissionais sejam definitivamente excluídas do campo possível das escolhas. Assim, sugere-se o seu iní-cio no jardim-de-infância levando as crianças a entender a importância das aprendizagens escolares para as diferen-tes profissões, a adquirir conhecimento sobre profissões e sobre a importância dos diferentes papéis de vida e a com-preender o significado do trabalho fomentando, assim, a aquisição de competências de exploração vocacional e
3 Em Portugal a grande maioria das actividades de orientação vocacional, que são desenvolvidas no sentido de dar apoio ao processo de tomada de decisão escolar e profissional, ocorrem no 9º ano de escolaridade, momento em que o Sistema Educativo exige uma primeira escolha face aos estudos subsequentes.

54
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 49-59
de orientação geral para o mundo de trabalho (Araújo, Taveira, & Lemos, 2004; Gomes, 2004; Pinto, 2002).
Por outro lado, a literatura indica que a origem dos problemas de tomada de decisão, de planeamento e im-plementação das escolhas dos/das clientes, em geral, e das jovens e mulheres, em particular, não derivam, necessa-riamente, de variáveis individuais mas de barreiras exis-tentes no contexto em que se inserem (Betz, 2004; Lee, 1998). Deste modo, impõe-se que as intervenções que têm por objectivo impedir que as adolescentes se afastem das CTEM e promover uma maior orientação para estas áreas se apoiem, essencialmente, numa abordagem bioecológica (Bronfenbrenner, 1979, 1992) e sistémica (McMahon & Watson, 2007). Assim, a par da intervenção directa, indivi-dual ou em grupo, importa actuar no microsistema, meso-sistema, exosistema e macrosistema de forma a promover práticas educativas sensíveis às questões de género.
Segundo Brofenbrenner (1979), o macrosistema diz respeito à etnicidade e cultura do indivíduo, ou seja, à orga-nização social e política mais ampla onde se incluem o sis-tema de crenças, estilos de vida, estruturas, opções de vida e padrões de relacionamento social. Assim, relativamente às adolescentes, jovens e mulheres nas CTEM importa, antes de mais, agir sobre as crenças, mitos e estereótipos de género, bem como sobre as suas opções vocacionais, profissionais e pessoais que se regem por estes mesmos estereótipos actuando não só directamente sobre elas mas também em cada um dos microssistemas em que estas adolescentes e mulheres participam. No que diz respeito às mais jovens, os e as profissionais de psicologia têm um papel relevante e devem ser chamados a intervir no sentido de diminuir os desfasamentos que se têm verificado entre a produção teórica e empírica e a prática (Taveira, 2004). Os/as psicólogas/os estão em posição para actuar como promotoras/es da igualdade se tiverem consciência de que podem intervir sobre as barreiras sociais, económicas ou políticas que interferem no desenvolvimento integral dos/das seus/suas clientes (Lee, 1998), intervindo junto dos vários subsistemas de que as adolescentes e mulheres em questão fazem parte. Neste sentido, podem actuar junto de outros agentes educativos como pais, mães, professores/as de forma a sensibiliza-los para estas questões através de actividades de consultadoria e/ou formação. Junto dos pais e mães pode-se intervir para que estes tomem consciência de como reproduzem os valores e crenças do macrossis-tema face ao que é socialmente considerado adequado a cada sexo e, assim, aprenderem a reduzir potenciais es-tereótipos de género na forma como educam os/as filhos/as e os/as apoiam no planeamento e tomada de decisão vocacional. Junto dos/as professores/as, os/as psicólogos/as podem leva-los/as a reflectir sobre o currículo oculto,
nomeadamente sobre a forma como transmitem determi-nadas expectativas de auto-eficácia e atribuições causais, definindo estratégias de promoção de uma educação mais igualitária. Com este objectivo em pano de fundo, diversos métodos pedagógicos têm sido sugeridos, entre os quais se pode destacar: (a) a adopção de modelos de aprendizagem colaborativa, (b) a transformação da teoria em activida-des práticas, (c) a aproximação dos conteúdos científicos à realidade dos contextos sociais, (d) a utilização de uma combinação de métodos quantitativos e qualitativos, sem-pre que possível e, (e) a inclusão de adolescentes do sexo feminino nas experiências (Kahle, 1996; Harding, 1996). Igualmente importantes são os cuidados a ter com a lin-guagem, evitando uma linguagem sexista (Abranches & Carvalho, 1999) e o “falso neutro” (Barreno, 1985). Mas, acima de tudo, para que os/as professores/as desenvolvam uma atitude diferente na sua prática profissional é neces-sário que desenvolvam um sentido de responsabilidade que se possa traduzir numa posição de boa vontade face às questões de género, que assumam a sua quota de res-ponsabilidade pelas suas práticas educativas com viés de género e que reconheçam a profissão como um colectivo de pessoas, pois só assim as mudanças serão entendidas, não como resultado de um esforço individual mas como resultado de mudanças estruturais e culturais na organiza-ção escolar (Kenway & Willis, 1998; Saavedra, 2005).
Para além destas intervenções indirectas no micro e macrosistema, as/os psicólogas/os podem e devem actuar junto das/os jovens, de forma individual ou em pequenos grupos, através de actividades de âmbito vocacional e criando condições para o seu empoderamento. Para que tal seja possível diversos aspectos devem ser levados em consideração, nomeadamente avaliar em que medida po-dem ter existido ou estar presentes barreiras auto-impostas acerca do que cada uma pensa estar apta/o a concretizar do ponto de vista profissional. Importa, assim, compreen-der os ideais, que carreira gostaria de seguir, as fantasias e sonhos que têm e o que o/a impede de concretizar es-ses ideais. Na verdade, podem estar presentes limitações realistas, mas de acordo com a noção de auto-eficácia, o importante é determinar em que medida podem subsistir limites irrealistas acerca das suas capacidades – caso mui-to frequente nas mulheres –, que as afastem de percursos desejáveis e viáveis. Perante esta situação, o/a psicólogo/a deve desafiar estas crenças, levando a jovem a considerar alterações nos seus projectos e ajudando a compreender, se for o caso, que novas competências necessitam ser de-senvolvidas para implementar esses ideais (Betz, 2004).
Importa, ainda, avaliar a forma como cada jovem perspectiva a relação família-trabalho, pois a literatura mais recente indica que a antecipação do conflito família-

55
Saavedra, L., Taveira, M. C., & Silva, A. D. (2010). Fraca representatividade das mulheres em áreas tipicamente masculinas
trabalho pode funcionar como uma barreira à tomada de decisão das adolescentes (Cinamon, 2006; Peake & Harris, 2002; Saavedra & Taveira, 2007). Tendo em conta que a saliência dos vários papéis de vida desempenha um lugar importante na planificação da carreira de adolescen-tes e jovens adultos, a antecipação dos efeitos negativos do conflito família-trabalho pode interferir com as aspira-ções das jovens, sobretudo para aquelas que antecipam o envolvimento com uma carreira exigente do ponto de vista de tempo e investimento pessoal, o que pode levá-las a afastarem-se desse projecto ou a secundarizar um dos pa-péis. Assim, permitir que as jovens encontrem estratégias para lidar com a relação família-trabalho de forma eficaz afigura-se um passo essencial num processo de consulta psicológica vocacional, individual ou em grupo.
Ao nível do ensino superior os/as profissionais de psicologia podem ainda ter um papel fundamental jun-to das alunas em áreas de CTEM evitando que venham a abandonar estas áreas em momentos posteriores do seu percurso como ao nível de doutoramentos, entradas no mercado de trabalho ou subida na carreira. Para tal podem não só ser abordadas as questões da auto-eficácia e do con-flito família-trabalho acima referidas, como podem ainda ser criados programas de mentorado4 com mulheres que ocupem posições de destaque nestas áreas. Isto permitiria que as jovens encarassem estas mulheres como modelos e, assim, pudessem adquirir estratégias de “coping” com as barreiras percebidas, com os mitos e gestão de papéis de vida e com outras tomadas de decisão face à sua carreira.
O exossistema refere-se a “um ou mais sistemas que não envolvem a pessoa em desenvolvimento como parti-cipante activo, mas no qual ocorrem eventos que afectam, ou são afectados pelo ambiente em que se encontra a pes-soa em desenvolvimento” (Brofenbrenner, 1979, p. 227). Nesta ordem de ideias, pode considerar-se como fazendo parte do exossistema a direcção da escola, nomeadamen-te as medidas tomadas no 3.º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário5 no que diz respeito à definição da
abertura e funcionamento de determinados cursos nestes níveis de ensino6. Parece, por conseguinte, essencial de-senvolver actividades, que podem ser conduzidas pelo/a psicólogo/a da escola, que evitem que estes cursos sejam caracterizados como “tipicamente femininos” e “tipica-mente masculinos” e que os/as alunos/as sejam encami-nhados/as de acordo com esta caracterização. É importante salientar que esta tipificação dos cursos ocorre, frequen-temente, de forma subtil e “inconsciente” na divulgação dos mesmos ou até mesmo em cartazes que são elaborados para o efeito representando figuras masculinas associadas a um curso e femininas associadas a outro.
Poderá, igualmente, fazer parte da intervenção no exosistema, não só nas escolas básicas e secundárias mas também ao nível do Ensino Superior, a disponibilização de informação ou modelos relativos aos cursos e/ou às profis-sões facilitadoras da exploração vocacional dos/as estudan-tes desses níveis de ensino. É, pois, fundamental que toda esta informação seja apresentada respeitando a igualdade de género, evitando linguagem sexista e de modo a que pos-sa tornar-se mais atractiva para o sexo feminino a exemplo do que tem sido feito por organizações estrangeiras como o “National Institute for Women in Trades, Technology & Science”7. Este sítio da internet disponibiliza mentorado electrónico para as adolescentes e mulheres em profissões dominadas pelo sexo masculino, empregos, correio electró-nico para contactos com mulheres nestes domínios profissio-nais, vídeos sobre profissões habitualmente desempenhadas por homens, entre um número considerável de outras infor-mações. Outros exemplos são a “Association for Women in Science”8 e “Women in Science and Engineering”9. Em Portugal, a “Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas” (AMONET), disponibiliza o nome, fotografia e dados pro-fissionais sobre algumas mulheres cientistas que foram pre-miadas na sua área de trabalho. A internet afigura-se, assim, como uma poderosa ferramenta para transformar ideologias, crenças e mitos acerca das mulheres nas CTEM podendo ser usada para intervir ao nível do exosistema.
4 O mentorado são conjuntos de actividades conduzidas por uma pessoa (o mentor) com o objective de ajudar outra pessoa a exercer o seu trabalho de forma mais eficaz e, eventualmente, progredir na sua carreira,
5 O sistema de ensino português encontra-se estruturado em três ciclos de Ensino Básico e obrigatório (1.º ciclo com quatro anos de escolaridade, 2.º ciclo com dois anos de escolaridade e 3º ciclo com três anos de escolaridade, frequentado maioritariamente por alunos/as entre os 6 e os 15 anos de idade) e o Ensino Secundário, que não é de frequência obrigatória. É no final do 3.º ciclo que os jovens devem optar por um percurso mais diferenciado.
6 A estruturação do sistema de Ensino Português no Ensino Secundário, obriga a que os/as jovens optem por cursos mais orientados para o prosseguimento de estudos no Ensino Superior e outros essencialmente para a entrada para o mercado de trabalho no final desse nível de ensino. Além disso, tanto uns como outros se orientam para diversas áreas de conhecimentos (Letras e Línguas, Economia, Saúde e afins, Artes ou Engenharias e Tecnologias).
7 Disponível em http://www.iwitts.com/index.html8 Disponível em http://www.awis.org/9 Disponível em http://www.uicwise.org/

56
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 49-59
Os meios de comunicação social estando tão presen-tes no quotidiano dos/as jovens pode também assumir um papel de relevo transmitindo, por exemplo, através dos “spots” publicitários ou mesmo das novelas de produção nacional situações em que desafiem os tradicionais papéis de género e apresentando modelos adultos ou jovens em que as profissões ligadas às CTEM fossem contempladas.
Inserindo-se os manuais escolares e outro software educativo no nível de intervenção exossistémico, e tendo a literatura revelado (Alvarez, 2007; Correia & Ramos, 2002; Martelo, 1999) a forma eficaz como transmitem, re-produzem e reforçam ideologias de género, nomeadamente pelo modo como ocultam a figura feminina, é fundamental que se leve a cabo um trabalho de bastidores junto dos/as responsáveis pelos mesmos, desenvolvendo mecanismos de avaliação e controlo de qualidade à luz de padrões de igualdade de género, bem como de outras formas de igual-dade (raça, etnia, orientação sexual entre outras).
Ao nível do macrossistema, e no que se refere a medidas políticas, convém, ainda, referir a criação, em Portugal, do Sistema de Avaliação, Certificação e Apoio à Utilização de Software para a Educação e Formação (SACAUSEF), uma iniciativa do Ministério da Educação em parceria com a Universidade de Évora, o Instituo para a Qualidade na Formação e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Na Lei n.º 47/2006, de 28 de Agosto, que define que a certificação dos manuais escolares é da responsabilidade de uma Comissão Nacional de Avaliação e Certificação, nomeada pelo Ministério da Educação, pode ler-se no artigo 11.º, n.º 2 que “as comissões de ava-liação atendem também aos princípios e valores consti-tucionais, designadamente da não discriminação e da igualdade de género”. Importa, assim, que esta Comissão Nacional de Avaliação e Certificação possa integrar pes-soas especializadas nas questões de género para que se evitem a transmissão de estereótipos e a ocultação da figura feminina. Ao nível deste sistema importaria ainda pressionar/sensibilizar o poder político para a introdução de questões de género e de orientação profissional infun-didas no currículo o que exigiria uma formação adequada de professores nestas questões. Na falta destas iniciativas políticas, poderão os/as profissionais de psicologia dirigir-se directamente aos professores através da formação ou da consultadoria como já referido acima.
A fim de evitar que as mulheres inseridas no mercado de trabalho abandonem as empresas ou hesitem em aceitar um cargo de chefia – sendo este também um dos aspectos que contribui para o “leaky pipeline effect”- são igual-mente necessárias medidas a nível sistémico. Saliente-se, que nesta área o papel dos/das profissionais de psicologia passará sobretudo por uma sensibilização dos decisores,
fazendo ou apresentando resultados de investigação que possa evidenciar os benefícios de algumas medidas. Assim, a um nível, essencialmente microsistémico, a investigação recente (Catalyst, 2004) tem evidenciado que as organiza-ções têm todo o interesse em promover a presença das mu-lheres em posições executivas de topo, pois as empresas que se encontram nesta situação parecem atingir melhores resultados do ponto de vista financeiro. Como pressuposto prévio, as organizações podem assumir que a maioria das mulheres cientistas e engenheiras deseja subir na carrei-ra. Assim, e no que diz respeito ao sucesso e avanços na carreira, as empresas devem explicitar claramente a todos os/as empregados/as as expectativas e normas de subida na carreira. No caso das mulheres impõe-se um aumento da comunicação entre a direcção e as trabalhadoras para que sejam ultrapassados os habituais desfasamentos nas percepções face a esta questão. Será muito positivo que as empresas possam facilitar experiências profissionais às mulheres que as tornem mais visíveis e reconhecidas pelo trabalho que realizam (Fassinger, Arseneau, Paquin, Walton, & Giordan, 2006).
Outra dimensão importante a considerar no mundo laboral é o clima sócio-afectivo do local de trabalho. A investigação demonstrou que num ambiente apoiante a realização no trabalho, a satisfação com o mesmo e o compromisso com a empresa é aumentada (Rhoades & Eisenberger, 2002). No entanto, na maior parte dos casos, as mulheres nas empresas experienciam barreiras ao su-cesso nas suas carreiras, tais como enviesamentos, hosti-lidade e falta de respeito (National Academy of Science, 2001; Sonnert & Holton, 1996). Se, pelo contrário, as em-presas reconhecerem as contribuições das mulheres, po-dem transformar os seus sucessos em oportunidades para liderança, visibilidade, aumentos de salários e promoções. O mentorado é outra das estratégias a que as empresas po-dem recorrer para melhorar a situação das mulheres e que tem sido reconhecida como uma prática com efeitos po-sitivos no funcionamento das empresas (Fassinger et al., 2006). Tendo em conta que são os homens brancos que, geralmente, ocupam posições de liderança, deve tirar-se partido desta situação e designando-os como mentores para as mulheres, incluindo aquelas pertencentes a minorias ra-ciais, sexuais ou com deficiências. Ao facilitar-se o diálo-go entre estes mentores e as mulheres os objectivos defi-nidos pelo mentorado bem como o mentorado em equipas ou grupos serão mais facilmente alcançados (Fassinger et al., 2006). No que diz respeito ao conflito família-trabalho as empresas podem aliviar este conflito fornecendo assis-tência aos membros da família, nomeadamente ao nível dos cuidados com os filhos. Fomentar políticas “amigas da família” é uma iniciativa fundamental desde que as

57
Saavedra, L., Taveira, M. C., & Silva, A. D. (2010). Fraca representatividade das mulheres em áreas tipicamente masculinas
medidas definidas sejam acessíveis e efectivamente postas em prática. Finalmente, e no que diz respeito a medidas de ordem macrosistémica, as empresas devem ter em con-ta as políticas de “tolerância zero” relativamente ao as-sédio sexual e à discriminação e aquelas que promovem a igualdade de contratação, reconhecimento e promoção, cumprindo a legislação estabelecida pela Constituição da República Portuguesa e diversas Recomendações prove-nientes da União Europeia.
Considerações Finais
Numa sociedade que se assume legalmente como igualitária, importa criar condições para que esta igualda-de seja efectiva. No que diz respeito à área das CTEM, esta tem-se revelado como particularmente assimétrica no que concerne à representação feminina, tanto ao nível da
escolaridade, como da sua representação no mercado de trabalho e consequente ocupação dos mais diversos cargos profissionais. Para ultrapassar esta situação são necessários esforços conjugados de toda a sociedade, entre os quais se incluem educadores/as, professores/as, profissionais de psicologia, meios de comunicação social, empregadores e políticos. Mas estas mudanças só serão possíveis se todos estes agentes estiverem convictos de que a maior presença de mulheres nestas áreas será benéfica não só para elas como para toda a sociedade. Sabemos, contudo, que os seres humanos têm tendência a desenvolver atitudes si-multaneamente positivas e negativas face à mudança so-cial (Evans, 1996). Sabemos, também, que nem sempre a vontade política está a favor destas mudanças. Como tal, é importante que todos aqueles e aquelas que decidirem caminhar nesta direcção estejam preparados/as para gerir a frustração e persistir nos seus propósitos.
Referências
Abranches, G., & Carvalho, E. (1999). Linguagem, poder, educação: O sexo dos B, A - BAs. Lisboa: CIDM.Alvarez. M. T. (2007). Género e cidadania nas imagens de história. Lisboa: Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Araújo, A. M., Taveira, M. C., & Lemos, M. S. (2004). Uma experiência de intervenção precoce no desenvolvimento
vocacional em contexto pré-escolar. In M. C. Taveira, H. Coelho, H. Oliveira, & J. Leonardo (Org.), Desenvolvimento vocacional ao longo da vida: Fundamentos, princípios e orientações (pp. 197-210). Coimbra: Almedina.
Archer, S. L. (1985). Career and/or family: The identity process for adolescent girls. Youth and Society, 16, 289-314. Barreno, I. (1985). O Falso neutro: Um estudo sobre a discriminação sexual no ensino. Lisboa: Instituto de Estudos para
o Desenvolvimento.Betz, N. E., & Hackett, G. (1981). The relationship of career-related self-efficacy expectations to perceived career options
in college women and men. Journal of Counseling Psychology, 28, 399-410.Betz, N. E., & Hackett, G. (1983). The relationship of mathematics self-efficacy expectation to the selection of science-
based college majors. Journal of Vocactional Behavior, 23, 329-345.Betz, N. (2004). Contributions of self-efficacy theory to career counseling: A personal perspective. Career Development
Quarterly, 52, 340-353.Bourdieu, P. (1986) The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research for the sociology of
education (pp. 241-258). New York: Greenwood.Bouville, M. (2008). On enrolling more female students in science and Engineering. Science and Engineering Ethics, 14,
279-290.Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. Cambridge, MA:
Harvard University Press.Bronfenbrenner, U. (1992). Ecological system theory. In R. Vasta (Ed.), Six theories of child development: Revised
formulations and current issues (pp. 178-249). London: Jessica Knigsley. Catalyst. (2004). The bottom line: Connecting corporate performance and gender diversity. Recuperado em 3 Março
2009, de http://www.catalystwomen.org/files/full/financialperformancereport.pdfCinamon, R. G. (2006). Anticipated work-family conflict: Effects of gender, self-efficacy, and family background.
The Career Development Quarterly, 54, 202-215.Comissão para Cidadania e Igualdade de Género. (2007). A igualdade de género em Portugal. Lisboa: Comissão para a
Cidadania e Igualdade de Género.Cinamon, R. G., & Hason, I. (2005). Facing the future: Barriers and resources in work and family plans of at-risk israeli
youth. Paper presented at the 7th Biennial Conference of the Society for Vocational Psychology, Vancouver, CA.Correia, A. F., & Ramos, M. A. (2002). Representações de género em manuais escolares. Lisboa: Comissão para a
Igualdade e Direitos da Mulher.

58
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 49-59
Cozzens, S. E. (2004). Gender issues in us science and technology policy: Equality of what? In European Communities (Ed.), Gender and excellence in the making (pp. 169-174). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
Etzkowitz, H., Kemelgor, C., & Uzzi, B. (2000). Athena unbound: The advancement of women in science and technology. New York: Cambridge University Press.
Evans, R. (1996). The human side of school change: Reform, resistance, and the real-life problems of innovation. San Francisco: Jossey-Bass.
Evetts, J. (1996). Gender and career in science and engineering. Bristol, PA: Taylor & Francis.Faria, L., Taveira, M., & Saavedra, L. (2008). Exploração e decisão de carreira numa transição escolar: Diferenças
individuais. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 9(2), 17-30.Fassinger, R., Arseneau, J., Paquin, J., Walton, H., & Giordan, J. (2006). It’s elemental: Enhancing career success for
women in the chemical industry. Maryland: University of Maryland Press.Fiamengue, E., & Whitaker, D. (2003). Instrução superior e profissionalização feminina: As mães dos vestibulandos
VUNESP e suas influências sobre as escolhas dos filhos (anos 80 x anos 90). Revista Brasileira de Orientação Profissional, 4(1-2), 117-139.
Fuchs, S., Von Stebut, J., & Allmendinger, J. (2001). Gender, science, and scientific organizations in Germany. Minerva, 39,175–201.
Gilbert, L. A., & Rader, J. (2008). Work, family, and dual-earner couples: Implications for research and practice. In J. A. Athanasou & R. V. Esbroeck (Eds.), International Handbook of Career Guidance (pp. 426-443). Nem York: Academic Kluwer.
Gomes, I. (2004). O desenvolvimento vocacional na infância: Políticas e intervenções nacionais. In M. C. Taveira, H. Coelho, H. Oliveira, & J. Leonardo (Org.), Desenvolvimento vocacional ao longo da vida: Fundamentos, princípios e orientações (pp. 181-190). Coimbra: Almedina.
Gottfredson, L. S. (1981). Circumscription and compromise: A developmental theory of occupational aspirations. Journal of Counseling Psychology, 28, 545-579.
Graf, L., & Diogo, M. (2009). Projeções juvenis: Visões ocupacionais e marcas de gênero. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 10(1), 71-82.
Harding, J. (1996). Science in a masculine strait-jacket. In L. H. Parker, L. J. Rennie, & B. J. Fraser (Eds.), Gender, science and mathematics: Shortening the shadow (pp. 3-16). London: Kluwer Academic.
Kahle, J. B. (1996). Equitable science education: A discrepancy model. In L. H. Parker, L. J. Rennie, & B. J. Fraser (Eds.), Gender, science and mathematics: Shortening the shadow. London: Kluwer Academic.
Kenway, J., & Willis, S. (1998). Answering back. London: Routledge.Kohlstedt, S. G. (2004). Sustaining gains: Reflections on women in science and technology in 20th-Century United States.
NWSA Journal, 16(1), 1-26.Kulis, S., Sicotte, D., & Collins, S. (2002). More than a pipeline problem: Labor supply constraints and gender stratification
across academic science disciplines. Research in Higher Education, 43(6), 657-691.Leder, G. C. (1996). Equity in the mathematics classroom: beyond the rethoric. In Lesley H. Parker, Léonie J. Rennie & Barry
J. Fraser (Orgs.), Gender, science and mathematics: Shortening the shadow (pp. 95-104). London: Kluwer Academic.Lee, C. (1998). Counselors as agents of social change. In C. Courtland Lee & G. R. Walz (Eds.), Social action: A mandate
for counsellors (pp. 3- 14). Alexandria, VA: American Counseling Association.Lei n.º 47/2006, de 28 de agosto de 2006. (2006, 28 de agosto). Proíbe e pune a discriminação em razão da deficiência e
da existência de risco agravado de saúde. Diário da República, 1a. série—No. 165.Leung, S. A., Conely, C. W., & Schell, M. J. (1994). The careers and educational aspirations of gifted high school students:
A retrospective study. Journal of Counseling and Development, 72, 298-303.Lobato, C., & Koller, S. (2003). Maturidade vocacional e gênero: Adaptação e uso do inventário brasileiro de
desenvolvimento profissional. Revista Brasileira de Orientação Profisional, 4(1-2), 57-69.Martelo, M. J. A. (1999). A escola e a construção da identidade das raparigas: O exemplo dos manuais escolares. Lisboa:
Comissão para a Igualdade e Direitos da Mulher.McMahon, M., & Watson, M. (2007). An analytical framework for career research in the post-modern era. International
Journal for Educational and Vocational Guidance, 7, 169–179. National Academy of Sciences. (2001). From scarcity to visibility: Gender differences in the careers of doctoral scientists
and engineers. Washington, DC: National Academy Press.National Science Foundation. (1998). Science and engineering indicators, 1998 (Publication NSB-98-1). Arlington, VA:
National Science Foundation.

59
Saavedra, L., Taveira, M. C., & Silva, A. D. (2010). Fraca representatividade das mulheres em áreas tipicamente masculinas
National Science Foundation. (1999). Women, minorities, and persons with disabilities in science and engineering: 1998 (Publication 99-33888). Arlington, VA: National Science Foundation.
Nelson, D. (2007). A national analysis of diversity in science and engineering faculties at research universities. University of Oklahoma. Recuperado em 1 Abril 2008, de http://cheminfo.chem.ou.edu/~djn/diversity/briefings/Diversity%20Report%20Final.pdf
OECD Observer. (2006). Wanted: Women scientists. OECD Observer, 257, 23-24.Peake, A., & Harris, K. L. (2002). Young adults’ attitudes toward multiple role plan-ning: The influence of gender, career
traditionality, and marriage plans. Journal of Vocational Behavior, 60, 405-421.Perna, L. W. (2001). The relationship between family responsibility and employment status among college and university
faculty. The Journal of Higher Education, 72, 584–611.Pinto, H. R. (2002). Construir o futuro. Santarém: JHM Edições.Rees, T. (2004). Measuring excellence in scientific research: the UK Research Assessment Exercise. In European
Communities (Ed.), Gender and excellence in the making (pp. 115-120). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
Rhoades, L., & Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: A review of the literature. Journal of Applied Psychology, 87, 698-714.
Saavedra, L., & Taveira, M. C. (2007). Discursos de adolescentes sobre a vida profissional e familiar: Entre o sonho e a realidade. Educação & Sociedade, 28, 1375-1391.
Saavedra, L. (2005). Aprender a ser rapariga, aprender a ser rapaz: Teorias e práticas da escola. Coimbra: Almedina.Sonnert, G., & Holton, G. (1995). Who succeeds in science? The gender dimension. New Brunswick, NJ: Rutgers
University Press Sonnert, G., & Holton, G. (1996). Career patterns of women and men in the sciences. American Scientist, 84, 63–71.Stickel, S. A., & Bonett, R. M. (1991). Gender differences in Career Self-Efficacy: Combining a career with home and
family. Journal of College Student Development, 32, 297-301.Taveira, M. C. (2004). O desenvolvimento vocacional na infância e na adolescência: Sensibilidade às questões do género.
Psicologia, Educação e Cultura, 8, 83-102.Thorvaldsdóttir, T. (2004). Engendered opinions in placement committee decisions. In European Communities (Org.), Gender
and excellence in the making (pp. 101-108). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.Van Anders, S. M. (2004).Why the academic pipeline leaks: Fewer men than women perceive barriers to becoming
professors. Sex Roles, 51, 511-521.Van der Walls, J. H. (2001). The fate of women in the science pipeline. Minerva, 39, 353-362.Vieira, C. M. C. (2006). Educação familiar: Estratégias para a promoção da igualdade de género. Lisboa: Comissão para
a Igualdade e para os Direitos das Mulheres.Xu, Y. J. (2008). Gender disparity in STEM disciplines: A study of Faculty Attrition and Turnover Intentions. Research
in Higher Education, 49, 607-624.
Recebido: 26/01/20101ª Revisão: 17/4/2010
Aceite Final:31/05/2010
Sobre as autorasLuísa Saavedra é doutorada em Psicologia da Educação e Professora Auxiliar na Escola de Psicologia da
Universidade do Minho, Portugal. Tem investigado as questões de género na escola. Colabora no curso Doutoral em Psicologia Vocacional.
Maria do Céu Taveira é doutorada em Psicologia da Educação e Professora Auxiliar na Escola de Psicologia da Universidade do Minho, Portugal. Desde sempre se tem dedicado à investigação na área vocacional. Coordena o curso Doutoral em Psicologia Vocacional.
Ana Daniela Silva é doutorada em Psicologia da Educação, especialidade em Psicologia Vocacional e é actualmente Bolseira da Fundação para a Ciência e Tecnologia, com um Programa de Pós-doutoramento em Psicologia Vocacional a decorrer na Universidade do Minho.


61Disponível em http://pepsic.bvs-psi.org.br/rbop
Revista Brasileira de Orientação Profissionaljan.-jun. 2010, Vol. 11, No. 1, 61-72
Modelo transteórico de mudança:Contribuições para o coaching de executivos
1 Endereço para correspondência: Rua Toneleiros 199/221, Cond. San Conrado/ Sousas, 13104-182, Campinas-SP, Brasil. Fone: (19) 9233-6631. E-mail: [email protected]
2 Agradecimento à Capes pelo apoio institucional.
Germano Glufke Reis1
Lina Eiko Nakata2
Fundação Getúlio Vargas, São Paulo-SP, Brasil
ResumoO coaching de executivos tem sido cada vez mais empregado pelas organizações. Embora haja um número expressi-vo de praticantes nesse mercado, há uma grande carência de modelos teóricos e de pesquisas. Em decorrência disso, tem sido apontada a necessidade de se lastrear o coaching em evidências empiricamente mais consistentes, ainda que incorporando contribuições de conhecimentos já existentes nas ciências comportamentais e sociais. Além disso, a mudança comportamental tem sido tema recorrente, nas diferentes abordagens empregadas, mesmo que de orien-tações distintas. Neste contexto, alguns autores têm sugerido que o Modelo Transteórico de Mudança seja adaptado para o processo de coaching; tanto por ser um modelo direcionado à mudança comportamental, como pelo fato de ter forte sustentação empírica. Esse modelo caracteriza os seis estágios que ocorrem em todo processo de mudança com-portamental: pré-contemplação, contemplação, preparação, ação, manutenção e término. Este artigo teórico examina possíveis contribuições e limitações do modelo, se aplicado ao processo de coaching de executivos.Palavras-chave: coaching de executivos, orientação ocupacional, e modelo transteórico de mudança
Abstract: The Transtheoretical Model of Change: Contributions to executive coachingExecutive coaching has been widely employed in organizations. Although there is a growing number of practitioners in this market, there is still a substantial lack of theoretical models and research in it. Because of this, some authors have argued for a need of supporting the coaching process on more consistent and empirically tested evidences, even through the embodiment of already existing knowledge, from the behavioral and social sciences. Besides that, behavioral change has been a recurrent theme in many coaching processes, even when based on distinct approaches. In this context, some authors have suggested that the Transtheoretical Model of Change be adapted for the coaching process, both for its focusing on behavioral changes and for being supported by substantial empirical research. This model includes the six stages that take place in every process of behavioral change: precontemplation, contemplation, preparation, action, maintenance, and termination. This theoretical article analyzes possible contributions and limitations of the model, when applied to executive coaching.Keywords: executive coaching, occupational guidance, transtheoretical model of change
Resumen: Modelo Transteórico de Cambio: Contribuciones al coaching de ejecutivosEl coaching de ejecutivos ha sido cada vez más empleado por las organizaciones. Aunque hay un número significativo de practicantes, en este mercado, hay una gran carencia de modelos teóricos y de investigación. Como consecuencia, se ha señalado la necesidad de basar el coaching en evidencias empíricamente más consistentes, aun incorporando contribuciones de conocimientos existentes en las ciencias comportamentales y sociales. Además, el cambio comportamental ha sido tema recurrente en los diferentes abordajes empleados, aunque de orientaciones distintas. En este contexto algunos autores han sugerido que el Modelo Transteórico de Cambio se adapte al proceso de coaching; tanto por ser un modelo dirigido al cambio comportamental como por el hecho de tener fuerte sustentación empírica. Este modelo caracteriza las seis etapas que ocurren en todo proceso de cambio comportamental: precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento y término. Este artículo teórico examina posibles contribuciones y limitaciones del modelo, si se aplica al proceso de coaching de ejecutivos.Palabras clave: coaching de ejecutivos, orientación ocupacional, y modelo transteórico de cambio
Artigo

62
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 61-72
O coaching de executivos tem recebido atenção cres-cente por parte de organizações e executivos (Diedrich, 1996; Kampa-Kokesch & Anderson, 2001; Crofts, 2007; Johnson, 2007; Yu, 2007) e também de estudos de cará-ter acadêmico (Thach, 2002; Joo, 2005; Jones, Rafferty, & Griffin, 2006; Gray, 2006; Boyatzis, Smith, & Blaize, 2006; Parker, Hall, & Kram, 2008). Na prática, é um mer-cado que tem movimentado, no mundo, grandes somas: já foi estimado algo em torno de um bilhão de dólares, com tendências de crescimento (Corporate Therapy, 2003).
Trata-se, no entanto, de uma área na qual a prática e os praticantes encontram-se em número muito maior do que o de teorias e pesquisas consistentes (Joo, 2005; Grant & Cavanagh, 2004; Feldman & Lankau, 2005), o que pode, inclusive, dificultar os avanços do conhecimento a ela rela-cionados. Sherman e Freas (2004) reforçam essa constata-ção, afirmando que o coaching de executivos é uma espé-cie de faroeste: uma fronteira empolgante e efervescente, cheia de possibilidades, mas ainda inexplorada e repleta de riscos e oportunismo. Perspectivas, definições e mesmo a formação (e competências) do coach ainda necessitam maiores esclarecimentos e investigação. Joo (2005) ressal-ta que essa profissão tem sido exercida por profissionais com os mais diversos perfis: psicoterapeutas, ex-executi-vos, advogados, atletas, entre outros. Ascama (2004), apre-senta indicativos (embora não generalizáveis), de que tal diversidade possa estar ocorrendo também no Brasil.
Recentemente vem sendo defendida a necessidade de uma prática de coaching “baseada em evidências”, ou seja, lastreada pelos melhores conhecimentos empíricos dispo-níveis, aliados à expertise do coach (Grant & Cavanagh, 2004; Stober, Wildflower, & Drake, 2006). Tal proposta – que é uma resposta à prática estritamente pragmática, intui-tiva, de auto-ajuda e/ou baseada no bom-senso – esbarra no desafio de que o coaching, como campo de conhecimento específico, encontra-se ainda em sua “infância” (Joo, 2005): ainda há muito a ser estudado. Assim, boa parte do conhe-cimento empírico necessita ser importado da produção de outros campos, das ciências comportamentais e sociais.
Nesse contexto, alguns autores têm chamado aten-ção para a potencial contribuição do Modelo de Mudança Transteórico à prática do coaching (Grant, 2006; Stober et al., 2006). Esse modelo, desenvolvido para o contexto clínico nos anos 1980, tem por objetivo promover mu-danças comportamentais e apresenta consistente respaldo investigativo (Prochaska, Norcross, & Diclemente, 1994; Petrocelli, 2002; Yoshida, 2002). Recentemente, tem sido adaptado para outras aplicações, distantes da práti-ca clínica, como em situação de mudança organizacional (Prochaska, Prochaska, & Levesque, 2001) e para a estru-turação de determinados programas em cursos de gestão
de negócios (Tyler & Tyler, 2006). Dado que o coaching freqüentemente visa algum tipo de mudança comporta-mental (Kilburg, 1996; Joo, 2005), a potencial contribui-ção deste modelo torna-se especialmente relevante.
O objetivo deste artigo teórico é apresentar os princi-pais componentes que caracterizam o modelo, examinan-do as suas possíveis contribuições e limitações, se aplica-do ao processo de coaching de executivos. Como ponto de partida, o artigo oferece uma sucinta caracterização do que é esse tipo de coaching, comentando as principais abordagens empregadas e a relevância da mudança com-portamental nesse contexto; a partir desse pano de fundo, examina o modelo transteórico. Dessa forma, propõe-se a indicar possíveis pontos de partida e hipóteses para pes-quisas e, também, a inspirar reflexões nas organizações que têm investido no coaching e entre os próprios partici-pantes do processo: coaches e coachees.
Coaching de executivos: uma breve caracterização
Na visão de Kilburg (1996) o coaching de executivos envolve uma relação de ajuda, na qual o coach emprega metodologias comportamentais para ajudar um gestor de uma empresa (o coachee). Há um objetivo nessa relação: contribuir para que o coachee alcance metas previamente identificadas por ambos, visando melhoria de desempenho, maior satisfação pessoal e, como desdobramento, melho-rias nos resultados organizacionais. De forma geral, essa definição está alinhada a outras encontradas na literatura (Thach & Heinselman, 1999; Flaherty, 1999; Lyons, 2000; Thach, 2002), sendo que as intervenções promovidas pelo coaching podem abordar diferentes níveis de profundida-de: algumas são direcionadas à melhoria do desempenho, focando questões práticas, específicas e objetivas do tra-balho; outras agem de maneira mais profunda, explorando a dinâmica psicológica do coachee, aproximando-se da prática psicoterapêutica (Thach, 2002; Bluckert, 2005; Bartlett, 2006). De todo modo, é comum que as diferentes propostas mencionem algum tipo de mudança comporta-mental como elemento presente nesse processo.
Joo (2005), com base em ampla revisão bibliográfica, situa o processo de coaching em um modelo integrativo mais amplo (Figura 1), onde também devem ser conside-rados fatores antecedentes (características do coach e do coachee, bem como o suporte da organização) e os resul-tados/desdobramentos alcançados: proximais/diretos (au-toconhecimento, mudança comportamental e aprendiza-gem) e distais (resultados organizacionais e individuais). No processo, especificamente, são fatores chave o tipo de abordagem adotada, a relação coach-coachee e a disponi-bilização de feedback.

63
Reis, G. G., & Nakata, L. E. (2010). Modelo Transteórico de Mudança no coaching de executivos
Condições:Atributos do
e do,
características esuporte daorganização.
coachcoachee
Processo:Abordagens,estratégiasde ação,ferramentas,qualidadesda relação.
Resultados:
Autoconhecimento, aprendizagem
MUDANÇACOMPORTAMENTAL
Resultados individuais e organizacionais
Figura 1. Modelo conceitual para o sucesso do coaching de executivos. Fonte: adaptado de Joo (2005).
Segundo Joo (2005), alguns enfoques do coaching, influenciados por uma perspectiva proveniente do aconse-lhamento psicológico, enfatizam mais o autoconhecimento; outros, com uma perspectiva de consultoria organizacional, concentram-se mais no aprendizado. As duas ênfases, no entanto, tendem a potencializar mudanças comportamen-tais, que são resultados proximais e, como conseqüência, desdobram-se em resultados individuais e organizacionais (resultados distais). Essa constatação reforça o tema da mudança comportamental como um elemento relevante e recorrente – explícita ou implicitamente – em diferentes abordagens. Nesse sentido, a utilização de estratégias que se propõem a guiar e apoiar mudanças comportamentais, tal como o modelo transteórico discutido neste trabalho, pare-cem ter importância no cenário da prática do coaching.
Abordagens
Peltier (2001) descreve cinco tipos de abordagens empregadas no coaching de executivos. Elas podem ser caracterizadas da forma descrita a seguir.
Psicodinâmica: de influência psicanalítica, explora o inconsciente e estados psicológicos internos. Explora me-canismos de defesa, história familiar, passado, transferên-cia, entre outros. Um exemplo é a utilização da psicanálise no contexto do coaching (Brunner, 1998).
Comportamental: trabalha com princípios da terapia comportamental, explorando fatores reforçadores e puni-tivos, intrínsecos e extrínsecos. Tal orientação é possível observar, por exemplo, no trabalho de Skiffington e Zeus (2003). Também pode englobar perspectivas correlatas, que enfatizam comportamentos observáveis.
Centrada na pessoa: processo de auto-compreensão sem a intervenção direta do coach, alicerçada em uma re-lação terapêutica empática e de confiança.
Terapia cognitiva: emprega o pensamento consciente do cliente para identificar pensamentos distorcidos e/ou irracionais. Há, também, abordagens “cognitivas-compor-tamentais” (Neenan & Dryden, 2002).
Sistêmicas: ancoradas, por exemplo, em perspectivas empregadas em psicoterapia familiar, considera a dinâmi-ca de interação do coachee com inúmeros atores da reali-dade organizacional. Insere-se aí, por exemplo, o trabalho de Orenstein (2000, 2002) que investiga, conjuntamente, influências do inconsciente individual, das dinâmicas e fronteiras intra e inter-grupos e da organização, nos com-portamentos do coachee.
Outra abordagem, não mencionada por esses autores, envolve a utilização de conhecimentos das teorias de edu-cação de adultos (Jackson, 2004; Reis, 2007), em especial a prática reflexiva, enfocando o aprendizado a partir da experiência (Schön, 1983; Boud & Walker, 1990) e a refle-xão crítica que visa a revisão de pressupostos e perspecti-vas pessoais (Mezirow, 1991; Gray, 2006; Reis, 2007).
Brockbank e Mcgill (2006), por outro lado, ampliam esse mapeamento de abordagens, apoiando-se no clássi-co trabalho de Burrell e Morgan (1979) sobre os quatro paradigmas que norteiam as teorias e práticas organiza-cionais. Propõem organizar as diferentes abordagens em torno de dois eixos: um relacionado à dimensão “pers-pectivas de realidade” (eixo subjetivismo-objetivismo) e outro relacionado à dimensão “resultados da aprendiza-gem” (eixo equilíbrio-transformação). O primeiro eixo vai de uma visão de que há uma realidade objetiva externa e controlável (com relações de causa e efeito observáveis por métodos das ciências naturais) enfatizando mais os as-pectos racionais do coaching (objetivismo), a uma visão que se concentra mais no mundo psicológico do coachee e na construção social de sua realidade (subjetivismo). O segundo eixo vai da preservação do status quo (equi-líbrio) à transformação pessoal e social (nas estruturas de poder, pressupostos, valores, “discurso dominante”, por exemplo) (transformação).
Dessa forma, propõem um “mapa” que diferencia as abordagens normalmente empregadas (Figura 2).
Daí, resultam os seguintes grupos de abordagens, que podem ser adotadas em função dos objetivos organizacio-nais e dos participantes.

64
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 61-72
Funcionalista: prioriza o entendimento da organiza-ção como realidade objetiva, dá ênfase ao desempenho, a intervenções pragmáticas, dá menor ênfase a elementos emocionais e subjetivos e não envereda pelo questiona-mento de pressupostos e reflexão crítica, de forma a pre-servar o equilíbrio e status quo organizacional. Há menor preocupação em se investigar a vida pessoal do coachee. É uma abordagem “racional, objetiva e instrumental (...)” (Brockbank & McGill, 2006, p. 95). Focada em desenvol-vimento de determinadas competências, emprega, inten-samente, avaliações e feedback. Pode empregar, também, modelos de atuação pré-definidos e estuturados como o GROW (goal, reality, options, will to act) (Whitmore, 1996) e FLOW (Flaherty, 1999).
De engajamento/alinhamento: reconhece o mundo subjetivo do coachee e trabalha a partir daí, em uma pos-tura não diretiva, que não enfatiza tanto questões como a do poder, preservando o status quo organizacional. De influência humanista, é freqüentemente adotada na organi-zação para alavancar o desempenho em contextos de mu-dança, nos quais pode haver resistência. Os autores ressal-tam: “o coaching de engajamento visa persuadir o cliente a adotar os objetivos de aprendizagem da organização ou sistema” (Brockbank & Mcgill, 2006, p. 96). Também pode empregar feedback mas, aqui, há um espaço maior para emoções e para questões individuais.
Revolucionário: de orientação materialista marxis-ta, tem uma perspectiva objetiva (o universo subjetivo do coachee é secundário) e o propósito central de mobili-zar o indivíduo, por meio da persuasão e debate racional, para um entendimento mais claro da realidade, condu-zindo a uma mudança radical da sociedade. Essa aborda-gem é considerada inadequada para o contexto organiza-cional, dado o seu caráter altamente disruptivo e radical
(Brockbank & Mcgill, 2006); daí o fato de não ser empre-gada pelas empresas.
Transformativo/Evolucionário: também considera elementos do universo subjetivo do coaching, suas pre-missas, experiências e motivações, observando dimensões sociais e de poder que podem interferir no aprendizado, possibilitando observar e questionar o “discurso dominan-te” e empreender reflexões críticas e transformadoras so-bre paradigmas pessoais, além de trabalhar o desempenho cotidiano. Procura-se “(...) desafiar os clientes a olharem além dos seus horizontes imediatos e a transformarem a visão que têm do sistema no qual vivem e trabalham” (Brockbank & McGill, 2006, p. 203). Nesse sentido, bus-ca-se condições para a revisão de “perspectivas de signifi-cados” (Mezirow, 1991).
Em relação ao cenário de abordagens apresentado, o modelo transteórico não deve ser considerado como mais uma abordagem ou como uma teoria específica. Na rea-lidade, foi concebido como uma proposta de integração teórica e deve ser visto como um modelo geral de mudan-ça, baseado em múltiplos estágios, sendo que estes foram evidenciados por meio de pesquisas empíricas (Prochaska et al., 1994). Essas etapas de mudança podem ser trabalha-das, segundo o modelo, por meio da utilização de diferen-tes processos, estratégias e ferramentas.
Assim, é possível que o modelo possa acomodar abor-dagens de coaching com características bastante distintas. De fato, a sua utilização já foi proposta para intervenções com características “funcionalistas” (Grant, 2006) e o modelo também tem sido relacionado a propostas trans-formadoras, de reflexão crítica, tal como a aprendizagem transformativa (Moore, 2005), que é o tipo de perspectiva que caracteriza as propostas “transformativas/evolucioná-rias” para o coaching.
Figura 2. Mapa das abordagens de coaching. Fonte: adaptado de Brockbank e McGill (2006).
O Modelo de Mudança Transteórico
Em linhas gerais, o Modelo de Mudança Transteórico delineia o caminho percorrido por uma pessoa em qualquer
processo de mudança comportamental, quer seja impul-sionado e gerenciado por ela mesma, quer seja em fun-ção (ou com o apoio) de agentes/elementos externos. Por “mudança” entenda-se “qualquer atividade que você inicia
Resultados da aprendizagemPerspectivas de realidadeEquilíbrio
Coaching funcionalista
Coaching de engajamento/alinhamento
Transformação
Coaching revolucionário
Coaching transformativo/evolucionário
Objetivismo
Subjetivismo

65
Reis, G. G., & Nakata, L. E. (2010). Modelo Transteórico de Mudança no coaching de executivos
para ajudar a modificar a sua maneira de pensar, sentir ou comportar-se” (Prochaska et al., 1994, p. 25).
No início, os proponentes do modelo – Prochaska, DiClemente e demais pesquisadores - investigavam di-ferentes processos de mudança, envolvidos tanto em iniciativas pessoais como em contextos terapêuticos (Prochaska, Velicer, Guadagnoli, Rossi, & DiClemente, 1991). Identificaram que esses processos podem envolver vários tipos de iniciativas e práticas, tais como: tomada de consciência, reavaliação de si mesmo, engajar-se em re-lações de ajuda, gerenciar recompensas e reforços, reava-liação do ambiente, entre outras. Aos poucos observaram que as mudanças ocorriam conforme um certo padrão, percorrendo um conjunto geral de etapas. Concentraram-se, então, em pesquisar tais etapas, no intuito de testar a sua aplicabilidade em intervenções terapêuticas.
Conforme o modelo, a evolução das mudanças de-pende da consciência que a pessoa tem do que necessita mudar, do problema que necessita enfrentar: um determi-nado hábito, por exemplo (tal como dar-se conta de que precisa parar de fumar, de que esse hábito reflete-se na saúde). Elas também demandam mobilização e empenho pessoais e ocorrem ao longo do tempo, gradativamente, em um percurso que envolve estágios subseqüentes: dar-se conta do problema, mobilizar-se para a mudança, ini-ciar ações relacionadas ao problema e assim por diante. Segundo o modelo transteórico, as etapas da mudança po-dem ser caracterizadas como a seguir.
Pré-contemplação: momento no qual a pessoa não tem intenção de mudar em um futuro próximo; ela não percebe essa necessidade ou a importância que uma determinada mudança poderia ter para certos aspectos de sua vida.
Contemplação: nesta etapa a pessoa pensa na pos-sibilidade de mudar, reconhece que há uma questão a ser enfrentada e que ela é relevante, mas ainda não tomou ne-nhuma iniciativa para tal.
Preparação: quando há um comprometimento com a mudança, traduzindo-se na intenção de realizar mudanças em um futuro próximo e, algumas vezes, já na implementa-ção de pequenas mudanças (mas que, em geral, não chegam a ser duradouras). Há maior elaboração da questão enfren-tada e o aquecimento para agir na direção da mudança.
Ação: nessa etapa a pessoa toma decisões e esforça-se ativamente para colocar em prática novos comporta-mentos e atitudes. Há um esforço nesse sentido e as ações decorrentes podem ser observadas: há evidências concre-tas de que determinados objetivos estão sendo buscados e/ou alcançados.
Manutenção: ativamente, a pessoa esforça-se, ao longo do tempo, para consolidar o que alcançou, evitando retomar comportamentos anteriores. Realiza iniciativas
e estratégias com vistas à consolidação das mudanças alcançadas.
Término: quando os novos comportamentos tornam-se freqüentes e estáveis.
Esses estágios indicam diferentes níveis de prontidão de uma pessoa, para empreender e consolidar mudanças. Isso significa que, para que uma mudança comportamental ocorra, é preciso que todo esse percurso seja percorrido. Por outro lado, se um indivíduo não está pronto para avan-çar para um novo estágio, isto implica, em linhas gerais, em resistência, e resulta na pessoa estacionar na etapa em que já se encontra. Daí decorre a necessidade de se adotar estratégias específicas para cada etapa, adequando-as ao grau de prontidão de cada um.
Originalmente desenvolvido e testado para a prática clínica – nesta, vem sendo empregado como guia para tratamento de fumantes, em casos de drogadição, em aconselhamento e psicoterapias breves, entre outros – o modelo transteórico é lastreado por uma base relevante de pesquisa (Prochaska & DiClemente, 1983; Prochaska et al., 1991; Prochaska, Norcross, & DiClemente, 1994; Yoshida, 2002; Petrocelli, 2002). Os estudos empíricos têm dado força ao modelo, reforçando a validade das etapas que o compõem. De fato, observa-se que todo processo de mudança pessoal, mesmo que conduzido com sucesso pelo próprio indivíduo, fora de contex-tos terapêuticos, também transita pelas etapas descritas (Prochaska et al., 1994; Moore, 2005), o que confere a todo processo de mudança comportamental um impor-tante elemento (auto)motivacional: em todos os casos é preciso haver intenção, vontade e mobilização da própria pessoa, para que alguma mudança seja possível. Além disso, o suporte ambiental também pode ser elemento es-sencial, em diversos casos.
É importante notar que a progressão dessas etapas não é necessariamente linear, envolvendo retrocessos (Yoshida, 2002), saltos de uma etapa para outra (Prochaska et al., 1994), quebras (interrupções) e sobreposições entre elas. Ou seja, o encadeamento entre elas parece-se mais com uma espiral, do que com uma linha contínua. Além disso, em algumas dimensões (um determinado comporta-mento, por exemplo) a pessoa pode encontrar-se em uma etapa inicial (pré-contemplação) enquanto que, em outra, situa-se em estágios mais avançados (ação).
A maleabilidade do modelo tem estimulado a sua adoção em diferentes contextos, distantes do objetivo terapêutico, tais como em situações de mudança orga-nizacional (Prochaska, Prochaska, & Levesque, 2001) e como estrutura para o desenvolvimento de programas que requerem algum tipo de mudança atitudinal/comporta-mental por parte dos alunos, como em cursos que debatem

66
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 61-72
questões éticas nos negócios (Tyler & Tyler, 2006). Mais recentemente, alguns autores têm argumentando que esse modelo, se adaptado, poderia servir de referência também para a estruturação do processo de coaching (Grant, 2006; Stober et al., 2006). No entanto, esse debate é recente e encontra-se em seu estágio inicial.
Possíveis implicações do modelo parao coaching de executivos
Uma contribuição do modelo transteórico refere-se à utilização dos estágios de mudança para se pensar o próprio processo do coaching: o grau de consciência que o coachee tem de determinada questão, em cada etapa, e o nível de disposição que tem para lidar com ele, certamente impactam o processo. Quando o objetivo do coaching demanda a revi-são e mudança de comportamentos, o modelo pode ser um guia para a identificação das ações, estratégias e ferramentas mais apropriadas para cada situação, na direção de mudan-ças sustentáveis; até mesmo a postura do coach na relação com o coachee (Yoshida, 2002), pode requerer ajustes ao longo do caminho. Algo que o modelo enfatiza é que dife-rentes pessoas podem estar em diferentes estágios e, em fun-ção disso, avançarão na mudança de diferentes maneiras.
Nesse sentido é interessante notar que Thach (2002) identificou, em um estudo de caso, que a prática de feedback 360 graus aliada ao coaching pode promover melhorias de 55-60% na eficácia das lideranças de uma organização; naquele caso observou-se que os gestores que alcançaram os maiores avanços foram aqueles que buscaram ativamente, por conta própria, novos feedba-cks. Esse estudo evidencia o quanto, em uma interven-ção dessa natureza, as reações dos participantes podem ser distintas: alguns mobilizam-se e agem; outros não se comprometem da mesma maneira. Essas diferenças mui-to provavelmente têm alguma influência nos resultados alcançados; é possível, também, que os participantes en-contrem-se em diferentes patamares dos estágios de mu-dança (alguns na pré-contemplação e outros na prepara-ção, por exemplo), o que pode impactar a maneira como cada um lida com a situação de feedback e coaching. A autora não faz essa análise (por estar fora do escopo pro-posto), mas o nível de prontidão para a mudança de cada um, para lidar com os temas tratados naquele processo, pode ter sido um dos fatores relevantes para o seu des-dobramento: é possível que algumas pessoas ainda não identificassem necessidades de mudanças (aquelas no estágio de pré-contemplação), enquanto outras já eram capazes de definir e empreender ações de mudança (as que se encontravam nos estágios de preparação e ação), por exemplo.
Como ressaltam Prochaska e Prochaska (1999), a ra-zão das pessoas não mudarem não é porque elas não po-dem, não querem, ou não sabem como fazê-lo; a questão é como fornecer o suporte mais adequado, dado o nível de prontidão em que elas se encontram. Esse fato tem es-timulado, inclusive, a utilização de instrumentos que per-mitam identificar em qual estágio da mudança a pessoa está, em relação aos temas focados. Uma forma é o uso de um questionário validado para esse fim (Mcconnaughy, Prochaska, & Velicer, 1983), já traduzido e validado tam-bém no Brasil (Yoshida, 2002), sendo que esta versão não é indicada para o coaching e para o contexto organizacio-nal, uma vez que se destina à prática terapêutica. Outros autores colocam que é possível fazer este mapeamento por meio de observação, do próprio diálogo (Petrocelli, 2002), da proposição de situações e casos para análise (Tyler & Tyler, 2006): as próprias impressões e posições trazidas pelo coachee dão pistas sobre o estágio em que está e so-bre a sua prontidão, permitindo que se escolha a estratégia mais indicada para cada situação.
De fato, o modelo transteórico possibilita algumas reflexões que podem contribuir com a estruturação do processo de coaching e com a escolha de diferentes estra-tégias para cada etapa da mudança, como a seguir.
Pré-contemplação. Neste estágio o coachee não tem a percepção clara de elementos como os impactos profis-sionais de certos comportamentos, necessidades de desen-volvimento de determinadas competências e/ou a existên-cia de gaps de desempenho; o coachee também pode não compreender a relevância e impactos negativos relacio-nados a determinados comportamentos (Tyler & Tyler, 2006). Nesse caso, pode não ser percebida a necessidade de mudança, o que implica em resistências (Moore, 2005) ou em menor mobilização para o coaching, o que fragiliza (e até inviabiliza) o processo. Por outro lado, pode haver alguma mobilização, mas acompanhada de maior clareza com relação a determinadas necessidades de mudança e menor com relação a outras. Estratégias apropriadas para esse estágio devem contribuir para uma conscientização quanto a possíveis problemas e suas potenciais soluções, lidar com emoções envolvidas (receios das conseqüências ou de possíveis insucessos, por exemplo) e permitir obser-var impactos positivos das mudanças no ambiente organi-zacional (Prochaska et al., 2001).
Nesse contexto, situações de feedback tendem a ala-vancar novos pontos de vista e a evidenciar questões que antes não eram percebidas pelo coachee; o feedback con-tribui para que ele perceba melhor, por exemplo, os seus comportamentos e os impactos que têm sobre os outros (Brockbank & McGill, 2006). De fato, muitos contextos de coaching empregam processos de feedback como ponto de

67
Reis, G. G., & Nakata, L. E. (2010). Modelo Transteórico de Mudança no coaching de executivos
partida (Orenstein, 2002; Joo, 2005), inclusive envolvendo múltiplas fontes, como na avaliação 360 graus (Orenstein, 2000; Thach, 2002; Reis, 2003). Em alguns casos, o feedback pode, inclusive, promover a emergência de “dile-mas desorientadores” (Mezirow, 1991, 2008; Reis, 2007), que colocam em xeque pressupostos e levam ao questio-namento de premissas pessoais, motivando a pessoa a em-preender uma revisão de suas perspectivas.
Outra estratégia que contribui para a exploração de áreas turvas e para o desenvolvimento de um olhar mais atento sobre características pessoais e sobre a forma como se interage com o ambiente organizacional é a utilização de instrumentos de aferição de estilos profissionais, tipos psicológicos e/ou de preferências no trabalho. Vários de-les vêm sendo apresentados na literatura nas últimas dé-cadas (Mccann & Margerison, 1989; Bergamini, 1993; Casado, 1998), e a utilização de tais ferramentas pode, potencialmente, contribuir para a evolução do estágio de pré-contemplação para o de contemplação, uma vez que sensibilizam o coachee (ou candidato a coachee) para a possibilidade e importância da auto-observação e para uma investigação reflexiva de suas potencialidades e necessi-dades de desenvolvimento. Também explicitam relações existentes entre dimensões como: características pessoais, motivações, comportamentos e desempenho profissional.
Contemplação. Neste estágio, espera-se que o pro-fissional esteja mais consciente de determinadas questões e apresente abertura para novas oportunidades (Tyler & Tyler, 2006). Há uma prontidão maior para engajar-se no processo: o coachee identifica necessidades e interessa-se mais em rever comportamentos e competências profissio-nais. Cabe aí explorar objetivos pessoais, valores, focos da mudança esperada (Petrocelli, 2002) e a importância que a mudança tem para o sucesso do próprio profissional (Prochaska et al., 2001).
Potencialmente, é a partir dessa etapa que o coachee procura espontaneamente o processo, pelas razões mais variadas, como ilustra Orenstein (2000), ou é a partir dela que tira maior proveito dessa oportunidade, se ela lhe é apresentada. Aí as condições podem estar mais favoráveis para um auto-exame e observação mais cuidadosa também do ambiente no qual o executivo atua. Muito provavel-mente, estratégias como as citadas para o estágio anterior (feedback, avaliação 360 graus, análises de estilos compor-tamentais e de preferências, por exemplo), também cabem nesta etapa. No entanto, deve-se notar a disponibilidade e o comprometimento do coachee que encontra-se na fase de contemplação são bastante distintos. Neste caso tende a ocorrer um maior interesse e exploração, mesmo que nem todas as variáveis envolvidas nas questões identificas pelo coachees estejam claras.
Nesta etapa as condições são mais propícias para a introdução de práticas reflexivas (Jackson, 2004; Reis, 2007) mais elaboradas, incluindo a reflexão crítica, sobre premissas e perspectivas pessoais (Mezirow, 1990; Gray, 2006), quando for o caso. Também podem ter lugar refle-xões antes e depois das experiências profissionais e o es-tímulo à reflexão na prática (Schön, 1983; Boud, Keogh, & Walker, 1985; Boud & Walker, 1990; Boud, Cressey, & Docherty, 2006). Esse exame possibilita identificar e compreender melhor relações entre variáveis, motivos de comportamentos e os impactos destes. Nesse sentido, feedbacks com múltiplas fontes podem contribuir para uma reflexão sobre as diferentes relações que interferem na atu-ação individual e que são influenciadas por ela. Cabem aí, evidentemente, contextualizações: o contexto de carreira, dinâmica política, objetivos organizacionais, entre outras.
Nesse cenário de exploração, uma outra abordagem que pode ser bastante rica é a realização de observações no local de trabalho, pelo coach (Orenstein, 2000). Trata-se, evidentemente, de prática bastante delicada e que deve cer-car-se de cuidados; além disso, não é viável para todos. No entanto, podem produzir subsídios sólidos sobre diversos elementos que estão presentes na atuação do profissional.
Preparação. Neste estágio espera-se que o participan-te do processo, no caso o coachee, assuma um firme com-promisso com a mudança, acreditando que possa realizá-la; aqui é tomada a decisão para agir (Prochaska et al., 2001).
A partir do exame das questões que o levaram ao pro-cesso de coaching, implicações destas questões tornam-se mais evidentes; também as possíveis causas e necessidades (e benefícios potenciais) de novas ações, novos comporta-mentos e/ou do desenvolvimento de certas competências vão tornando-se mais claros. Aqui, Petrocelli (2002), ci-tando Groth-Marnat, sugere, como forma de estimular o comprometimento, a exploração de fatores a favor e con-tra a mudança. Trata-se de balancear decisões: um proces-so de dar peso aos prós e contras da mudança, identifican-do a relevância relativa de cada um (Velicer, Diclemente, Prochaska, & Brandenberg, 1985; Prochaska et al., 1994), sendo que da contemplação para a preparação os prós vão se tornando cada vez mais evidentes, dando força à eta-pa seguinte (ação). Outro recurso apontado por Petrocelli (2002), com base naqueles autores, é a análise de forças e fraquezas, que podem ajudar a identificar estratégias espe-cíficas de ação.
A partir dessas explorações, vão clareando-se os focos e, principalmente, são identificadas possíveis ações para que a mudança seja implementada. Como desdobramento, ini-ciativas individuais já vão sendo colocadas em prática nesta etapa. Assim, é o momento propício para um planejamento, para a definição de objetivos mais precisos, identificando

68
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 61-72
possíveis estratégias a serem testadas; é o momento para o desenvolvimento de um plano de ação (Grant, 2006).
Ação. O agir envolve uma dinâmica de auto-regu-lação, de forma que o coachee vai gerenciando os seus recursos pessoais e interpessoais com vistas à realização dos objetivos a que se propôs. Bandura, citado por Grant (2001), enumera alguns processos chave na mudança e auto-regulação direcionada a objetivos: auto-observação (observar a si mesmo e ao ambiente), auto-avaliação (ava-liar a si mesmo, continuamente, considerando a relação com o ambiente) e auto-reação (realizar mudanças nas ações para atingir um objetivo).
No avanço da “preparação” para a “ação”, o mo-vimento de autorregulação torna-se central. Segundo a descrição de Grant (2001), inicialmente devem ser defi-nidos os objetivos e elaborado um plano de ação que, a seguir, será implementado e monitorado, de forma que os resultados alcançados possam ser avaliados e analisa-dos sistematicamente ao longo do percurso. Dessa forma, viabilizam-se ajustes finos e, também, o realinhamento de objetivos e ações propostos inicialmente. Esse processo é cíclico: objetivos, plano e ações voltam a ser examinados continuamente, para que haja uma aproximação gradativa aos melhores resultados possíveis. O que não está dando certo é mudado; o que tem alcançado sucesso é mantido (Grant, 2001, p. 3).
Manutenção. O modelo transteórico caracteriza a manutenção como um momento bastante especial, sujeito a retrocessos e recaídas, até que seja alcançado o térmi-no do processo de mudança. O esforço individual é cha-ve nessa etapa, mas a interação deste com determinadas condições ambientais e suporte externo pode ser relevante em diversos casos, para que os comportamentos se con-solidem. Em particular, são ressaltados elementos como o gerenciamento de recompensas (intrínsecas e extrínse-cas) e a necessidade de relações de suporte (Prochaska, Prochaska, & Levesque, 2001). No caso do coaching, tais considerações enfatizam, por um lado, a necessidade de se adotar, nas organizações, mecanismos que possibili-tem o monitoramento contínuo dos avanços pelo coachee (Thach, 2002); por outro, enfatizam a importância de se alinhar e integrar os processos individuais com sistemas mais amplos de gestão de pessoas, planejamento de carrei-ra e desenvolvimento gerencial (Cacioppe, 1998; Vicere & Fulmer, 1998; Gray, 2006; Weiss & Molinaro, 2006). Assim, outros atores relevantes (gestores, mentores, pares, entre outros) podem ter importância no processo, articu-lando feedback, suporte, recursos e/ou recompensas. Essa necessidade da participação da organização, no entanto, pode representar um grande desafio para esse estágio, tal como será discutido mais adiante.
Limitações à aplicação do modelo transteórico no con-texto do coaching
Apesar das possíveis contribuições do modelo para o conhecimento e prática do coaching, há também certas limitações que podem ser enumeradas. Quanto ao próprio modelo transteórico, Bowles (2006) coloca que, apesar da sua estrutura ter sido validada, ele ainda demanda re-finamentos em sua operacionalização, desenvolvimento e nas definições que apresenta. Quanto à sua aplicação no coaching, há ainda a necessidade de se estudar o modelo dentro das condições e características específicas dessa si-tuação, na qual o objetivo não é terapêutico e há a expec-tativa de que as mudanças comportamentais tenham um desdobramento no universo profissional e organizacional do coachee. Conseqüentemente, as adaptações, sínteses e conexões teóricas propostas neste trabalho ainda deman-dam uma investigação no campo.
Alguns questionamentos podem ser levantados e eles têm significado não só para a análise do modelo transteórico, mas, também, para o coaching de forma geral. Este modelo, por si só, deixa em aberto esses pontos; são os seguintes:
Que tipos de comportamentos podem efetivamente ser mudados pelo coaching? Ainda há uma falta de evi-dências que contribuam para responder a essa questão, embora a mudança comportamental seja tema recorrente nos trabalhos sobre coaching (Joo, 2005). Talvez a propos-ta de Waldroop e Butler (1996) contribua como ponto de partida para a elucidação desse ponto: esses autores argu-mentam que o coaching tende a apresentar melhor resulta-do quando focado em comportamentos menos freqüentes e relacionados a situações específicas; já comportamentos fortemente arraigados, muito freqüentes e relacionados a características de personalidade, segundo os autores, são mais difíceis de mudar.
Em que medida é possível esperar que a organização dê o suporte necessário a etapas críticas (de ação e manu-tenção) para a mudança? Essas etapas são delicadas, por demandarem uma interação entre o esforço individual e o suporte ambiental: a mudança comportamental freqüente-mente requer a participação consistente da organização, para que se evitem recaídas. No entanto, é comum observar que o coaching de executivos ocorre totalmente focado no processo individual, desconectado de sistemas e estratégias de gestão de pessoas. De fato, há um risco grande de se res-ponsabilizar integralmente o coachee por suas mudanças, desconsiderando até mesmo forças políticas que interferem em suas ações, o que é mais típico em abordagens do tipo “de engajamento” (Brockbank & Mcgill, 2006).
Por outro lado, é preciso observar que o modelo transteórico descreve uma evolução ideal de etapas, mas

69
Reis, G. G., & Nakata, L. E. (2010). Modelo Transteórico de Mudança no coaching de executivos
estas podem apresentar nuances e dinâmicas específicas (idas e vindas, por exemplo), em cada indivíduo. Dessa forma, não é possível encará-lo como um modelo pres-critivo. Além disso, ele não descreve em detalhes todos os processos e recursos que devem ser utilizados no coaching; certamente há uma amplitude de abordagens e recursos técnicos que poderiam ser acomodados nos dife-rentes estágios de mudança.
Considerações Finais
Uma implicação importante que se desdobra do mo-delo de mudança transteórico refere-se à própria aplicabi-lidade do coaching no contexto organizacional: do ponto de vista desse modelo, pode ser que nem todos estejam prontos para o coaching (no caso, por exemplo, de pes-soas que estão na fase de pré-contemplação); ou, melhor, que nem todos estejam preparados do mesmo modo para o coaching, dados os diferentes níveis de prontidão que po-dem ser encontrados.
É provável que esse aspecto explique, por exemplo, os resultados encontrados por Thach (2002), que estudou a evolução dos participantes de um processo de feedback e coaching realizado por uma empresa, em um programa de desenvolvimento de lideranças. Com base naquele traba-lho, nota-se que podem haver diferenças nas reações dos participantes de um processo dessa natureza. Na ocasião, algumas pessoas evidenciaram mudanças comportamen-tais pronunciadas, enquanto outras não responderam da mesma maneira. É possível que o estágio no qual cada um dos participantes se encontrava (pré-contemplação, con-templação, preparação etc.), com relação às questões de liderança abordadas, tenha influenciado os resultados do processo implementado por aquela empresa.
Do modelo desdobra-se a constatação de que não faz sentido tratar os participantes de processos dessa nature-za como se todos estivessem, por exemplo, nos estágios de preparação ou ação, partindo logo para a confecção de planos de ação. Resta saber em que medida essa dinâmica é considerada (e gerenciada) nas iniciativas de coaching que estão ocorrendo nas empresas, uma vez que ela pode influenciar os resultados alcançados com esses processos. Por ora, o que se observa é que a literatura não tem dado ênfase a esse tipo de diferenciação. Talvez esteja, aí, um tema interessante para futuras investigações.
No contexto desta análise teórica, o modelo em ques-tão parece trazer contribuições interessantes, especial-mente no que tange à identificação de níveis de prontidão – de forma a situar os coachees em diferentes estágios da mudança – e no sentido de orientar estratégias mais adequadas a cada etapa. Alguns exemplos e possibilida-des foram propostos aqui, mas ainda há a necessidade de estudos específicos.
Outra constatação propiciada pelo modelo refere-se à necessidade de se estruturar iniciativas de coaching de executivos de maneira a vinculá-las a práticas mais am-plas de gestão de pessoas. A partir de determinado ponto, algumas mudanças almejadas somente se cristalizam se encontram o ambiente mais adequado e o suporte neces-sário. Nesse sentido, as expectativas quanto a resultados proximais e distais do coaching deveriam levar em conta também essa variável.
Por outro lado, a adequação e validação dos instru-mentos de aferição do grau de prontidão – questionários de estágios de mudança – para a situação do coaching, pode ser de interesse para trabalhos futuros; tais ins-trumentos poderiam contribuir não só com pesquisas, mas também com a atuação de praticantes (permitindo adequar estratégias de ação a cada etapa) e, também, com as próprias organizações, possibilitando o geren-ciamento de iniciativas de coaching em função dos di-ferentes estágios de mudança presentes entre os coa-chees. Tais instrumentos também permitiriam observar a evolução dos participantes e analisar estatisticamente a distribuição dos coachees em torno das diferentes eta-pas da mudança, viabilizando práticas organizacionais de desenvolvimento de pessoas mais focadas ao perfil de cada grupo.
A maleabilidade do modelo transteórico, que permite a sua acomodação mesmo a abordagens distintas, parece ser um ponto positivo; no entanto, o risco de estimular um ecletismo simplista e superficial – que costure perspecti-vas conceitualmente incompatíveis, dando forma a uma colcha de retalhos – deve ser observado. Porém, seria inte-ressante aprofundar a análise das possíveis contribuições do modelo para outras práticas organizacionais que, assim como o coaching, podem requerer algum tipo de mudança comportamental, tal como nos casos de programas de de-senvolvimento de lideranças e de processos de mudança organizacional.
Referências
Ascama, M. J. (2004). Atuação do psicólogo e de outros profissionais no coaching em organizações de trabalho. Dissertação de mestrado não publicada, Programa de pós-graduação em psicologia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC.

70
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 61-72
Bartlett, J. (2006). Advances in coaching practices: A humanistic approach to coach and client roles. Journal of Business Research, 60, 91-93.
Bergamini, C. (1993). Motivação. São Paulo: Atlas.Bluckert, P. (2005). The foundations of a psychological approach to executive coaching. Industrial and Commercial
Training, 37, 171-178.Boud, D., Keogh, R., & Walker, D. (Eds.). (1985). Reflection: Turning experience into learning. London: Kogan Page.Boud, D., & Walker, D. (1990). Making the most of experience. Studies in Continuing Education, 12, 61-80.Boud, D., Cressey, P., & Docherty, P. (Orgs.). (2006). Productive reflection at work: Learning for changing organisations.
London: Routledge.Bowles, T. (2006). The adaptive change model: An advance on the transtheoretical model of change. The Journal of
Psychology, 140, 439-457.Boyatzis, R. E., Smith, M. L., & Blaize, N. (2006). Developing sustainable leaders through coaching and Compassion.
Academy of Management Learning and Education, 5, 8-24.Brockbank, A., & Mcgill, I. (2006). Facilitating reflective learning through mentoring and coaching. Philadelphia: Kogan
Page Limited.Brunner, R. (1998). Psychoanalysis and coaching. Journal of Managerial Psychology, 13, 515-517.Burrell, G., & Morgan, G. (1979). Sociological paradigms and organisational analysis: Elements of the sociology of
corporate life. London: Heinemann.Cacioppe, R. (1998). An integrated model and approach for the design of effective leadership development programs.
Leadership and Organization Development Journal, 19, 44-53.Casado, T. (1998). Tipos psicológicos: Uma proposta de instrumento para diagnóstico do potencial humano nas
organizações. Tese de Doutorado não-publicada, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Corporate Therapy. (2003). Economist, 369(8350), 61-61.Crofts, P. (2007). Coach and course. People Management, 13(1), 54.Diedrich, R. (1996). An interactive approach to executive coaching. Consulting Psychology Journal: Practice and
Research, 48, 61-66.Feldman, D., & Lankau, M. (2005). Executive coaching: A review and agenda for future research. Journal of Management,
31, 829-848.Flaherty, J. (1999). Coaching: Evoking excellence in others. Woburn, MA: Butterworth-Heinemann.Grant, A. (2001). Coaching for enhanced performance: Comparing cognitive and behavioral approaches to coaching.
International Spearman Seminar: Extending Intelligence: Enhancement and New Constructs, 3 (p. 1-22). Recuperado em 10 maio 2007, de http://www.psych.usyd.edu.au/coach/CBT_BT_CT_Spearman_Conf_Paper.pdf
Grant, A. (2006). An integrative goal focused approach to executive coaching. In D. Stober & A. Grant (Orgs.), Evidence based coaching handbook: Putting best practices to work for your clients (pp. 153-192). Hoboken: John Wiley & Sons.
Grant, A., & Cavanagh, M. (2004). Toward a profession of coaching: Sixty-five years of progress and challenges for the future. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 2, 1-16. Recuperado em 16 julho 2007, de http://www.business.brookes.ac.uk/research/areas/coaching& mentoring/volume/vol-2-1-grant-and-cavanagh.pdf
Gray, D. (2006). Executive coaching: Towards a dynamic affiance of psychotherapy and transformative learning processes. Management Learning, 37, 475-497.
Jackson, P. (2004). Understanding the experience of experience: A practical model of reflective practice for Coaching. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 2, 57-67. Recuperado em 10 abril 2007, de http://www.brookes.ac.uk/schools/education/ijebcm/vol2-no1-a-jackson.html
Johnson, L. K. (2007). Getting more from executive coaching. Harvard Management Update, 12(1), 3-6.Jones, R., Rafferty, A., & Griffin, M. (2006). The executive coaching trend: Towards more flexible executives. Leadership
& Organization Development Journal, 27, 584-596. Joo, B. (2005). Executive coaching: A conceptual framework from an integrative review of practice and reserarch. Human
Resource Development Review, 4, 462-488.Kampa-Kokesch, S., & Anderson, M. (2001). Executive coaching: A comprehensive review of the literature. Consulting
Psychology Journal: Practice and Research, 53, 205-228.

71
Reis, G. G., & Nakata, L. E. (2010). Modelo Transteórico de Mudança no coaching de executivos
Kilburg, R. (1996). Towards a conceptual understanding and definition of executive coaching. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 48, 134-144.
Lyons, L. (2000). Coaching at the heart of strategy. In M. Goldsmith, L. Lyons, & A. Freas (Eds.), Coaching for leadership (pp. 3-20). San Francisco, CA: Jossey-Bass/Pfeiffer.
Mccann, D., & Margerison, C. (1989). Managing high performance teams. Training & Development Journal, 43, 52-60.Mcconnaughy, E., Prochaska, J., & Velicer, W. F. (1983). Stages of change in psychotherapy: Measurement and samples
profiles. Psychotherapy, 20, 368-375.Mezirow, J. (1990). How critical reflection triggers transformative learning. In J. Mezirow (Ed.), Fostering critical
refletion in adulthood: A guide to transfromative and emancipatory learning. San Francisco, CA: Jossey-Bass.Mezirow, J. (1991). Transformative dimensions of adult learning. San Francisco, CA: Jossey-Bass.Mezirow, J. (2000). Learning as transformation: Critical perspectives on a theory in progress. San Francisco, CA: Jossey-Bass.Moore, M. (2005). The transtheoretical model of the stages of change and the phases of transformative learning. Journal
of Transformative Education, 3, 394-415.Neenan, M., & Dryden, W. (2002). Life Coaching: A cognitive-behavioural approach. New York: Taylor & Francis.Orenstein, R. (2000). Executive coaching: An integrative model. Tese de Doutorado não-publicada, Faculty of The
Graduate School of Applied Professional Psychology of Rutgers The State University of New Jersey, New Jersey.Orenstein, R. (2002). Executive coaching: It’s not just about the executive. Journal of Applied Behavioral Science, 38,
355-374.Parker, P., Hall, D. T., & Kram, K. E. (2008). Peer coaching: A relational process for accelerating career learning. Academy
of Management Learning and Education, 7, 487-503.Peltier, B. (2001). The psychology of executive coaching: Theory and application. Ann Arbor, MI: Sheridan Books.Petrocelli, J. (2002). Processes and stages of change: Counseling with the transtheoretical model of change. Journal of
Counseling and Development, 80, 22-30.Prochaska, J., & Diclemente, C. (1983). Stages and processes of self-change of smoking: Toward an integrative model of
change. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51, 390-395.Prochaska, J., & Prochaska, J. M. (1999). Why don’t continents move? Why don’t people change? Journal of Psychotherapy
Integration, 9, 83-102.Prochaska, J., Prochaska, J., & Levesque, D. (2001). A transtheoretical approach to changing organizations. Administration
and Policy in Mental Health, 28(4), 247-261. Prochaska, J., Norcross, J., & DiClemente, C. (1994). Changing for good: A revolutionary six-stage program for
overcoming bad habits and moving your life positively forward. New York: Avon.Prochaska, J., Velicer, W., Guadagnoli, E., Rossi, J., & DiClemente, C. (1991). Patterns of change: dynamic typology
applied to smoking cessation. Multivariate Behavioral Research, 26, 83-107.Prochaska, J., Velicer, W., Rossi, J., Goldstein, M. G., Marcus, B., Rakowski, W., Fiore, C., Harlow, L., Redding, C., Rosenbloom,
D., & Rossi, S. R. (1994). Stages of change and decisional balance for 12 problem behaviors. Health Psychology, 13, 39-46.Reis, G. (2003). Avaliação 360 graus: Um instrumento de desenvolvimento gerencial. São Paulo: Atlas.Reis, G. (2007). Da experiência ao aprendizado: A prática reflexiva como recurso no processo de coaching de executivos.
Anais do Encontro Nacional da Associção Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, 31.Schön, D. (1983). The reflecting practitioner. London: Temple Smith.Sherman, S., & Freas, A. (2004). The Wild West of executive coaching. Harvard Business Review, 82(11), 82-90.Skiffington, S., & Zeus, P. (2003). Behavioral coaching. Sydney: McGraw-Hill.Stober, D., Wildflower, L., & Drake, D. (2006). Evidence-based practice: a potential approach for effective coaching.
International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 4(1), 1-8. Recuperado em 12 março 2007, de http://www.brookes.ac.uk/schools/education/ijebcm/vol4-1-a-stober.html
Thach, E. (2002). The impact of executive coach and 360 feedback on leadership effectiveness. Leadership and Organizational Development Journal, 23, 205-214.
Thach, L., & Heinselman, T. (1999). Executive coaching defined. Training and Development Journal, 53, 34-39.Tyler, C., & Tyler, M. (2006). Applying the transtheoretical model of change to the sequencing of ethics instruction in
business education. Journal of Management Education, 30, 45-64.Velicer, W., Diclemente, C., Prochaska, J., & Brandenberg, N. (1985). A decisional balance measure for assessing and
predicting smoking status. Journal of Personality and Social Psychology, 48, 1279-1289.

72
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 61-72
Vicere, A., & Fulmer, R. (1998). Leadership by design. Boston, MA: Harvard Business School Press.Waldroop, J., & Butler, T. (1996). The executive as coach. Harvard Business Review, 74, 111-117.Weiss, D., & Molinaro, V. (2006). Integrated leadership development. Industrial and Commercial Training, 38, 3-11.Whitmore, J. (1996). Coaching for performance. London: Nicholas Brealey.Yoshida, E. (2002). Escala de estágios de mudança: Uso clínico e em pesquisa. Psico-USF , 7, 59-66.Yu, L. (2007). The benefits of a coaching culture. MIT Sloan Management Review, 48(2), 6-6.
Recebido: 9/03/20091ª Revisão: 07/01/2010
Aceite final: 08/02/2010
Sobre os autoresGermano Glufke Reis é psicólogo, professor da Fundação Getúlio Vargas/Escola de Administração de Empresas
de São Paulo (FGV/EAESP) e das Faculdades de Campinas (Facamp) e doutorando em Administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP).
Lina Nakata é professora da Escola Superior de Administração e Gestão (ESAGS). É graduada, mestre e doutoranda em administração de empresas pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP).

73Disponível em http://pepsic.bvs-psi.org.br/rbop
Revista Brasileira de Orientação Profissionaljan.-jun. 2010, Vol. 11, No. 1, 73-82
Os estudantes maiores de 23 anosno Ensino Superior português:
Estudo crítico e revisão documental
Rita Santos SilvaInês Nascimento1
Universidade do Porto, Porto, Portugal
1 Endereço para correspondência: Universidade do Porto. Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. Rua Dr. Manuel Pereira da Silva, 4200-392, Porto, Portugal. Fone: 226061897. E-mail: [email protected]
ResumoNum mundo cada vez mais exigente face às práticas educativas e à valorização curricular no mercado de trabalho, torna-se pertinente a reflexão acerca da necessidade crescente demonstrada pela população adulta em actualizar os seus conhecimentos e ver formalmente reconhecidas as competências adquiridas ao longo da sua vida. A presente exposição escrita assenta num trabalho de revisão crítica da literatura com o objectivo geral de explorar o tema do acesso dos adultos maiores de 23 anos (M23) ao Ensino Superior (ES) no contexto educativo português. Desta forma, pretende-se alcançar uma melhor compreensão do conceito de aprendizagem ao longo da vida e as teorias do desenvolvimento a ele associadas, explorando os modelos de formação/educação de adultos e as implicações deste recente regime de ingresso a nível europeu e nacional. Adoptou-se uma postura activa de questionamento relativamente às opiniões divergentes acerca do tema, assumindo um posicionamento crítico face a este regime especial de acesso.Palavras-chave: estudantes, adultos, ensino superior, aprendizagem, educação de adultos
Abstract: The students oldest than 23 years in Portuguese Higher Education: Critical study and documentary review
In an ever more demanding world in which concerns educational practices and curriculum value in the labor market, it is important to reflect on the growing need demonstrated by the adult population to update their knowledge and be formally recognized for the skills acquired throughout their life. This written exhibition is based on a literature review study with the primary goal of exploring the issue of access of adults aged over 23 (M23) into Higher Education (ES) in the Portuguese educational context. Thus, we intend to achieve a better understanding of the concept of lifelong learning and development theories associated with it, exploring models of adults’ training / education and the implications of this latest regime of access at European and national level. Adopting an active questioning about differing opinions on the subject, we assume a critical attitude to this special access regime.Keywords: students, adults, higher education, learning, adult education
Resumen: Estudiantes mayores de 23 años en la Enseñanza Superior portuguesa: Una revisión crítica de la bibliografía
En un mundo cada vez más exigente ante las prácticas educativas y la valorización curricular en el mercado de trabajo se vuelve pertinente la reflexión acerca de la necesidad creciente demostrada por la población adulta de actualizar sus conocimientos y ver formalmente reconocidas las competencias adquiridas a lo largo de su vida. La presente exposición escrita se basa en un trabajo de revisión crítica de la bibliografía con el objeto general de explorar el tema del acceso de los adultos mayores de 23 años (M23) a la Enseñanza Superior (ES) en el contexto educativo portugués. Con esto se pretende alcanzar una mejor comprensión del concepto de aprendizaje a lo largo de la vida y las teorías del desarrollo a él asociadas, explorando los modelos de formación/educación de adultos, así como las implicancias de este reciente régimen de ingreso a escala europea y nacional. Se adoptó una postura activa de cuestionamiento con relación a las opiniones divergentes acerca del tema asumiendo una posición crítica ante este régimen especial de acceso.Palabras clave: estudiantes adultos, enseñanza superior, aprendizaje a lo largo de la vida, formación de adultos
Artigo

74
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 73-82
Mesmo tendo em conta os avanços assinalados nas duas últimas décadas em Portugal, em que se tem vindo a assistir a uma subida efectiva e continuada das taxas de frequência dos vários graus de ensino e, consequentemente a uma elevação dos níveis médios de escolaridade da po-pulação, tanto devido à massificação do acesso ao ensino como ao grande número de programas de formação pro-fissional disponíveis (Machado & Costa, 1998), quando comparado com a generalidade dos países da EU, Portugal apresenta ainda um relativo atraso. Contrariamente ao que acontece a nível nacional, o padrão de escolaridade formal média da população dos parceiros comunitários é a conclu-são do ensino secundário, que geralmente corresponde à escolaridade obrigatória (Coimbra, Parada, & Imaginário, 2001). A tendência que mais frequentemente se observa a nível nacional é a que corresponde ao abandono escolar sem qualquer qualificação formal, isto é, antes da conclu-são da educação básica.
Este fenómeno assume proporções bastante signifi-cativas no que respeita ao aumento do número de efecti-vos colocados no mercado de trabalho com baixos níveis de escolarização apesar da preponderância que os activos mais qualificados começam a assumir (Machado & Costa, 1998). A consequência mais imediata e preocupante que se observa a este nível é, segundo os mesmos autores, o adiamento da entrada no mundo do trabalho e na vida activa. De resto, espera-se que a continuada expansão do sector terciário venha a potenciar o aumento da formação dos cidadãos, uma vez que, nas economias modernas, “é sobretudo por intermédio das actividades de prestação de serviços que o conhecimento e a informação se difundem” (Coimbra et al., 2001, p. 21).
A par de todo o processo de transformação e com-plexificação dos sistemas económico e tecnológico, as-siste-se igualmente a uma transformação das exigências que são colocadas aos trabalhadores. No entanto, há que salvaguardar que as novas tecnologias de informação e comunicação deverão ser encaradas como “formas de (re)distribuição do trabalho (e dos empregos) que rendi-bilizem as inovações tecnológicas incessantes, mas não descredibilizem, e no limite tornem inúteis, os seres hu-manos (a não ser como consumidores, porém precários)”, como salienta Imaginário (2007, p. 18). A inovação e a necessidade da existência de uma estrutura organizacio-nal flexível, assente em recursos humanos especializados e polivalentes, que representam elementos fundamentais no processo de integração e permanência no mercado económico global (Kovács, 1988, 1991) traz assim a ne-cessidade de uma adequação rápida e inevitável por parte das pessoas a novas situações, no sentido de serem res-ponsivas ante os desafios que o mundo do trabalho lhes
coloca. Justifica-se, assim, plenamente a questão: Será a decisão de entrada para o ES encarada como uma segunda oportunidade ou um novo desafio? Partindo desta mesma questão, Burkett (1968) analisou o ingresso dos adultos no ES e concluiu que, ao chegarem a um impasse no seu percurso profissional, as pessoas frequentemente se ques-tionam se deveriam ter completado ou se devem comple-tar a sua formação académica.
Com efeito, a actualização e a reconversão das com-petências e conhecimentos adquiridos anteriormente tornam-se essenciais, quando apoiadas num processo de aprendizagem ao longo da vida, que poderá representar uma oportunidade de desenvolvimento e realização pes-soal (Comissão Europeia, 1995; Martins, 1999; Tessaring, 1998). Num mundo caracterizado pela mudança contínua e acelerada, a reconversão profissional permanente torna-se um imperativo, lançando como desafio às políticas edu-cativas o assegurar do acesso permanente à formação a todas as pessoas (Cresson, 1996).
Tendo em conta o panorama sócio-cultural e econó-mico vigente, esta realidade de adiamento que se verifica quanto à decisão de entrada para o Ensino Superior (ES) e progressão nos estudos, bem como o maior investimento que se começa a verificar por parte da população adulta e trabalhadora activa na sua formação académica, represen-ta um pertinente foco de estudo, que se materializa com o desejo de acesso dos adultos com poucas habilitações académicas ao ES. A estas realidades emergentes que se verificam tanto na sociedade europeia como nacional as-socia-se a crescente preocupação com as habilitações aca-démicas relacionada com o exercício da actividade pro-fissional e consequente progressão na carreira, bem como a possibilidade de reconhecimento de valor e prestígio por parte da entidade empregadora. O ES poderá, desta forma e aos olhos do adulto, representar um dos meios mais eficazes na persecução destes e outros objectivos. O acesso para maiores de 23 anos, que é o regime de acesso actualmente em vigor em Portugal que permite o ingresso de adultos com poucas habilitações no ES revela-se, desta forma e por estas e muitas outras razões, uma temática de estudo de elevado interesse e actualidade.
A presente recensão assenta num trabalho de re-colha bibliográfica com o objectivo geral de explorar o tema do acesso dos adultos maiores de 23 anos (M23) ao Ensino Superior (ES), sendo dada atenção ao conceito de aprendizagem ao longo da vida e a algumas das teorias da aprendizagem na idade adulta ao mesmo tempo que se procurará especificar algumas das dimensões mais salien-tes que, de acordo com a literatura, tipificam o estudante M23 comparativamente ao estudante que ingressa no ES através do concurso geral de acesso.

75
Silva, R. S., & Nascimento, I. (2010). Estudantes maiores de 23 anos no Ensino Superior português
Processo de recolha de dados
A área de pesquisa foi primeiramente circunscrita ao campo específico de investigação – acesso dos alunos maiores de 23 anos ao ES, por forma a tomar contacto com o que já existe na literatura. No sentido de obter uma maior informação acerca deste regime de acesso, consultou-se a legislação portuguesa, recorrendo aos decretos-lei publica-dos no Diário da República Portuguesa para melhor com-preender o processo de ingresso destes estudantes no ES. Após esta recolha de informação, procedeu-se à pesquisa de bibliografia que revelasse estudos já realizados neste âmbi-to mas constatou-se que, pelo facto de este ser um regime de acesso bastante recente em Portugal (na Universidade do Porto vigora há cerca de 2 anos), esta tarefa revelou-se bastante árdua, tendo-se apenas encontrado dois estu-dos portugueses, após contacto com os próprios autores: Curado e Soares (2008) e Pires (2008). Neste sentido, e por se reconhecer que o ingresso da população adulta não é algo inédito no panorama educativo mundial, optou-se por alargar o âmbito da investigação bibliográfica, contem-plando temáticas como a educação e formação ao longo da vida, a formação de adultos e o ingresso de adultos no ES. Para tal procedeu-se a uma pesquisa exaustiva na base de dados ESBCOhost, contemplando a pesquisa todas as publicações existentes (artigos de periódicos científicos, li-vros, working papers e artigos em congressos), não existin-do qualquer delimitação quanto ao ano de publicação, por se considerar que uma visão mais abrangente e alargada no tempo seria mais enriquecedora da própria evolução do fenómeno. A pesquisa incidiu em expressões como “adults’ education”, “long-life learning”, “adults in higher educa-tion”, “adults in college”, “adult students” e outras expres-sões, resultantes da combinação das anteriores.
Após leitura e análise de toda a bibliografia recolhida, sentiu-se necessidade de complementar algumas ideias com estudos portugueses acerca da valorização das aprendiza-gens e da importância da educação ao longo da vida, bem como da certificação e validação de competências. De igual forma, para definir e justificar solidamente o racional teó-rico deste estudo recorreu-se igualmente à pesquisa biblio-gráfica de teorias da aprendizagem, nomeadamente as mais adaptadas e estudadas para a população adulta. Esta etapa foi marcada pela pesquisa bibliográfica existente nas insta-lações da biblioteca da FPCEUP, recorrendo ao seu catálo-go disponibilizado online e consultando as obras in loco.
Aprendizagem ao longo da vida
De acordo com Azevedo (1999), poder-se-á defi-nir aprendizagem ao longo da vida como “o campo de
possibilidades de desenvolvimento pessoal e de enrique-cimento da bagagem cultural” (p. 60), através de novas aprendizagens que irão motivar o indivíduo para a aquisi-ção de novas competências.
Desenvolve-se em contextos formais e informais e engloba pessoas de ambos os sexos, de todas as faixas etá-rias e pertencentes a diferentes níveis sócio-económicos. Constitui, actualmente, uma necessidade permanente, não apenas associada ao período pré-profissional da vida, mas que corresponde à exigência de construir respostas ade-quadas em termos de desenvolvimento pessoal face aos desafios que a vida profissional vai colocando.
Torna-se pertinente começar por contextualizar a emergência deste novo conceito de aprendizagem ao longo da vida, uma vez que tal ajuda a justificar a sua preponde-rância nas agendas políticas dos governos dos países de-senvolvidos. Azevedo (1999) apresenta cinco factores as-sociados a esta emergência. Em primeiro lugar, salienta-se a necessidade, cada vez mais exacerbada, de actualização, aperfeiçoamento e mesmo de reconversão profissional ao longo da vida, colocando o indivíduo num continuum de formação, desde que termina o seu percurso académico até ao período da reforma, sendo que muitas vezes nem nesta altura o plano de aprendizagem é interrompido. Com a di-minuição do tempo dedicado ao trabalho devido ao aumen-to da escolaridade e com a entrada cada vez mais tardia no mundo do trabalho, o trabalho deixa, então, de ser a prin-cipal referência e surge a necessidade de investimento em novas formas de ocupação do tempo que passarão pela edu-cação e aprendizagem. Em segundo lugar, assiste-se a uma descentralização da responsabilidade pela promoção da formação, da esfera governamental para o mercado e para o próprio indivíduo, que assumem agora um novo papel de iniciativa no que diz respeito à educação e formação. Em terceiro lugar, denota-se nos dias de hoje uma falta de cor-respondência entre a educação, a formação inicial e o em-prego e, segundo Imaginário (2007), o ensino para além de ser genericamente tido como desinteressante e pouco moti-vador é também encarado como não compensador, sobretu-do em termos de emprego congruente com as habilitações tão árduas de alcançar, em termos de níveis de qualificação, de área ocupacional, de sector de actividade, de remunera-ção e de condições de trabalho. Desta forma, as políticas de aprendizagem ao longo da vida surgem como um fenó-meno que tenta fazer face a este desajustamento estrutural, criando uma nova oportunidade de potenciar e rentabilizar os investimentos na formação inicial e contínua. Em quarto lugar, figura a crescente valorização atribuída ao conheci-mento pelos agentes económicos, que vêem a formação ao longo da vida como uma inevitabilidade com vista à obtenção de maior motivação e desempenho profissional

76
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 73-82
dos trabalhadores, associados a uma maior produtividade, embora a esse respeito ainda persista alguma dualidade na atitude dos empregadores. Por último, salientam-se os su-cessos e as debilidades do sistema educativo actual, par-ticularmente no que respeita à educação básica. Embora se assista a uma melhoria das condições de ensino, não se podem esquecer as fragilidades que se verificam no acesso à educação pré-escolar, nos abandonos prematuros da esco-la no período escolar básico e sem qualificação escolar ou profissional de base com as consequentes dificuldades de inserção sócio-profissional que daí resultam num mercado cada vez mais competitivo e instável.
“O conceito de experiência aparece estritamente arti-culado com os conceitos de aprendizagem experiencial e de educação/formação informal, que ocorre numa multipli-cidade de contextos – formais, não-formais e informais – ao longo das trajectórias de vida dos sujeitos” (Pires, 2007, p. 2). Qual será então o papel da experiência no processo de aprendizagem ao longo da vida? Várias perspectivas acerca do papel da experiência têm sido propostas, nomea-damente a de Mayen e Mayeux (2003), que salientam a ex-periência, simultaneamente, como ponto de convergência e divergência nas problemáticas educativas, e a de Aubret e Gilbert (2003), que defendem o conceito de experiência de acordo com o modelo tradicional da formação inicial.
No que respeita ao tema da revalorização de compe-tências, Imaginário (2007) defende que “durante a maior parte do tempo, a esmagadora maioria dos homens não foi ensinada na escola, sobreviveu e… até construiu cate-drais!” (p. 7), reforçando a ideia de que os conhecimentos adquiridos nas experiências do quotidiano e que ninguém formalmente nos ensinou, devem ser revalorizados.
Como compreender então a valorização da experiên-cia dos adultos no âmbito do ES? Pires (2007) coloca al-gumas perguntas de investigação pertinentes, relacionadas com aspectos político-legislativos, institucionais/organi-zacionais e pedagógicos/educativos, às quais responde com mais perguntas, embora defenda que o contributo do ES deverá situar-se principalmente ao nível prospectivo, “promovendo as transformações necessárias, não se po-dendo reduzir a meras respostas remediativas face às mu-danças sociais em curso” (Pires, 2007, p. 13)
Porque se torna então pertinente recorrer às teorias da aprendizagem ao longo da vida para estudar o fenómeno do ingresso de estudantes adultos no ES, após o consi-derado momento regular para a aprendizagem académi-ca? Tanto as teorias actuais como a investigação que tem vindo a ser desenvolvida com amostras de estudantes uni-versitários continuam a privilegiar no estudo desta popu-lação os modelos teóricos do desenvolvimento de jovens adultos, pelo que os quadros teóricos dominantes não têm
em consideração a maturação complexa e as experiências baseadas nas identidades moldadas pela vida e pelo mun-do dos estudantes universitários adultos (Kasworm, 2003; Kasworm, Polson, & Fishback, 2002).
É óbvio que qualquer abordagem teórica acerca da aprendizagem do adulto surge, forçosamente, associada a modelos de desenvolvimento humano que descrevem o padrão de desenvolvimento na fase adulta, de que são exemplos a teoria de Erikson (1959) e a de Levinson (1986). Segundo Kegan (2000), o que distingue estas te-orias (construtivistas e desenvolvimentistas) de outras é o seu enfoque na evolução das formas de construir signifi-cado e na crescente tomada de consciência por parte dos adultos que são construtores de conhecimento e capazes de resolver problemas. Partilham, no entanto, com outras propostas teóricas, nomeadamente de cariz evolutivo, a crença na progressão dos indivíduos para níveis cada vez mais complexos de entendimento do self e do mundo. No seu conjunto, os diversos quadros teóricos levam a consi-derar não só os estádios ordenados de desenvolvimento in-telectual, epistemológico e moral, que os adultos exibem ao longo da sua existência, mas também a interacção com-plexa, e por vezes até caótica, entre o seu desenvolvimen-to enquanto estudantes e os seus papéis e acontecimentos significativos nas suas vidas (Ross-Gordon, 2003).
Neste contexto, Ross-Gordon (2003) sistematiza os contributos de três abordagens que permitem entender a aprendizagem no contexto específico da idade adulta. Uma dessas abordagens é a da Andragogia. Descrita como a arte e ciência de ajudar os adultos a aprender (Knowles, 1984), o processo de aprendizagem andragógico consiste em pro-curar estabelecer um ambiente físico e psicológico ajustado que permita a aprendizagem (respeito mútuo, colaboração, apoio, abertura e diversão) e que envolva os adultos apren-dentes no planeamento do próprio processo de aprendiza-gem. O contrato de aprendizagem é visto como uma ferra-menta para auxiliar os adultos a exercitar a sua capacidade para estabelecer objectivos pessoais, recursos, processos de implementação e formas de avaliar a sua aprendizagem.
Knowles (1984) propõem um conjunto de cinco pressupostos acerca da aprendizagem na idade adulta, que contrastam com o quadro teórico da pedagogia: (a) consi-derar o conceito de aprendente; (b) considerar o papel da experiência do aprendente; (c) considerar o grau de prepa-ração para a aprendizagem; (d) orientação para aprender; (e) considerar a motivação para aprender [clarificando os conceitos, segundo Imaginário (2007), aprendente é um “conceito que vale para todos quantos se encontram em situação de aprendizagem intencional” (p. 11) e a desig-nação de professor “vale para todos quantos ensinam, for-mam, promovem aprendizagens” (p. 11)].

77
Silva, R. S., & Nascimento, I. (2010). Estudantes maiores de 23 anos no Ensino Superior português
Constituindo, inicialmente, uma das assumpções da andragogia, a aprendizagem auto-direccionada, a segun-da das abordagens, assenta numa evolução para um corpo teórico e de investigação distinto, defendendo o auto-di-reccionamento como uma característica pessoal do apren-dente, embora se venha actualmente a perspectivar esta característica como uma variável situacional, mais do que um atributo pessoal. A investigação no domínio educacio-nal sugere que embora os adultos pretendam alguma auto-nomia no que diz respeito ao seu processo de aprendiza-gem, é de esperar alguma diversidade entre os aprendentes e nas várias situações com que estes se deparam, devendo as instituições e o pessoal responsável por este processo ajustar as expectativas e o nível de apoio.
Finalmente, é apresentada a teoria da aprendizagem transformativa proposta por Mezirow (2000), e que repre-senta uma alternativa às duas teorias anteriores. Assenta na ideia de que a aprendizagem se refere a um processo de transformação dos quadros de referência que os indiví-duos sempre tomaram como certos, de forma a torná-los mais inclusivos, discriminativos abertos, emocionalmente capazes de mudança e reflexivos, para que possam gerar crenças e opiniões que se provem mais verdadeiras e jus-tificadas enquanto guias da acção. Kegan (2000) contras-ta a aprendizagem transformativa (mudanças na forma de saber) com a aprendizagem informativa (mudanças no conteúdo conhecido), tendo em conta que todas as pesso-as experimentam mudanças potencialmente importantes que não conduzem necessariamente à alteração dos seus quadros de referência.
A decisão de voltar a estudar, por exemplo, pode estar relacionada com a aprendizagem transformativa de diversas formas: (a) pode representar a fase do culminar da acção descrita como um dos passos da aprendizagem transformativa (Mezirow, 2000); (b) pode reflectir a ne-cessidade das pessoas, de forma consciente ou inconscien-te, procurarem algo que está a faltar na sua vida (Clark, 1993); (c) pode ainda funcionar como estímulo primário para a aprendizagem transformativa.
Os alunos adultos no Ensino Superior
Pollard, Bates, Hunt e Bellis (2008) propõem na sua recente obra “University is Not Just for Young People” um modelo que contempla seis passos para encorajar a par-ticipação dos adultos trabalhadores no ES. Segundo estes autores, a investigação tem demonstrado áreas através das quais se pode encorajar e/ou apoiar a participação de adul-tos trabalhadores no ES: (a) promover o ES como uma op-ção desde os primeiros anos do ensino escolar, para que os indivíduos ingressem de uma forma mais empenhada por
essa via; (b) promover o valor do ES particularmente em termos de desenvolvimento profissional, o que pode incluir a promoção de aspectos relacionados com as competências e conhecimentos adquiridos durante a formação de base e o acesso a empregos de nível superior; (c) fornecer informa-ções claras sobre a diversidade de formas às quais os adultos podem recorrer para ingressar no ES e sobre os custos e os apoios financeiros disponíveis para os mesmos; (d) encon-trar a melhor oferta de ES; (e) disponibilizar apoio financei-ro adaptado que tenha em conta as formas mais propensas à participação dos adultos. Por exemplo, a 2ª. Alteração pela Secção Permanente do Senado do Regulamento de propi-nas dos cursos de Licenciatura e de Mestrado Integrado da Universidade do Porto (Universidade do Porto, 2008) contempla num dos seus artigos (9.°) uma facilidade aos trabalhadores-estudantes que comprovem, no acto de ins-crição, a necessidade inadiável de interromper os estudos por motivos profissionais. Estes estudantes poderão “re-querer a manutenção da matrícula durante um ano sem ins-crição em qualquer unidade curricular” (p. 3); (f) continuar a incentivar os empregadores a apoiarem os seus trabalha-dores nas suas tentativas de acesso ao ES, já que parecem ainda relutantes em investir no desenvolvimento das com-petências dos seus trabalhadores para níveis mais elevados, embora pretendam uma mão-de-obra cada vez mais quali-ficada; este fenómeno poderia assumir um impacto positi-vo nas motivações dos adultos trabalhadores, bem como constituir uma possibilidade de estes melhorarem as suas perspectivas de carreira e empregabilidade.
No que respeita ao processo de acesso de Maiores de 23 anos às instituições portuguesas de ES, o Ministério de Educação apresentou, em 2006, condições especiais de acesso ao ES para estes adultos, independentemente das habilitações académicas de que são titulares, no segui-mento do antigo regime de ingresso ad-hoc. No contexto da política do ES, o Decreto-Lei nº. 64 de 21 de Março (Portugal, 2006) salienta como objectivos a prosseguir a “promoção de igualdade de oportunidades no acesso a este grau de ensino, atraindo novos públicos, numa lógica de aprendizagem ao longo de toda a vida”. Para tal, torna-se necessária a “aprovação de regras que facilitem e flexibi-lizem o ingresso e o acesso ao ensino superior, nomeada-mente a estudantes que reúnam condições habilitacionais específicas, alargando a respectiva área de recrutamento”. Neste sentido, a Lei de Bases do Sistema Educativo con-sagrou o “direito ao acesso ao ensino superior a indivídu-os que, não estando habilitados com um curso secundário ou equivalente, façam prova, especialmente adequada, de capacidade para a sua frequência”, devendo ser privile-giado como critério “a experiência profissional dos can-didatos”. O referido decreto-lei “regulamenta as provas

78
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 73-82
especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacida-de para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos” e “aplica-se a todos os estabelecimentos de ensino superior, com excepção dos estabelecimentos de ensino superior público militar e policial”.
Quanto ao regulamento de acesso para a população maior de 23 anos no ES (Universidade do Porto, 2006), re-fere-se como exemplo as “Provas especialmente destinadas a avaliar a capacidade para a frequência da Universidade do Porto por candidatos maiores de 23 anos”. Segundo este regulamento, o processo de avaliação (p. 2) deverá integrar: (a) Prova ou provas referidas na alínea (c) do nº1 do artigo 5º do Decreto-lei nº 64/2006, de 21 de Março, definidas em regulamento de cada unidade orgânica; (b) Apreciação do currículo escolar e profissional do candida-to; (c) Avaliação das motivações do candidato através da realização de uma entrevista.
Relativamente ao perfil do estudante adulto no ES e embora se considere de elevado interesse analisar algumas dimensões relacionadas com as características sociobio-gráficas, a trajectória escolar e de formação, bem como a trajectória profissional, entende-se que a pesquisa biblio-gráfica se reporta muito à realidade portuguesa, pelo que o seu relato exaustivo afastar-se-ia dos parâmetros definidos para esta publicação, não sendo porventura representativo da realidade brasileira. Assim sendo, a descrição será mais focalizada nos aspectos relacionados com as expectativas, atitudes e motivações, bem como dos factores facilitadores ou das barreiras existentes à adaptação à universidade.
Segundo Pollard et al. (2008) as atitudes face ao ES são maioritariamente positivas, especialmente por parte dos adultos que apresentam testemunhos familiares e de pares próximos positivos: afirmam que é algo que todos os adultos devem considerar e que vale o dinheiro in-vestido. De uma forma geral, os adultos sentem-se in-formados acerca das oportunidades disponíveis no ES. Curiosamente, o ES não é considerado um “passaporte” para melhores ocupações profissionais, embora os auto-res considerem pertinente alertar para os benefícios que a frequência universitária pode trazer. No que respeita às motivações, Pollard et al. (2008) encontraram uma forte relação entre os que já haviam considerado o ingresso no ES no passado e os que o consideram já numa perspectiva futura, nomeadamente em relação a grupos minoritários, já que vêem a possibilidade de ingresso no ES como uma forma de superar as desvantagens existentes no seu meio. Várias atitudes positivas surgiram fortemente associadas ao desejo de ingressar no ES, nomeadamente o facto de a “universidade não é apenas para os jovens”, “pessoas como eu vão para a universidade”, “ir para a universida-de não é irrelevante, mesmo depois de ter um emprego”,
“os melhores empregos são para os que frequentaram a universidade” e “ir para a universidade é algo que to-dos devem considerar”. No entanto, estas perspectivas futuras de ingresso no ES não demonstraram ser determi-nadas pela idade, sexo, antecedentes socio-económicos ou nível de qualificação, nem por percepções acerca da facilidade/dificuldade ou dos custos envolvidos. Por sua vez, os principais motivos para não ir para a universida-de entre os adultos trabalhadores sem experiência prévia de ES foram a percepção da falta de necessidade ou o não reconhecimento do valor da experiência do ES, pre-ocupações relacionadas com aspectos financeiros, falta de interesse e outros compromissos (essencialmente fal-ta de tempo e compromissos familiares). É de salientar que tanto o incentivo como o apoio da entidade patronal parecem ter bastante influência. No estudo de Curado e Soares (2008) as razões que motivaram a escolha do cur-so apresentadas prenderam-se, sobretudo, com o estudo mais profundo de assuntos de interesse e a relação com a área profissional a que o curso dá acesso (perspectiva de progressão na carreira, vontade de arranjar emprego ou mudar de profissão), prestígio, carácter público, inte-resse dos planos de estudo e localização da instituição na área de residência.
Ao serem confrontados com o seu ingresso, como se adaptam os adultos a este novo contexto e desafio? O que permite o atingir do sucesso por parte destes alunos adul-tos e qual a qualidade do seu desempenho e produtivida-de académicos? Aronson e Ronney (1978), por exemplo, concluíram que, longe de representar um problema, os adultos trabalhadores exibiam elevados níveis de prepara-ção, motivação e participação para ingressar no ES, quan-do conscientes das suas qualidades. Por sua vez, Graham e Donaldson (1999) defendem que, embora os estudan-tes adultos revelem um menor grau de envolvimento no ambiente académico devido às suas responsabilidades fa-miliares, exibem maiores progressos ao nível académico (iniciativa para estudar) e intelectual (pensamento crítico e aplicação de conhecimentos) comparativamente aos co-legas mais jovens. Algumas investigações apontam como factor mais comummente referenciado o padrão de vincu-lação que os estudantes adultos exibem. Assim, um estudo de Lapsley e Edgerton (2002) evidencia que a adaptação à universidade por parte dos alunos adultos se encontra positivamente associada com padrões de vinculação se-guros, sendo que os adultos com vinculações mais preo-cupadas e amedrontadas revelam uma maior dificuldade de adaptação. O estudo de Lopez, Mauricio, Gormley, Simko e Berger (2001) reforça a ideia que a cada padrão de vinculação e a cada problema de estilo de coping estão associados diferentes sentimentos de ansiedade. Kirby,

79
Silva, R. S., & Nascimento, I. (2010). Estudantes maiores de 23 anos no Ensino Superior português
Biever, Martinez e Gómez (2004) referem a satisfação com a escola e o apoio por parte da família e do local de trabalho como preditores de menores níveis de ansiedade. No estudo de Curado e Soares (2008) os factores destaca-dos como facilitadores do sucesso académico foram: um adequado acompanhamento pedagógico, bons professo-res e um bom clima de trabalho, aliados à importância atribuída ao apoio da família e amigos e à existência de horários de estudos compatíveis com as suas responsabi-lidades profissionais, sendo este último o que mais pre-ocupava os novos estudantes, seguido da possibilidade de terem de enfrentar problemas financeiros relacionados com a prossecução dos estudos.
Leigh e Gill (1996) estudaram o fenómeno do regres-so à universidade no âmbito das “community colleges”, permitindo a criação das bases para as políticas de reco-mendação do acesso de adultos trabalhadores a programas de educação e treino a longo prazo. Os resultados do estudo indicam que existe uma tendência estável e positiva para o regresso dos adultos à faculdade, tal como acontece com os que ingressam no ES após completarem o liceu. Neste pon-to, torna-se pertinente questionar como poderão os estudan-tes adultos ultrapassar as barreiras com que se deparam? Que mecanismos/recursos poderão utilizar? A investigação não tem dedicado muita atenção a este ponto.
Discussão e Considerações Finais
Como pôde verificar-se, o regime de acesso ao ES para Maiores de 23 anos enquadra-se numa política de promoção de igualdade de oportunidades no acesso a este grau de ensino, permitindo aos candidatos que, por qualquer razão, não tenham tido a possibilidade de nele ingressar após a conclusão do ensino secundário ou que não tenham mesmo aquele grau de ensino mas que tenham adquirido conhecimentos que lhes possibilitem ingressar num curso superior o possam fazer.
No entanto, levantam-se, actualmente, algumas vo-zes com opiniões mais desfavoráveis relativamente a este regime de acesso, nomeadamente no que respeita à sua comparação com o antigo regime ad-hoc (Viana, 2008), questionando-se até que ponto este novo regime não será demasiado facilitador do acesso ao ES, podendo mesmo diminuir a qualidade da selecção dos alunos que nele in-gressam, devido ao perigo de a exigência “estar cada vez mais baixa”. Outra questão levantada prende-se com o facto de existir algum tipo de facilitismo no acesso, ao colocar a responsabilidade da selecção nas próprias ins-tituições, permitindo uma compensação pelas “perdas dos estudantes tradicionais”. Torna-se pertinente reflectir acerca destas e outras questões, no sentido de esclarecer
objectivos potencialmente menos legítimos, associados a este regime de acesso, nomeadamente o perigo da (in)sus-tentabilidade económica das próprias instituições.
As posições ideológicas acerca deste regime de acesso ao ES são diversas e o debate pode ser prolongado face a cada novo argumento apresentado. No entanto, e pela riqueza que a sua discussão traz para a compreensão do fenómeno, torna-se uma área de estudo extremamen-te “fértil” no apelo à reflexão crítica e exploração mais densa. Imaginário (2007), por exemplo, fala-nos da im-portância de equacionar o problema no contexto da efec-tiva (re)valorização das aprendizagens informais (e não formais em sentido estrito). Para o autor, torna-se neces-sário intervir educativamente junto dos sujeitos que não são portadores de habilitações escolares e profissionais formais, começando por identificar, avaliar e reconhecer as competências que efectivamente possuem, validando-as e consequentemente configurando as formações em que se deverá investir e que indispensavelmente devem mobilizar as competências já adquiridas. Só deste modo se alcançarão possibilidades de sucesso e de satisfação pessoal, podendo-se intervir numa “lógica de resposta à procura manifesta de formação, muito mais do que numa lógica de resposta com a oferta pré-existente” (p. 8), podendo o ES representar um importante e privilegia-do veículo no sentido destas mudanças. Desta forma, o ES deverá estar atento às necessidades, experiências e aprendizagens diferenciadas destes alunos mais velhos, criando um tipo de ensino melhor adaptado a estas no-vas exigências, de forma a responder mais eficazmente aos desafios que esta população lança quotidianamente às instituições, quer ao nível académico e de formação (conteúdos formais mais adaptados aos conhecimentos previamente adquiridos e também às necessidades que os alunos manifestam relativamente aos conteúdos pro-gramáticos que poderão auxiliar e melhorar o exercício da sua actividade profissional), quer a nível mais insti-tucional e de funcionamento da própria instituição (no-meadamente ao nível de horários lectivos mais flexíveis e apoio tutorial mais personalizado). Perante este cená-rio, poderá igualmente questionar-se a possibilidade de reconversão do conhecimento experiencial que o adulto já possui, ao saber que adquiriu ao longo da sua vida mas que não lhe foi veiculado formalmente. E se fosse possível “quantificar” esta bagagem de conhecimento em unidades de crédito, aquando do ingresso no ES? Será que o conhecimento decorrente das experiências de vida em nada contribuirá para o subsequente conhecimento formal, a ser adquirido através dos conteúdos programá-ticos das unidades curriculares? Porque tem o adulto que ingressa na faculdade de começar necessariamente “do

80
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 73-82
zero”, não podendo ver reconhecidas as suas competên-cias da mesma forma que os conhecimentos formais que virá a adquirir? Sob um certo ponto de vista, esta pers-pectiva afigura-se bastante injusta, uma vez que pratica-mente “desperdiça” todo um conjunto de vivências, in-questionavelmente ricas de significado e conhecimento, em primazia do dito “conhecimento formal”, ou seja, ao contrário do previsto no Decreto-Lei nº 64/2006, de 21 de Março relativamente à possibilidade de concessão de créditos, não se faz o devido aproveitamento das compe-tências reais dos indivíduos. Neste sentido, justificar-se-ia um papel mais proactivo e interventivo dos psicólogos educacionais e de orientação, não só no sentido de alertar a população adulta com menores qualificações académi-cas para os benefícios do seu ingresso no ES, mas tam-bém ajudando os que pretendem e conseguem efectiva-mente ingressar no ES a reconhecer, validar e certificar as suas competências, insistindo junto das próprias ins-tituições para que estas experiências sejam incorporadas no percurso académico de cada estudante, de acordo com as particularidades que apresentam e as características do curso que frequentam.
Evidenciam-se, efectivamente, aspectos controver-sos, que merecem ser objecto de reflexão e discussão. Serão, por isso, efectuadas algumas considerações em tor-no de duas questões que se revelam das mais pertinentes no que respeita ao acesso à Universidade de M23. A pri-meira: serão realmente cumpridos os verdadeiros objec-tivos deste regime especial de acesso? Segundo algumas opiniões, esta oportunidade concedida aos M23 pode re-presentar uma tentativa de mascarar algumas deficiências do sistema educativo potenciando a manutenção de deter-minados estabelecimentos de ensino que, caso contrário, não conseguiriam subsistir, tal como referido anteriormen-te. A existência de uma entidade fiscalizadora/reguladora responsável por averiguar esse tipo de irregularidades, que dissimulam “falsas oportunidades” em “oportunidade de uma vida”, aproveitando a “ingenuidade dos sonha-dores”, poderia credibilizar o novo regime de acesso e
transformá-lo numa verdadeira oportunidade de aprendi-zagem para aqueles que, no seu tempo, não puderam ou não quiseram investir na formação universitária.
A segunda questão: será que as faculdades estão pre-paradas para a integração e formação deste novo público? É inegável que, nesta fase inicial de implementação dos princípios da Declaração de Bolonha, os actuais conte-údos programáticos continuem bastante direccionados para a aprendizagem por “retenção e evocação”, sendo poucas as unidades curriculares em que se deixa realmen-te um lugar para a crítica, para a construção de uma vi-são pessoal das temáticas abordadas e para uma efectiva valorização dos saberes adquiridos e da experiência, na lógica de um modelo de aprendizagem auto-direccionada ou transformativa. Segundo esta lógica de aprendizagem, é retirado ao formador o seu tradicional protagonismo enquanto condutor do processo de ensino, funcionando como um “catalizador de interesses divergentes” quan-do desenha processos conducentes a uma aprendizagem auto-direccionada, quando ajuda os formandos a organi-zarem-se e a estruturarem as diferentes etapas do traba-lho, e quando garante que os mesmos não se percam “no meio de tanta informação e de tantas ideias” (Quintas, 2008, p. 142). Deverá então existir um “descolar” dos modelos escolarizados, no sentido da “adopção de uma atitude educativa que não pretenda ensinar no sentido tra-dicional do termo, mas facilitar processos de construção de saberes e, sobretudo, a aquisição de competências que permitam ao formando, de forma autónoma, aceder ao conhecimento” (Quintas, 2008, p. 39). Será desta forma necessária uma consciencialização do estudante adulto acerca da sua própria independência e capacidade de se desenvolver, podendo esta dimensão ser também assumi-damente trabalhada por profissionais da área da educação e da orientação. No entanto, há que ter em conta que esta modalidade de aprendizagem “tem de ser conquistada; é, ela própria, resultante de um processo de desenvolvi-mento, que para uns formandos é mais óbvio do que para outros” (Quintas, 2008, p. 141).
Referências
Aubret, J., & Gilbert, P. (2003). La valorisation et validation de l’expérience professionnelle. Paris: Dunod.Aronson, R., & Rooney, C. (1978). Teaching them what they already know: College education and working-class adults.
Labor Studies Journal, 3, 19-30.Azevedo, J. (1999). A aprendizagem ao longo da vida: Da mudança de palavras à mudança de políticas? In J. Azevedo
(Org.), Voos de borboleta – Escola, trabalho e profissão (pp. 59-70). Porto, Portugal: Edições Asa.Burkett, J. E. (1968). College for adults – second chance or continuing opportunity? Training and Development Journal,
22(5), 10-20.Clark, M. C. (1993). Transformational learning. In S. B. Merriam (Org.), An update on learning theory: No. 57. New
directions for adult and continuing education (pp. 47-56). San Francisco: Jossey-Bass.

81
Silva, R. S., & Nascimento, I. (2010). Estudantes maiores de 23 anos no Ensino Superior português
Coimbra, J. L., Parada, F., & Imaginário, L. (2001). Enquadramento e problematização do objecto de estudo. In J. L. Coimbra, F. Parada & L. Imaginário (Orgs.), Formação ao longo da vida e gestão da carreira (pp. 18-45). Lisboa: Direcção-Geral do Emprego e Formação Profissional. Recuperado em 27 dezembro 2008, de http://www.dgert.mtss.gov.pt/estudos/estudos_emprego/cadernos33.pdf
Comissão Europeia. (1995). Livro branco sobre a educação e a formação: Ensinar e aprender rumo à sociedade cognitiva. Luxemburgo: Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias.
Cresson, E. (1996). Para uma política de educação e de formação ao longo da vida. Revista Europeia de Formação Profissional, (8/9), 9-12.
Curado, A. P., & Soares, J. (2008). Acesso, acompanhamento e creditação dos “Maiores de 23” na Universidade de Lisboa: Evolução e tendências 2006-2008. Lisboa: Universidade de Lisboa. Recuperado em 14 janeiro 2009, de http://www.ul.pt/pls/portal/docs/1/178470.PDF
Erikson, E. H. (1959). Identity and the life cycle. New York: Norton.Graham, S., & Donaldson, J. F. (1999). Adult students’ academic and intellectual development in college. Adult Education
Quarterly, 49, 147-162.Imaginário, I. (2007). (Re)valorizar a aprendizagem: Práticas e respostas europeias à validação de aprendizagens não
formais e informais. Recuperado em 13 janeiro 2009, de http://www.eu2007.pt/NR/rdonlyres/0F54E39C-24ED-43AA-9535-2C6C0E5CE465/0/20071122Conferencia_aprendizagem1.pdf
Kasworm, C. (2003). What is collegiate involvement for adult undergraduates. In Annual Meeting of the American Education Research Association, Chicago, IL. Recuperado em 14 janeiro 2009, de http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content _storage_01/0000019b/80/1b/72/a6.pdf
Kasworm, C., Polson, C., & Fishback, S. (2002). Responding to adult learners in higher education. Malabar, FL: Krieger.
Kegan, R. (2000). What “Form” transforms?: A constructive-developmental perspective on transformational learning. In J. M. Mezirow (Org.), Learning as transformation: Critical perspectives on a theory in progress (pp. 35-69). San Francisco: Jossey-Bass.
Kirby, P. G., Biever, J. L., Martinez, I. G., & Gómez, J. P. (2004). Adults returning to school: The impact on family and work. The Journal of Psychology, 138, 65-76.
Kovács, I. (1988). Novas tecnologias na indústria: Emprego e formação. Revista de Estudos e Informação Técnica, 5, 29-40.
Kovács, I. (1991). Inovação tecnológica e novas qualificações na indústria. In I. Kovács, Actas da Conferência Nacional Novos Rumos para o Ensino Tecnológico e Profissional (Vol. 1, pp. 114-118). Porto, Portugal: GETAP/ME.
Knowles, M. S. (1984). Andragogy in action: Applying modern principles of adult learning. San Francisco: Jossey-Bass.Lapsley, D. K., & Edgerton, J. (2002). Separation-individuation, adult attachment style, and college adjustment. Journal
of Counseling & Development, 80, 484-492.Leigh, D. E., & Gill, A. M. (1996). Labor market returns to community colleges – evidence for returning adults. The
Journal of Human Resources, 32, 334-353.Levinson, D. J. (1986). A concept of adult development. American Psychologist, 41, 3-13.Lopez, F. G., Mauricio, A. M, Gormley, B., Simko, T., & Berger, E. (2001). Adult attachment orientations and college
student distress: The mediating role of problem coping styles. Journal of Counseling & Development, 79, 459-464.Machado, F. L., & Costa, A. F. (1998). Processos de uma modernidade inacabada. In J. M. L. Viegas & A. F. Costa (Orgs.),
Portugal, que modernidade? (pp. 17-44). Oeiras, Portugal: Celta.Martins, A. M. (1999). Formação e emprego numa sociedade em mutação. Aveiro, Portugal: Universidade de Aveiro.Mayen, P., & Mayeux, C. (2003). Expérience et formation. Savoirs: Revue Internationale de Recherches en Éducation et
Formation des Adultes, 1, 15-56.Mezirow, J. M. (2000). Learning to think like an adult: Core concepts of transformational theory. In J. M. Mezirow
(Org.), Learning as transformation: Critical perspectives on a theory in progress (pp. 3-33). San Francisco: Jossey-Bass.
Pires, A. L. (2007). O reconhecimento da experiência no ES. Um estudo de caso nas universidades públicas portuguesas. Colóquio da AFIRSE, 15 (pp. 1-13). Lisboa: AFIRSE.
Pires, A. L. (2008). Estudo exploratório “Maiores de 23 anos”. 1ª fase: Caracterização sociográfica dos candidatos M23 Escola Superior de Educação/IPS. Setúbal, Portugal: UIED/FCT/UNL.

82
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 73-82
Pollard, E., Bates, P., Hunt, W., & Bellis, A. (2008). University is not just for young people: Working adults’ perceptions of and orientation to higher education. Brighton, United Kingdom: Institute for Employment Studies.
Portugal. Decreto-Lei no. 64, de 21 março 2006. (2006, 21 março). Diário da República no. 5, série I. Quintas, H. L. M. (2008). Educação de Adultos: Vida no currículo e currículo na vida. Lisboa: Agência Nacional para
a Qualificação. Recuperado em 14 janeiro 2009, de http://www.scribd.com/doc/7538225/Quintas-Helena-2008-Educacao-de-Adultos-vida-no-curriculo-e-curriculo-na-vida-Lisboa-ANQ
Ross-Gordon, J. M. (2003). Adult learners in the classroom. New Directions for Students Services, 102, 43-52.Tessaring, M. (1998). Formation pour une société en mutation: Rapport sur la recherche actuelle en formation et
enseignement professionnels en Europe. Thessalonique, Grèce: CEDEFOP - Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle.
Universidade do Porto. (2006). Provas especialmente destinadas a avaliar a capacidade para a frequência da Universidade do Porto por candidatos maiores de 23 anos. Recuperado em 27 dezembro 2008, de http://sigarra.up.pt/up/web_gessi_docs.download_file?p_name=F1383892912/REGULAMENTO%20(alterado)%20CANDIDATOS%20MAIORES%20DE%2023%20ANOS_%20doc.doc
Universidade do Porto. (2008). Regulamento de propinas dos cursos de Licenciatura e de Mestrado Integrado da U.Porto. 2ª Alteração pela Secção Permanente do Senado. Recuperado em 14 janeiro 2009, de http://www.fe.up.pt/si/conteudos_service.conteudos_cont?pct_id=61986&pv_cod=53GoHdmanvIq
Viana, C. (2008, 9 de dezembro). Maiores de 23 são uma gritante minoria nas escolas de ponta. Público. Recuperado em 14 janeiro 2009, de http://agronomia.blogs.sapo.pt/11946.html
Recebido: 24/02/20091ª Revisão: 28/10/20092ª Revisão: 14/12/2009
Aceite final: 06/01/2010
Sobre as autorasInês Nascimento é Professora auxiliar da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do
Porto, Coordenadora e Supervisora científica do Serviço de Consulta Psicológica de Orientação Vocacional ao longo da vida da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto.
Rita Santos Silva é estudante do 5.º ano do Mestrado Integrado em Psicologia (ramo de Psicologia Clínica e da Saúde) na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto.

83Disponível em http://pepsic.bvs-psi.org.br/rbop
Revista Brasileira de Orientação Profissionaljan.-jun. 2010, Vol. 11, No. 1, 83-94
Família e indecisão vocacional:Revisão da literatura numa perspectiva
da análise sistêmica
Paulo Jorge Santos1
Universidade do Porto, Porto, Portugal
1 Endereço para correspondência: Universidade do Porto. Faculdade de Letras. Via Panorâmica, s/n, 4150-564, Porto, Portugal. Fone: +351226077100. E-mail: [email protected]
ResumoA indecisão vocacional de adolescentes e jovens adultos foi vista por alguns autores como o resultado de problemas de funcionamento sistêmico da sua família de origem. Tais problemas condicionariam negativamente a capacidade de realizar escolhas vocacionais. Tendo por base esta abordagem teórica, várias investigações procuraram analisar empiricamente a relação entre variáveis sistêmicas familiares e a indecisão vocacional. A análise desenvolvida por esta linha de investigação conduziu a resultados pouco consistentes. Neste artigo procede-se a uma análise crítica da investigação familiar sistêmica aplicada às dificuldades de escolha vocacional, apresentam-se algumas propostas que visam clarificar teoricamente a relação entre os dois grupos de variáveis e sugerem-se novas linhas de pesquisa.Palavras-chave: abordagem sistêmica, indecisão vocacional, escolha profissional, orientação profissional
Abstract: Family and career indecision: Literature review from the perspective of systemic analysisCareer indecision of adolescents and young adults was conceptualized by some authors as a consequence of problems of systemic functioning of their origin family. These problems could affect negatively their capacity for making career choices. Based on this theoretical approach, several studies analyzed empirically the relation between family systemic variables and career indecision. The results of this line of research appeared to be inconsistent. This article presents a critical analysis of the systemic approach to career indecision and of the corresponding studies. It also presents, some proposals that aim to clarify, from a theoretical point of view, the relations between the two groups of variables and suggests new lines of research. Keywords: systemic approach, career indecision, occupational choice, vocational guidance
Resumen: Familia e indecisión vocacional: Revisión de la bibliografía en una perspectiva del análisis sistémicoLa indecisión vocacional de adolescentes y jóvenes adultos fue vista por algunos autores como el resultado de problemas de funcionamiento sistémico de su familia de origen. Tales problemas condicionarían negativamente la capacidad de realizar elecciones vocacionales. Teniendo como base este abordaje teórico varias investigaciones trataron de analizar empíricamente la relación entre variables sistémicas familiares y la indecisión vocacional. El análisis desarrollado por esta línea de investigación condujo a resultados poco consistentes. En este artículo se procede a un análisis crítico de la investigación familiar sistémica aplicada a las dificultades de elección vocacional y se presentan algunas propuestas que buscan clarificar teóricamente la relación entre los dos grupos de variables y se sugieren nuevas líneas de investigación.Palabras clave: abordaje sistémico, indecisión vocacional, elección profesional, orientación profesional
Artigo

84
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 83-94
Desenvolvimento vocacional e teoriasfamiliares sistêmicas
O papel desempenhado pela família no desenvol-vimento vocacional de adolescentes e jovens adultos foi abordado por algumas teorias clássicas da psicologia vo-cacional (Roe, 1957; Super, 1957). Todavia, os processos específicos através dos quais a influência familiar se faria sentir no desenvolvimento e comportamentos vocacionais não foi descrito, nem teoricamente fundamentado (para uma exceção, ver Roe, 1957). A família permaneceu, du-rante muito tempo, uma variável pouco visível nas teorias da psicologia do desenvolvimento e escolhas vocacionais (Herr & Lear, 1984; Lara, 2007).
No primeiro artigo de revisão sobre o papel da fa-mília no desenvolvimento vocacional, Schulenberg, Vondracek e Crouter (1984) identificam três limitações principais das investigações que tinham sido realizadas sobre esta temática. A primeira dizia respeito ao pre-domínio das investigações centradas nos resultados em detrimento dos estudos centrados nos processos. Este modelo de investigação, de inspiração sociológica, pri-vilegiou características familiares estruturais. Por exem-plo, o estatuto socioeconômico da família e as aspirações e expectativas educacionais e ocupacionais. Uma segun-da limitação relacionava-se com o fato de a maioria das investigações não abordar o contexto familiar como uma totalidade funcional. Finalmente, muitos estudos não levaram em conta as transformações do contexto socio-econômico mais vasto que influenciam a família. Estas mudanças implicam alterações na forma como a família se relaciona com o meio e na forma como os seus mem-bros interagem entre si.
Mais recentemente, Whiston e Keller (2004), na sequência de uma segunda revisão das investigações so-bre a influência da família no desenvolvimento e com-portamento vocacional, publicadas entre 1980 e 2002, identificaram, igualmente, um conjunto de limitações, nomeadamente a falta de enquadramento teórico de um considerável número de estudos e a quase total ausência de investigações longitudinais.
Nos últimos vinte e cinco anos foi possível, todavia, realizar um esforço para ultrapassar parte destas limita-ções. Assistiu-se à emergência de uma linha de investiga-ção que, à luz de diversas abordagens teóricas, procurou analisar a influência dos processos de natureza familiar (ex., características do funcionamento familiar, estilos educativos) no desenvolvimento vocacional de adoles-centes e jovens (Grotevant & Cooper, 1988). Desta for-ma, o foco da investigação deslocou-se de variáveis de natureza estrutural para variáveis de natureza processual
(Gonçalves, 2008; Osipow & Fitzgerald, 1996; Whiston & Keller, 2004).
Com o objetivo de compreender de forma mais abran-gente e teoricamente fundamentada o papel da família no desenvolvimento vocacional de adolescentes e jovens, al-guns autores, em especial a partir do início dos anos 80 do século passado, realçam a utilidade das teorias familiares sistêmicas oriundas da terapia familiar (Bratcher, 1982; Herr & Lear, 1984; Splete & Freeman-George, 1985; Zingaro, 1983). Neste referencial teórico, a família é con-cebida como um sistema aberto, e os seus membros, orga-nizados em sub-sistemas, configuram uma estrutura cujo funcionamento é caracterizado por uma interdependência mútua (Hall, 2003; Relvas, 2003).
A terapia familiar sistêmica organizou-se em torno de várias escolas (Barker, 2000; Nichols & Schwartz, 2004). Todas elas partilham, todavia, um conjunto de pressu-postos que se encontram intimamente relacionados com a investigação e as estratégias de intervenção que foram posteriormente utilizadas na área da consulta vocacional. Iremos recordá-los de forma resumida. A abordagem sis-têmica afasta-se de uma concepção de causalidade linear do comportamento humano, que tende a centrar-se no pa-pel desempenhado pelos fatores psicológicos individuais, para enfatizar uma causalidade circular, em que o compor-tamento adquire um significado na rede de relações que se estabelece no sistema familiar (Sexton, 1994). Assim, a intervenção psicológica foca-se na modificação da comu-nicação e interação dos diversos indivíduos ou subsiste-mas familiares (Barker, 2000; Relvas, 2003).
As famílias manifestam determinados padrões de re-lacionamento interpessoal que asseguram a homeostasie ou equilíbrio do sistema (McGoldrick & Carter, 2001). É esta característica que permite perceber que a altera-ção do comportamento de um dos membros da família desencadeia normalmente uma reação de outros elemen-tos ou subsistemas familiares que visa repor o equilíbrio sistêmico inicial.
Um terceiro pressuposto é o de que os sistemas fami-liares apresentam características específicas que ultrapas-sam as que definem cada um dos elementos que os com-põem (Barker, 2000). Em outras palavras, o somatório das especificidades dos membros da família não permite reconstituir as características do sistema familiar, uma vez que estas resultam da interação dinâmica dos elementos e subsistemas da família.
Finalmente, para os teóricos familiares sistêmicos os sintomas só adquirem significado no quadro de uma abor-dagem relacional que toma em consideração o papel dos diversos indivíduos e subsistemas que compõem o sistema familiar (Lopez, 1992).

85
Santos, P. J. (2010). Análise familiar sistêmica e indecisão vocacional
Análise sistêmica e processo de decisão vocacional
Bratcher (1982) foi um dos primeiros autores a assi-nalar a importância da abordagem familiar sistêmica para a compreensão mais aprofundada do papel da família nos processos de decisão vocacional. Em muitas situações as ferramentas conceituais das teorias familiares sistêmicas podem ser particularmente úteis. Por exemplo, o processo de autonomização dos jovens face às suas famílias esta-ria relacionado com a maior ou menor flexibilidade das fronteiras do seu sistema familiar. Esta dimensão assume particular relevância no processo de decisão vocacional que se coloca como a primeira grande escolha que muitos indivíduos têm que enfrentar nas suas vidas.
Bratcher (1982) sustenta ainda que a abordagem sis-têmica permite uma maior compreensão sobre o papel de-sempenhado pelas regras familiares que veiculam e mantêm certos padrões comportamentais e atitudinais. Determinadas famílias apresentam tradições muito marcadas no que res-peita às profissões dos seus membros. Ainda segundo este autor a capacidade de aceitar passivamente ou de questio-nar os valores e crenças da família face ao mundo do traba-lho e das profissões, encontra-se intimamente relacionada com o funcionamento familiar e desempenharia um papel fundamental nos projetos vocacionais dos indivíduos.
Zingaro (1983), por sua vez, salientou a importância e utilidade de uma abordagem sistêmica familiar para cap-tar a complexidade da dinâmica da família no processo de desenvolvimento vocacional, em particular nos processos de decisão. Os casos de indecisão generalizada ou crônica, que evidenciam fortes dificuldades nos processos de deci-são, incluindo a dimensão vocacional, poderiam resultar de um padrão familiar disfuncional. As famílias aglutina-das, nas quais o nível de diferenciação entre os membros é relativamente baixo, constituiriam um contexto em que seria mais provável encontrar adolescentes e jovens cro-nicamente indecisos. Tendo em conta esta perspectiva, a diferenciação do self face ao sistema familiar e a capaci-dade de decisão e autonomia são, assim, dois processos intimamente relacionados que importaria levar em linha de conta no processo de intervenção.
A abordagem sistêmica constitui uma “perspectiva promissora para a investigação e prática na área da consulta vocacional” (Kinnier, Brigman, & Noble, 1990, p. 311). A conceitualização sistêmica aplicada à consulta vocacional individual ou de grupo permitiu adaptar e utilizar algu-mas das técnicas e estratégias utilizadas na terapia familiar (Lopez, 1983; Zingaro, 1983). Neste contexto destaca-se a utilização do genograma, que teve a sua origem no mode-lo de Bowen (1978), uma visualização gráfica que permite explorar as relações entre membros da família e identificar
padrões familiares sistêmicos que condicionam o compor-tamento dos indivíduos (McGoldrick & Gerson, 1985). Quando aplicado à consulta vocacional, individual ou de grupo, o genograma, neste caso um genograma temático centrado nas profissões exercidas pelos membros da fa-mília do cliente, constitui um instrumento particularmente adequado para explorar as influências familiares nas aspi-rações, comportamentos e decisões vocacionais dos indiví-duos. A sua utilização vem sendo crescentemente defendida e constitui, presentemente, um recurso valioso no âmbito da consulta vocacional (Alderfer, 2004; Brown & Brooks, 1991; Gabel & Soares, 2006; Malott & Magnunson, 2004).
Análise sistêmica e indecisão vocacional
No contexto de uma crescente importância atribuída às teorias familiares sistêmicas passíveis de serem aplicadas à investigação e intervenção vocacionais, cujas linhas princi-pais descrevemos anteriormente, Lopez e Andrews (1987) propuseram um quadro teórico sistêmico de interpretação da indecisão vocacional. Para estes autores é necessário considerar as influências recíprocas entre os indivíduos e os respectivos sistemas familiares para tentar compreen-der, de forma mais abrangente, o desenvolvimento voca-cional e, mais especificamente, as dificuldades que podem surgir no processo de decisão vocacional. Os adolescentes e jovens adultos encontram-se envolvidos num conjunto de tarefas particularmente importantes para o seu desenvolvi-mento pessoal, nomeadamente a construção da identidade e a separação psicológica face às figuras parentais.
As famílias dos estudantes indecisos tendem, segun-do Lopez e Andrews (1987), a apresentar várias caracterís-ticas que a intervenção deve levar em linha de conta. Por vezes, constata-se a existência de um envolvimento exces-sivo dos pais nas questões vocacionais dos seus filhos, em especial aquelas que dizem respeito às escolhas educacio-nais e/ou profissionais. Esta situação poderá refletir uma delimitação difusa entre os subsistemas parental e filial. Noutros casos parece existir uma triangulação entre um dos progenitores e os jovens indecisos, que se traduz numa atitude de compreensão face à indecisão, por contraponto a uma atitude crítica do outro elemento do casal.
À luz de uma abordagem sistêmica, as dificuldades da escolha vocacional desempenhariam, ainda segun-do Lopez e Andrews (1987), determinadas funções no quadro do sistema familiar, como, por exemplo, o adia-mento de uma transformação sistêmica significativa, nomeadamente a separação de um elemento do sistema, neste caso um filho ou uma filha. Uma outra possibili-dade seria a indecisão servir para camuflar um conflito no seio da família, em especial no subsistema conjugal,

86
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 83-94
que resultaria das dificuldades em lidar com a crescente separação e autonomia dos filhos. Finalmente, a indeci-são poderia constituir uma resposta face à pressão que se exerce sobre alguns adolescentes e jovens que frequente-mente receiam desapontar um ou ambos os pais no caso de efetuarem uma determinada escolha vocacional, cir-cunstância suscetível de resultar de exigências parentais contraditórias.
Em síntese, as dificuldades no processo de decisão indiciariam uma perturbação no processo de autonomia dos adolescentes e jovens e um fracasso na evolução do sistema familiar para responder às mudanças que o ciclo de vida da família determina.
Investigação empírica: Revisão de literatura
A abordagem sistêmica familiar do processo de de-senvolvimento e escolha vocacionais, em particular a par-tir da análise proposta por Lopez e Andrews (1987), teve consequências ao nível da investigação. De fato, a partir da segunda metade dos anos 80, começaram a surgir estu-dos que pretendiam testar empiricamente a relação entre fatores sistêmicos familiares e variáveis vocacionais, com especial relevância para a indecisão vocacional.
Para realizar o levantamento da literatura que a se-guir apresentamos usámos as bases PsycARTICLES, PsycINFO, PsycBooks e a Psychology and Behavioral Sciences Collection desde 1980.
Uma das primeiras investigações neste domínio foi realizada por Eigen, Hartman e Hartman (1987), que analisaram de que forma três grupos de estudantes do ensino superior, previamente classificados como voca-cionalmente decididos, vocacionalmente indecisos e cronicamente indecisos, percebiam a coesão e adapta-bilidade familiares de acordo com o modelo de Olson, Sprenkle e Russell (1979). A classificação dos indivíduos em três grupos teve por base o número de alterações nos seus planos vocacionais num determinado período de tempo. As hipóteses da investigação pressupunham: (a) que as famílias dos indivíduos vocacionalmente decidi-dos se caracterizariam por níveis intermédios de coesão e adaptabilidade familiares, enquanto que as famílias dos indivíduos cronicamente indecisos apresentariam valo-res extremos nestas dimensões; (b) que os indivíduos vo-cacionalmente indecisos, cuja indecisão era considerada normativa em termos de desenvolvimento vocacional, percepcionariam um funcionamento das suas famílias caracterizado por um valor extremo numa dimensão e intermédio noutra. Estas hipóteses não foram empirica-mente corroboradas. Mesmo perante estes resultados os autores sugerem que:
Regras rígidas acompanhadas de níveis elevados de vinculação podem tender a dificultar a individuação. Enquanto que poucas regras acompanhadas por uma ausência de vinculação emocional podem levar a uma separação prematura sem o apoio suficiente que permita um processo de decisão vocacional efetivo (Eigen et al., 1987, p. 93).
Lopez (1989), por sua vez, testou um modelo de pre-dição da identidade vocacional de estudantes universitários considerando três grupos de variáveis: a dinâmica familiar dos indivíduos (separação psicológica relativamente às figuras parentais e conflitos maritais no seio do sistema conjugal), o nível de ansiedade e a adaptação acadêmica. Analisando o funcionamento do modelo nos dois sexos verificou que todas as variáveis preditivas contribuíram para a variância da identidade vocacional. Para os homens as variáveis relacionadas com o sistema familiar eram, por ordem decrescente de importância, a independência conflitual relativamente à figura materna, definida como ausência de culpa, ansiedade, desconfiança, raiva, inibição ou ressentimento, a ausência de conflito marital dos pais e a independência conflitual face ao pai. No que respeita às mulheres a independência conflitual face à figura paterna constituía a única variável familiar preditora da identidade vocacional. Em ambos os casos, e contrariando as hipó-teses iniciais, a independência emocional e a ausência de necessidade excessiva de aprovação, proximidade e apoio emocional dos pais, não contribuíram para a predição da variância da identidade vocacional.
Kinnier et al. (1990) investigaram as relações entre o nível de aglutinação na família e a indecisão vocacional numa amostra de estudantes universitários. Para analisar o processo de aglutinação foram utilizadas duas escalas. A primeira avaliava o grau de individuação ou diferenciação adaptativa dos sujeitos face aos seus pais, enquanto a se-gunda avaliava o grau de triangulação entre os progenitores e os seus filhos. Os autores integraram no seu modelo a ida-de e o estatuto acadêmico (estudantes graduados versus não graduados). Os resultados demonstraram que os estudantes mais velhos eram vocacionalmente mais decididos do que os mais novos; o mesmo aconteceu com os estudantes gra-duados relativamente aos não graduados. Igualmente, níveis mais baixos de individuação e mais elevados de triangula-ção encontravam-se associados a maiores dificuldades no processo de decisão vocacional. Todavia, o modelo, no seu conjunto, apresentou um reduzido poder preditivo: a vari-ância total explicada não ultrapassou os 11%, enquanto dos dois fatores familiares avaliados somente a individuação se revelou uma variável preditiva estatisticamente significati-va, com 3% da variância explicada da variável critério.

87
Santos, P. J. (2010). Análise familiar sistêmica e indecisão vocacional
Numa outra investigação, Blustein, Walbridge, Friedlander e Palladino (1991) analisaram a relação entre várias dimensões da separação psicológica face às figuras parentais e duas variáveis vocacionais: a indecisão voca-cional e as expectativas de auto-eficácia face às tarefas de decisão vocacional. Recorrendo a uma correlação ca-nônica os autores, utilizando uma amostra de estudantes universitários, constataram a inexistência de relações esta-tisticamente significativas entre os dois conjuntos de vari-áveis. Estes resultados foram interpretados como podendo ser indicadores de um padrão complexo de relações entre variáveis familiares sistêmicas e indecisão vocacional. Em alguns casos, níveis reduzidos de separação psicológica face às figuras parentais podem favorecer os mecanismos que provocam a indecisão, enquanto que em outros podem promover uma escolha vocacional sem uma exploração e investimento autônomos. “Se isto é verdadeiro, os jovens adultos que relatam dificuldades na separação psicológica podem ser encontrados em ambos os extremos do contí-nuo da decisão-indecisão vocacional” (p. 42).
Na mesma linha de investigação, Penick e Jepsen (1992) estudaram a relação entre a percepção do funcio-namento familiar e a mestria em duas tarefas do desenvol-vimento vocacional: o envolvimento no planeamento e a especificação, esta última avaliada como identidade voca-cional. Os autores procuraram ainda identificar a influência do sexo, realização acadêmica e estatuto socioeconômico nesta relação. A amostra foi constituída por alunos do en-sino secundário e pelos seus pais, ou seja, o funcionamen-to familiar foi avaliado tendo por base as percepções dos adolescentes e dos seus progenitores. No que diz respeito à variável que mais nos interessa, a identidade vocacional, os autores verificaram que o funcionamento familiar predizia significativamente a identidade vocacional de forma mais substancial do que o sexo, o estatuto socioeconómico e a realização acadêmica. As variáveis relacionadas com o siste-ma de manutenção familiar – organização, locus de controle e estilo familiar – revelaram-se mais importantes do que as variáveis relacionadas com o sistema relacional familiar – coesão, expressividade, conflito, sociabilidade, idealização e separação. Este resultado sugere que a organização sistêmi-ca familiar poderá constituir um requisito importante para o desenvolvimento e consolidação da identidade vocacional.
Em face destes resultados, Penick e Jepsen (1992) sustentam que os adolescentes de sistemas familiares aglutinados apresentam dificuldades em realizar determi-nadas tarefas vocacionais, uma vez que se torna difícil para eles distinguir as suas características daquelas que são veiculadas pelas regras familiares. Por sua vez, os adolescentes que crescem em famílias desagregadas não dispõem, normalmente, de suficiente apoio familiar que
lhes permita realizar com sucesso as tarefas inerentes ao desenvolvimento vocacional.
Ainda na década de 90 Whiston (1996) procurou iden-tificar as relações entre dimensões da indecisão vocacional e expectativas de auto-eficácia face às tarefas de decisão vocacional, por um lado, e três dimensões do funciona-mento familiar: dimensão relacional, dimensão de desen-volvimento pessoal e dimensão de organização e controle, por outro. Neste estudo os fatores de indecisão vocacional utilizados foram os identificados por Shimizu, Vondracek, Schulenberg e Hostetler (1988) na Career Decision Scale (CDS) (Osipow, Carney, & Barak, 1976). Recorrendo a uma correlação canônica para analisar os dois conjuntos de variáveis a autora verificou, contrariamente ao espera-do, não existirem relações entre as dimensões familiares relacionais (coesão, expressividade e conflito) e o nível de indecisão vocacional de estudantes universitários. Todavia, constatou a emergência de uma relação inversa, unicamente para a subamostra feminina, entre as dimen-sões do sistema de manutenção familiar e três fatores da CDS. Em outras palavras, as estudantes cujas famílias eram caracterizadas por elevados níveis de organização e controle apresentavam resultados mais baixos de indeci-são provocados pela confusão, desânimo, falta de experi-ência e/ou informação; pela necessidade de obter reforço e apoio no processo de decisão; por fim, pela dificuldade em optar por alternativas igualmente atraentes.
Larson e Wilson (1998), por seu turno, basearam-se na teoria de Bowen (1978) para testar um modelo sistêmico que explicasse os problemas da decisão vocacional com jo-vens estudantes universitários. Os autores propuseram um modelo em que a ansiedade seria uma variável mediadora entre fenômenos sistêmicos disfuncionais entre pais e fi-lhos – intimidação, fusão e triangulação – e a manifestação de problemas de decisão vocacional. Estes foram avaliados com o Career Decision Diagnostic Assessment (CDDA) (Bansberg & Sklare, 1986), instrumento que identifica blo-queios pessoais e interpessoais que dificultam ou impedem as decisões vocacionais. Os resultados deste estudo, que recorreu à path analysis, apoiaram parcialmente o mode-lo. A intimidação e a fusão estavam diretamente relacio-nadas com a ansiedade, o mesmo não acontecendo com a triangulação. Todavia, parte da variância do modelo era explicada por uma relação direta entre intimidação e pro-blemas vocacionais. A ansiedade encontrava-se diretamen-te relacionada com os problemas de decisão vocacional. Contrariamente ao esperado, a triangulação não emergiu como uma variável relevante no modelo.
Johnson, Buboltz e Nichols (1999), por sua vez, constataram que nenhuma investigação tinha equaciona-do, simultaneamente, fatores familiares, definidos como

88
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 83-94
o grau de conflito, coesão e expressividade, e o impacto do divórcio na manifestação da identidade vocacional de jovens universitários. Assim, considerando estas variá-veis, verificaram a inexistência de diferenças na identida-de vocacional, entre jovens oriundos de famílias intactas, por contraponto aos provenientes de famílias nas quais se tinha registado um divórcio. Todavia, o sistema relacional familiar, através da expressividade, tinha uma influência muito modesta na manifestação da identidade vocacional, explicando 3% da variância.
Hartung, Lewis, May e Niles (2002) recorreram ao modelo de funcionamento familiar sistêmico de Olson et al. (1979) com o objetivo de verificar até que ponto os níveis de adaptabilidade e coesão familiares estariam re-lacionados com a saliência de papéis e a identidade vo-cacional, construtos centrais das teorias de Super (1957) e Holland (1985), respectivamente. Não se registou ne-nhuma relação significativa entre as variáveis familiares sistêmicas, por um lado, e a saliência de papéis e identi-dade vocacional, por outro. Aparentemente o grau de pro-ximidade emocional e flexibilidade estrutural existente na família não contribuem para a importância que os sujeitos atribuem ao papel de trabalhador e para a clareza com que se percebem a si próprios no domínio vocacional. Os au-tores afirmam que estes resultados questionam a recomen-dação para que seja levada em conta a dinâmica familiar no processo de avaliação e intervenção vocacional.
Num outro estudo, Hargrove, Creagh e Burgess (2002) utilizaram um modelo familiar sistêmico para ana-lisar a influência da família no desenvolvimento da identi-dade vocacional e nas expectativas de auto-eficácia face às tarefas de decisão vocacional. Utilizando uma amostra de estudantes universitários, os autores verificaram que os in-divíduos com níveis mais elevados de identidade vocacio-nal tendiam a percepcionar as suas famílias como contex-tos que enfatizavam o sucesso acadêmico e profissional e o envolvimento em atividades sociais e de lazer. Os níveis de coesão e expressividade familiares encontravam-se positivamente correlacionados com a identidade vocacio-nal. Utilizando as variáveis familiares como preditoras da identidade vocacional, verificou-se que somente a orienta-ção para a realização – grau em que os membros da famí-lia vêem a escola e o trabalho como áreas de envolvimento competitivo – emergiu como uma variável estatisticamen-te significativa, com uma variância explicada de 14%.
Apreciação crítica sobre os estudos empíricos
O conjunto de investigações que descrevemos é ain-da relativamente escasso para permitir conclusões que ultrapassem um carácter provisório. Em alguns estudos
os autores constataram a existência de relações entre vari-áveis familiares sistêmicas e dificuldades no processo de decisão vocacional. Todavia, em várias investigações ve-rifica-se apenas um apoio modesto à concepção sistêmica da indecisão vocacional, que se traduz numa percentagem relativamente pequena de variância explicada (Johnson et al., 1999; Kinnier et al., 1990). Em outros casos, constata-se a ausência de resultados estatisticamente significativos entre os dois grupos de variáveis. Em resumo, os resulta-dos destes estudos são pautados por resultados ambíguos que não permitem obter conclusões substantivas (Larson, 1995; Whiston & Keller, 2004).
É possível elaborar várias explicações para os resul-tados pouco consistentes que se obtiveram no quadro da abordagem sistêmica da indecisão vocacional. Comecemos por abordar as questões relacionadas com a forma como as variáveis foram avaliadas. No âmbito da indecisão voca-cional os investigadores utilizaram essencialmente dois ins-trumentos: a Career Decision Scale (CDS) (Osipow et al., 1976) e a Vocational Identity Scale (VIS) (Holland, Daiger, & Power, 1980). Estas duas escalas têm sido amplamente usadas como índices de avaliação da indecisão vocacional, embora tenham sido concebidas com base em metodologias e quadros teóricos distintos (Holland, Johnston, & Asama, 1993). O primeiro avalia o grau de indecisão vocacional e o segundo a identidade vocacional. Vários estudos têm apresentado correlações negativas elevadas entre os resul-tados da CDS e da VIS (Holland et al., 1993; Wanberg & Muchinsky, 1992). Todavia, uma investigação de Lopez Tinsley, Bowman e York (1989) concluiu que as duas es-calas não são fatorialmente equivalentes. Este estudo, cuja linha de investigação, infelizmente, não foi prosseguida, levantou a questão de se saber se os dois instrumentos ava-liam construtos distintos, embora intimamente relaciona-dos. Em síntese, a forma como as dificuldades de escolha vocacional foram avaliadas poderão explicar pelo menos parte dos resultados pouco consistentes a que fizemos refe-rência (Zimmerman & Kontosh, 2007).
Por outro lado, uma parte significativa das investiga-ções que se basearam em modelos familiares sistêmicos partiu do pressuposto de que a indecisão vocacional era um constructo unitário. Ora, o caráter multidimensional da in-decisão vocacional constitui, presentemente, um dado acei-to pela maioria dos autores (Brown & Rector, 2008; Santos & Coimbra, 2000). Em outras palavras, os indivíduos po-dem estar vocacionalmente indecisos por diferentes razões.
O que mereceria ser investigado mais aprofundada-mente seria a relação entre diferentes variáveis familiares sistêmicas e distintas dimensões da indecisão vocacional. A relação entre estes dois grupos de variáveis pode ser mais complexa do que inicialmente se poderia pensar. A

89
Santos, P. J. (2010). Análise familiar sistêmica e indecisão vocacional
importância das variáveis sistêmicas no quadro da indeci-são vocacional pode variar consoante as dificuldades espe-cíficas do processo de decisão vocacional. Parece ser nos casos de indecisão generalizada ou crônica que se encon-tram indivíduos que pertencem a sistemas familiares mais disfuncionais (Heppner & Hendricks, 1995; Salomone, 1982; Zingaro, 1983).
As investigações de Eigen et al. (1987) e Whiston (1996) exploraram esta relação, mas a forma como o fize-ram é questionável no plano metodológico. No primeiro estudo os indivíduos da amostra foram classificados como pertencendo a diferentes tipos de indecisão vocacional em função do número de alterações nos seus planos vocacio-nais. Os próprios autores sugerem que em futuras inves-tigações se opte por uma outra metodologia de identifi-cação dos diferentes tipos de indivíduos vocacionalmente indecisos. No segundo estudo foram utilizados fatores originalmente identificados na CDS (Osipow et al., 1976). Todavia, a estrutura fatorial desta escala tem sido objeto de grande controvérsia (Laplante, Coallier, Sabourin, & Martin, 1994; Shimizu, Vondracek, & Schulenberg, 1994) e o principal autor da escala, Osipow (1994), não reco-menda a utilização das subescalas.
Relativamente às variáveis de natureza familiar sis-têmica verifica-se que as investigações optaram por ins-trumentos de avaliação baseados em diferentes modelos de funcionamento familiar e, consequentemente, em diferentes construtos. Esta diversidade na avaliação de variáveis poderá ter desempenhado um papel importan-te nos resultados pouco consistentes que atrás referimos (Hargrove et al., 2002). Existem diferenças assinaláveis entre as dimensões avaliadas pelos diversos instrumentos. Em alguns casos, conceitos teoricamente distintos podem ser confundidos, como é o caso da coesão e aglutinação familiares (Perosa & Perosa, 1990).
Por outro lado, no plano da investigação empírica seria particularmente interessante que, no futuro, um maior número de investigadores testasse modelos, com a inclusão de variáveis mediadoras e moderadoras (Baron & Kenny, 1986), que relacionassem variáveis familiares sistêmicas e dificuldades no processo de decisão voca-cional. Com efeito, a esmagadora maioria das investiga-ções pressupôs a existência de uma relação linear entre os dois conjuntos de variáveis. Ora, esta relação poderá ser mediada ou moderada por outras variáveis, e captar a complexidade de uma tal relação implicará, necessa-riamente, o recurso a outras metodologias de análise de dados, como é o caso da modelação de estruturas de co-variância (Martens, 2005). Com a exceção do estudo de Larson e Wilson (1998) esta linha de investigação prati-camente não foi explorada.
Considerações Finais
A abordagem sistêmica da indecisão vocacional re-presentou uma evolução significativa na investigação. Ela pode ser vista como parte de uma alteração mais vasta ocorrida na psicologia vocacional. Desde os meados dos anos 80, os modelos ecológico-desenvolvimentais ganha-ram uma crescente visibilidade e importância na teoria e intervenção vocacionais. O denominador comum a estes modelos, diferentes na sua formulação e enquadramento teóricos, consiste na ênfase atribuída aos contextos de vida enquanto dimensões cruciais para a compreensão do de-senvolvimento e comportamento vocacionais (Grotevant & Cooper, 1988; Law, 1991; Vondracek, Lerner, & Schulenberg, 1986; Young, 1983).
Apesar dos resultados dos estudos por nós referen-ciados terem apresentado conclusões pouco consistentes, a consideração do contexto familiar no quadro mais vasto dos processos de decisão vocacional é algo que deve ser realçado. A família constitui, com efeito, uma dimensão fundamental para a compreensão do desenvolvimento vocacional, sendo no seu seio que radicam, em grande parte, as fundações do desenvolvimento psicológico e da autonomia pessoal dos adolescentes e jovens e que se es-truturam os processos através dos quais se confere um sentido à relação entre os indivíduos e o mundo do tra-balho (Gonçalves, 2008). Sem se levar em conta o jogo sistêmico familiar, e não somente os seus aspectos mais estruturais, como acontece nas análises de natureza socio-lógica, torna-se difícil compreender em toda a sua com-plexidade o importante papel que a família desempenha no desenvolvimento vocacional.
Apesar dos contributos positivos que a abordagem sistêmica inegavelmente trouxe para a investigação das di-ficuldades de escolha vocacional em adolescentes e jovens adultos, é importante sublinhar, igualmente, algumas das suas limitações. A primeira prende-se com a forma como a indecisão vocacional foi definida pelos investigadores. De fato, verifica-se que a incapacidade de formular objetivos de natureza vocacional é percepcionada como uma situação problemática que se encontraria relacionada com um fun-cionamento sistêmico disfuncional. Assim, a indecisão vo-cacional é colocada no mesmo plano de outros quadros sin-tomáticos com que os terapeutas familiares se confrontam. Pelo fato de as dificuldades no processo de decisão voca-cional serem analisadas numa perspectiva unidimensional, desvaloriza-se o enquadramento que a indecisão vocacio-nal pode adquirir quando aliada a uma atitude de explora-ção vocacional (Taveira, 2000). Em outras palavras, não se leva em conta que a indecisão vocacional pode constituir o resultado de uma etapa normativamente adequada como se

90
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 83-94
pode inferir de algumas teorias do desenvolvimento voca-cional (Super, Savickas, & Super, 1996).
Uma segunda limitação da abordagem sistêmica, in-timamente relacionada com a primeira, relaciona-se com o fato da ênfase ser colocada na avaliação do produto do processo de decisão, neste caso, a indecisão vocacional. Embora as investigações tenham procurado analisar, no sistema familiar, processos psicológicos sistêmicos (ex., triangulação, diferenciação), o mesmo não aconteceu na indecisão vocacional. Assim, níveis reduzidos de indeci-são vocacional foram interpretados como índices de eleva-do desenvolvimento vocacional sem que se considerasse a qualidade do processo de decisão. Foi a decisão vocacio-nal tomada na sequência de um processo de exploração em que os sujeitos assumiram a responsabilidade pelas suas opções vocacionais, ou, pelo contrário, resultou de um pro-cesso de identificação com os valores familiares que se tra-duziu numa identidade vocacional outorgada (foreclosed identity) ou numa escolha vocacional pseudocristalizada? Esta questão, de particular importância, é simplesmente ignorada no âmbito da investigação que analisou a influ-ência de variáveis sistêmicas na manifestação da indeci-são vocacional. Indivíduos com uma identidade outorgada, normalmente descritos como pouco diferenciados face aos seus progenitores, que tendem a encorajar o conformismo e a adesão acrítica aos valores e expectativas familiares (Marcia, 1986; Muuss, 1996), podem apresentar baixos ní-veis de indecisão. A baixa diferenciação face ao sistema fa-miliar pode conduzir à indecisão vocacional, mas também à adoção de projectos vocacionais que resultam da interna-lização de culturas familiares que canalizam as escolhas de adolescentes e jovens em determinadas direções (Blustein et al., 1991). Como empiricamente demonstraram Brisbin e Savickas (1994), baixos níveis de indecisão vocacional podem aparecer associados a estatutos de identidade outor-gada. Os autores das investigações que referenciamos não levaram em conta a qualidade do investimento, confundin-do baixos níveis de indecisão vocacional com projetos vo-cacionais construídos de forma autônoma.
Uma outra limitação da abordagem sistêmica das di-ficuldades de escolha vocacional relaciona-se com a forma como a dimensão relacional é considerada no âmbito do desenvolvimento vocacional, em geral, e do processo de decisão, em particular. Atribui-se uma importância, talvez excessiva, à diferenciação do indivíduo face à sua família como elemento causal das dificuldades nas escolhas vo-cacionais (Alderfer, 2004). Neste sentido verifica-se uma convergência com uma concepção mais individual do de-senvolvimento psicológico, em particular com a de inspi-ração psicanalítica, que advoga a importância da separação psicológica ou individuação dos sujeitos, especialmente
na adolescência e início da vida adulta, para o desenvolvi-mento e adaptação psicológicas. Como afirmam Sabatelli e Mazor (1985), as teorias familiares sistêmicas, à semelhan-ça das teorias do desenvolvimento psicológico individual, “enfatizam a necessidade da individuação das pessoas das suas famílias de origem como um pré-requisito para o de-senvolvimento da identidade e para a mestria das tarefas desenvolvimentais da idade adulta.” (p. 628).
Assim, a tónica é essencialmente colocada num mo-vimento de deslocação ou descentração do núcleo familiar, traduzindo uma certa desvalorização, ainda que não explí-cita, dos vínculos entre pais e filhos (Soares & Campos, 1988). A abordagem sistêmica, embora partilhando uma concepção relacional do desenvolvimento psicológico dos indivíduos, representada em várias sensibilidades teóri-cas no campo da psicologia (Grotevant & Cooper, 1988; Josselson, 1988; Lopez, 1992), não aprofunda o papel que a ligação emocional e a vinculação desempenham neste pro-cesso de autonomização e de construção da identidade.
As concepções do desenvolvimento que enfatizam a necessidade da separação dos adolescentes e jovens adultos relativamente às figuras parentais, condição para a constru-ção da autonomia e identidade adultas, começaram a ser progressivamente contestadas, em especial desde a década de 80, tendo por base quadros teóricos alternativos às posi-ções mais tradicionais. Alguns autores têm vindo a defen-der que as relações de vinculação entre pais e filhos estão na base da construção de modelos internos dinâmicos que configuram estruturas psicológicas responsáveis pela com-preensão, antecipação e integração de acontecimentos im-portantes que ocorrem no meio ambiente (Ainsworth, 1989; Bowlby, 1988). Indivíduos com um padrão seguro de vin-culação aos seus pais utilizam a sua família como uma base a partir da qual exploram o meio externo com confiança. Embora as investigações sobre a vinculação tenham se de-senvolvido inicialmente com crianças, estudos posteriores recorreram a amostras de adolescentes e de jovens adultos, sendo possível concluir que o padrão de vinculação seguro se encontra associado a vários indicadores de desenvolvi-mento psicológico que incluem, nomeadamente, níveis mais elevados de autonomia, competência social e relacio-namento interpessoal (Soares, 1996). Esta concepção sus-tenta que o desenvolvimento da autonomia e da identidade não se constrói à custa da ruptura com as figuras parentais, mas sim na transformação dessas relações. A autonomia face às figuras parentais e o desenvolvimento da identidade ocorreriam, assim, no contexto de vinculações significati-vas dos adolescentes e jovens adultos às suas famílias.
No âmbito da psicologia vocacional, as dimensões relacionais e a forma como estas se manifestam no de-senvolvimento vocacional têm suscitado, recentemente,

91
Santos, P. J. (2010). Análise familiar sistêmica e indecisão vocacional
um grande interesse, tanto para o âmbito teórico quanto da intervenção (Berríos-Allison, 2005; Blustein, 2001; Phillips, Christopher-Sisk, & Gravino, 2001; Schultheiss, 2003). Em particular, em torno da teoria da vinculação proposta por Bowlby (1988) e Ainsworth (1989), tem-se assistido, nos últimos anos, ao desenvolvimento de uma linha de investigação particularmente promissora. As re-lações de vinculação, que configuram laços afetivos que permitem experienciar uma sensação de segurança susce-tível de proporcionar a confiança necessária para enfrentar situações de exploração e desafio, constituem variáveis com óbvias implicações no desenvolvimento vocacional, nomeadamente em termos de exploração e decisão voca-cionais (Blustein, Prezioso, & Schultheiss, 1995). Assim, várias investigações têm permitido constatar que as rela-ções de vinculação, quer isoladamente, quer integradas em modelos mais complexos, têm-se mostrado úteis na com-preensão do comportamento e desenvolvimento vocacio-nais (Ketterson & Blustein, 1997; Wolfe & Betz, 2004).
Segundo alguns autores, o desenvolvimento psicológi-co de adolescentes e jovens adultos só pode ser compreendi-do na sua complexidade caso se tome em conta, simultanea-mente, os processos psicológicos da separação psicológica e a diferenciação relativamente à família de origem e a qualidade da vinculação com as figuras parentais. Verifica-se, na maioria dos casos, que uma combinação entre uma
vinculação segura e um grau adequado de separação psi-cológica face às figuras parentais se encontra associado a progressos no desenvolvimento vocacional (Blustein et al., 1991; Lee & Hughey, 2001; Scott & Church, 2001). Um futuro cenário de evolução teórica e de intervenção poderá implicar a articulação entre a abordagem sistêmica e a teo-ria da vinculação (Kozlowska & Hanney, 2002), suscetível de dar origem a um quadro teórico potencialmente fértil na investigação sobre o desenvolvimento vocacional, nomea-damente sobre os processos de decisão.
Em resumo, a utilização de um quadro sistêmico apli-cado ao desenvolvimento vocacional, em geral, e às dificul-dades de escolha vocacional, em particular, configurou um avanço significativo no plano conceitual. Embora o número de estudos no campo da psicologia vocacional que toma as teorias familiares sistêmicas como quadro teórico da inves-tigação sobre a influência da família no desenvolvimento e comportamento vocacionais seja relativamente reduzido (Alderfer, 2004), julgamos que se justifica prosseguir com esta linha de investigação desde que sejam levadas em con-ta as limitações que atrás identificamos. Do mesmo modo, nos parece igualmente pertinente, no quadro da consulta vocacional, que os conceitos e as técnicas oriundas da te-rapia familiar possam ser utilizados como ferramentas de avaliação e de intervenção que visem promover o desenvol-vimento vocacional e a autonomia dos clientes.
Referências
Ainsworth, M. D. (1989). Attachments beyond infancy. American Psychologist, 44, 709-716.Alderfer, C. (2004). A family therapist’s reaction to “The influences of the family of origin on career development: A
review and analysis”. The Counseling Psychologist, 32, 569-577.Bansberg, B., & Sklare, J. (1986). Career decision diagnostic assessment. New York: McGraw-Hill.Barker, P. (2000). Fundamentos da terapia familiar. Lisboa: Climepsi Editores. Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social research: Conceptual,
strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.Berríos-Allison, A. C. (2005). Family influences on college students’ occupational identity. Journal of Career Assessment,
13, 233-247.Blustein, D. L. (2001). The interface of work and relationships: Critical knowledge for the 21st century. The Counseling
Psychologist, 29, 179-192.Blustein, D. L., Prezioso, M. S., & Schultheiss, D. P. (1995). Attachment theory and career development: Current status
and future directions. The Counseling Psychologist, 23, 416-432.Blustein, D. L., Walbridge, M. L., Friedlander, M. L., & Palladino, D. E. (1991). Contributions of psychological separation
and parental attachment to the career development process. Journal of Counseling Psychology, 38, 39-50.Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice. New York: Jason Aronson.Bowlby, J. (1988). A secure base: Clinical applications of attachment theory. London: Routledge.Bratcher, W. E. (1982). The influence of the family on career selection: A family systems perspective. Personnel and
Guidance Journal, 61, 87-91.Brisbin, L. A., & Savickas, M. L. (1994). Career indecision scales do not measure foreclosure. Journal of Career
Assessment, 2, 352-363.Brown, D., & Brooks, L. (1991). Career counseling techniques. Boston: Allyn and Bacon.

92
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 83-94
Brown, S. D., & Rector, C. C. (2008). Conceptualizing and diagnosing problems in vocational decision making. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Handbook of Counseling Psychology (4a ed., pp. 392-407). New York: Wiley.
Eigen, C. A., Hartman, B. W., & Hartman, P. T. (1987). Relations between family interaction patterns and career indecision. Psychological Reports, 60, 87-94.
Gabel, C. L., & Soares, D. H. (2006). Contribuições da terapia familiar sistêmica para a escolha profissional. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 7(1), 57-64.
Gonçalves, C. M. (2008). Pais aflitos, filhos com futuro incerto. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian/Fundação para a Ciência e Tecnologia.
Grotevant, H. D., & Cooper, C. R. (1988). The role of family experience in career exploration: A life-span perspective. In P. Baltes, R. H. Lerner, & D. Featherman (Eds.), Life-span development and behavior (Vol. 8, pp. 231-258). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Hall, A. S. (2003). Expanding academic and career self-efficacy: A family systems framework. Journal of Counseling and Development, 81, 33-39.
Hargrove, B. K., Creagh, M. G., & Burgess, B. L. (2002). Family interaction patterns of vocational identity and career decision-making self-efficacy. Journal of Vocational Behavior, 61, 185-201.
Hartung, P. J., Lewis, D. M., May, K., & Niles, S. G. (2002). Family patterns and college student career development. Journal of Career Assessment, 10, 78-90.
Heppner, M. J., & Hendricks, F. (1995). A process and outcome study examining career indecision and indecisiveness. Journal of Counseling and Development, 73, 426-437.
Herr, E. L., & Lear, P. B. (1984). The family as an influence on career development. Family Therapy Collections, 10, 1-15.Holland, J. L. (1985). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments (2a ed.).
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Holland, J. L., Daiger, D. C., & Power, P. G. (1980). Manual for my vocational situation. Palo Alto, CA: Consulting
Psychologists Press.Holland, J. L., Johnston, J. A., & Asama, N. F. (1993). The Vocational Identity Scale: A diagnostic and treatment tool.
Journal of Career Assessment, 1, 1-12.Johnson, P., Buboltz, W. C., & Nichols, C. N. (1999). Parental divorce, family functioning, and vocational identity of
college students. Journal of Career Development, 26, 137-146.Josselson, R. (1988). The embedded self: I and thou revisited. In Daniel K. Lapsley & F. Clark Power (Eds.), Self, ego,
and identity (pp. 91-106). New York: Springer-Verlag.Ketterson, T. U., & Blustein, D. L. (1997). Attachment relationships and the career exploration process. The Career
Development Quarterly, 46, 167-178.Kinnier, R. T., Brigman, S. L., & Noble, F. C. (1990). Career indecision and family enmeshment. Journal of Counseling
and Development, 68, 309-312.Kozlowska, K., & Hanney, L. (2002). The network perspective: An integration of attachment and family systems theories.
Family Process, 41, 285-312.Laplante, B., Coallier, J., Sabourin, S., & Martin, F. (1994). Dimensionality of the Career Decision Scale: Methodological,
cross-cultural, and clinical issues. Journal of Career Assessment, 2, 19-28.Lara, T. (2007). Family of origin and career counselling: An interview with Robert Chope. The Family Journal: Counseling
and Therapy for Couples and Families, 14, 152-158. Larson, J. H. (1995). The use of family systems theory to explain and treat career decision problems in late adolescence:
A review. The American Journal of Family Therapy, 23, 328-337.Larson, J. H., & Wilson, S. M. (1998). Family of origin influences on young adult career decision problems: A test of
bowenian theory. American Journal of Family Therapy, 26, 39-53.Law, B. (1991). Community interaction in the theory and practice of careers work. In B. P. Campos (Ed.), Psychological
intervention and human development (pp. 151-162). Porto: ICPFD and Louvain-La-Neuve: Academia.Lee, H-Y., & Hughey, K. F. (2001). The relationship of psychological separation and parental attachment to the career
maturity of college freshmen from intact families. Journal of Career Development, 27, 279-293. Lopez, F. G. (1983). A paradoxical approach to vocational indecision. Personnel and Guidance Journal, 61, 410-412.Lopez, F. G. (1989). Current family dynamics, trait anxiety, and academic adjustment: Test of a family-based model of
vocational identity. Journal of Vocational Behavior, 35, 76-87.

93
Santos, P. J. (2010). Análise familiar sistêmica e indecisão vocacional
Lopez, F. G. (1992). Family dynamics and late adolescent identity development. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Handbook of counseling psychology (2nd ed., pp. 251-283). New York: Wiley.
Lopez, F. G., & Andrews, S. (1987). Career indecision: A family systems perspective. Journal of Counseling and Development, 65, 304-307.
Lopez Tinsley, H. E. A., Bowman, S. L., & York, D. C. (1989). Career Decision Scale, My Vocational Situation, Vocational Rating Scale, and Decisional Rating Scale: Do they measure the same constructs? Journal of Counseling Psychology, 36, 115-120.
Malott, K. M., & Magnuson, S. (2004). Using genograms to facilitate undergraduate student’s career development: A group model. The Career Development Quarterly, 53, 178-186.
Marcia, J. E. (1986). Clinical implications of the identity status approach within psychosocial developmental theory. Cadernos de Consulta Psicológica, 2, 23-34.
Martens, M. P. (2005). The use of structural equation modeling in counseling psychology research. The Counseling Psychologist, 33, 269-298.
McGoldrick, M., & Carter, B. (2001). Advances in coaching: Family therapy with one person. Journal of Marital and Family Therapy, 27, 281-300.
McGoldrick, M., & Gerson, R. (1985). Constructing genograms. In M. McGoldrick & R. Gerson (Eds.), Genograms in family assessment (pp. 9-38). New York: Norton.
Muuss, R. E. (1996). Theories of adolescence (6a ed.). New York: McGraw-Hill.Nichols, M. P., & Schwartz, R. C. (2004). Family therapy: Concepts and methods (6a ed.). Boston: Allyn and Bacon.Olson, D. H., Sprenkle, D. H., & Russel, C. S. (1979). Circumplex model of marital and family systems: I. Cohesion and
adaptability dimensions of family types and clinical applications. Family Process, 18, 3-28.Osipow, S. H. (1994). The Career Decision Scale: How good does it have to be? Journal of Career Assessment, 2,
15-18.Osipow, S. H., Carney, C. G., & Barak, A. (1976). A scale of educational-vocational undecidedness: A typological
approach. Journal of Vocational Behavior, 9, 233-243.Osipow, S. H., & Fitzgerald, L. F. (1996). Theories of career development (4a ed.). Boston: Allyn and Bacon.Penick, N. I., & Jepsen, D. A. (1992). Family functioning and adolescent career development. The Career Development
Quarterly, 40, 208-222.Perosa, L. M., & Perosa, S. L. (1990). Convergent and discriminant validity for family self-report measures. Educational
and Psychological Measurement, 50, 855-868.Phillips, S. D., Christopher-Sisk, E. K., & Gravino, K. L. (2001). Making career decisions in a relational context. The
Counseling Psychologist, 29, 193-213.Relvas, A. P. (2003). Por detrás do espelho: Da teoria à prática com a família (2a ed.). Coimbra: Quarteto.Roe, A. (1957). Early determinants of vocational choice. Journal of Counseling Psychology, 4, 212-217.Sabatelli, R. M., & Mazor, A. (1985). Differentiation, individuation, and identity formation: The integration of family
system and individual development perspectives. Adolescence, 20, 619-633.Salomone, P. R. (1982). Difficult cases in career counseling: II - The indecisive client. Personnel and Guidance Journal,
60, 496-500.Santos, P. J., & Coimbra, J. L. (2000). Psychological separation and dimensions of career indecision in secondary school
students. Journal of Vocational Behavior, 56, 346-362.Schulenberg, J. E., Vondracek, F. W., & Crouter, A. C. (1984). The influence of the family on vocational development.
Journal of Marriage and the Family, 46, 129-143.Schultheiss, D. E. P. (2003). A relational approach to career counseling: Theoretical integration and practical application.
Journal of Counseling and Development, 81, 301-310. Scott, D. J., & Church, T. (2001). Separation/attachment theory and career decidedness and commitment: Effects of
parental divorce. Journal of Vocational Behavior, 58, 328-347. Sexton, T. L. (1994). Systemic thinking in a linear world. Issues in the application of interactional counseling. Journal of
Counseling and Development, 72, 249-258.Shimizu, K., Vondracek, F. W., & Schulenberg, J. E. (1994). Unidimensionality versus multidimensionality of the
Career Decision Scale: A critique of Martin, Sabourin, Laplante, and Coallier. Journal of Career Assessment, 2, 1-14.

94
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 83-94
Shimizu, K., Vondracek, F.W., Schulenberg, J. E., & Hostetler, M. (1988). The factor structure of the Career Decision Scale: Similarities across studies. Journal of Vocational Behavior, 32, 213-225.
Soares, I. (1996). Representação da vinculação na idade adulta e na adolescência. Braga: Instituto de Educação e Psicologia, Universidade do Minho.
Soares, I., & Campos, B. P. (1988). Vinculação e autonomia na relação do adolescente com os pais. Cadernos de Consulta Psicológica, 4, 57-64.
Splete, H., & Freeman-George, A. (1985). Family influences on the career development of young adults. Journal of Career Development, 12, 55-64.
Super, D. E. (1957). The psychology of careers. New York: Harper & Row.Super, D. E., Savickas, M. L., & Super, C. M. (1996). The life-span, life-space approach to careers. In D. Brown, L.
Brooks and Associates (Eds.), Career choice and development (3rd ed., pp. 121-178). San Francisco: Jossey Bass. Taveira, M. C. (2000). Exploração e desenvolvimento vocacional de jovens. Braga: Universidade do Minho, Instituto de
Educação e Psicologia.Vondracek, F. W., Lerner, R. M., & Schulenberg, J. E. (1986). Career development: A life-span developmental approach.
London: Lawrence Erlbaum.Wanberg, C. R., & Muchinsky, P. M. (1992). A typology of career decision status: Validity extension of the vocational
decision status model. Journal of Counseling Psychology, 39, 71-80.Whiston, S. C. (1996). The relationship among family interactions patterns and career indecision and career indecision-
making self-efficacy. Journal of Career Development, 23, 137-149.Whiston, S. C., & Keller, B. K. (2004). The influences of the family of origin on career development: A review and
analysis. The Counseling Psychologist, 32, 493-568.Wolfe, J. B., & Betz, N. E. (2004). The relationship of attachment variables to career decision-making self-efficacy and
fear of commitment. Career Development Quarterly, 52, 363-369.Young, R. A. (1983). Career development of adolescents: An ecological perspective. Journal of Youth and Adolescence,
12, 401-417.Zimmerman, A. L., & Kontosh, L. G. (2007). A systems theory approach to career decision making. Work, 29, 287-293.Zingaro, J. C. (1983). A family systems approach for the career counselor. Personnel and Guidance Journal, 62, 24-27.
Recebibo: 16/07/20091ª Revisão: 08/01/20102ª Revisão: 12/03/2010
Aceite final: 29/03/2010
Sobre o autorPaulo Jorge Santos é Doutor em Psicologia, na especialidade de Orientação Vocacional. Actualmente é Professor
Auxiliar na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Portugal.

95Disponível em http://pepsic.bvs-psi.org.br/rbop
Revista Brasileira de Orientação Profissionaljan.-jun. 2010, Vol. 11, No. 1, 95-106
Orientação Profissional de pessoas com deficiências:Revisão de literatura (2000-2009)1
1 Este artigo descreve parte dos resultados da Tese de Doutorado da primeira autora, sob orientação da segunda, junto ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Centro de Ciências da Vida da PUC-Campinas.
2 Endereço para correspondência: Rua: Padre Anchieta, 1846, sala 614, champagnat, 80050-380, Curitiba-PR, Brasil. Fone: (41) 3024-3634. E-mail: [email protected]
Ana Lúcia Ivatiuk2
Elisa Medici Pizão YoshidaUniversidade do Porto, Porto, Portugal
ResumoO estudo teve como objetivo realizar uma revisão da literatura publicada na última década sobre orientação profissional (OP) de pessoas com deficiências. As publicações, selecionadas, em bases de dados eletrônicas, somaram 55 referências entre, artigos (n = 41), teses e dissertações (n = 6), capítulos de livros (n = 2) e livros (n = 6), foram divididas em nacio-nais e estrangeiras e os dados comparados. A análise dos dados focalizou o tipo de suporte da produção, a natureza dos trabalhos, a faixa etária da população-alvo, o modelo teórico e metodológico e as características do processo de OP. Os resultados apontaram o predomínio de artigos em periódicos das áreas de Psicologia e Educação, referentes a pesquisas de levantamento sobre jovens adultos atendidos individualmente em OP, com abordagem comportamental ou psicanalí-tica e com pouca ênfase no processo. São apontadas algumas lacunas e indicados alguns limites da pesquisa. Palavras-chave: orientação vocacional, escolha profissional, população especial, incapacidade, deficiência
Absctract: Vocational Guidance for People with Disabilities: Literature review (2000-2009)The study aimed to conduct a review of the literature published in the last decade on vocational guidance of persons with disabilities. Publications, selected from electronic databases, totaled 55 references including articles (n = 41), theses and dissertations (n = 6), book chapters (n = 2) and books (n = 6) and were organized into national and international data and compared. Data analysis focused on the kind of production support, the nature of the work, the age of the target population, the theoretical model and methodology and the characteristics of the process of vocational guidance. The results showed a predominance of papers in the areas of Psychology and Education relating to survey research on young adults attended individually in vocational guidance, based on the behavioral or the psychoanalytic approach, with little emphasis on the process. Some gaps and limitations of the research were pointed out. Keywords: vocational guidance, vocational choice, special population, handicap, disabilities
Resumen: Orientación profesional de personas con deficiencias: Revisión de bibliografía (2000-2009)El estudio tuvo el objeto de realizar una revisión de la bibliografía publicada en la última década sobre orientación profesional (OP) de personas con deficiencias. Las publicaciones seleccionadas de bases electrónicas de datos sumaron 55 referencias entre artículos (n = 41), tesis y disertaciones (n = 6), capítulos de libros (n = 2) y libros (n = 6). Se dividieron en nacionales y extranjeras y se compararon los datos. El análisis de los datos se centró en el tipo de soporte de la producción, la naturaleza de los trabajos, la franja etaria de la población blanco, el modelo teórico y metodológico y las características del proceso de OP. Los resultados indicaron el predominio de artículos en periódicos de las áreas de Psicología y Educación referentes a investigaciones de encuestas sobre jóvenes adultos atendidos individualmente en OP, con enfoque de comportamiento o psicoanalítico y con poco énfasis en el proceso. Se observan algunas lagunas y se señalan algunos límites de la investigación. Palabras clave: orientación vocacional, elección profesional, población especial, incapacidad, deficiencia
Artigo

96
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 95-106
Sabe-se que a Orientação Profissional é definida como um processo no qual o indivíduo tem a possibilidade de receber auxílio sobre as dúvidas que possui em relação à escolha de uma profissão, estabelecimento de princípios referentes à carreira, inserção profissional, orientações sobre o mercado de trabalho e até mesmo aposentadoria (Lehman, 2010; Soares, 2009). Dessa prática subentende-se o construto de algo definido como identidade profis-sional, a qual é organizada a partir do desenvolvimento desse processo e “passível de revisão e de constantes res-significações, definindo-se, essencialmente, pelo tipo de compromisso, de ideal e de meta com os quais o indivíduo vincula-se e identifica-se” (Valore, 2010, p. 65). Nessa identidade estariam imbuídos aspectos conhecidos como habilidades e potencialidades. O pressuposto é o de que todo indivíduo nasce com uma série de potencialidades que podem vir a se desenvolver ao longo de sua existência. Tais potencialidades transformam-se nas habilidades por meio de desenvolvimento ou treinamento (Neiva, 2007). No momento de uma escolha profissional, a discriminação de tais habilidades pode ser um fator primordial para que realize a melhor escolha possível.
Segundo Carvalho (1995), foi no final da década de 1970 e início de 1980 que os profissionais começaram a perceber a necessidade de ampliação da Orientação Profissional a estratos da população que não apenas jovens advindos de condições econômicas e sociais privilegiadas. Porém, na prática, estes continuam sendo o maior público-alvo dos orientadores. E, mesmo na literatura, até os dias atuais prevalecem as contribuições referentes à primeira es-colha profissional e que visam o acesso ao ensino superior (Carvalho,1995; Greca, 2000; Melo-Silva & Jacquemin, 2001; Moura, 2004; Neiva, 2007; Soares, 1999).
Uma diversificação ainda que incipiente deste qua-dro começa a se esboçar com trabalhos voltados, por exemplo, para pessoas que querem escolher uma pro-fissão mas não necessariamente realizar uma formação educacional de nível universitário (Ivatiuk, 2004; Ivatiuk & Amaral, 2007); indivíduos que desejam aprender es-tratégias que lhes permitam melhor inserção no mundo profissional (Sarriera, Meira, Berlim, Bem, & Câmara, 1999); ou então que necessitam de reorientação de suas carreiras, pois se encontram exercendo atividade profis-sional insatisfatória, por não conseguirem se colocar no mercado, terem sido demitidos, ou ainda, não terem se adaptado à condição de aposentaria e desejam voltar ao mercado de trabalho (Araújo & Sarriera, 2004; Barros, 2003; Canedo, 2000; Garcia, 2000). Dentro do espectro de temas contemplados na literatura de OP há que se des-tacar ainda os trabalhos cujo objeto de estudo são indi-víduos portadores de doenças crônicas (Brito & Barros,
2008), pacientes psicóticos (Ribeiro, 2004), pessoas com níveis elevados de ansiedade e depressão (Lassance, 2005), ou pessoas com deficiências (Clemente, 2008; Moreira, Michels, & Colossi, 2006)
As pessoas com deficiência, como todos os indivídu-os que não atendem aos padrões de “normalidade”, têm sido ora excluídas ou estigmatizadas pelas sociedades, ora tratadas com tolerância e caridade, dentro de uma visão assistencialista (Clemente, 2008). Foi só muito recente-mente na História da Humanidade que passaram a partici-par, de forma mais significativa, da vida social e do mun-do do trabalho, auxiliadas por programas de reabilitação e treinamento profissional em que se busca desenvolver habilidades e potencialidades (Clemente, 2008; Moreira et al., 2006). Efetivamente, estas mudanças atingiram seu ápice no século XX, com os avanços tecnológicos e científicos e uma crescente postura social de aceitação e busca do bem-estar de todos os indivíduos (Clemente, 2008). Nesse contexto ganharam relevância temas tais como direitos humanos e cidadania, defendidos por or-gãos e instuições de caráter global, como por exemplo a Organização das Nações Unidas (ONU), e cujas inicia-tivas de apoio a programas de reabilitação, produção de conhecimento e legislações sobre as pessoas portadoras de deficiência são implementadas por meio da atuação de suas agências, tais como: a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco) e Organização Internacional do Trabalho (OIT).
De acordo com a definição da ONU, a expressão “pessoa portadora de deficiência” deve identificar o indi-víduo que devido aos “déficits” mentais ou fisicos, não possa satisfazer de forma parcial ou total, as suas necessi-dades vitais e sociais, como fariam os demais indivíduos. Uma definição mais específica, em que o foco é o trabalho, é fornecida pela OIT. De acordo com esta agência, o termo deficiente refere-se a “toda pessoa cujas possibilidades de conseguir e manter um emprego adequado e de progredir no mesmo fiquem substancialmente reduzidas devido a uma deficiência de caráter físico ou mental devidamente comprovada” (Costalatt, 2003, p. 31).
No âmbito nacional, o decreto 3.298, de 20 de dezem-bro de 1999, regulamenta a Lei 7853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe “sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, e sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência” (Brasil, 1999). De acordo com o referido de-creto, a deficiência deve ser entendida como: “toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado

97
Ivatiuk, A. L., & Yoshida, E. M. P. (2010). Orientação Profissional e Pessoas com deficiência 2000-2009
normal para o ser humano”. Estando aí incluídas pesso-as que apresentam deficiência física, auditiva, visual e/ou mental, de natureza permanente ou transitória (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm/).
No que concerne à incidência, o Censo demográ-fico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (IBGE, 2000), apontou que 14,5% da população total brasileira têm algum tipo de deficiência ou incapacidade, principalmente na idade produtiva, Ou seja, no momento de realizar a inserção no mercado de trabalho. A transição da escola para a vida profissional é um processo orientado para resultados e que abrange uma ampla gama de serviços e experiências que levam ao em-prego. No caso do indivíduo portador de deficiência, é um período que pode incluir desde o ensino fundamental até a educação de nível superior; ou então serviços complemen-tares de formação profissional para adultos e os primeiros anos de emprego. Por transição, entende-se a passagem de uma situação de segurança, que conta com a estrutura oferecida pelo sistema educacional, para as oportunidades e riscos da vida adulta (Levinson & Ohler, 1998). Além disso, as transições de sucesso costumam acontecer em contextos particulares, com o auxílio de reabilitação pro-fissional ou a supervisão das atividades laborais, num pri-meiro momento (Johnson, Mellard, & Lancaster, 2007).
Embora as discussões sobre a questão da inserção de pessoas com deficiência no mundo do trabalho datem de longo tempo, foi somente a partir da aprovação de leis es-pecificas que asseguram esse direito às pessoas com defici-ência que elas começaram a ser implementadas. No Brasil, isso ficou reconhecido por meio da Lei de Cotas (Lei Nº 8.213, de 24 de julho de 1991), que visa garantir ao portador de deficiência, dispositivos legais para um espaço no mer-cado de trabalho pela via da empregabilidade, reservando um percentual de cotas proporcionalmente ao número de funcionários de uma empresa (Brasil, 1991). Por exemplo, se a empresa possuir até 200 empregados, 2% dessas vagas devem ser destinadas a pessoas com deficiência.
Em termos de educação profissional, na realidade brasileira, é comum que ocorra a formação de pessoas com deficiências por intermédio de programas que in-cluem oficinas pedagógicas e/ou instituições de ensino especial (Costallat, 2003; Tanaka & Manzini, 2005). Estes são especialmente relevantes, na medida em que se sabe que as pessoas com deficiências, que estão inseridas no mercado de trabalho e atuam em situações semelhantes aos seus pares, têm mais condições do que aqueles, de ampliar o seu repertório comportamental, inclusive sob o aspecto dos relacionamentos sociais (Mendes, Nunes, Ferreira, & Silveira, 2004). Apesar dos benefícios que possam trazer, há críticas em relação aos procedimentos
desenvolvidos, pois nem sempre há o preparo profissional e social adequado no que concerne ao desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para o mercado de trabalho (Toldrá & Sá, 2008). Percebe-se, com isso, que o indivíduo não tem a mesma chance de inserção que pes-soas sem deficiência, e, por consequência, a despeito de suas potencialidades, busca respaldo na Lei de Cotas. Vale ressaltar, todavia, que ela não garante que o indivíduo irá conseguir se manter atuando (Araujo & Schimidt, 2006; Tanaka & Manzini, 2005).
Como todo processo de mudança social, que depende da superação de preconceitos e de mudança de visão, a inserção no mundo do trabalho de pessoas com deficiên-cia tem se realizado de forma progressiva. Para isso estão contribuindo além dos já mencionados, aperfeiçoamento gradativo da legislação e aumento de convivência no am-biente de trabalho, os cursos preparatórios e de formação que promovem o desenvolvimento de competências, as-sim como processos de Orientação Profissional (OP) ade-quados às necessidades específicas destas pessoas.
No que concerne à produção científica da área de OP de pessoas com deficiência, existem contribuições relevantes, ainda que dispersas por diferentes fontes de informação, nacionais e estrangeiras. Com isso, possí-veis consensos e lacunas existentes quanto ao processo e eficiência dos procedimentos e práticas de OP com este estrato da população, permanecem uma incógnita. Da mesma forma, as respectivas tendências e potencialida-des precisariam ser identificadas para que avanços na área venham a ser implementados.
Uma das formas de se realizar estudos científicos sobre determinada área do conhecimento é por meio de pesquisas que busquem organizar o que já foi publicado sobre tal campo, com a finalidade de conhecer quais são os aspectos já estudados e fazer reflexões e análises críti-cas sobre eles (Abade, 2005; Marques, Carneiro, Andrade, Martins, & Gonçalves, 2008; Melo-Silva, Bonfim, Esbrogeo, & Soares, 2003; Mendes et al., 2004; Noronha & Ambiel, 2006; Noronha et al., 2006; Teixeira, Lassance, Silva, & Bardagi, 2007). É através dessa modalidade de pesquisa que se consegue demonstrar o quanto a área se desenvolveu e se aprimorou (Teixeira et al., 2007), e tam-bém apontar as áreas que precisam de maior estudo e de-senvolvimento (Noronha et al., 2006).
Em relação à Orientação Profissional há pesquisas que abrangeram desde uma ampla revisão sobre a área (Noronha & Ambiel, 2006), a alguns mais específicas, que fazem levantamentos sobre pesquisas apresentadas como teses e dissertações (Noronha et al., 2006), ou ainda a pro-dução científica de um periódico especializado (Teixeira et al., 2007). No entanto, poucos trabalhos focalizam

98
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 95-106
temas concernentes à escolha profissional e o trabalho com pessoas portadoras de necessidades especiais (Marques et al., 2008). E, mais raros ainda, são os de levantamento de produção. De conhecimento dos autores tinha-se, até o início da presente pesquisa, apenas o trabalho de Mendes et al. (2004), que procurou analisar a questão da inserção profissional a partir de pesquisas veiculadas em 18 disserta-ções de mestrado, no período de 1990 a 1999. Os resultados daquela pesquisa apontaram trabalhos de orientação profis-sional executados em instituições especializadas e com in-divíduos portadores de deficiência mental leve. Sugeriram a necessidade de estudos com outros tipos de deficiência e com maior diversidade metodológica e também em am-bientes normais, como apoio para a inclusão social.
Com o intuito de obter um panorama geral da pro-dução científica da última década, referente ao campo da orientação profissional de pessoas com deficiência, este trabalho teve como objetivo descrever e analisar a pro-dução disponível nas bases de dados nacionais e estran-geiras, no período de 2000 a 2009. Considerou-se que o foco deveria ser a produção científica disponível em bases de dados e portais eletrônicos, por se tratar de material avaliado por pares, oferecer acesso universal e por conse-qüência, contar com um maior poder de impacto sobre as práticas e pesquisas da área.
Método
Material
Utilizou-se como fonte de pesquisa bases de dados e portais eletrônicos, os quais estão organizados como de acesso público ou restrito. Como base de acesso restrito foi utilizada a PsycINFO e de acesso público, a Eric e a BVS-Psi. Sendo que por meio desta última é possível acessar as produções do Pepsic e Scielo. Para a literatura nacional, também foi utilizado o banco de Dissertações e Teses do Portal Capes. Em relação aos trabalhos estrangeiros, con-siderou-se inviável acessar teses e dissertações completas, portanto, este tipo de referência limitou-se às brasileiras. Em relação a livros e capítulos de livros, além dos acessados nas bases de dados (n=2 livros e n= 2 capítulos), recorreu-se a alguns na versão em papel devido à relevância que tinham para a pesquisa e por se constituírem obras de referência na área. São eles: Pigatto, Klein e Wisnesky (2000), Costallat (2003), Montobbio e Lepri (2007) e Clemente (2008).
Procedimento
Para o acesso da produção foram utilizados os se-guintes descritores em português: Orientação Profissional,
Orientação Vocacional, Escolha Profissional, Inserção Profissional, Inclusão, Pessoas com deficiência, Escolha profissional e deficientes e Populações Especiais. Para a produção estrangeira foram utilizados apenas descrito-res em inglês: Vocational Guidance, Vocational Choice, Special Population, Handicap e Disabilities. O período de tempo pesquisado foi de 2000 a 2009, sendo que neste últi-mo ano apenas foram analisadas teses e dissertações, uma vez que os outros tipos de produção levam um pouco mais de tempo para estarem disponíveis nas bases de dados. Do total de referências acessadas foram selecionadas as que atendiam os objetivos da pesquisa. Resultaram da litera-tura nacional: 20 artigos, quatro livros e seis dissertações e/ou teses; e da estrangeira: 21 artigos, dois capítulos de livros e dois livros completos, totalizando 55 referências.
Para a análise das referências organizou-se um for-mulário adaptado a partir dos desenvolvidos por Santeiro (2005). Cada referência foi categorizada em relação às se-guintes variáveis: origem (nacional ou estrangeira); tipo da produção (artigo e periódico, tese ou dissertação, capí-tulo de livro, ou livro); natureza do trabalho (estudo empí-rico, relato de experiência, revisão de literatura, trabalho teórico e trabalho teórico ilustrado). Como estudos empí-ricos podem seguir diferentes delineamentos metodológi-cos foram criadas as seguintes categorias: levantamento, correlacional, quase-experimental, experimental, estudo de caso e meta-análise.
Para os estudos empíricos, relato de experiência e tra-balhos teóricos ilustrados foram criadas categorias para o tipo de população-alvo estudada: especial (com algum tipo de deficiência), outras (familiares, profissionais, amigos, etc. de pessoas com deficiências), ou ambas. Em relação às amostras com necessidades especiais procurou-se iden-tificar a faixa etária: Adolescente (14 a 18 anos); Adulto Jovem (19 a 30 anos), Adulto (31 a 59 anos) e Idoso (acima de 60 anos). Essa divisão foi baseada nos critérios em ge-ral apresentados nos trabalhos de Orientação Profissional (Neiva, 2007; Soares, 2002). As amostras foram ainda categorizadas quanto ao tipo de deficiência: física, visu-al, auditiva, mental e múltiplas deficiências. O método de intervenção foi categorizado como sendo: individual ou grupal e se as intervenções eram feitas em clínicas parti-culares, instituições especializadas ou clinica-escola. Em relação ao processo de intervenção, bem como as técnicas utilizadas, procurou-se avaliar: se foram adaptados para a população descrita a partir de intervenções desenvolvidas para outros tipos de pessoas, ou se foram organizados es-pecificamente para esta população.
A análise da orientação teórico/prática foi organizada em cinco categorias: psicanalítica, psicodramática, histó-rico-social, comportamental e psicopedagógica. Sobre o

99
Ivatiuk, A. L., & Yoshida, E. M. P. (2010). Orientação Profissional e Pessoas com deficiência 2000-2009
tipo de atuação desenvolvida no trabalho de Orientação Profissional procurou-se analisar quatro categorias prin-cipais, que são freqüentemente encontradas na literatura específica (Soares, 2002): Orientação Profissional para primeira escolha, Inserção Profissional, Reorientação Profissional e Mercado de Trabalho.
Resultados e Discussão
Dos 55 trabalhos selecionados, 54,6% pertenciam à literatura nacional (n = 30) e 45,4% à estrangeira (n = 25). Em relação ao tipo de produção, 75% eram artigos (n = 41), sendo que entre os nacionais representavam 67% (n = 20) e entre os estrangeiros, 84% (n = 21). Em relação aos livros, foram acessados quatro nacionais (só livros) e quatro es-trangeiros (dois livros e dois capítulos), o que corresponde a 15% da amostra total. Teses e dissertações (n = 6) repre-sentaram 20% da amostra nacional.
Considerando que o levantamento da produção abran-geu uma década, as amostras são pequenas, se compara-das a outras áreas da psicologia. Uma das possíveis razões seria o método empregado. Isto é, o acesso via bases de dados eletrônicas abrange naturalmente apenas parte da produção científica da área, especialmente no Brasil, onde só mais recentemente tem havido um movimento de in-corporação dos periódicos a elas, e mesmo assim, apenas fascículos de anos mais recentes. O mesmo pode ser dito de teses e dissertações, posto que a maioria dos Programas de Pós Graduação não disponibiliza a totalidade do acervo da última década, no Portal Capes. E quanto a livros e ca-pítulos de livros, com exceção da PsycINFO, não são dis-ponibilizados nas bases de dados, sendo, em alguns casos, acessáveis via internet em sítios dos próprios autores. Os chamados e.books constituem ainda um contingente muito limitado, se comparados à versão tradicional em papel.
Outro fator que deve ter contribuído para o tamanho reduzido da amostra diz respeito aos limites que descrito-res impõem. Apesar de se ter buscado utilizar o maior nú-mero possível, o acesso aos trabalhos fica restrito natural-mente àqueles cuja indexação coincida com os descritores utilizados na presente pesquisa. E, em relação à literatura estrangeira, apesar de se ter inicialmente acessado um grande número de referências, verificou-se que a maioria se reportava a pessoas portadoras de distúrbios mentais, tais como, por exemplo, esquizofrenias e transtornos do humor, que na nossa realidade não são incluídos no rol das deficiências. Se de um lado o método de acesso à pro-dução científica limitou o tamanho da amostra, é preciso destacar que os critérios de indexação das bases de dados auxilia a garantir a qualidade dos mesmos. E nessa medi-da, acredita-se que o tamanho reduzido da amostra seria
compensado pela maior confiança que se pode depositar nos resultados encontrados.
Em relação aos periódicos nacionais, a Revista Brasileira de Educação Especial (30%) e a Revista Brasileira de Orientação Profissional (20%), foram os que mais publicaram artigos relacionados à orientação profis-sional de pessoas com deficiência. Somados, eles contêm cerca de 50% das referências encontradas. No que se refere ao conteúdo, tratam de questões teóricas ou de revisões de literatura, não havendo nenhum estudo empírico. De forma contrastante, os periódicos menos especializados, que acei-tam artigos de todas as áreas da Psicologia, e que somam os outros 50% das referências, publicaram estudos empíri-cos (n = 3), ou relatos de experiência da área (n = 1).
Também houve maior incidência de artigos nos peri-ódicos estrangeiros mais específicos da área de Orientação Profissional como, o The Career Development Quartely (28,6%) e o Journal of Employment Counseling (19%); sen-do que o primeiro traz, especificamente, revisões sistemáti-cas anuais de literatura sobre Orientação Profissional. Outros periódicos foram: o Rehabilitation Counseling Bulletin (19%) e o Teaching Exceptional Children (14,3%).
Natureza dos Trabalhos
Em relação à natureza dos trabalhos, as categorias foram organizadas tendo como modelo a classificação proposta por Santeiro (2005), como: empírica, relato de experiência, revisão de literatura, teórica e teórica ilustra-da, conforme explicado no método.
Tanto nos periódicos brasileiros quanto estrangeiros predominaram trabalhos empíricos (n = 24), correspondendo a 43% do total. Nos nacionais os artigos de revisão da litera-tura aparecem em segundo lugar (n = 6, 20%) e nos estran-geiros, os Relatos de Experiência (n = 6, 24%). E em relação ao total de referências, as Revisões de Literatura atingiram 20%, demonstrando que a busca pelo estado da arte dos campos de conhecimentos pesquisados despertam interes-se na comunidade cientifica. Porém, dos estudos nacionais, apenas um deles é uma revisão sistemática de Orientação Profissional de pessoas com deficiência (Mendes et al., 2004). Os demais trabalhos de revisão focalizaram a OP em geral, ou apenas pessoas com deficiências, não integrando os dois temas (Marquezan, 2008; Noronha & Ambiel, 2006).
A categoria Relato de Experiência, segunda mais freqüente entre as estrangeiras e a terceira do total (n = 10, 18%), é também bastante relevante como contri-buição ao campo, pois permite que profissionais da área e pesquisadores acompanhem as iniciativas e inovações técnicas. Especialmente em áreas novas do conhecimen-to, como são os processos de orientação profissional de

100
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 95-106
pessoas portadoras de deficiência, o compartilhamento das experiências costuma ser uma etapa necessária para o aprimoramento e desenvolvimento das novas técnicas e estratégias. Com isso cria-se uma dinâmica para o pro-gresso dos conhecimentos.
Embora seja a quarta categoria mais freqüente (n = 8, 15%), não se pode deixar de falar dos trabalhos de natureza teórica, pois são em geral produzidos por pesqui-sadores com ampla experiência que sistematizam o conhe-cimento e, por meio do exercício da reflexão e da crítica, conferem-lhe maior profundidade. Tanto entre os nacionais quanto entre os estrangeiros a categoria menos encontrada foi a teórica ilustrada (n = 2), correspondendo apenas a 4% do total, indicando que aí há uma carência de pesquisas.
A variabilidade em relação à natureza dos trabalhos sugere que apesar de se tratar de uma nova área de estudos, a OP de pessoas com deficiência tem merecido atenção da comunidade científica. Ao lado das iniciativas jurídicas e sociais que, como referido, vêm garantindo a essas pesso-as condições de trabalho e alternativas de inserção social, a investigação científica sistemática pode contribuir para o aperfeiçoamento das práticas de forma a atingir mais ple-namente seus objetivos.
Os Estudos Empíricos (N = 24) foram ainda classi-ficados em seis categorias metodológicas: Levantamento, Correlacional, Quase-Experimental, Experimental, Estu-do de Caso e Meta-Análise (Santeiro, 2005). Não foi loca-lizado nenhum estudo com a metodologia Meta- Análise. O mais freqüente foi o de levantamento que correspondeu a 62% dos trabalhos. Estes foram seguidos pelos de deli-neamento Quase-Experimental, Correlacional e Estudos
de caso que representaram, respectivamente, 17%, 13% e 8% da amostra total.
Estudos de levantamento fornecem uma descrição quantitativa e/ou qualitativa de uma determinada realidade ou fenômeno, sem que haja manipulação de variáveis pelo pesquisador (Santeiro, 2005). São especialmente úteis nos estágios iniciais de investigações de uma determinada área do conhecimento, pois permitem que se trace o perfil da população-alvo, ou que se conheça as relações existentes entre uma ou mais variáveis que caracterizam esta popula-ção. Neste sentido, seu predomínio não chega a surpreender e mostra-se compatível com o estágio de conhecimentos da OP de pessoas com deficiências. Por outro lado, verifica-se a necessidade de avanços na sofisticação metodológica das in-vestigações, com a implementação de estudos que envolvam delineamentos que permitam o teste de hipóteses e a avalia-ção da eficiência e/ou eficácia dos procedimentos utilizados.
População alvo
Os trabalhos classificados como de natureza empírica (n = 24), relato de experiência (n = 10) e teórica ilustrada (n = 2) foram analisados ainda, em função do tipo de população-alvo (Tabela 1). A categoria especial incluiu trabalhos cujas amostras eram formadas por portadores de algum tipo de necessidade especial; a categoria outros incluiu amostras de pessoas que atuam junto a populações especiais (pais, professores ou empregadores), e a catego-ria ambos, trabalhos em que pessoas da categoria outros eram comparadas a pessoas com deficiências em relação a uma ou mais habilidades.
Tabela 1Distribuição do tipo de população-alvo nos Estudos Empíricos (n= 24), Relato de Experiência (n=10) e Teórico Ilustrado (n=2)
População AlvoEspecial1
Outros2
Ambos3
Total
Origem Nacional Estrangeira TotalF104519
F%532126100
F113317
F%641818100
F217836
F%581923100
(1) pessoas com deficiências; (2) profissionais e familiares; (3) pessoas com deficiência, profissionais e/ou familiares.
Tanto nos trabalhos nacionais quanto estrangeiros, conforme o esperado, predominaram os da categoria especial (58% do total) (Tabela 1), que têm como foco exatamente as pessoas com deficiência, com suas neces-sidades e potencialidades. Quanto aos 19% da categoria outros (instituições especializadas, pais, empregadores e
professores que atuam diretamente com as Pessoas com deficiência), mostram que os pesquisadores também es-tão atentos às pessoas que lidam e ajudam no desenvolvi-mento das que apresentam deficiências. Como estas últi-mas, eles também se encontram envolvidas nas questões atinentes à deficiência. Seja no que se refere ao ônus de

101
Ivatiuk, A. L., & Yoshida, E. M. P. (2010). Orientação Profissional e Pessoas com deficiência 2000-2009
suas limitações, seja no que respeita às suas habilidades e potencialidades.
Apenas duas faixas etárias, das quatro previstas, fo-ram identificadas nos estudos: adolescente (14%) e adul-to jovem (34%). A mais freqüente foi justamente a das duas em conjunto, ou seja, “vários” (45%), sendo que 7% não traziam a faixa etária dos participantes. A maior incidência de estudos com adultos jovens deve-se, pro-vavelmente, ao fato de que indivíduos com deficiência podem levar um pouco mais de tempo para se escolarizar e se inserir no mundo do trabalho, o que estaria sendo refletido nos estudos de Orientação Profissional com esta parcela da população (Lindstrom et al. 2008), diferente-mente dos que têm como alvo, pessoas sem deficiências, cuja maior incidência ocorre na adolescência (Neiva, 2007; Valore, 2003).
A maioria dos trabalhos (n = 19) incluía amostras com participantes de ambos os sexos (66%). Esta tam-bém é a realidade dos estudos com adolescentes sem deficiência, onde a questão da escolha profissional se co-loca na atualidade como uma necessidade para homens e mulheres, que precisam encontrar espaço no mercado profissional, que sejam compatíveis com suas necessida-des, anseios e habilidades (Couto, 2007; Ivatiuk, 2004; Moura, 2004). Apenas na literatura estrangeira houve estudos que se referiam especificamente a um dos sexos: feminino (n = 2, 15%) ou masculino (n = 1, 8%), porém os autores que se utilizaram dessa estratégia, não justifi-caram o porquê de suas escolhas.
Em relação à definição do tipo de deficiência, 77% dos trabalhos estrangeiros tinham como foco deficiên-cias múltiplas (n = 18) e os demais não especificaram (n = 3, 23%). Entre os nacionais, as deficiências múl-tiplas também foram as mais tratadas (n = 8, 49%); se-guidas da deficiência física (n = 3, 29%), mental e vi-sual, com 13% (n = 2) cada uma. A deficiência auditiva foi especificamente focalizada em apenas um estudo (6%). Porém, como as demais, aparece citada em estu-dos sobre deficiência múltipla (Tien, 2007; Whiston & Brecheisen, 2002).
Pessoas com deficiências múltiplas são efetivamen-te as que necessitam de mais cuidados e atenção de fa-miliares e que demandam maior especialização e recur-sos das equipes técnicas responsáveis pelos diferentes tratamentos e programas aos quais devem se submeter. No caso específico da OP, os procedimentos e proces-sos de intervenção requerem inúmeras adaptações, de forma a superar os obstáculos impostos pela presença das deficiências propriamente ditas e chegar a contem-plar adequadamente as habilidades e potencialidades das pessoas assistidas.
Modelo Teórico
Descrever de forma sistemática o referencial teóri-co-técnico utilizado, seja em termos de discussão deste ou como informação sobre como a prática era embasada, não foi objetivo principal da maior parte dos trabalhos, e, portanto, 80% não o especificaram. Dentre os que o fizeram, há os trabalhos de Campos (2006) e o de Pereira (2006), da abordagem comportamental e o de Mota (2003), de orientação psicanalítica. Quanto os enfoques, psicodramático (Lucchiari, 1993; Soares, 2002) e social (Bock, 2002; Ferreti, 1997), apesar de aparecerem com certa freqüência em publicações de OP de pessoas sem deficiências, não foram encontrados no presente trabalho, nem mesmo quando vários referenciais teórico-técnicos eram abordados. A falta de referência ao modelo teórico-técnico se deve provavelmente ao caráter empírico das iniciativas, em que os profissionais se guiam muito mais pelas suas práticas e vivências no dia-a-dia com pessoas com deficiências do que pela reflexão teórica. Movidos por necessidades práticas, tentam adaptar ou criar proce-dimentos para superar obstáculos ou favorecer o desen-volvimento de habilidades específicas.
Características do Processo deOrientação Profissional
Os procedimentos de intervenção de sujeitos únicos foram predominantes tanto entre os estudos nacionais quanto estrangeiros (respectivamente, 56% e 70%). Isto se justifica na medida em que atendimentos em grupo nem sempre atendem as necessidades específicas de cada par-ticipante (Hagner, McGahie, & Cloutier, 2001), ainda que possam atingir, a cada vez, um número maior de parti-cipantes (Carvalho, 1995; Lassance, 1999; Ivatiuk, 2004; Montobbio & Lepri, 2007). Outra alternativa é a combi-nação das duas modalidades, como verificado em alguns trabalhos (n = 5, 17%) da amostra total.
A análise dos Estudos Empíricos, Relato de Expe-riência e Teórico Ilustrado indica que os processos de OP têm sido realizados em instituições especializadas (n = 26, 91%), que são de fato freqüentadas por grande parte deste tipo de população (Araujo & Schimidt, 2006; Mendes et al., 2004; Quintão, 2005). Além disso, são elas que dis-põem de profissionais preparados e responsáveis pela ha-bilitação e o encaminhamento profissional dos usuários. No entanto, quando se pretende conhecer mais detalhada-mente a natureza do processo de Orientação Profissional oferecido, a maior parte dos estudos não fornece detalhas sobre exatamente o que é feito, motivo pelo qual 17 traba-lhos foram incluídos na categoria não especificado (59%).

102
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 95-106
Por outro lado, nos estudos em que foram fornecidos de-talhes dos procedimentos, 34% adaptaram-nos de técnicas utilizadas com pessoas sem deficiências, enquanto apenas 7% organizaram-nos para esta população de forma especi-fica. Como exemplo, cita-se Lindstrom et al. (2008), que desenvolveram um jogo composto por cartões com pessoas famosas com deficiências e os seus interesses e ocupações. Dada a relevância que técnicas e procedimentos adequados às necessidades das pessoas com deficiêcias ganham em procesos de OP, seria necessário que mais pesquisas nesse sentido viessem a ser realizadas (Lisboa, 2000).
Uma outra forma de analisar as publicações sobre OP é verificando a natureza da demanda por este tipo de atendimento, dividida em: Primeira Escolha, Inserção Profissional, Reorientação Profissional e Mercado de Trabalho. Como se tratam de modalidades existentes na prática da OP, mas nem sempre bem conceituadas, adotou-se para fins do presente trabalho as seguintes definições para estas categorias de análise: Primeira escolha – quando a OP visa pessoas que procuram definir melhor seu interes-se e potencialidades para entrar no mercado de trabalho; Inserção Profissional – quando a escolha pela profissão já
foi feita e a pessoa precisa ser preparada para competir no mercado de trabalho. O objetivo também é o de auxiliar e acompanhar o indivíduo nas suas tentativas de se inse-rir no mercado de trabalho; 3. Reorientação Profissional – quando o objetivo é a redefinição da carreira em termos de novas perspectivas; 4. Mercado de Trabalho – quan-do o objetivo é a compreensão da realidade do mercado e análise de como ele se configura em um determinado momento; 5. Várias – quando mais de uma das categorias anteriores eram satisfeitas; 6. Não Especificado – quando o motivo da demanda por OP não era o objeto do estudo.
A Tabela 2 mostra que os trabalhos voltados para mais de um tipo de demanda por OP (categoria Várias), foram os mais freqüentes tanto entre as publicações nacionais (30%) quanto estrangeiras (48%). São exem-plos, alguns manuais como os de Cummings, Madduxe e Casey (2000) e o de Beech (2002). E dentre as nacio-nais, ao lado da categoria Várias, a intitulada, Mercado de Trabalho, foi igualmente representada (30%). São em geral, pesquisas realizadas com empregadores e/ou pais e/ou professores que atuam com pessoas com deficiência e não diretamente com elas.
Tabela 2Distribuição das referências de acordo com a origem (nacional/estrangeira) e o tipo de trabalho em orientação profissional
Tipo de trabalho emOrientação Profissional
Primeira EscolhaInserção profissional
Reorientação ProfissionalMercado de Trabalho
VáriosNão Especificado
Total
Origem Nacional Estrangeira Total
F
57099030
F%
1723030300
100
F
2100112025
F%
84004480
100
F
71701021055
F%
1331018380
100
A categoria Inserção Profissional foi a segunda mais freqüentemente encontrada nas publicações estrangeiras (40%). Sendo que dentre estas podem estar estratégias como o desenvolvimento de habilidades necessárias para o exercício de funções, como as relatadas por Hagner et al. (2001). Os autores orientaram grupos de pessoas portadoras de múltiplas deficiências, por três anos, e as acompanharam até o momento de inserção no mercado de trabalho.
Sabe-se que a questão da primeira escolha profis-sional, que compreende os trabalhos de OP que visam auxiliar principalmente adolescentes e jovens, é um dos
temas mais comumente discutidos na literatura cien-tífica de OP (Bohoslavsky, 1993; Bock, 2002; Bock & Aguiar, 1995; Carvalho, 1995; Ferreti, 1997; Ivatiuk, 2004; Levenfus, 1997; Lucchiari, 1993; Melo-Silva & Jacquemin, 2001; Moura, 2004; Mello, 2002; Neiva, 2007). Porém, na presente pesquisa esta foi apenas a quarta categoria mais frequente (11%), notando-se que a literatura nacional teve um índice superior (17%) do que a estrangeira (8%). O mesmo se pode dizer dos es-tudos de Reorientação Profissional, relativamente fre-qüentes dentre os trabalhos de OP voltados para pessoas

103
Ivatiuk, A. L., & Yoshida, E. M. P. (2010). Orientação Profissional e Pessoas com deficiência 2000-2009
sem deficiências (por exemplo, Barros, 2003), e que não foram identificados nesta pesquisa. Uma explicação pos-sível, seria a de que a inserção da pessoa com deficiência já tem suas dificuldades e uma reopção é provavelmente uma situação rara, nesta população.
Considerações Finais
A título de considerações finais são destacados a se-guir os pontos mais relevantes da revisão da literatura efe-tuada, dando-se maior ênfase à produção nacional. Antes, porém é preciso reenfatizar alguns limites da pesquisa e seus reflexos sobre os resultados. Conforme mencionado, a coleta de dados baseada quase que exclusivamente em bases de dados eletrônicas certamente reduziu o escopo de publicações disponíveis, especialmente no que concerne à literatura nacional. Some-se a isso a questão, já apontada, do uso de descritores para o acesso às obras. Com isso, é possível que várias delas tenham sido ignoradas, com prejuízo sobre o perfil que se procurou traçar dos estudos de OP de pessoas com deficiências. Um segundo fator está relacionado ao viés imposto pelo instrumento utilizado para a avaliação do material. Os itens que compuseram o formulário de coleta de dados permitiram a análise de as-pectos específicos da produção científica ao mesmo tempo que deixaram de lado muitos outros, eventualmente mais relevantes para uma avaliação fidedigna dos desenvol-vimentos da área. E, finalmente, cabe mencionar que ao não se considerar na literatura estrangeira os trabalhos que focalizavam pessoas portadoras de disturbios de persona-lidade ou com doenças mentais, certamente se introduziu um viés aos dados estrangeiros, que teve o volume de sua produção subestimado.
Tendo portanto em mente esses e outros eventuais li-mites da pesquisa, é possivel dizer que a revisão realizada permitiu identificar algumas características da produção
científica existente sobre OP de pessoas com deficiência e também apontou algumas lacunas. Os resultados su-geriram que a produção vem sendo veiculada principal-mente por meio de artigos em periódicos especializados e também não-especializados das áreas de Psicologia e de Educação. Especificamente em relação aos nacionais, muitos estudos foram inicialmente objeto de dissertações e teses, que como se sabe, nem sempre são seguidos por outros estudos, uma vez que muitos alunos, após obterem seus títulos, abandonam as atividades de pesquisa, ou ain-da, têm o seu interesse voltado para outros temas, em de-corrência do desenvolvimento de suas carreiras.
Em relação à sofisticação dos delineamentos de pes-quisa empregados no Brasil, é possível antever que eles se tornarão gradativamente mais refinados, acompanhan-do a tendência já observada nos estudos estrangeiros. Efetivamente, esses últimos já apresentam delineamentos mais elaborados e empregam amostras mais represen-tativas quando comparados aos nacionais. Observa-se ademais que os limites das investigações são geralmente pouco enfatizados, o que pode levar a interpretações e ge-neralizações indevidas. Deve-se todavia ressaltar que esta não é uma característica exclusiva da área de OP, mas atin-ge a maioria das subáreas da psicologia, o que reflete, de um lado, uma relativa imaturidade científica de parcela dos pesquisadores, e de outro, dificuldades enfrentadas para se realizar estudos metodologicamente sofisticados que de-mandariam maior suporte financeiro e institucional.
Outro ponto a destacar diz respeito ao número rela-tivamente baixo de trabalhos descrevendo ou propondo procedimentos bem detalhados para os processos de OP de pessoas com deficiência. O mais importante é que, in-dependente da proposta ser de trabalho individual ou gru-pal, que haja um detalhamento suficiente da técnica para guiar os profissionais da área e também para permitir que pesquisadores possam reproduzi-la em seus estudos.
Referências
Abade, F. L. (2005). Orientação Profissional no Brasil: Uma revisão histórica da Produção Científica. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 6(1), 15-24.
Araújo, A. S., & Sarriera, J. C. (2004). Redirecionamento da carreira profissional: Uma análise compreensiva. In J. C. Sarriera, K. B. Rocha, & A. Pizzinato (Orgs.), Desafios do mundo do trabalho: Orientação, inserção e mudanças (pp. 135-158). Porto Alegre: EDIPUCRS.
Araujo, J. P., & Schmidt, A. (2006). A inclusão de pessoas com deficiência no trabalho: A visão de empresas e de instituições educacionais especiais na cidade de Curitiba. Revista Brasileira de Educação Especial, 12, 241-254.
Barros, D. T. R. (2003). Migração profissional. In L. L. Melo-Silva, M. A. Santos, J. T. Simões, & M. C. Avi (Orgs.), Orientação profissional: Teoria e técnica: Vol. 1. Arquitetura de uma ocupação (pp. 261-270). São Paulo: Vetor Editora Psicopedagógica.
Beech, M. (2002). Accommodations and modifications for students with disabilities in vocational education and adult general education. Flórida: Departamento de Educação.

104
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 95-106
Bock, A. M. B., & Aguiar, W. M. J. (1995). Por uma prática promotora de saúde em orientação vocacional. In A. M. B. Bock et al. (Orgs.), A escolha profissional em questão (pp. 9-23). São Paulo: Casa do Psicólogo.
Bock, S. D. (2002). Orientação profissional: A abordagem sócio-histórica. São Paulo: Ed. Cortez.Bohoslavsky, R. (1993). Orientação profissional: A estratégia clínica (10a ed., J. M. V. Bojart, Trad.). São Paulo: Martins
Fontes. (Original publicado em 1977)Brasil. (1991). Lei Nº 8.213 de 24 de julho de 1991. Recuperado em 05 maio 2009, de http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Leis/L8213cons.htmBrasil. (1999). Decreto Nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Recuperado em 01 setembro 2009, de http://portal.mec.gov.
br/seesp/arquivos/pdf/dec3298.pdfBrito, D. C. S., & Barros, D. T. R. (2008). A orientação profissional como método terapêutico e reabilitador de pacientes portadores
de doenças crônicas. Revista Brasileira Orientação Profissional, 9(2), 141-148. Recuperado em 05 outubro 2009, de http://pepsic.bvs-psi.Orgs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-33902008000200012&lng=pt&nrm=iso
Campos, J. A. (2006). Programa de Habilidades Sociais em situação natural de trabalho de pessoas com deficiência: Analise dos efeitos. Tese de Doutorado não- publicada, Programa de Pós-Graduação em Educação Especial, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP.
Canedo, I. R. (2000). Reorientação profissional na aposentadoria. In M. D. Lisboa & D. H. P. Soares (Orgs.), Orientação profissional em ação: Formação e prática de orientadores (pp. 183-200). São Paulo: Summus Editorial.
Carvalho, M. M. (1995). Orientação profissional em grupo: Teoria e técnica. Campinas: Editorial Psy II.Clemente, C. A. (2008). Trabalho decente: Leis, mitos e práticas de inclusão. São Paulo: Editora do Autor.Costallat, F. L. (2003). O direito ao trabalho da pessoa deficiente: Manual de orientação, legislação e jurisprudencia.
Campinas: Fundação Síndrome de Down.Couto, C. P. (2007). Orientação profissional numa escola particular: De atividade extraclasse à grade curricular do ensino
médio. In D. T. Barros, M. T. Lima, & R. Escalda (Orgs.), Orientação profissional: Teoria e técnica: Vol. 3. Escolha e inserção profissionais: Desafios para individuos, famílias e instituições (pp. 181-194). São Paulo: Vetor Editora Psicopedagógica.
Cummings, R., Maddux, C. D., & Casey, J. (2000). Individualized transition planning for students with learning disabilities. The Career Development Quarterly, 49, 60-72.
Ferreti, C. (1997). Uma nova proposta de orientação profissional (3a ed.). São Paulo: Cortez.Garcia, M. de P. B. (2000). Reorientação profissional em grupo: Planejamento por encontro. In M. D. Lisboa & D. H. P.
Soares (Orgs.), Orientação profissional em ação: Formação e prática de Orientadores (pp. 144-168). São Paulo: Summus Editorial.
Greca, S. M. (2000). A importância da informação na orientação profissional: Uma experiência com alunos do ensino médio. In M. D. Lisboa & D. H. P. Soares (Orgs.), Orientação profissional em ação: Formação e prática de orientadores (pp. 111-133). São Paulo: Summus Editorial.
Hagner, D., McGahie, K., & Cloutier, H. (2001). A model career assistance process for individuals with severe disabilities. Journal of Employment Counseling, 38, 197-206.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2000). Censo populacional brasileiro de 2000. Recuperado em 10 outubro 2009, de http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/default_censo_2000.shtm
Ivatiuk, A. L. (2004). Orientação profissional para profissões não universitárias: Perspectiva da Análise do comportamento. Dissertação de Mestrado não-publicada, Programa de Pós-Graduação do Centro de Ciências da Vida, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP.
Ivatiuk, A. L., & Amaral, V. L A. R. do. (2007). Orientação profissional para profissões não universitárias. In D. T. Barros, M. T. Lima, & R. Escalda (Orgs.), Orientação profissional: Teoria e técnica. Vol. 3. Escolha e inserção profissionais: Desafios para individuos, famílias e Instituições (pp. 211-224). São Paulo: Vetor Editora Psicopedagógica.
Johnson, R. D., Mellard, D. F., & Lancaster, P. (2007). Helping young adults with learning disabilities plan and prepare for employment. Teaching Exceptional Children, 39(6), 26-32.
Lassance, M. C. (Orgs.). (1999). Técnicas para o trabalho de orientação profissional em Grupo. Rio Grande do Sul: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Lassance, M. C. P. (2005). Adultos com dificuldades de ajustamento ao trabalho: Ampliando o enquadre da orientação vocacional de abordagem evolutiva. Revista Brasileira Orientação Profissional, 6(1), 41-51.

105
Ivatiuk, A. L., & Yoshida, E. M. P. (2010). Orientação Profissional e Pessoas com deficiência 2000-2009
Lehman, Y. P. (2010). Orientação profissional na pós-modernidade. In R. S. Levenfus & D. H. P. Soares (Orgs), Orientação vocacional/ ocupacional (2a ed., pp. 19 - 30). Porto Alegre: Artmed.
Levenfus, R. S. (1997). Psicodinâmica da escolha profissional. Porto Alegre: Artes Médicas.Levinson, E. M., & Ohler, D. L. (1998). Transition from high school to college for Students with learning disabilities:
Needs, assessment and services. The High School Journal, 82(1), 62-69.Lindstrom, L., Johnson, P., Doren, B., Zane, C., Post, C., & Harley, E. (2008). Building oortunities for young women with
disabilities. Teaching Exceptional Children, 40(4), 66-71.Lisboa, M. D. (2000). A formação de orientadores profissionais: Um compromisso social multiplicador. In M. D. Lisboa
& D. H. P. Soares (Orgs.), Orientação profissional em ação – Formação e prática de orientadores (pp. 11-23). São Paulo: Summus Editorial.
Lucchiari, D. (1993). Planejamento por encontros. In D. Lucchiari, Pensando e vivendo a orientação profissional (2a ed., pp. 22-34). São Paulo: Summus Editorial.
Marques, L. P., Carneiro, C. T., Andrade, J. D., Martins, N. T., & Gonçalves, R. M. (2008). Analisando as pesquisas em Educação Especial no Brasil. Revista Brasileira de Educação Especial, 14, 251-272.
Marquezan, R. (2008). O discurso da Legislação sobre o sujeito deficiente. Revista Brasileira de Educação Especial, 14, 463-478.
Mello, F. A. F. (2002). O desafio da escolha profissional. Campinas: Papirus Editora.Melo-Silva, L. L., & Jacquemin, A. (2001). Intervenção em orientação vocacional/ profissional: Avaliando resultados e
processos. São Paulo: Vetor Editora Psicopedagógica.Melo-Silva, L. L., Bonfim, T., Esbrogeo, M. C., & Soares, D. H. (2003). Um estudo preliminar sobre práticas em orientação
profissional. Revista Brasileira de Orientação Profissional , 4(1/2), 21-34.Mendes, E. G., Nunes, L. R., Ferreira, J. R., & Silveira, L. C. (2004). Estudo da arte das pesquisas sobre profissionalização
do portador de deficiência. Temas em Psicologia, 12, 105-108.Montobbio, E., & Lepri, C. (2007). Quem eu seria se pudesse ser: A condição adulta da pessoa com deficiência intelectual.
Campinas: Fundação Síndrome de Down.Moreira, H. F., Michels, L. R., & Colossi, N. (2006). Inclusão educacional para pessoas portadoras de deficiência: Um
compromisso com o ensino superior. Revista Escritos sobre Educação, 5(1), 19-25.Mota, M. M. (2003). A psicoterapia breve na orientação profissional do jovem com deficiência física. Dissertação de
Mestrado não-publicada, Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo.Moura, C. B. (2004). Orientação Profissional sob o enfoque da Análise do comportamento. Campinas: Editora Alínea.Neiva, K. M. (2007). Processos de escolha e orientação profissional. São Paulo: Vetor.Noronha, A. P., & Ambiel, R. A. (2006). Orientação profissional e vocacional: Análise da produção científica. Psico-USF,
11, 75-84.Noronha, A. P., Andrade, R. G., Nascimento, M. M., Nunes, M. F., Pacanaro, S. V., Ferruzzi, A. H. et al. (2006). Análise
de teses e dissertações em orientação profissional. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 7(2), 1-10.Pereira, C. D. (2006). Habilidades sociais em trabalhadores com e sem Deficiência Física. Dissertação de Mestrado não-
publicada, Programa de Pós-Graduação em Educação Especial, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP.Pigatto, C. S., Klein, E. T, & Wisnesky, R. do R. (2000). Orientação profissional no contexto da deficiência auditiva.
Curitiba: Juruá Editora.Quintão, D. T. (2005). Algumas reflexões sobre a pessoa portadora de deficiência e sua relação com o social. Psicologia
e Sociedade, 17, 17-28.Ribeiro, M. A. (2004). Orientação Profissional para pessoas psicóticas: Um estudo para o desenvolvimento de estratégias
identitárias de transição através da construção de projetos. Tese de Doutorado não-publicada, Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Santeiro, T. V. (2005). Psicoterapias breves psicodinâmicas: Produção científica em períodicos nacionais e estrangeiros (1980/2002). Tese de Doutorado não-publicada, Programa de Pós-Graduação do Centro de Ciências da Vida, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP.
Sarriera, J. C., Meira, P. B., Berlim, C. S., Bem, L. A., & Câmara, S. G. (1999). Treinamento em habilidades sociais na orientação de jovens à procura de emprego. Psico, 30, 67-85.
Soares, D. H. P. (1999). A Inserção da orientação profissional no Brasil. Anais do Encontro Mineiro de Orientadores Profissionais: Desafios frente às transformações do mundo do trabalho, 1.

106
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 95-106
Soares, D. H. (2002). A escolha profissional do jovem ao adulto. São Paulo: Summus Editorial. Soares, D. H. (2009). O que é orientação profissional (4a ed.). São Paulo. Editora Brasiliense. Tanaka, E. D., & Manzini, E. J. (2005). O que os empregadores pensam sobre o trabalho da pessoa com deficiência?
Revista Brasileira de Educação Especial, 11, 273-294.Teixeira, M. A., Lassance, M. C., Silva, B. M., & Bardagi, M. P. (2007). Produção científica em orientação profissional:
Uma análise da Revista Brasileira de Orientação Profissional. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 8(2), 25-40.
Tien, H-L. S. (2007). Practice and research in career counseling and development - 2006. The Career Development Quarterly, 56, 98-139.
Toldrá, R. C., & Sá. M. J. C. N. de. (2008). A profissionalização de pessoas com deficiência em Campinas: Fragilidades e perspectivas. Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, 19(1), 48-55.
Valore, L. A. (2003). Construindo e resgatando competências na preparação do profissional do futuro: Algumas reflexões sobre a inserção da Escola no processo de Orientação Profissional. In L. L. Melo-Silva, M. A. Santos, J. T. Simões, & M. C. Avi (Orgs.), Orientação profissional: Teoria e técnica: Vol. 1. Arquitetura de uma ocupação (pp. 97-108). São Paulo: Vetor Editora Psicopedagógica.
Valore, L. A. (2010). Orientação profissional em grupo na escola pública: Direções possíveis, desafios necessários. In R. S. Levenfus & D. H. P. Soares (Orgs.), Orientação vocacional/ocupacional (2a ed., pp. 65 - 81). Porto Alegre: Artmed.
Whiston, S. C., & Brecheisen, B. K. (2002). Practice and research in Career couseling and development - 2001. The Career Development Quarterly, 51, 98-154.
Recebido:16/12/20091ª Revisão:13/04/2010
Aceite Final:22/04/2010
Sobre as autorasAna Lucia Ivatiuk é Doutora em Psicologia como Ciência e Profissão pela PUC-Campinas, Mestre em Psicologia
Clínica pela PUC-Campinas, Psicóloga Clínica e da Saúde e docente do curso de Psicologia da Faculdade de Administração, Ciências, Educação e Letras (FACEL-PR).
Elisa Medici Pizão Yoshida é Doutora em Ciências (Psicologia) pela USP; Pós- Doutorado na Universidade de Montreal, Canadá; Docente do Programa de Pós Graduação Strito Sensu em Psicologia e da Faculdade de Psicologia da PUC-Campinas.

107Disponível em http://pepsic.bvs-psi.org.br/rbop
Revista Brasileira de Orientação Profissionaljan.-jun. 2010, Vol. 11, No. 1, 107-120
Produção científica em congressos brasileirosde orientação vocacional e profissional:
Período 1999-2009
ResumoEste estudo, do tipo estado da arte, objetiva analisar os trabalhos publicados em “Programa e Resumos” de seis eventos científicos realizados pela Associação Brasileira de Orientação Profissional (ABOP), organizados bianualmente, com-preendendo a análise de uma década (1999 a 2009). Foram analisados 733 resumos de apresentações orais, painéis e mesas-redondas, de acordo com as categorias: tipo de trabalho, número de autores, população-alvo, filiação institucional, estado de origem e tema. Os resultados mostram predomínio de relatos de pesquisa e de experiência, com adolescentes e jovens adultos que buscam acesso à universidade. São publicações de um autor, seguidos de trabalhos em coautoria, e de pesquisadores das regiões Sudeste e Sul. Predominam estudos sobre escolha profissional, intervenção e serviços e instrumentos de avaliação, seguidos de estudos sobre outras transições no ciclo vital e orientações a populações diver-sas. A análise a cada congresso permite verificar o que tem sido produzido e as tendências das investigações.Palavras-chave: revisão de literatura, produção científica, orientação vocacional, orientação profissional, orien-tação ocupacional
Abstract: Analysis of Brazilian scientific production in vocational and career guidance: Congresses in 1999-2009 This state-of-the art study aimed at analyzing the works published in the “Proceedings” of six congresses, from 1999 to 2009, held biannually, by the Brazilian Association for Vocational Guidance (Associação Brasileira de Orientação Profissional, ABOP). We analyzed 733 abstracts of oral presentations, panels and round tables, organized according to the following categories: type of paper, number of authors, institutional affiliation, home state, target subjects and topics. The data showed a prevalence to exist of research reports followed by experience reports, with adolescents and young adults seeking access to university. Works by one author prevail, followed by co-authorship, from the southeast and south regions. Most studies are about vocational choice, services and evaluation tools, followed by studies about other transition in the vita cycle and guidance to different populations. The analysis of each congress showed what was produced and the investigating trends in the decade analyzed. Keywords: literature review, scientific production, vocational guidance, career guidance, occupational guidance
Resumen: Producción científica en congresos brasileños de orientación vocacional y profesional: Período 1999-2009Este estudio, del tipo estado del arte, trata de analizar los trabajos publicados en “Programa y Resúmenes” de seis eventos científicos realizados por la Asociación Brasileña de Orientación Profesional (ABOP), organizados bianualmente, comprendiendo el análisis de una década (1999 a 2009). Se analizaron 733 resúmenes de presentaciones orales, paneles y mesas redondas, de acuerdo con las categorías: tipo de trabajo, número de autores, población objetivo, filiación institucional, estado de origen y tema. Los resultados muestran predominio de relatos de investigación y de experiencias con adolescentes y jóvenes adultos que buscan ingresar a la universidad. Son publicaciones de un autor además de trabajos de coautores y de investigadores de las regiones sudeste y sur. Predominan estudios sobre elección profesional, intervención y trabajos e instrumentos de evaluación seguidos de estudios sobre otras transiciones en el ciclo vital y orientaciones a poblaciones diversas. El análisis, en cada congreso, permite verificar lo que se ha producido y las tendencias de las investigaciones.Palabras clave: revisión de bibliografía, producción científica, orientación vocacional, orientación profesional, orientación ocupacional
Lucy Leal Melo-SilvaUniversidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, Brasil
Mara de Souza LealUniversidade Federal de Uberlândia, Uberlândia-MG, Brasil
Nerielen Martins Neto FracalozziUniversidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, Brasil
Artigo

108
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 107-120
Publicar os resultados das pesquisas é importante para o avanço em qualquer área do conhecimento e tam-bém uma excelente oportunidade para o desenvolvimento da carreira de todo pesquisador. Escrever um texto cien-tífico para ser publicado em periódico impresso ou ele-trônico e para ser apresentado em um evento científico é uma tomada de decisão que envolve crescimento do profissional e melhores oportunidades na carreira (Secaf, 2007). “São decisões que envolvem aspectos metodológi-cos, legais e éticos, de redação, de criatividade e também de custo e gerenciamento do tempo” (Secaf, 2007, p. 15). Além disso, publicar é um dever dos pesquisadores tendo em vista a necessidade da divulgação dos achados das in-vestigações, que em geral são financiadas por agências de fomento à pesquisa (Sabadini, Sampaio, & Koller, 2009) e pelas universidades.
Por sua vez, publicar análises da produção científi-ca resulta em grande contribuição para os investigadores em qualquer área do conhecimento, uma vez que permite traçar um panorama de desenvolvimento e evolução em um domínio específico. O levantamento das temáticas publicadas possibilita a identificação dos assuntos mais relevantes, refletindo a situação da área de conhecimen-to em questão e discrimina temas que ainda necessitam de maior exploração, abrindo caminhos para futuras in-vestigações. Tais investigações são denominadas “estado da arte” ou “estado do conhecimento” (Ferreira, 2002). São úteis, pois possibilitam maior desenvolvimento, apri-moramento da área de estudo e podem contribuir para evitar o excesso de publicações em determinadas áreas do conhecimento em detrimento de outras (Noronha & Ambiel, 2006; Noronha et al., 2006). Mapear o que está sendo produzido e divulgado é útil também para se veri-ficar as lacunas e necessidades de novas investigações ou de aprofundamento e novos direcionamentos em linhas de pesquisa já consagradas.
Para analisar é preciso sistematizar as informações, quantificar os dados. Nesse sentido, um método de quanti-ficação que busca um perfil dos registros do conhecimen-to, a Bibliometria, tem sido utilizado pelos pesquisadores para avaliar e descrever estudos de áreas específicas do saber científico (Bufrem & Prates, 2005), contribuindo, dessa forma, para a organização e sistematização de infor-mações científicas e tecnológicas (Guedes & Borschiver, 2005). Essa ferramenta de estudo, juntamente com a meta-ciência, que permite a análise qualitativa do que vem sen-do publicado (Witter, 1999), têm sido amplamente utiliza-das para dar suporte aos estudos de revisão bibliográfica (Teixeira, Lassance, Silva, & Bardagi, 2007).
Conhecer a produção científica tornou-se uma neces-sidade. Assim, observa-se que vários trabalhos têm sido
realizados no sentido de abordar as publicações na área da Orientação Vocacional e Profissional, com aportes no contexto estrangeiro ou brasileiro. No Brasil um dos es-tudos de sistematização de informações sobre o domínio da orientação e informação profissional foi a investigação desenvolvida por Pimenta e Kawashita (1986), que dispo-nibilizou um diagnóstico de 34 instituições de 10 unida-des de regionais vinculadas ao Sistema Nacional de for-mação de mão-de-obra e a outras instituições. Na década seguinte, Carvalho (1995) publica um livro, com base em sua tese de doutorado analisando o modelo de intervenção em grupo no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Melo-Silva e Jacquemin (2001) também ava-liam um procedimento de intervenção na USP de Ribeirão Preto, desdobramento da tese de Melo-Silva defendida em 2000. Posteriormente, outros autores se dedicaram ao estudo das publicações na área, como Abade (2005), Noronha e Ambiel (2006), Noronha et al. (2006), Teixeira et al. (2007) e Rueda (2009). A Revista Brasileira de Orientação Profissional (RBOP), que voltou a circular em 2003, foi objeto de análise três vezes (Melo-Silva, 2006; Teixeira et al., 2007; Rueda, 2009).
A produção aumenta a cada década, demonstrando o caráter promissor da área, segundo Noronha e Ambiel (2006). Também nesse sentido, Noronha et al. (2006) ao analisarem a produção de teses e dissertações na área de Orientação Vocacional e Profissional encontraram maior número desses trabalhos nas décadas de 1990 e 2000. Cumpre destacar que a Associação Brasileira de Orientação Profissional (ABOP) foi criada em 1993 co-nectada com as mudanças que estavam ocorrendo no mundo do trabalho e visando atender à demanda de pro-fissionais e pesquisadores da área. Noronha e Ambiel (2006), ao estudarem a produção científica da área de Orientação Profissional no período 1950-2005, verifica-ram uma predominância de artigos teóricos e de pesqui-sa. Noronha et al. (2006) encontraram uma freqüência de relato de pesquisa muito superior aos estudos teóricos. Rueda (2009) em seu levantamento sobre os artigos pu-blicados na RBOP constatou a preponderância de relatos de pesquisas. O predomínio de relatos de pesquisa é espe-rado em qualquer domínio da ciência, sobretudo, quando se trata de publicações em periódicos científicos.
Nesses estudos de revisão bibliográfica, a região Sudeste se destacou em termos de produção do conhe-cimento na área, seguida pela região Sul (Noronha et al., 2006; Rueda, 2009; Teixeira et al., 2007). Houve um predomínio de trabalhos de instituições públicas de en-sino, principalmente da USP (Noronha et al., 2006). As regiões Sul e Sudeste do Brasil se destacam em qualquer área do conhecimento, em decorrência do contingente

109
Melo-Silva, L. L., Leal, M. S., & Fracalozzi, N. M. N. (2010). Produção científica em Orientação Profissional
populacional e do elevado número de universidades e centros de pesquisa nelas sediados.
Na produção analisada por Rueda (2009) observou-se que instrumentos em Orientação Profissional tam-bém foram tema de discussão. O uso de instrumentos de avaliação nas práticas constitui um assunto polêmi-co na área. Cumpre destacar que um fascículo especial sobre o tema foi publicado na RBOP em 2006 (volume 7, número 2). Rueda (2009) verificou vários trabalhos com o uso de testes padronizados e aprovados pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI) do Conselho Federal de Psicologia (CFP) como o Teste de Fotos de Profissões (Berufsbilder Test, BBT), de Achtnich, padronizado para a população brasileira por Jacquemin (2000) e Jacquemin, Okino, Noce, Assoni e Pasian (2006) e a Escala de Maturidade para a Escolha Profissional (EMEP), de Neiva (1999). Contudo, Noronha et al. (2006) e Noronha e Ambiel (2006) encontraram grande número de publicações com instrumentos não pa-dronizados. Nesse contexto, a divulgação da produção sugere que a Orientação Profissional tem conquistado es-paço como área de conhecimento (Abade, 2005). Porém, ainda são necessários muitos estudos para que a área se consolide como um domínio alargado do conhecimento teórico e que, como prática alcance diversos grupos po-pulacionais no contexto brasileiro.
Em busca de espaços apropriados para debates sobre esse domínio do conhecimento, foi realizado, em 1993, o I Simpósio de Orientação Vocacional & Ocupacional, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, promovido pelo Instituto do Ser: Psicologia e Pedagogia, de São Paulo e pelo Serviço de Orientação Profissional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (Melo-Silva & Jacquemin, 2001; Melo-Silva & Lassance, 2009). A Associação Brasileira de Orientadores Profissionais (ABOP) conforme artigo 4º de seus Estatutos Sociais objetiva “favorecer, apoiar, estimu-lar e promover atividades científicas de investigação e de ação orientadora, respeitando as identidades e liberdades pessoais e sócio-históricas” e “impulsionar a investigação e a ação científicas da orientação...” (Melo-Silva, Santos, Simão, & Avi, 2003, p. 439). Visa, ainda, consolidar o co-nhecimento e difundir as práticas existentes nessa área, em um espaço com possibilidade de construção da identidade do orientador profissional e organização dos preceitos e de-veres nessa atividade (Abade, 2005). Os trabalhos, na ínte-gra, do I Simpósio foram publicados em Anais no formato de apostila e comercializados em 1995.
Desde então, bienalmente, ocorre o Simpósio de Orientação Vocacional & Ocupacional, que tem contribuí-do com o debate nacional e internacional sobre a Orientação Profissional como ciência e atividade ocupacional. Na
sequência, foram realizados o II Simpósio em São Paulo/SP (1995), o III Simpósio em Canoas/RS (1997), o IV Simpósio em Florianópolis/SC (1999), o V Simpósio em Valinhos/SP (2001), o VI Simpósio em Florianópolis/SC (2003), o VII Simpósio em Belo Horizonte/MG (2005). A partir de 2007, por ocasião do VIII Simpósio de Orientação Vocacional & Ocupacional foi realizado conjuntamente o I Congresso Latinoamericano de Orientação Profissional da ABOP, em Bento Gonçalves/RS, marcando o crescimento da ABOP no cenário nacional e internacional (Melo-Silva, 2007). Em 2009, em Atibaia/SP, o II Congresso e o IX Simpósio foi realizado cristalizando-se a internacionali-zação do evento. O “Programa e Resumos” do congresso de 2009 mostra maiores informações sobre as principais ações científicas e políticas da ABOP e da RBOP.
Com relação ao I Simpósio (1993) e ao III Simpósio (1997) os trabalhos foram organizados em Anais. Em 2001 os Anais do IV Simpósio (1999) foram publicados pela Vetor Editora. Considerando que os eventos cientí-ficos constituem importante veículo de divulgação e di-fusão de conhecimento na área, o objetivo deste estudo é mapear a produção do conhecimento por meio dos resu-mos publicados no “Programa e Resumos” de uma déca-da (1999 a 2009), período da realização de seis congres-sos, de modo a traçar um panorama da produção científica na área, além de identificar lacunas que podem vir a ser objeto de estudos futuros.
Método
Natureza do estudo e corpus de análise
Esta pesquisa, de caráter documental, visa analisar o conteúdo dos resumos publicados. Trata-se de um ma-terial rico e estável, que proporciona melhor visão sobre determinado tema e permite traçar seu panorama histórico (Gil, 2002). O tipo de estudo desenvolvido neste trabalho é denominado “estado da arte”, de caráter bibliográfico, que consiste em mapear e discutir a produção científica de diversas áreas do saber, na tentativa de apreender o que vem sendo destacado em diferentes épocas e lugares e em que condições se dão as produções acadêmicas e científicas (Ferreira, 2002). Os “Programas e Resumos” dos eventos científicos realizados pela ABOP constituem o “corpus de análise”. Foram analisados os resumos de quatro Simpósios de Orientação Vocacional & Ocupacional: período 1999-2005 e de dois Congressos Latinoamericano da ABOP si-multâneos aos dois Simpósios: período 2007-2009.
Objetivando o delineamento metodológico foram selecionados os resumos referentes às mesas redon-das, apresentações orais e pôsteres dos “Programas e

110
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 107-120
Resumos” dos seis eventos realizados no período 1999-2009. Os eventos realizados no referido período disponi-bilizaram “Programa e Resumos” em publicação impres-sa contínua, sendo que o último também disponibilizou a
publicação online. A Tabela 1 mostra a distribuição das atividades realizadas em cada congresso e o número de resumos publicados em cada evento e que constituem o “corpus” de análise deste estudo.
Eventos eatividades
IV Simpósio1999
V Simpósio2001
VI Simpósio2003
VII Simpósio2005
I Congresso eVIII Simpósio
2007
I Congresso eVIII Simpósio
2009
ConferênciaPalestraCurso
Mesa redondaWorkshop de TécnicasResumos publicados
1062066
0334066
00848
129
1173490
10989
174
319160
204
Tabela 1Distribuição das atividades e resumos em função dos congressos
Procedimento de coleta e análise dos dados
Os dados foram analisados com base em Bardin (1977). Inicialmente, foi realizada a leitura flutuante dos resumos publicados em cada volume do “Programa e Resumos” de modo a estabelecer um primeiro contato com os documentos. A seguir, foi então criada uma base de da-dos no Programa Excel, objetivando organizar os resumos de acordo com as seguintes categorias: tipo de trabalho, número de autores, população alvo, filiação institucional dos autores, unidade federativa (Estados) e países, eixos temáticos e agência de fomento, com base em Melo-Silva (2006) e em Teixeira et al. (2007), detalhadas a seguir.
- Tipo de trabalho: relato de pesquisa, relato de experiência, estudo teórico, descrição de técnicas de intervenção.
- Número de autores: quantidade de autores.- População alvo: a quem se dirige o estudo ou quais
foram os participantes da pesquisa, de acordo com a des-crição dos próprios autores. Cumpre destacar que alguns resumos foram classificados em mais de uma subcatego-ria. Há resumos aos quais não se aplica essa classificação, por exemplo, os estudos teóricos. As populações, portan-to, foram organizadas nas seguintes subcategorias:
(1) pessoas em processo de escolha da carreira: pes-soas em processo de escolha da carreira, na maioria ado-lescentes, que por falta de dados sobre escolaridade, não puderam ser enquadrados em outras categorias, ou pesso-as em processo de reorientação profissional;
(2) estudantes do Ensino Médio: alunos do primeiro e segundo ano do Ensino Médio, ou amostras que incluíam
junto a estes, alunos do terceiro ano do Ensino Médio (es-colas particulares e públicas) e também alunos de escolas técnicas;
(3) orientadores profissionais e outros profissionais; (4) universitários: alunos de vários cursos de Ensino
Superior; (5) população em situação de risco social: jovens ins-
titucionalizados, desempregados e jovens em situação de desvantagem socioeconômica;
(6) vestibulando: aqueles que cursavam o terceiro ano do Ensino Médio (escolas particulares e públicas), curso preparatório para o vestibular, ou no caso de ter sido nomeado pelo autor como vestibulando;
(7) adultos não estudantes: pais e/ou familiares envolvi-dos no processo de escolha e ex-clientes de serviços de OP;
(8) estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental;
(9) população especial: psicóticos, pessoas com ne-cessidades especiais e mulheres mastectomizadas, por exemplo.
- Filiação institucional dos autores: foram compu-tadas as instituições às quais os autores eram afiliados. No caso de, num mesmo trabalho, mais de um autor ser filiado a uma mesma instituição, esta era contada apenas uma vez.
- Unidade federativa (Estados): quando o estudo era de autoria brasileira foram computados os estados das ins-tituições envolvidas. No caso de um resumo conter mais de uma instituição do mesmo estado, este foi computado apenas uma vez. Foi criada a categoria “Internacional” para os trabalhos de instituições estrangeiras.

111
Melo-Silva, L. L., Leal, M. S., & Fracalozzi, N. M. N. (2010). Produção científica em Orientação Profissional
Tabela 2Distribuição dos resumos (n=733) por congresso, em função das modalidades
- Eixos temáticos: para analisar os temas, verificou-se que as categorias temáticas criadas por Teixeira et al. (2007) seriam apropriadas para a análise dos dados do presente estudo. Primeiramente, os resumos seriam clas-sificados de acordo com as oito categorias de Teixeira et al. (2007), neste estudo denominadas itens, a saber, (a) conceitualização e história da Orientação Profissional; (b) modelos e aproximações teóricas em Orientação Profissional; (c) formação e papel do orientador; (d) ins-trumentos de avaliação e intervenção; (e) escolha profis-sional na adolescência; (f) desenvolvimento de carreira em universitários; (g) outras transições no ciclo vital; (h) Orientação Profissional e de carreira com popula-ções diversas. Contudo, após leitura mais sistemática dos resumos, percebeu-se que a categorização de Teixeira et al. (2007) não foi suficiente para abranger a varieda-de de temas encontrados nos Programas e Resumos dos Simpósios. Portanto, as autoras julgaram necessária a al-teração de três dessas categorias e a criação de mais duas categorias, tornando-se, portanto, dez itens de classifica-ção. Os itens alterados foram (a), (c) e (d). Passaram a ser denominados: (a) conceitualização, contextualização e
história da Orientação Profissional; (c) formação e papel do orientador e de profissionais em geral; e (d) instru-mentos, técnicas e avaliações de intervenções. Os itens criados foram (i) descrição de processos de intervenção e serviços e (j) políticas públicas em educação, trabalho e carreira. Alguns resumos poderiam ser classificados em mais de um item. Porém, cada trabalho foi classificado em uma única categoria em função da maior saliência do objetivo do estudo.
- Agência de Fomento: foi uma variável definida a priori, porém, verificou-se que o número de trabalhos que forneceu tal informação era pequeno. Assim sendo, essa variável foi desconsiderada no presente trabalho.
Resultados e Discussão
Os resultados são apresentados e discutidos a seguir. O primeiro conjunto de dados sistematiza informações sobre a organização dos congressos. Assim, a Tabela 2 mostra a distribuição dos 733 resumos dos trabalhos apre-sentados nos eventos, ano a ano, em função das modali-dades das apresentações.
Modalidades
Mesas redondasComunicação OralPainéisTotal
1999
Fi(%)
055 (83,3)11 (16,6)
66
2001
Fi(%)
14 (21,2)32 (48,5)20 (30,3)
66
2003
Fi(%)
12 (9,3)68 (52,7)49 (37,9)
129
2005
Fi(%)
9 (10,0)61 (67,7)20 (22,2)
90
2007
Fi(%)
079 (44,4)99 (55,6)
178
2009
Fi(%)
62 (30,4)78 (38,2)64 (31,4)
204
Total
97 (13,2)373 (50,8)263 (35,8)
733
Verificou-se aumento gradativo no número total de trabalhos apresentados, com exceção do ano de 2005. O aumento é maior nos dois últimos eventos, provavelmente em função da maior internacionalização com a realização concomitante do Congresso Latinoamericano. Em todos os anos há maior número de apresentações orais, exceto em 2007, cujo número de painéis foi maior. Em 1999 e 2007 nota-se a ausência de resumos de mesas redondas na publicação. Em 2001, houve aumento na apresentação em painéis, em relação ao evento anterior, e também a inclu-são dos resumos das quatro mesas redondas na publicação, com 14 resumos. O número total de resumos publicados se manteve, ainda que tenha sido um ano com dificuldades para a realização do evento, cuja divulgação e organização foram realizadas em um curto período de tempo (cerca de dois a três meses). Em 2003, o número total de resumos
dobrou em relação ao evento anterior tanto nas comunica-ções orais quanto nos painéis. O número de mesas redon-das continuou sendo quatro e o de resumos de mesas foi um pouco menor (12 resumos) em relação ao evento anterior (14). No evento de 2005 observou-se redução do número total de resumos (frequência absoluta) em comparação ao evento anterior, bem como em todas as modalidades.
A partir de 2007, com a realização dos Simpósios Brasileiros de Orientação Vocacional & Ocupacional da ABOP concomitantes aos Congressos Latinoamericanos de Orientação Profissional, verifica-se crescimento signi-ficativo do número de trabalhos apresentados, pois nes-ses dois últimos eventos a produção científica foi maior que nos quatro eventos anteriores. Houve maior parti-cipação de orientadores e pesquisadores estrangeiros, o que evidencia a melhor organização do evento. Maior

112
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 107-120
participação e mais trabalhos apresentados decorrem em desenvolvimento da área em um círculo virtuoso. Observou-se aumento relevante no número total de traba-lhos pela própria natureza do evento, que se tornou inter-nacional, e pela organização e divulgação um ano antes. O número de mesas redondas aumentou para oito.
Em 2009, o número de mesas redondas dobra (n=16), com expressivo aumento de resumos de mesas (n=62). Houve prevalência de comunicações orais, porém pode-se dizer que existiu certo equilíbrio na distribuição das
modalidades de apresentação de trabalho. Destaca-se este ano como o mais produtivo em termos de número de apresentações de trabalhos e qualidade da publicação do “Programa e Resumos”. Nesse ano, também se observa o apoio de agências de fomento como CNPq, CAPES e FAPESP, o que decorreu em qualidade científica na orga-nização e realização do evento.
A Tabela 3 mostra os resumos de acordo com os tipos de trabalhos apresentados. Houve predomínio dos tipos: relato pesquisa e de experiência em todos os anos.
Tabela 3Distribuição dos resumos (n=733) por congresso, e em função dos tipos de trabalhos apresentados
Tabela 4 Distribuição de resumos (n=733) por congresso, em função do número de autores por trabalho
Tipo deTrabalho
PesquisaExperiênciaTeóricoTécnicaTotal
1999Fi(%)
20 (30,3)30 (45,5)14 (21,2)
2 (3)66
2001Fi(%)
32 (48,5)19 (28,8)12 (18,2)3 (4,5)
66
2003Fi(%)
74 (57,4)36 (27,9)19 (14,7)
0 (0)129
2005Fi(%)
29 (32,2)42 (46,7)12 (13,3)7 (7,8)
90
2007Fi(%)
78 (43,8)77 (43,3)17 (9,6)6 (3,4)
178
2009Fi(%)
74 (36,3)60 (29,4)59 (28,9)11 (5,4)
204
TotalFi
30726413329
733
A constância de relatos de pesquisa em um evento científico (de 30 a 57%) evidencia o crescimento e o de-senvolvimento da área em termos de produção e divulga-ção do conhecimento. Como se trata de um evento cien-tífico, esse tipo de estudo era esperado. São trabalhos de pesquisadores e alunos de programas de pós-graduação. Em relação à alta freqüência de relatos de experiência, so-bretudo em 1999 (45%), 2005 (46%) e 2007 (43%), evi-dencia-se a participação de profissionais e de estudantes, que apresentam relatos referentes às primeiras experiên-cias profissionais em estágios. São trabalhos importantes, pois representam os primeiros contatos de estudantes e recém-formados com o meio científico e sugerem a de-manda por aprimoramento profissional dos orientadores e
a motivação para compartilhar experiências. Além disso, os relatos de experiência constituem importante meio de divulgação dos serviços e intervenções prestadas na área de Orientação Profissional. Destaca-se no ano de 2009 um aumento de trabalhos teóricos em decorrência da publicação dos resumos relativos às 16 mesas redondas. Com relação às técnicas de intervenção, observaram-se número inexpressivo nos “Programas e Resumos” em comparação aos demais tipos de trabalhos.
A Tabela 4 mostra o número de autores dos traba-lhos. Os resumos de autoria individual predominam. Isto demonstra, de acordo com Noronha e Ambiel (2006), o caráter solitário da produção científica do pesquisador brasileiro.
Nº deautores
12345 ou maisTotal
1999Fi(%)
31 (47,0)10 (15,2)14 (21,2)
5 (7,6)6 (9,1)
66
2001Fi(%)
43 (65,2)10 (15,2)
7 (10,6)4 (6,1)2 (3,0)
66
2003Fi(%)
51 (39,5)39 (30,2)25 (19,4)
10 (7,8)4 (3,1)
129
2005Fi(%)
35 (38,9)16 (17,8)22 (24,4)
7 (7,8)10 (11,1)
90
2007Fi(%)
43 (24,2)66 (37,1)26 (14,6)29 (16,3)
14 (7,8)178
2009Fi(%)
98 (48,0)59 (28,9)26 (12,7)
9 (4,4)12 (5,9)
204
TotalFi
291198130
6448
733

113
Melo-Silva, L. L., Leal, M. S., & Fracalozzi, N. M. N. (2010). Produção científica em Orientação Profissional
Tabela 5 Distribuição de resumos, por trabalho, e em função da população alvo (n=636)
O ano de 2001 foi o que apresentou maior núme-ro de resumos com autoria individual (65%), seguido de 2009 (48%), cuja alta freqüência de trabalhos apresenta-dos por um único autor se justifica pelo número expres-sivo de apresentações de mesas redondas, geralmente compostas por um autor por trabalho. Em 2007 prevale-ce a dupla autoria. Por outro lado, a soma dos trabalhos com mais de um autor em todos os anos, com exceção de
2001, representou mais da metade do total de trabalhos apresentados o que evidencia a presença de trabalhos de múltiplas autorias.
A Tabela 5 apresenta a população alvo dos trabalhos publicados em cada evento. O total em cada ano é diferen-te dos números apresentados na Tabela 2 porque há traba-lhos sem identificação da população e outros com mais de um grupo populacional.
População Alvo
Pessoas em processode escolha/ reescolhaEstudantesdo Ensino MédioOrientadores Profissionaise outros profissionaisUniversitáriosPopulação em situaçãode risco socialVestibulandosAdultos não estudantesEstudantes da EducaçãoInfantil, Ens. FundamentalPopulação especial
Total
1999Fi(%)
12 (22,2)
10 (18,5)
3 (5,6)
8 (14,8)7 (13,0)
9 (16,7)1 (1,9)2 (3,7)
2 (3,7)
54
2001Fi(%)
14 (24,6)
15 (26,3)
5 (8,8)
11 (19,3)2 (3,5)
5 (8,8)1 (1,8)3 (5,3)
1 (1,8)
57
2003Fi(%)
25 (20,5)
14 (11,5)
20 (16,4)
11 (9,0)20 (16,4)
13 (10,7)5 (4,1)
10 (8,2)
4 (3,3)
122
2005Fi(%)
14 (18,7)
7 (9,3)
12 (16,0)
13 (17,3)13 (17,3)
6 (8,0)5 (6,7)2 (2,7)
3 (4,0)
75
2007Fi(%)
28 (17,1)
31 (18,9)
20 (12,2)
31 (18,9)8 (4,9)
27 (16,5)14 (8,5)2 (1,2)
3 (1,8)
164
2009Fi(%)
35 (21,3)
20 (12,2)
36 (22,0)
19 (16,6)30 (18,3)
9 (5,5)12 (7,3)2 (1,2)
1 (0,6)
164
Total
128
97
96
9380
693821
14
636
1.
2.
3.
4.5.
6.7.8.
9.
Nota-se um grande número de estudos com a “popula-ção adolescente” no total dos trabalhos apresentados nos con-gressos. Incluem-se nesse grupo os trabalhos classificados como: pessoas em processo de escolha, lembrando que são, em sua maioria, adolescentes (item 1), estudantes do Ensino Médio (item 2), vestibulandos (item 6). Esse quadro era espe-rado visto que os adolescentes constituem a população tradi-cional dos serviços de Orientação Profissional no Brasil. Por sua vez, os “orientadores profissionais e outros profissionais” ocupam o terceiro lugar, com maior destaque em 2009, quan-do o congresso focalizou mais o tema “carreira”. A “popula-ção universitária” manteve uma média importante de estudos em todos os eventos. São estudos relevantes por tratarem principalmente do fenômeno da evasão universitária, além da necessidade de auxílio no planejamento da carreira. Os temas: escolha e desenvolvimento da carreira predominaram em todos os congressos, como é tradição na área.
Observa-se a presença de vários trabalhos abordando o tema da Orientação Profissional com “população em si-tuação de risco”, incluindo jovens institucionalizados e/ou em situação de desvantagem socioeconômica e desempre-gados, sobretudo, nos eventos de 2003, 2005 e 2009. Esse é um grupo populacional pouco atendido nos serviços bra-sileiros tradicionais na área. Nesse sentido, Teixeira et al. (2007) afirmam que esse público em situação de vulnerabi-lidade tem sido mais contemplado em pesquisas, denotan-do um esforço dos profissionais da Orientação Profissional em ampliar os direcionamentos de suas intervenções, além de refletir uma demanda por parte da comunidade. Assim, os trabalhos apresentados nos congressos mostram a aten-ção a esse grupo populacional.
Poucos trabalhos foram encontrados no que tange ao atendimento a adultos (não estudantes), à educação para a carreira voltada para a Educação Infantil e o Ensino

114
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 107-120
Fundamental e também para pessoas portadoras de neces-sidades especiais.
A Tabela 6 apresenta a filiação institucional dos autores. Pode-se observar que as instituições de maior
participação foram a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FFCLRP/USP), a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Tabela 6 Distribuição de resumos em função da filiação institucional dos autores (n= 819)
Instituições 1999Fi(%)
2 (3,0)3 (4,5)3 (4,5)0 (0)
4 (6,0)3 (4,5)0 (0)0 (0)
1 (1,5)0 (0)
1 (1,5)5 (7,5)0 (0)
31 (46,3)14 (20,9)
67
2001Fi(%)
9 (12,7)8 (11,3)3 (4,2)0 (0)
2 (2,8)3 (4,2)2 (2,8)0 (0)
1 (1,4)0 (0)
3 (4,2)0 (0)0 (0)
35 (49,3)5 (7,0)
71
2003Fi(%)
11 (7,5)19 (13,0)5 (3,4)1 (0,7)0 (0)
6 (4,1)1 (0,7)
12 (8,2)4 (2,7)0 (0)
1 (0,7)3 (2,1)3 (2,1)
78 (53,4)2 (1,4)
146
2005Fi(%)
12 (10,5)5 (4,4)
10 (8,8)0 (0)
1 (0,9)1 (0,9)8 (7,0)4 (3,5)4 (3,5)0 (0)0 (0)0 (0)
3 (2,6)65 (57,0)1 (0,9)
114
2007Fi(%)
14 (7,2)22 (11,3)16 (8,2)17 (8,7)8 (4,1)4 (2,1)4 (2,1)0 (0)
4 (2,1)2 (1,0)3 (1,5)0 (0)
1 (0,5)84 (43,1)16 (8,2)
195
2009Fi(%)
27 (11,9)15 (6,6)16 (7,1)7 (3,1)7 (3,1)4 (1,8)3 (1,3)1 (0,4)3 (1,3)
10 (4,4)3 (1,3)3 (1,3)3 (1,3)
120 (53,1)4 (1,8)
226
Total
75725325222118171712111110
41342
819
USP-RPUFSCUFRGSUSP-SPUFPRUNISULUFMGUNESP-BauruPUC-MGUSF- ItatibaInstituto do SerUNESP-AraraquaraPUC-SPOutras instituiçõesSem identificaçãoTotal
(*) Foram consideradas nesta tabela as instituições que apresentaram no mínimo um total de 10 trabalhos no período analisado
Tal fato pode estar relacionado ao papel dessas insti-tuições na história destes eventos e da própria ABOP. A pri-meira instituição é sede da RBOP desde 2002/2003 e conta com a participação ativa do grupo de docentes e alunos da graduação e da pós-graduação nos eventos e congressos desde 2001. Além disso, o Prof. Dr. André Jacquemin, afi-liado a esta mesma instituição, presidiu a mesa de criação da ABOP em 1993. Com relação à UFSC, dois dos seis eventos do período examinado no presente trabalho foram sediados na cidade da referida instituição, o que possivel-mente produziu maior envolvimento de pessoas ligadas à UFSC, além de facilitar o envio de trabalhos. Além dis-so, a Diretoria da ABOP também esteve sediada em Santa Catarina quando da realização desses dois simpósios. Uma docente dessa Universidade, a Profa. Dra. Dulce Helena Penna Soares, esteve na liderança desses eventos. A terceira instituição, UFRGS, é uma universidade pre-sente na história da ABOP desde a origem. Uma docente dessa Universidade, a Profa. Dra. Maria Célia Pacheco Lassance, atuou como Coordenadora Científica em cinco
dos nove eventos realizados desde sua origem em 1993. A ABOP, em sua existência, tem tido um vínculo muito forte com essas três universidades: UFSC, UFRGS e FFCLRP/USP o que se explica pelo fato de que, entre os fundadores e sustentáculos da ABOP, estão professores vinculados a estas instituições. Ademais, observa-se boa participação, por meio dos resumos, das seguintes instituições: Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP/SP), Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL). Seguem outras uni-versidades como mostra a Tabela 6, todas das regiões Sul e Sudeste. Outras regiões participaram com menor núme-ro de resumos publicados.
A Tabela 7 apresenta os resumos em função dos Estados de origem dos autores, incluindo procedências de outros países.
São Paulo foi o estado que mais contribuiu com os resumos em todos os eventos, sendo 2009 o ano de sua maior participação, com quase metade dos trabalhos, quan-do o evento ocorreu em Atibaia, SP. O estado se destaca

115
Melo-Silva, L. L., Leal, M. S., & Fracalozzi, N. M. N. (2010). Produção científica em Orientação Profissional
como pólo de produção de conhecimento não só da área de Orientação Profissional, como de outras áreas (Yamamoto, Souza, & Yamamoto, 1999). O segundo estado de maior produtividade foi Santa Catarina, principalmente no ano de 2003, quando sediou o evento, e em 2007, quando o evento foi na região Sul. Por sua vez, os estados de Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro e Paraíba, ape-sar de um menor número de trabalhos em relação aos dois primeiros, trouxeram contribuições em todos os eventos. O estado do Ceará e o Distrito Federal estiveram presentes na
maioria dos eventos. É importante destacar a participação, embora menos significativa em número de resumos, dos estados de Pernambuco, Goiás, Tocantins, Alagoas, Bahia, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. Tal fato demonstra que a ABOP tem congregado profissionais e pesquisadores de diferentes regiões do país. Entretanto, observa-se a necessi-dade de estimular o aumento da participação nos eventos e na publicação de trabalhos de autores das regiões que con-tam hoje com menor representação na produção científica (Teixeira et al., 2007).
Tabela 7Distribuição de resumos em função da procedência por estados brasileiros e países (n=689)
UnidadesFederativas (*)
1999(SC)Fi(%)
13 (21,7)8 (13,3)7 (11,7)1 (1,7)8 (13,3)1 (1,7)1 (1,7)2 (3,3)
-4 (6,7)
15 (25,0)56
2001(SP)Fi(%)
18 (30,0)13 (21,7)8 (13,3)8 (13,3)6 (10,0)3 (5,0)
-1 (1,7)1 (1,7)1 (1,7)1 (1,7)
59
2003(SC)Fi(%)
42 (34,7)32 (26,4)10 (8,3)11 (9,1)11 (9,1)8 (6,6)1 (0,8)1 (0,8)1 (0,8)4 (3,3)
-77
2005(MG)Fi(%)
30 (33,0)8 (8,8)
10 (11,0)19 (20,9)4 (4,4)
11 (12,1)5 (5,5)1 (1,1)1 (1,1)1 (1,1)1 (1,1)
90
2007(RS)Fi(%)
48 (29,6)33 (20,4)24 (14,8)14 (8,6)10 (6,2)13 (8,0)2 (1,2)1 (0,6)3 (1,9)1 (0,6)13 (8,0)
161
2009(SP)Fi(%)
92 (47,2)23 (11,8)17 (8,7)13 (6,7)8 (4,1)8 (4,1)4 (2,103 (1,5)2 (1,0)8 (4,0)17 (8,7)
187
TotalFi
2431177666474413981947689
São Paulo/SPSanta Catarina/SCRio Grande do Sul/RSMinas Gerais/ MGParaná/PRRio de Janeiro/RJCeará/CEParaíba/PBDistrito Federal/DFOutros estadosOutros paísesTotal
Ano/Estados Sede do evento
(*) Foram consideradas as unidades federativas e países que participaram em pelo menos cinco dos seis eventos.Os estados com freqüência abaixo de cinco eventos estão reunidos no item outros estados.Não foram computados os resumos cuja procedência não foi identificada.
Ressalta-se a internacionalização do evento, princi-palmente nos anos de 1999, 2007 e 2009. Em 1999, conco-mitante ao evento aconteceu o 1º Encontro de Orientadores do Mercosul, destacando-se a Argentina como país mais presente em termos de produção. Em 2007 e 2009, o maior número de trabalhos internacionais ocorreu devi-do à realização concomitante do Simpósio ao Congresso Latinoamericano de Orientação Profissional da ABOP. Em 2007, notou-se grande participação de autores de Portugal e da Venezuela. Em 2009, a presença Internacional foi mais heterogênea com participação da Argentina, Colômbia, Venezuela, México, Portugal e Espanha.
A Tabela 8 apresenta os resumos em função dos eixos temáticos que constituíram os objetos de análise dos tra-balhos apresentados e publicados.
Os temas são apresentados e discutidos em ordem de prevalência dos trabalhos, diferentemente da sequên-cia descrita no método. Os resumos relativos ao tema 1: Escolha profissional na adolescência, relacionam-se às questões que permeiam todo o universo de tomada de decisão de carreira em adolescentes, com predomínio em 2007 (39%), seguido de 2003 (21%). Dentre as variáveis que interferem na escolha da carreira, a influência da fa-mília no processo de escolha do jovem foi um tema em evidência nos resumos, além da questão do vestibular e suas implicações na escolha e na vida do vestibulando, como a competitividade, o estresse e a ansiedade. Os de-mais resumos trataram de assuntos variados, como dife-renças de gênero nas escolhas, Orientação Profissional na escola, maturidade para a escolha, implicações

116
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 107-120
socioeconômicas, projeto de vida, informação ocupacio-nal, expectativas sobre a carreira, identidades profissio-nais. O número expressivo de resumos nesta categoria, no conjunto dos eventos analisados, mostra que as ques-tões da “escolha” ou da “tomada de decisão” constituem, ainda, o principal eixo temático presente na Orientação Profissional. Este resultado levanta uma questão impor-tante que pode ser melhor analisada em estudos futuros,
e que diz respeito ao nível de aprofundamento conceitual e também ao avanço teórico que tem-se obtido com esses trabalhos. Este tipo de análise é importante, pois pode revelar o grau de domínio e amadurecimento teórico da comunidade de orientadores profissionais no Brasil, lem-brando sempre que um sólido conhecimento das teorias de desenvolvimento de carreira é uma das competências fundamentais para o orientador profissional.
Eixos Temáticos 1999Fi(%)
13 (19,7)
9 (13,6)
11 (16,7)
2 (3,0)
11 (16,7)
8 (12,1)
3 (4,5)
3 (4,5)
6 (9,1)
0 (0)
66
2001Fi(%)
11 (16,7)
14 (21,2)
10 (15,2)
5 (7,6)
4 (6,1)
7 (10,6)
5 (7,6)
5 (7,6)
5 (7,6)
0 (0)
66
2003Fi(%)
28 (21,7)
28 (21,7)
10 (7,8)
20 (15,5)
15 (11,6)
8 (6,2)
10 (7,8)
4 (3,1)
5 (3,9)
1 (0,8)
129
2005Fi(%)
11 (12,2)
21 (23,3)
18 (20,0)
7 (7,8)
10 (11,1)
6 (6,7)
5 (5,6)
6 (6,7)
6 (6,7)
0 (0)
90
2007Fi(%)
70 (39,3)
7 (3,9)
14 (7,9)
23 (12,9)
12 (6,7)
10 (5,6)
13 (7,3)
20 (11,2)
7 (3,9)
2 (1,1)
178
2009Fi(%)
33 (16,2)
38 (18,6)
28 (13,7)
25 (12,3)
22 (10,8)
23 (11,3)
13 (6,4)
8 (3,9)
6 (2,9)
8 (3,9)
204
TotalFi166
117
91
82
74
62
49
46
35
11
733
Escolha profissionalna adolescênciaDescrição de processosde intervenção e serviçosInstrumentos, técnicase avaliações deintervençõesOutras transiçõesno ciclo vitalOrientação profissionale de carreira compopulações diversasFormação e papeldo orientador e deprofissionais em geralModelos e aproximaçõesteóricas em OPDesenvolvimento decarreira em universitáriosConceitualização,contextualização e históriada orientação profissionalPolíticas públicas emeducação, trabalho e carreira
Total
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
O tema 2: Descrição de processos de intervenção e serviços agrupa resumos que descrevem serviços ofereci-dos por instituições públicas e privadas. A freqüência dos resumos apresenta relativo equilíbrio, sobretudo, nos con-gressos de 2001 (21%), 2003 (21%), 2005 (23%) e 2009 (18%). Em sua maioria são resumos sobre serviços de instituições públicas de Ensino Superior com o objetivo de divulgar as estratégias utilizadas e os programas desen-volvidos. Esse número expressivo de trabalhos em quase todos os anos sobre os serviços em universidades mostra a
oferta de atendimento à comunidade como possibilidade de participação dos usuários em programas de orientação para a carreira, além de proporcionar formação em Orientação Profissional para os alunos de graduação, em geral do curso de Psicologia, por meio do estágio curricular. Esses resu-mos mostram diferentes estratégias de intervenção, sinali-zam possibilidades de avaliação de serviços e a tentativa de se criar novas intervenções que sejam mais eficazes e que possam alcançar maior contingente populacional. Além dis-so, “Desenvolver programas e administrar serviços” é uma
Tabela 8Distribuição de resumos (n=733) em função dos eixos temáticos

117
Melo-Silva, L. L., Leal, M. S., & Fracalozzi, N. M. N. (2010). Produção científica em Orientação Profissional
das competências especializadas previstas nos critérios in-ternacionais de competências para o orientador educacional e profissional preconizadas pela Associação Internacional de Orientação Escolar e Profissional (Association Internationale d’Orientation Scolaire et Professionnelle; AIOSP) (Talavera, Lievano, Sato, Sama, & Hiebert, 2004). A oferta de programas oferecidos predominantemente em universidades mostra a ausência de serviços comunitários nos eventos. Por outro lado, evidencia também a ausência de conexão entre grupos de pesquisa e profissionais que atuam na comunidade. Pouca conexão da prática com a pesquisa decorre em baixa produção científica de profissio-nais nos eventos. Por sua vez, a presença de pesquisadores e estudantes de graduação e de pós-graduação é apoiada e estimulada pelas universidades.
Os resumos relativos ao tema 3: Instrumentos, téc-nicas e avaliações de intervenções predominam em 2005 (20%), 1999 (17%) e 2001 (15%). Cumpre destacar que, em função da relevância do assunto, em 2005 houve uma chamada para submissão de artigos na RBOP sobre ava-liação, que culminou em um fascículo especial (volume7, número 2, 2006). Com relação às práticas, os resumos abordam avaliação de estratégias de intervenção em Orientação Profissional, na perspectiva de pais, familiares e ex-clientes. Este tema é de extrema importância, pois oferece um panorama das técnicas utilizadas e dos servi-ços realizados. Também nesse sentido, realizar “Pesquisa e Avaliação” constitui uma das competências especiali-zadas requeridas do orientador educacional e profissio-nal, conforme critérios da AIOSP. Trata-se de “estudar questões relacionadas à orientação e aconselhamento, tais como processos de aprendizagem, comportamento voca-cional e seu desenvolvimento, valores, etc. Examinar a eficácia das intervenções” (Talavera et al., 2004, p. 5), o que também foi realizado predominantemente no âmbito dos serviços em universidades.
O tema 4: Outras transições no ciclo vital reúne resu-mos sobre intervenções em Orientação Profissional reali-zadas com adultos e crianças em diferentes etapas do ciclo vital, com predomínio em 2003 (15%), 2007 (12%) e 2009 (12%). Com relação às crianças, foram relatadas possibi-lidades de intervenção e investigação da percepção delas sobre o mundo do trabalho, com foco na possibilidade da Orientação Profissional desde a infância, com objetivo de promover o desenvolvimento vocacional e a educação para a carreira. Mesmo que essa categoria ocupe o quarto lugar na classificação dos temas, observa-se que ainda são poucos os trabalhos voltados para a criança, necessitando maior investimento nessa área, principalmente em decor-rência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394 (Brasil, 1996), que estabelece diretrizes para a
inclusão de conteúdos curriculares na educação básica sobre a preparação para o trabalho. Evidentemente que não se faz Orientação Profissional com vistas à escolha da carreira e/ou trabalho destinada às crianças na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. A legislação e as reco-mendações do MEC mais atuais apontam na direção da infusão da temática do trabalho no currículo da educação básica, tal como acontece nos programas de educação para a carreira em vários países. Nessa direção, torna-se neces-sário desenvolver estudos, com o objetivo de implementar práticas destinadas a pessoas em todas as etapas do ciclo vital, inclusive no Ensino Fundamental.
Os trabalhos voltados para a população adulta discu-tem a satisfação profissional, orientação de carreira, tran-sição de carreira, motivação, estresse, competências, qua-lidade de vida do trabalhador. Além disso, principalmente no ano de 2009, foi discutida em mesa redonda, a questão do planejamento de carreira continuado e a aposentadoria, com ênfase em qualidade de vida durante o envelhecimen-to e participação social. O aumento da expectativa de vida, as preocupações dos governos com os custos de aposenta-doria e assistência a idosos evidenciam a necessidade de programas de atenção a essa população, em saúde e bem estar social, mas principalmente no que se refere à carrei-ra, pré e pós aposentadoria.
Os resumos relativos ao tema 5: Orientação profis-sional e de carreira com populações diversas sinalizam tendência de diversificação das práticas e, ainda que sejam poucos trabalhos (entre 6 e 16%), com destaque para o ano de 1999, eles são relativamente constantes nos even-tos. São consideradas populações diversas os grupos não tradicionalmente atendidos em Orientação Profissional. A maioria dos resumos tratou da população em situação de risco social, abordando as implicações da condição socioeconômica na escolha profissional, desemprego, identidade profissional, necessidade de inclusão social e inserção no mercado de trabalho. Poucos foram os traba-lhos que trataram da Orientação Profissional com pessoas com necessidades especiais, revelando a necessidade de ampliar estudos com essa população, principalmente com o advento da Lei 8.213 art. 93 de 24 de julho de 1991 (Plano de Benefícios de Previdência Social), Portaria do Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), (Brasil, 1991), na qual ficou instituída a obrigatoriedade de reserva de postos de trabalho em empresas destinados a pessoas com deficiência. Diante disso, faz-se imperativo investigar as questões relativas às estereotipias, precon-ceito, adaptação, formação e desenvolvimento da identi-dade profissional nesses cenários e contextos.
Com relação ao tema 6: Formação e papel do orien-tador e de profissionais em geral, a presença de resumos

118
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 107-120
no período analisado varia de 6 a 12%. Cumpre destacar que em 1999, a Revista da ABOP, antecessora da Revista Brasileira de Orientação Profissional, publicou um fascí-culo especial sobre formação de orientadores profissionais. Provavelmente por esta razão, resumos foram publicados no evento. A seguir, o ano de 2009 também é destaque com resumos decorrentes de três mesas redondas sobre forma-ção. Vale ressaltar que além das habilidades requeridas para planejar, implementar, supervisionar e avaliar intervenções direcionadas às necessidades da população-alvo, é preciso demonstrar habilidades para implementar programas in-dividuais e grupais em desenvolvimento de carreira para populações específicas, como recomenda a Associação Nacional para o Desenvolvimento da Carreira (National Career Development Association, NCDA) (Niles & Harris Bowlsbey, 2005), uma instituição norteamericana.
Sobre o tema 7: Modelos e aproximações teóricas em OP, observa-se a presença de resumos no período analisa-do variando entre 4 e 7%. Isto era esperado, uma vez que os congressos reunem mais participantes interessados em intervenções do que em discussões eminentemente teóri-cas, ainda que as práticas devam ser fundamentadas em sólidos pressupostos teóricos.
Os universitários, como população alvo dos estudos, conforme Tabela 5, ocupam a 4ª posição, contudo, como tema ocupam a 8ª posição. Assim, observa-se que os estu-dos sobre: Desenvolvimento de carreira em universitários (tema 8) predominam em 2007 (11%), variando de 3 a 7% nos demais eventos.
O tema 9: Conceitualização, contextualização e his-tória da Orientação Profissional, está presente em todos os eventos variando entre 2 e 9%, com destaque para o 1999, provavelmente em decorrência dos debates sobre formação que recuperam um pouco da história da área no Brasil.
Por sua vez, o tema 10: Políticas públicas, de sua total inexistência em três eventos passa a ter cerca de 1% em dois eventos (2003 e 2007) e 3,9% no último evento, o que evidencia a necessidade da comissão organizadora definir temas e propor atividades de relevância para a área, como ocorreu em 2009.
Considerações Finais
O presente estudo sistematizou a produção científi-ca divulgada nos seis últimos Congressos e Simpósios de Orientação Vocacional & Ocupacional da ABOP, realiza-dos no período entre 1999-2009. Em síntese, dentre os re-sumos analisados foram encontrados predominantemente relatos de pesquisa seguidos pelos relatos de experiência. Em relação à autoria dos trabalhos, há prevalência de au-toria individual, como apontado por Noronha e Ambiel
(2006). Entretanto, se os dados das autorias múltiplas (com dois ou mais autores) são reunidos em uma categoria denominada múltipla há mais que 50%, exceto em 2001. A múltipla autoria deve ser estimulada, sobretudo se os estudos forem realizados por grupos multicêntricos.
Os jovens continuam sendo a população alvo da maioria dos estudos. São pessoas em processo de esco-lha e da busca pela universidade, população esta tradicio-nalmente objeto de intervenção e de pesquisa no domínio da Orientação Profissional brasileira. Tal achado está em consonância com os estudos de Noronha e Ambiel (2006) e Teixeira et al. (2007). Porém, a presença de jovens em si-tuação de desvantagem socioeconômica em quinto lugar na classificação da população alvo (Tabela 5) sinaliza alguma tendência a aumento, como mostram os dados dos anos 2003, 2005 e, principalmente 2009, como é desejável em termos de ampliação do alcance da Orientação Profissional e de estratégias de intervenção mais inclusivas.
Muitas instituições provenientes de diversas regiões do país participaram dos eventos, mas o predomínio das re-giões Sudeste e Sul é evidente. Diante disso, seria necessá-ria a realização de parcerias entre esses grandes centros do conhecimento em Orientação Profissional com instituições menos tradicionais de forma a alcançar maior abrangência e promover estudos que possam alcançar a grande diversida-de cultural do país (Teixeira et al., 2007). Atrair pesquisado-res de outras regiões do país parece ser um desafio não só da Orientação Profissional, como mostram outros estudos.
Os serviços oferecidos e os tipos de intervenção re-alizados foram temas frequentes entre os resumos, res-saltando a importância desses para o desenvolvimento da área e para um maior alcance em termos populacionais. O tema sobre avaliação dos serviços, também ressaltou a relevância de estudos desse tipo para o desenvolvimento da área; tais trabalhos são de grande valor para melhorar a qualidade dos serviços já oferecidos e, além disso, possi-bilitar a criação e implementação de novos serviços.
No que se refere à base de dados, cumpre destacar que a qualidade na redação científica dos resumos foi um dos limites para a análise, como ressaltado, também, por Teixeira et al. (2007). A categorização dos resumos muitas vezes foi dificultada devido à ausência de objeti-vos de procedimentos claramente descritos. Os simpó-sios apresentam resumos com estrutura fragilizada, me-todologia fraca e, muitas vezes, incoerência em relação ao tema abordado e o título do trabalho. Essas condições dificultaram as classificações dos trabalhos nas categorias. Outra dificuldade encontrada no estudo foi com relação à classificação dos trabalhos em termos de financiamento. Levantou-se a hipótese de não haver obrigatoriedade da informação sobre a agência de fomento nas normas dos

119
Melo-Silva, L. L., Leal, M. S., & Fracalozzi, N. M. N. (2010). Produção científica em Orientação Profissional
Simpósios, o que resultou em um número ínfimo de re-sumos que registraram esse dado. Outra possibilidade é a de que talvez, a maioria dos trabalhos não tenha fonte de financiamento. Assim, esse tema não se constituiu uma categoria de análise neste estudo. Registra-se a sugestão para que a exigência desta informação passe a fazer parte das normas para os próximos eventos.
Ainda que se possa considerar esse estudo como ilustrativo da produção científica da área de Orientação Profissional da época, os resultados apresentam algumas limitações em termos de generalizações. A primeira delas refere-se à base de dados obtida por meio dos resumos dos congressos e simpósios da ABOP. Pode-se questionar qual é o alcance efetivo destes eventos no cenário brasileiro. Por outro lado, pode-se concluir que este estudo propor-cionou um panorama histórico da produção científica de uma década reunida em seis congressos da única associa-ção científica e profissional da área no Brasil.
A importância da área tem sido reconhecida diante da necessidade de lidar com a movimentação por percursos profissionais e cenários laborais globalizados (Trindade & Vono, 2009), uma vez que as pessoas têm sido “cobra-das” no sentido de fazer escolhas que requerem profundo conhecimento sobre si e habilidade para acompanhar as constantes transformações nas relações sociais e de traba-lho (Melo-Silva & Lassance, 2009).
Velozes transformações sociolaborais estão aconte-cendo no mundo desde a década de 1980 com reflexos mais acentuados e explícitos a partir de 1990. No domínio
da Orientação Profissional e de Carreira os eventos da ABOP, desde 1993, têm impulsionado o debate sobre te-mas tradicionais e, também, contemporâneos. A sistema-tização da produção em uma década objetivou mostrar o panorama a fim de estimular mais investigações.
Destaca-se ainda a necessidade de estudos que visem a criar, desenvolver e implantar políticas públicas relacio-nadas à área da Orientação Profissional e de Carreira, além de analisar as políticas já adotadas. Nesse sentido, uma vez que o sucesso no desenvolvimento da carreira é refle-xo de como se dá o processo de escolha e o planejamento de vida e da carreira, a maior abrangência dos serviços na área seria de extrema importância. E para intervir é ne-cessário formar os profissionais. Intervir com qualidade requer avaliação. Em síntese, em um círculo virtuoso são necessárias ações e políticas públicas em três âmbitos: (a) oferta de serviços diversificados de carreira; (b) formação especializada e qualificada de orientadores, e (c) desen-volvimento de pesquisas, o que indubitavelmente gerará produção científica, avaliação e inovação constante na área. Nesse círculo virtuoso, a meta é a oferta de serviços qualificados, abrangentes e integrados a todos que deles necessitem. Afinal, o cidadão que se realiza pessoal e pro-fissionalmente ajuda no desenvolvimento da Nação. Na perspectiva da inclusão social, que se faz com qualificação profissional e política pública de emprego, a Orientação Profissional e de Carreira tem como colaborar com trans-formações e o primeiro passo é a realização dos congres-sos e organização de grupos de trabalho.
Referências
Abade, F. L. (2005). Orientação profissional no Brasil: Uma revisão histórica da produção científica. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 6(1), 15 – 24.
Bardin, L. (1977). Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70.Brasil. Ministério da Previdência e Assistência Social. (1991). Lei 8.213: Plano de benefícios de previdência social. Brasília,
DF. Recuperado em 19 março 2010, de http://www81.dataprev.gov.br/sislex/ paginas /42/1991/8213. htmBrasil. (1996). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Recuperado em 19 março 2010, de http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htmBufrem, L. S., & Prates, Y. (2005). O saber científico e as práticas de mensuração da informação. Ciência da Informação,
34(2), 9-25.Carvalho, M. M. M. Y. (1995). Orientação profissional em grupo: Teoria e técnica. Campinas: Editorial Psy.Ferreira, N. S. A. (2002). As pesquisas denominadas “estado da arte”. Educação & Sociedade, 23(79), 257-272. Gil, A. C. (2002). Como elaborar projetos de pesquisa (4a ed.). São Paulo: Atlas. Guedes, V. S., & Borschiver, S. (2005). Bibliometria: Uma ferramenta estatística para a gestão da informação e do
conhecimento, em sistemas de informação, de comunicação e de avaliação científica e tecnológica. Encontro Nacional de Ciência da Informação, 6.
Jacquemin, A. (2000). O BBT-Br: Teste de Fotos de Profissões: Normas, adaptação brasileira, estudos de caso. São Paulo: Centro Editor de Testes e Pesquisas em Psicologia.
Jacquemin, A., Okino, E. T. K., Noce, M. A., Assoni, R. F., & Pasian, S. R. (2006). O BBT-Br Feminino. Teste de Fotos de Profissões: Adaptação brasileira, normas e estudos de caso. São Paulo: Centro Editor de Testes e Pesquisas em Psicologia.

120
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 107-120
Melo-Silva, L. L. (2006). A produção e a divulgação do conhecimento em orientação profissional. In Congresso Brasileiro Psicologia: Ciência e profissão, enfrentando as dívidas históricas da Sociedade brasileira, 2 (p. 108). São Paulo: FENPB.
Melo-Silva, L. L. (2007). Histórico da Associação Brasileira de Orientação Profissional e da Revista Brasileira de Orientação Profissional. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 8(2), 1-9.
Melo-Silva, L. L., & Jacquemin, A. (2001). Intervenção em orientação vocacional/profissional: Avaliando resultados e processos. São Paulo: Vetor.
Melo-Silva, L. L., & Lassance, M. C. P. (2009). Orientação profissional e de carreira: Novos paradigmas, trajetórias e desafios [Resumo]. Congresso Latino Americano de Orientação Profissional da ABOP, 2 (p. 13). São Paulo: Vetor.
Melo-Silva, L. L., Santos, M. A., Simões, J. T., Avi, M. C. (Orgs.). (2003). Orientação profissional: Teoria e técnica: Vol. 1. Arquitetura de uma ocupação. São Paulo: Vetor Editora Psicopedagógica.
Neiva, K. (1999). Escala de maturidade para a escolha profissional. São Paulo: Vetor. Niles, S. G., & Harris-Bowlsbey, J. (2005). Career development intervention in the 21st century (2a ed). New Jersey: Pearson.Noronha, A. P. P., Andrade, R. G., Miguel, F. K., Nascimento, M. M., Nunes, M. F. O., Pacanaro, S. V., Ferruzzi, A. H.,
Sartori, F. A., Takahashi, L. T., & Cozza, H. F. P. ( 2006). Análise de teses e dissertações em Orientação Profissional. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 7(2),1–10.
Noronha, A. P. P., & Ambiel, R. A. M. (2006). Orientação profissional e vocacional: Análise da produção científica. Psico-USF, 11(1), 75-84.
Pimenta, S. G., & Kawashita, N. (1986). Orientação Profissional: Um diagnóstico emancipador (2a ed). São Paulo: Loyola.Rueda, F. J. M. (2009). Produção científica da Revista Brasileira de Orientação Profissional. Revista Brasileira de
Orientação Profissional, 10(2), 129-139.Sabadini, A. A. Z. P., Sampaio, M. I. C., & Koller, S. H. (2009). Publicar em Psicologia: Um enfoque para revista
científica. São Paulo: Associação Brasileira de Editores Científico de Psicologia / Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.
Secaf, V. (2007). Artigo científico: Do desafio à conquista (4a ed.). São Paulo: Martinari. Talavera, E. R, Lievano, B. M., Soto, M. M., Sama, P. F., & Hiebert, B. (2004). Competências internacionais para
orientadores educacionais e vocacionais. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 5(1), 1-14.Teixeira, M. A. P., Lassance, M. C. P., Silva, B., M. B., & Bardagi, M. P. (2007). Produção científica em orientação
profissional: Uma análise da Revista Brasileira de Orientação Profissional. Revista Brasileira de Orientacão Profissional, 8(2), 25-40.
Trindade, F. F. S., & Vono, M. A. L. (2009). Apresentação. Programa e Resumos. Congresso Latino Americano de Orientação Profissional da ABOP, 2 (p. 11). São Paulo: Vetor.
Yamamoto, O. H., Souza, C. C., & Yamamoto, M. E. (1999). A produção científica na psicologia: Uma análise dos periódicos brasileiros no período 1990-1997. Psicologia: Reflexão e Crítica, 12, 549-565.
Witter, G. P. (1999). Metaciência e leitura. In G. P. Witter (Org.), Leitura: Textos e pesquisas (pp. 13-22). Campinas: Alínea.
Recebido:16/12/20091ª Revisão:18/05/2010
Aceite Final:28/05/2010
Sobre as autorasLucy Leal Melo-Silva é psicóloga, docente do Programa de Pós-Graduação em Psicologia e do curso de Psicologia do
Departamento de Psicologia e Educação, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP-USP), Editora da Revista Brasileira de Orientação Profissional, autora de livros na área da Orientação Profissional e Formação em Psicologia e pesquisadora do CNPq.
Mara de Souza Leal é psicóloga graduada pela Universidade Federal de Uberlândia. É assistente editorial da Revista Brasileira de Orientação Profissional.
Nerielen Martins Neto Fracalozzi é graduada em Psicologia pela FFCLRP-USP. Foi bolsista FAPESP em Treinamento Técnico do projeto “Avaliação da intervenção em orientação profissional em um serviço-escola: período 2001-2006”.

121Disponível em http://pepsic.bvs-psi.org.br/rbop
Revista Brasileira de Orientação Profissionaljan.-jun. 2010, Vol. 11, No. 1, 121-131
Orientação profissional no contexto psiquiátrico: Contribuições e desafios
Luciana Albanese Valore1
Universidade Federal do Paraná, Curitiba-PR, Brasil
1 Endereço para Correspondência: Rua Emiliano Perneta, 195 ap. 81-A, 80010-050 , Curitiba-PR. Fone (41) 32229047. Email: [email protected] autora agradece a Viviane Alves Kubo e Tathiane Fukui, estagiárias de Psicologia que conduziram a experiência relatada.
ResumoEste estudo objetiva descrever e analisar os alcances e limites de uma intervenção em orientação profissional com pacientes psiquiátricas em vias de receber alta. Com foco na construção de um projeto de vida como ferramenta para a reintegração social, realizou-se um trabalho grupal, com quatro encontros de duas horas e meia cada, com dez pacientes psiquiátricos. Observou-se o favorecimento de um novo modo de relação com o futuro, a visualização de perspectivas para a vida pós alta e o resgate da autoconfiança quanto à possibilidade de sua concretização, corrobo-rando a pertinência desse tipo de intervenção no contexto em questão. Mediante o relato e a avaliação do processo, espera-se contribuir para a discussão do tema.Palavras-chave: orientação vocacional, paciente psiquiátrico, projeto de vida, saúde mental
Abstract: Vocational guidance in a psychiatric context: Contributions and challengesThis study aimed at describing and analyzing the scope and limits of one intervention in vocational guidance with psychiatric patients just prior to their discharge from hospital. A group work, with four sessions of two hours and a half each, was done with ten psychiatric patients focusing the construction of a life project as a means of social inclusion. A new way of relationship with the future, the visualization of perspectives of life after discharging, and rescueing of self-confidence were observed to occur, thus corroborating the pertinence of such approach in the context studied. By means of the description and evaluation of that practice, we hope to contribute with discussions about the range and limits of this approach.Keywords: vocational guidance, psychiatric patients, life project, mental health
Resumen: Orientación profesional en el contexto psiquiátrico: Contribuciones y desafíosEste estudio pretende describir y analizar los alcances y límites de una intervención en orientación profesional con pacientes psiquiátricos en vías de recibir alta. Teniendo como fin la construcción de un proyecto de vida, como herramienta para la reintegración social, se realizó un trabajo grupal con cuatro encuentros de dos horas y media cada una con diez pacientes psiquiátricos. Se observó la aceptación de un nuevo modo de relación con el futuro, la visualización de perspectivas para la vida después del alta y el rescate de la autoconfianza en cuanto a la posibilidad de su concreción, corroborando la pertinencia de este tipo de intervención en el contexto en cuestión. Mediante el relato y la evaluación del proceso, se espera contribuir a la discusión del tema.Palabras clave: orientación vocacional, paciente psiquiátrico, proyecto de vida, salud mental
Relato de Experiência

122
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 121-131
A incursão pela história da orientação profissional brasileira evidencia um cenário de constantes transforma-ções (Carvalho, 1995; Sparta, 2003; Sparta & Lassance, 2003; Melo-Silva, Lassance, & Soares, 2004; Soares, Krawulski, Dias, & D’Avila, 2007). Se, em seus primór-dios, vinculava-se às práticas de seleção nas escolas e organizações, segundo o princípio de alocar “o homem certo para o lugar certo”, atualmente, dadas as comple-xas demandas da sociedade globalizada, depara-se com o desafio de auxiliar um homem incerto para uma era de in-certezas. Concomitantemente, a proliferação de discursos focados no compromisso social da atuação do psicólo-go vem estendendo também a este campo a preocupação com sua democratização e com seu uso como estratégia de promoção da saúde, da transformação e da inclusão social (Bock & Aguiar, 1995; Lehman, 1995; Oliveira, 2000; Holanda, 2000; Varjal, Medeiros, & Oliveira, 2000; Lisboa, 2002; Sparta & Lassance, 2003; González Bello, 2008). Tal preocupação tem estimulado a realização de intervenções em contextos ainda pouco explorados, como o hospital psiquiátrico, local em que se desenvolveu a ex-periência aqui relatada.
O desafio de um processo de orientação profissional com pacientes psiquiátricos não se esgota em lidar com suas limitações. Há que se considerar, igualmente, que o adoecimento psíquico, dentre outras razões, pode ser pro-vocado pelas condições ou relações de trabalho (Dejours, Abdoucheli, & Jayet, 2007). Nesse sentido, propor a “cura” através do mal que eventualmente possa ter desen-cadeado a doença demanda cuidado. Apesar disto e embo-ra pouco frequentes, algumas iniciativas têm sido registra-das corroborando sua necessidade e relevância, sobretudo quando conduzidas em grupo.
Como pioneiras na área, destacam-se as valiosas con-tribuições de Ribeiro (1998). Em seu relato de um atelier para psicóticos, a partir de um entendimento do trabalho como elemento estruturante da subjetividade, o autor con-figura a orientação profissional como etapa intermediária entre a superação da crise e a ressocialização. Objetivando resgatar o poder de escolha, propôs o grupo, com usuários de um ambulatório de saúde mental da rede pública de São Paulo, como espaço transicional entre o domínio da doen-ça (protegido pela instituição psiquiátrica) e o domínio da vida, via trabalho. Com vistas à construção da autonomia dos participantes, planejou os encontros num conjunto de cinco fases, com duração aproximada de seis meses, focando-os em tarefas estruturadas, seguidas de reflexão, pesquisa de possibilidades concretas de ação (como a bus-ca de um emprego) e elaboração de um projeto de vida. Os avanços observados foram gradativos e consistiram em re-construir a história individual, compartilhar experiências
e soluções para problemas, superar a impotência diante da doença e o medo da mudança, fortalecer a vontade de ação, visualizar opções profissionais concretas e elaborar um projeto de vida com confiança e sustentação realista. Ainda neste artigo, Ribeiro (1998) tece considerações quanto à diferenciação da orientação profissional dos de-mais trabalhos desenvolvidos na instituição. Para tanto, dentre outros aspectos, destaca a constante reflexão sobre a ação e a não obrigatoriedade da participação.
Motivado pela falta de modelos de intervenção neste contexto, em sua tese de doutoramento Ribeiro (2004) re-toma o tema e a experiência do atelier, com uma proposta similar de orientação profissional para pessoas psicóticas. Inspirado nas proposições winnicotianas, propõe o traba-lho grupal como um ambiente de sustentação psicológica (holding) e de elaboração de estratégias identitárias, em que o indivíduo poderia reinvestir em vínculos com o so-cial, consolidando sua identidade profissional e reativan-do o desenvolvimento de sua carreira. Dentre as princi-pais dificuldades encontradas pelo autor na realização do atelier, vale registrar a ambivalência e a resistência à mu-dança em relação aos discursos instituídos sobre a doença e a falta de perspectivas de futuro das pessoas psicóticas. A possibilidade de sua superação, todavia, consolidou avanços já observados na experiência de 1998. Dentre eles, Ribeiro pôde constatar: a desconstrução do conceito de louco, com a criação de projetos e de novos modos de relação com o mundo; a transformação do sofrimen-to com a doença em aprendizado sobre a vida, em seu movimento contínuo de sucessos e fracassos; o confronto real na busca por um local extra-instituição para o exercí-cio de uma ocupação. Sobre este último aspecto, o autor ressalta a importância do compromisso da sociedade em reabrir um espaço de experimentação para acolher essas pessoas, pois “sem isto, o efeito da ação desse progra-ma seria apenas de um esforço subjetivo (psicológico)” (Ribeiro, 2004, p. 284).
Fundamentadas numa visão existencial fenomenoló-gica, Varjal, Medeiros e Oliveira (2000) desenvolveram uma experiência com usuários e ex-usuários do Núcleo de Atenção Psicossocial de Pernambuco, cujo enfoque, apesar de a abordagem teórica ser diferente, parece apro-ximar-se da proposta de Ribeiro (1998). Através de uma Oficina para o Trabalho, buscaram despertar as potencia-lidades para a aquisição de uma ocupação e superar a im-potência gerada pela incorporação dos estigmas sociais, com vistas a resgatar a tendência à autoatualização. Nessa perspectiva, o trabalho de orientação profissional, como um espaço de ação, de reflexão sobre a ação, de reconstru-ção da história de vida e de articulação de um outro tipo de relação com o mundo tendo o trabalho como mediador,

123
Valore, L. A. (2010). Orientação profissional no contexto psiquiátrico
serviria ao propósito de reestruturação do “mundo frag-mentado característico das vivências psicóticas” (Ribeiro, 1998, p. 191) e da própria vida. Dentre os principais re-sultados elencados pelas autoras, destacam-se: a troca de experiências de vida (sem focarem-se, exclusivamente, no tema da doença) e o aumento da credibilidade pessoal.
Holanda (2000) relata que a re-orientação vocacio-nal ocupacional em hospitais psiquiátricos é definida como um “renascimento” que proporciona ao sujeito o reencontro consigo mesmo e a identificação de seu po-tencial. Tal perspectiva, ao ir além da busca de uma ocu-pação, permitiria o reconhecimento de si como alguém capaz de reformular o presente e planejar o futuro, levan-do em conta o desejo pessoal.
Os princípios que nortearam estas iniciativas e os re-sultados nelas obtidos embasaram e impulsionaram a ex-periência descrita neste artigo. Conceber um trabalho de orientação no contexto psiquiátrico, segundo estes princí-pios, pareceu bastante produtivo e condizente com a pers-pectiva teórico-metodológica adotada: a estratégia clínica de Bohoslavsky (1977/2003), em que o orientando é visto como um sujeito de escolhas.
Como parte constituinte de um estágio de 5º ano em Psicologia, a experiência em questão surgiu do interesse de duas estagiárias e sua supervisora em se aventurarem por terras pouco desbravadas pela orientação profissional (OP): os muros de um hospital psiquiátrico. Entendendo-se esta prática como ferramenta para o aprendizado de uma escolha (Müller, 1988) e, mais do que isto, para a construção de um projeto de vida (Andrade, Meira, & Vasconcelos, 2002; Bardagi, Arteche, & Neiva-Silva, 2005) e concebendo-a como uma oportunidade de mu-dança, não apenas das relações sociais, mas, sobretudo, das relações consigo mesmo, perguntava-se: seria viá-vel implementar um projeto de OP ou, no limite, uma proposta de sensibilização para o tema, em tal contex-to? Como seriam construídos os projetos de vida numa população usualmente vista mais em suas limitações do que em suas potencialidades? Que imagens de futuro, e de si mesmos nesse futuro, teriam essas pessoas? Que contribuição poderia ser lhes dada em seu processo de reintegração social?
O desejo de buscar respostas a estas questões e de encontrar referências para a execução da tarefa motivou a revisão de literatura. A escassez de estudos e experiên-cias similares, em âmbito nacional, longe de desmobilizar a iniciativa, serviu como estímulo a aprofundar o conhe-cimento na área, por reconhecer sua relevância não ape-nas para os profissionais da OP, mas também para aqueles que, engajados na luta antimanicomial, têm apostado na reinclusão. O presente relato visa, pois, a descrever os
principais aspectos do trabalho desenvolvido, com o ob-jetivo de analisar seus alcances e limites, tendo em vis-ta a especificidade da clientela atendida e do contexto de intervenção.
Relato da experiência
A proposta de OP foi aceita pelo diretor geral e equi-pe técnica da instituição - um hospital psiquiátrico públi-co, em transição do sistema manicomial para o de inter-namento máximo de 45 dias- mediante condições: não poderia se estender por mais de três semanas; os critérios de participação consistiriam em “maior consciência”, ca-pacidade de verbalização e alta não prevista para o perío-do estipulado; a escolha dos participantes seria feita junto à psicóloga da unidade. A receptividade da proposta, por parte de uma delas, levou a selecionar sua unidade, com-posta por trinta pacientes do sexo feminino, como contex-to possível da orientação.
Uma vez aprovado pelo Comitê de Ética do hospital, iniciou-se o projeto com a visita à unidade selecionada e a participação das estagiárias no grupo terapêutico coorde-nado semanalmente pela psicóloga. Através da observação e conversa com as pacientes e, com o auxílio da avaliação da psicóloga, chegou-se ao consenso em relação à compo-sição do grupo de orientação, o qual lhes foi apresentado como um espaço para pensar na vida após a alta. Seriam feitas duas entrevistas individuais (inicial e devolutiva) e quatro encontros grupais, de duas horas e meia cada, com quem, dentre as pacientes selecionadas, se dispusesse a participar. Como bem observou Ribeiro (1998), a escolha pessoal, ao representar o alvo do processo de orientação deveria caracterizar também seu ponto de partida.
Cientes de que esse espaço configuraria uma sensi-bilização para a reflexão sobre o futuro, mais do que uma OP propriamente dita (no sentido de visar à escolha de uma profissão), as estagiárias convidaram as dez pacien-tes escolhidas para agendarem as entrevistas individuais. Apenas uma recusou-se a participar, alegando: “Eu vou sair daqui e vou ficar com minha mãe e meu tio mesmo. Só vou pensar nisso (futuro) depois que eles morrerem.” À exceção de duas delas, “E” e “R” (por estarem dormindo no horário), as demais compareceram pontualmente. Por ocasião do 1º encontro grupal, uma nova paciente “A”, não selecionada previamente, solicitou sua inclusão no projeto, o que foi aceito, fechando-se o grupo em dez inte-grantes. Na entrevista, após retomados os esclarecimentos sobre a proposta, garantido o sigilo quanto à identificação e obtidos os consentimentos, as pacientes eram solicita-das a contar sua história e a escrever uma pequena reda-ção sobre o que desejavam para o futuro e que chances

124
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 121-131
imaginavam ter para concretizá-lo. Apresentam-se abaixo as características descritas em seus prontuários e alguns dados referentes aos seus desejos em relação ao futuro:
- E. 17 anos, síndrome de dependência química de múltiplas drogas, moradora de rua. Internada sob ordem judicial, casou-se aos 13 anos, parou de estudar, teve uma filha e separou-se.
- R.18 anos, transtorno esquizoafetivo tipo misto, muito agressiva e infantil, foi internada devido a delírios persecutórios e alucinação auditiva e visual.
- A. 20 anos, síndrome de dependência química de múltiplas drogas. Internada pela sétima vez, verborreica com idéias suicidas e homicidas.
- P. 16 anos, síndrome de dependência química de múltiplas drogas, prostituía-se. Internada pela segunda vez, deseja dar felicidade aos pais e sair das drogas, que a impedem de concretizar seu sonho de infância: ser mode-lo. Pensa em voltar a estudar e em entrar no CAPS e isto “lutando com minhas forças e com minha sabedoria.”
- V. 17 anos, síndrome de dependência química de múl-tiplas drogas, prostituía-se. Internada sob ordem judicial para reabilitação é descrita com uma postura infantilizada e crítica rebaixada. Separada, após a alta pretende trabalhar como secretária e voltar a estudar. Pensa em ser psicóloga e trabalhar com tratamento de drogadição na Casa Lar (onde morou dos 11 aos 17 anos) “porque compreendo o que é viver na rua, ficar longe da família”. Afirma que este é um sonho impossível e que não consegue imaginar seu futuro por se achar incapaz de alcançar as coisas.
- M. 17 anos, transtorno afetivo bipolar, episódio atu-al maníaco com sintomas psicóticos. Internada devido à insônia, apresenta fala desorganizada e delírios religiosos. Com depressão desde os 14 anos, gostaria de casar e voltar a estudar para ser “Agrônica” (sempre adorou trabalhar na roça) ou “zoladora”. Após a alta, quer visitar sua família e conversar muito com seus amigos:“Aqui as amigas che-gam e vão embora...daí só sobra eu.” Para realizar seus sonhos, “tem que tomar melhoril” para se curar.
- L. 32 anos, transtorno depressivo maior, quatro ten-tativas de suicídio em 20 meses, internou-se por vontade própria. Separada, quatro filhos, não queria sair do hos-pital, nem pensar no futuro. Pediu para escrever a reda-ção em outro momento, alegando estar dopada. Quando o fez, registrou seus planos: terminar o tratamento e trans-formar-se “completamente a ponto de ser outra pessoa”, “poder cuidar direito das minhas filhas, mudar de cidade, trabalhar e cuidar de mim”. Quanto às suas chances, “só depende de mim”.
- N. 37 anos, transtorno esquizoafetivo tipo maní-aco, internada várias vezes, buscou espontaneamente o hospital há dois meses, devido à “confusão de idéias”. Na
entrevista, numa fala bastante desorganizada, relata ter feito vários cursos técnicos e trabalhado em várias empre-sas. Para o futuro, “quero sossego e paz... Quero comprar um computador para ser voluntária e fazer artesanato, en-sinar as mulheres no fundo de casa, tenho que comprar um microondas. Quando sair daqui quero conquistar os filhos mas vai ser trabalhoso”. Pretende casar novamente e ter outro filho. Deseja voltar a trabalhar, mas “só se for estágio porque se ganhar dinheiro, vão roubar”. Diz que fará tudo isso só se a mãe deixar.
- J. 38 anos, transtorno depressivo recorrente, casa-da com cinco filhos, internada contra a vontade familiar, devido a tentativas recorrentes de suicídio. Desde os seis anos “só queria morrer, não fantasiava nem imaginava um futuro”. Afirma ter começado a fazê-lo no momento da entrevista, tendo o sonho de voltar a estudar e recomeçar a vida: “quero dar o melhor para minha filha mais nova, dar tudo o que não tive”.
- D. 45 anos, transtorno esquizoafetivo tipo maníaco, crises de agitação psicomotora com agressividade, aluci-nações auditivas e visuais, delírios persecutórios. Vários internamentos. Viúva, 3 filhas, quer retomar os estudos e ter uma casa melhor, mas antes “preciso sarar”.
A intervenção foi conduzida segundo os pressupos-tos da modalidade clínica de Bohoslavsky (1977/2003) e inspirada nas etapas sugeridas por Torres (2001), com as devidas adaptações. Os encontros foram programados à medida que eram realizados, buscando-se atender à dinâ-mica do grupo e, na medida do possível, aos objetivos pro-postos pelos autores reportados anteriormente. O grupo foi coordenado por uma das estagiárias, e co-coordenado pela outra estagiária e pela psicóloga da unidade, as quais eram responsáveis pelo registro dos atendimentos. As par-ticipantes compareceram a todos os encontros. O relato resumido de cada sessão é apresentado a seguir.
O primeiro encontro objetivou a criação de vínculo, entre os participantes do grupo e com a tarefa, o autoco-nhecimento (discriminação de gostos e interesses) e o es-tabelecimento do contrato de trabalho. Após a retomada dos propósitos do grupo, iniciou-se a apresentação pessoal e a discussão sobre as regras de funcionamento do mesmo, com a aplicação da técnica “Teia Grupal” (adaptada de Soares, 2002). Ao receber o barbante, cada participante de-veria dizer o que queria receber do grupo e, ao devolvê-lo, o que queria dar. Os desejos mais recorrentes foram de ca-rinho, atenção e amizade. Entusiasmadas com a formação da teia, disseram que se tratava de uma atividade diferente e que, também por isso, estavam interessadas em cooperar. Conversou-se sobre a importância do comprometimento pessoal e a psicóloga observou-lhes que haviam sido esco-lhidas pelo aproveitamento que poderiam ter.

125
Valore, L. A. (2010). Orientação profissional no contexto psiquiátrico
A seguir, aplicou-se a técnica “Gosto/Não gosto” (adaptada do “Gosto e faço”, Lucchiari, 1993). V, A, D e L reclamaram da dificuldade em pensar sobre os seus gostos, sendo mais fácil descrever o que não gostam. Para V: “quando se está no vício das drogas, não importa se gosta ou não gosta de algo” ao que L. contrapôs dizendo-lhe que deveria pensar porque só pensava em algo após já tê-lo feito e que era preciso “saber a diferença entre querer, poder e dever”, assertiva que obteve a concordân-cia das colegas. P afirmou ser preciso força de vontade para alcançar qualquer objetivo, como ela que queria lar-gar das drogas. N afirmou gostar do internamento porque tinha um tempo para poder ficar pensando somente nela. A coordenadora incentivou-as a pensarem em atividades que gostavam e que poderiam resgatar numa ocupação após a alta. Algumas delas relacionaram alguns interes-ses, porém N interrompeu-as direcionando a discussão para o medo que sentia quanto ao futuro e à reação das pessoas diante de sua doença, tema que ocupou o tempo restante da atividade.
O segundo encontro focou a integração e a projeção no futuro. V hesitou em prosseguir, negociando sua per-manência por um telefonema ao seu psicólogo particular, o que foi negado pela psicóloga que reafirmou a importância de sua presença, mas observou-lhe a liberdade de escolha. V decidiu ficar, mas não participou da primeira ativida-de, a qual consistiu na escolha de um nome para o grupo. Depois de duas rodadas de votação, “a felicidade” foi o nome eleito. Em seguida, aplicou-se a técnica “Viagem ao passado, presente e futuro” (Lucchiari, 1993) acompanha-da de relaxamento e música apropriada. Algumas assumi-ram a posição fetal, J, L e A choraram muito e A pediu para sair do grupo. Todavia, após conversarem sobre o fato de que aquele espaço servia para pensarem no que não pre-tendiam repetir do passado, acalmou-se e resolveu perma-necer. O comentário geral foi de que o exercício “mexeu muito com os sentimentos”. Foi lhes explicado que entrar em contato com os sentimentos não é tarefa fácil, toda-via, se elas se dessem uma oportunidade, conseguiriam. A coordenadora colocou-se à disposição para conversas individuais após o encontro, o que não foi solicitado.
Por fim, em dois subgrupos, realizou-se uma cola-gem com o tema “Como me vi no futuro e o que quero para mim”. Na discussão, relataram que a tarefa foi mais fácil do que a anterior, apesar de V, M e E expressarem a dificuldade de pensar no presente, pois sentiam-se presas ao passado. As figuras mais recorrentes representavam o desejo de ter uma família feliz. Chamou atenção o car-taz de V, dividido em “eu” (com palavras como “drogas”, “roubo”, “menores infratores”) e “mundo” (onde apare-cem “destruição”, “aquecimento global” e uma grande
figura com a palavra “socorro”). Encerrou-se o encontro pedindo, como tarefa de casa, o preenchimento de um quadro, dividido em três colunas “amor”, “família” e “trabalho”, nas quais deveriam responder como se viam hoje, o que queriam para o futuro e o que, concretamente, seria preciso fazer.
No terceiro encontro visou-se a aprofundar o auto-conhecimento, a reconhecer as eventuais dificuldades na reintegração após a alta e a visualizar as ações necessá-rias para conseguirem concretizar seus sonhos. Iniciou-se com a discussão da tarefa de casa, a qual demandou o auxílio da psicóloga no dia anterior, uma vez que as orientandas encontraram dificuldades em pensar sobre o futuro, especialmente sobre o que seria necessário fa-zer para poderem concretizar seus sonhos. Estes foram assim enunciados: L gostaria de montar uma oficina de artesanato; V, trabalhar e voltar a estudar; N, reconstruir a relação com os filhos; A, contar com o apoio da família e ter um trabalho (sem conseguir visualizar qual seria); J, ser feliz; D, ter saúde, ganhar mais dinheiro e ser uma voluntária “igual àquela que eu vi na igreja”; P, ser mo-delo, sair das drogas e trabalhar com cosméticos; R, ser professora de educação física, ter muito dinheiro e ser feliz; M (com muita dificuldade em organizar sua fala), ter filhos, casar, comprar uma casa e trabalhar na roça, mas comenta “quero tudo isso pra agora!”. As condições reconhecidas como requisitos para o sucesso consistiram em esforçarem-se muito, principalmente no tratamento, voltarem a estudar e poderem contar com o apoio fami-liar. Os receios em relação ao futuro giraram em torno do preconceito social e da recaída nas drogas. Reforçou-se ao grupo a importância do que disseram, mostrando-lhes que, embora inicialmente tivessem falado da dificuldade da realização da tarefa, haviam conseguido.
Após um momento de descontração, através da técni-ca “modos diferentes de andar” (Lucchiari, 1993), solici-tou-se que conversassem em duplas sobre as dificuldades que iriam enfrentar após a alta, elegendo uma situação. Em seguida, pediu-se que montassem uma cena sobre a mesma. Após alguns ensaios e auxílio das orientadoras, as duplas deram início ao “teatro das dificuldades”, nome atribuído por elas à atividade. P interpretou a si mesma pedindo à mãe para sair com os amigos. Esta, alegando que eles usavam drogas, não deixou, ao que P respondeu “tudo bem, mãe”. M conversou com o pai pedindo para trabalhar na roça. Este negou e ela insistiu dizendo que era importante. O pai aceitou. N conversou com a sogra e pediu para ver seu filho, que morava com esta. À negação do pedido, respondeu que precisava muito ver seu filho. Frente à nova negativa, retrucou agressivamente: “Ah é? Então a gente se vê no tribunal!” A . estava em casa e um

126
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 121-131
traficante chamou-a para consumir drogas, mas ela recu-sou dizendo que não faria mais isso. No entanto, ele insis-tiu e A calou-se. J conversou com seu filho dizendo que o amava e que ele era muito importante para ela. Chorou bastante durante a cena.
Cada encenação foi seguida de palmas e elogios, ren-dendo uma rica discussão sobre as dificuldades apresen-tadas e a importância de se prepararem, desde então, para enfrentá-las. Recomendou-se que continuassem a pensar a respeito e pediu-se que, antes de irem embora, escreves-sem em um papel quais profissões gostariam de conhecer melhor. Terminado o grupo, as estagiárias encontraram N conversando com a mãe no corredor. Esta lhe pedia para ir embora, pois tinha acabado de receber alta, ao que N, sor-rindo para as estagiárias, retrucou: “Não mãe, eu preciso terminar meu curso, depois vou pra casa.”
O último encontro foi dedicado aos temas: projeto de futuro, autoestima e desligamento do grupo. Optou-se por realizá-lo de forma festiva, incluindo um piquenique numa represa situada próxima ao hospital. Ao chegarem na unidade, as estagiárias encontraram as participantes muito bem vestidas e maquiadas. Todas estavam muito sorridentes e falantes. Começou-se relembrando do encer-ramento do grupo e dos projetos de futuro relatados no atendimento anterior. Em seus depoimentos, destacaram a retomada dos estudos, como condição para concretizarem seus planos profissionais, e o trabalho como um modo de “ocupar a mente” e, com isto, manterem-se afastadas das drogas e da depressão. A coordenadora distribuiu, então, o material informativo, elaborado em função das profissões que haviam escrito no encontro anterior, convidando-as a pesquisarem sobre profissões, duração e tipos de cursos, salário, etc. Iniciaram-se, assim, a pesquisa e o piqueni-que, com V mostrando-se muito interessada e perguntando sobre vários cursos: “Nunca imaginei que precisaria ficar 5 anos estudando Psicologia!” A coordenadora explicou-lhes que esse era o tempo usual de uma graduação, mas que existiam cursos técnicos mais rápidos, o que levou algumas delas a buscarem mais informação: V pesquisou sobre secretariado e assistência social; L, sobre a área de Administração em Recursos Humanos; J, sobre os cursos de manicure e pedicure, podóloga e design e P, sobre far-mácia e revenda de cosméticos. As outras leram rapida-mente os guias. Entretanto, mesmo instigadas a pesquisar, demonstraram maior interesse no lanche.
Em seguida, aplicou-se a técnica “Mímica das Profissões” (Lucchiari, 1993) e as profissões escolhidas por elas foram: agricultora, professora, empregada, tele-fonista, médica e secretária. Após muitos risos e agitação, a coordenadora comentou que havia lhes trazido um pre-sente e que este era o “maior tesouro do mundo” (uma
caixa decorada com um espelho colado no fundo). Cada uma iria abri-lo, sem fazer qualquer comentário para pre-servar a surpresa. Na seqüência, à pergunta sobre o que haviam entendido do tesouro, A respondeu: “é, o espelho é algo muito importante para a mulher”. O grupo riu e V explicou: “é que o maior tesouro é a gente mesmo”. M complementou “nós somos tesouros porque somos valio-sas”. Conversou-se então sobre o quão precioso era este tesouro e como precisaria ser cuidado para que pudessem realizar seus sonhos. Por fim, fez-se uma avaliação do pro-cesso, com agradecimentos e depoimentos entusiasmados acerca de suas contribuições. Dentre elas destacaram-se a oportunidade de pensarem na vida e no futuro, algo assu-mido como raramente feito até então, e a importância de terem recebido esperança e de poderem perceber que eram “pessoas valiosas”.
Uma semana após o encerramento do grupo realiza-ram-se as entrevistas devolutivas que consistiram na ava-liação dos avanços de cada participante e na discussão de seus planos concretos para a vida pós alta. Ao todo, cinco integrantes participaram, pois duas delas alegaram não es-tar dispostas naquele momento e três haviam tido alta na semana que sucedeu ao término dos encontros. Abaixo, uma síntese de seus comentários:
Para V, o grupo mexeu com o seu “eu”, obrigando-a a pensar sobre o que já tinha feito na vida e sobre o futuro, o que “nunca tinha feito antes, foi difícil”. Antes do grupo, não queria saber de trabalhar, mas agora “determinou” que quer estudar e ser alguém na vida: “Pode ser que não seja o que eu sonho, mas vou ser alguém na vida para poder tirar todos os cabelos brancos que dei para minha mãe”. Reconheceu que precisava curar-se do vício para poder voltar a estudar no supletivo, de modo a concluir o ensino fundamental. Mesmo considerando difícil, sinalizou seu desejo de fazer um curso de computação (assumido como mais viável do que o de psicologia) e de voltar a fazer teatro. Para ela “o grupo serviu para espairecer a cabeça, esquecer a perturbação e me fixar no que estou fazendo”.
R gostou do grupo, mas diz que “não mudou nada, serviu porque foi uma atividade divertida”. Na sequência, porém, reconheceu ter podido pensar em ter uma vida e que seria possível alcançar seus sonhos. Seu plano ime-diato consistia em voltar a estudar e arrumar um empre-go. Além do sonho de ser professora, também gostaria de ser cantora, o que a levava a considerar a possibilidade de inscrever-se no coral da igreja do bairro após a alta. Quanto à saúde, afirmou querer se cuidar, fazendo o tra-tamento no CAPS.
Para D o grupo ajudou a pensar e deu-lhe ânimo. Informou-se na igreja e, para ser voluntária, “precisa de estudo”. Se não pudesse retomar a escola, voltaria a ser

127
Valore, L. A. (2010). Orientação profissional no contexto psiquiátrico
doméstica e, se não conseguisse emprego (tinha receios devido à idade), voltaria a fazer tapetes, coisa que sempre gostou. Também queria “sarar melhor e se animar”.
A. considerou que os encontros serviram “para clare-ar a mente, refletir, desejar coisas nem tão pequenas nem tão grandes, mantendo os pés no chão e a mente calibra-da”. Disse ter conseguido colocar prioridades na vida, como começar a trabalhar e matricular-se num curso su-pletivo. Afirmou que, se ouvisse um “não”, não iria recair nas drogas, pois tinha que continuar tentando: “A vida não pode ser feita somente de nãos, alguma hora, tem que ter um sim!”. Explicou que, durante o grupo, pensou em ser feliz e ter uma família e que as atividades ajudaram-na a mudar de percepção e de perspectiva. Logo após o interna-mento pretendia encontrar um emprego e fazer um curso de telemarketing. Gostaria de fazer um curso de fotogra-fia, mas informou-se sobre a necessidade de ensino médio completo. Considerou-se uma mulher batalhadora: “venci na luta!” Gostou da iniciativa de fazer um grupo de OP no hospital, sobretudo das músicas que “pareciam tocadas com harpas do céu”. Nestes momentos, lembrava do que já havia feito e do que não tinha feito.
P. gostou do grupo para se distrair e tirar dúvidas. Já pensava sobre o futuro, mas sentiu-se mais segura. Após a alta iria participar de um CAPS e procurar um emprego e, no próximo ano, voltar a estudar. Comentou que queria fa-zer muitas coisas para “ocupar a cabeça”, como trabalhar com cosméticos, um sonho alimentado desde a infância. Sua irmã trabalhava com isto e talvez pudesse ajudá-la.
Avaliando a experiência
Ainda que viável, a experiência em questão lançou muitos desafios. A fala tímida ou desorganizada de algu-mas pacientes, seus históricos pesados de vida (em que, dadas suas condições socioeconômicas, a exclusão social já se fez presente antes mesmo do surgimento da doença), a intimidação provocada por seus diagnósticos e a inex-periência em orientação profissional com essa clientela exigiram flexibilidade e avaliação contínuas. Somando-se a isto, a limitação de tempo para realizar o trabalho e a impossibilidade de aprofundá-lo, nos moldes conce-bidos pelos autores pesquisados, demandaram ampliar a tolerância à frustração e exigiram o constante redimen-sionamento de objetivos e expectativas para que não se incorporasse o sentimento de impotência que se buscava combater. Por outro lado, e talvez justamente por isto, a riqueza do aprendizado foi incomensurável para todos os que dele participaram.
Cada uma das participantes, a sua maneira, saiu do processo de modo diferente, agregando ao seu sofrido
histórico um pouco mais de confiança, na vida e em si mesma (o que pode ter sido favorecido, em algumas delas, também por sua pouca idade). Seus sonhos, timidamente esboçados na primeira entrevista, adquiriram contornos mais nítidos. Ainda que muito caminho precise ser tri-lhado e que o trabalho empreendido tenha ficado bastante aquém das metas usualmente prospectadas numa orienta-ção profissional, pode-se afirmar que os principais obje-tivos foram atingidos, o espaço tendo funcionado, lado a lado ao tratamento realizado pelos profissionais de saúde do hospital, como uma oportunidade de ampliação das possibilidades de vida destas pessoas, e o grupo, como um holding (Ribeiro, 2004). Favoreceram-se o exercício da troca grupal, a oportunidade de escuta de si e do outro (com alguns feedbacks dados, pelas participantes, umas às outras), o reconhecimento de habilidades e interes-ses, a reflexão sobre o futuro (sonhos, planos e receios) e a visualização de algumas ações para a vida pós alta. Evidentemente, muitos aspectos poderiam ter sido apro-fundados, com vistas a uma maior instrumentalização para a escolha profissional e à reflexão sobre a ação concreta. Neste sentido, um trabalho de OP, na modalidade clínica, em contexto psiquiátrico, em muito se beneficiaria com a continuidade, quer através de uma maior duração dos atendimentos, quer mediante o acompanhamento dos pa-cientes após a alta (o que, no presente caso, não foi pos-sível). Igualmente produtiva viria a ser a modificação da metodologia utilizada, incluindo a pesquisa de possibili-dades concretas de ação (Ribeiro, 1998), com a procura de empregos e a consequente oportunidade de elaboração desta experiência. Certamente, tal exercício motivaria a busca de informações profissionais, atenuando o desinte-resse manifestado por algumas pacientes.
Avalia-se que as dificuldades enfrentadas na condução deste grupo derivam dos desafios impostos pelas condições de saúde mental – e, mesmo, por suas condições prévias de vida – das participantes. Paralelamente às proposições feitas acima, entende-se que tais dificuldades, demanda-riam um estudo preliminar aprofundado, no sentido de compreender a complexidade dos determinantes sociais/individuais dos distúrbios psiquiátricos e de avaliar a me-todologia mais adequada para um trabalho de OP com esta população. Entretanto, em que pesem estas limitações, e a considerar a avaliação feita pelas participantes, acredita-se que um primeiro passo foi dado para o processo de reinte-gração social. Mesmo no caso da participante que, na de-volutiva, afirmou que o grupo não havia “mudado nada”, pode-se supor, de acordo com a sequência de seu depoi-mento, que os encontros auxiliaram-na a pensar em ter uma vida futura, na qual seus sonhos poderiam ser alcan-çados. O espaço oferecido, assumido por elas como uma

128
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 121-131
“atividade diferente na instituição”, posto que centrado na vida mais do que na doença, auxiliou na desconstrução do conceito de “doente”, corroborando as proposições dos au-tores consultados. Além disto, cabe observar que, dentro das possibilidades concretas de cada uma (experiência pro-fissional anterior, idade, nível de escolaridade, condição socioeconômica), alguns projetos ocupacionais puderam ser vislumbrados, aparentemente com maior segurança do que quando esboçados nas entrevistas iniciais.
A acolhida e o aproveitamento do projeto pelas pa-cientes chamaram a atenção. Algumas, em particular, dados seus quadros sintomáticos, causavam preocupação quanto ao entendimento e à realização das atividades. No entanto, especialmente para as pacientes com transtornos esquizoa-fetivos, o trabalho grupal, em conjunto com o trabalho rea-lizado pela equipe do hospital na superação do quadro agu-do que motivou a internação, parece ter contribuído como mais uma ferramenta de organização psíquica: de um mo-mento inicial prenhe de dispersão, em que os desejos pare-ciam habitar um território longínquo e quase inalcançável, parece ter se alcançado um outro, em que a aproximação do futuro, seu planejamento e, principalmente, a esperança em “chegar lá” tornou-se uma possibilidade.
Em relação às cinco participantes que apresenta-vam dependência química, adolescentes de 16 a 19 anos, alguns benefícios também puderam ser observados. Redimensionar seu foco no prazer imediato do aqui e ago-ra para gratificações a médio e curto prazo foi o principal desafio. Para a maioria, aproximar o sonho da realidade parecia uma tarefa impossível, A. é um exemplo. Com uma fala repetida de confiança e vontade durante os en-contros, quando questionada sobre o que fazer para con-cretizar seus planos, afirmava não saber e “não parar para pensar nisso”, relutando em sair do universo da fantasia. Na entrevista devolutiva, porém, sinalizou avanços. De modo geral, apesar das dificuldades, observou-se que pu-deram perceber o quanto o retorno às drogas impediria a concretização de seus sonhos e, nas devolutivas, mostra-ram-se esperançosas quanto ao seu êxito. Mais uma vez, cabe ressaltar que esta conquista, como as demais obser-vadas, não se deve exclusivamente ao grupo de OP e, se este representou algum auxílio, foi no sentido de possibi-litar o reconhecimento de desejos para a vida futura (como o de serem boas filhas, boas mães e pessoas felizes) e a emergência de novas possibilidades de subjetivação. Se, habitualmente, a adolescência representa um período de conflitos, e o uso de drogas pode vir a ser um dos modos encontrados para suportá-los, dentre outras formas de in-tervenção, a oferta de um espaço auxiliar de estruturação de sonhos, como alavanca para a construção de uma iden-tidade profissional, pode vir em auxílio.
Como observado por Ribeiro (1998), após o surto psi-cótico ou, no caso das dependentes químicas, o período de abstinência, o medo do fracasso, aliado ao descrédito em relação à receptividade da sociedade, torna-se significa-tivo. Especialmente no início, observou-se que tal medo, incorporado como desconfiança em relação a si mesmas, estancava a possibilidade de pensar e de se projetar no fu-turo. Assim, objetivou-se propiciar-lhes uma oportunidade de enfrentá-lo, de modo a reapropriarem-se da vida. Com Ribeiro (1998, p. 19), apostou-se na idéia de que isto pro-porcionaria “mais confiança ao sujeito, fazendo com que ele resgate sua capacidade de escolha e decisão, e siga vi-vendo”. Efetivamente, se estas dez mulheres terão sucesso em concretizar seus projetos, é uma questão que permane-ce em aberto. Todavia, arrisca-se dizer que as atividades realizadas permitiram a produção de novas imagens de si. Se um “eu” que “antes não pensava nisso” pôde dar lugar a um “eu” capaz de pensar no futuro, supõe-se que o fato de alguém ter dado crédito a essa possibilidade favoreceu o reconhecimento de si nesta condição. Assim, embora a doença ainda assombrasse seus discursos, abriu-se um es-paço para a experimentação de um outro lugar subjetivo, configurando a orientação profissional também como es-tratégia de produção de novos modos de subjetivação na relação com os discursos socialmente instituídos.
Um outro aspecto a considerar remete à participação da psicóloga da unidade no projeto. Fazendo-se um para-lelo com a análise empreendida por Ribeiro (2004), po-der-se-ia supor que, ao participar do grupo de orientação, a referida psicóloga, na condição de intermediária entre as estagiárias e a instituição, representaria uma forma de controle do trabalho desenvolvido. Percebeu-se, porém, que sua presença no grupo foi fundamental para o esta-belecimento do vínculo, bem como sua acolhida inicial para a apresentação do projeto e contato das estagiárias com as internas, no grupo terapêutico por ela coordena-do. Interessante observar que a participação de algumas pacientes e da psicóloga em ambos os grupos, terapêutico e de OP, não comprometeu a compreensão dos objetivos deste último (poderia ocorrer, por exemplo, alguma con-fusão entre o que seria trabalhado no grupo terapêutico e o que seria tratado no grupo de orientação). Entende-se que isto se deve à constante retomada do propósito do mes-mo, também por parte da psicóloga, o que possibilitou o reconhecimento daquele espaço como uma atividade dife-rente. Em contrapartida, a aproximação entre um universo e outro se deu em relação ao modelo clínico utilizado em ambos os grupos, o que potencializou a orientação pro-fissional em sua condição de espaço de fala e de escuta, do outro e de si, permitindo articular o âmbito racional e concreto ao âmbito do desejo e das motivações pessoais

129
Valore, L. A. (2010). Orientação profissional no contexto psiquiátrico
no planejamento do projeto de vida. Deste modo, pôde-se aproximar o trabalho à estratégia clínica proposta por Bohoslavsky (1977/2003) e corroborar a proposição de Varjal, Medeiros e Oliveira (2000) referente ao fato de que o trabalho de OP não exclui o tratamento medicamen-toso, psicoterápico e nem invalida os objetivos dos outros grupos já empreendidos na instituição. Ao contrário, lança mais um desafio aos profissionais da OP: o de articular seu trabalho às demais práticas de assistência à saúde mental.
Por fim, ressalta-se a necessidade de aprofundamen-to teórico sobre as problemáticas enfrentadas. A busca de referenciais específicos sobre os transtornos psicoafetivos e a dependência química, a investigação de suas condi-ções prévias de vida, o conhecimento dos princípios e das ações preconizados pelo novo paradigma em saúde men-tal, muito têm a contribuir no aprimoramento da OP neste contexto. Descortina-se, pois, um amplo horizonte para novas pesquisas.
Considerações Finais
Como visto na literatura, a passagem por uma ins-tituição psiquiátrica não raro contribui para produzir, no imaginário social e nos próprios usuários, um conceito de si vinculado à idéia de incapacidade e de anormalidade, o qual pode resultar na paralisação de suas ações e possibi-lidades de escolha. Mesmo em casos de internamentos de curta duração (como na experiência relatada), há que se considerar que, não obstante as significativas transforma-ções no paradigma de assistência à saúde mental e suas valiosas contribuições para a desconstrução desse concei-to, muito ainda há por ser feito e não apenas em relação à representação social do transtorno psiquiátrico. O estudo de Vechi (2003), por exemplo, alerta para as marcas da iatrogenia no discurso de profissionais em hospitais-dia. Através da análise de entrevistas, com psicólogos e psi-quiatras, sobre o primeiro atendimento de usuários desse sistema, o autor demonstra como a representação de “do-ente incurável”, presente em seus discursos, pode contri-buir para “inscrever a clientela numa ordem predefinida de patologia com tendência a se conservar e numa con-dição que se assemelha àquela de ‘objeto’ do tratamento” (Vechi, 2003, p. 204).
Na situação específica das participantes do grupo de OP, pode-se conjecturar que, embora algumas já tivessem passado por várias internações, o fato de a maioria não ter vivenciado um atendimento no sistema manicomial constitua um aspecto protetor aos efeitos estigmatizan-tes implicados na vivência de um tratamento psiquiátri-co. Ainda assim, acredita-se que, mesmo nesse caso, o movimento de reintegração social dessas pessoas, com o
resgate de sua cidadania, o respeito à sua singularidade e o favorecimento de sua autonomia (Gonçalves & Sena, 2001) justifica-se. Evidentemente, como qualquer outra ação voltada à superação dos processos de exclusão, sua reinserção, pela via do trabalho, demanda, para além dos esforços dos agentes de saúde mental, um grande envol-vimento, e projetos efetivos de inclusão social, por parte da comunidade mais ampla, no sentido de transformar a cultura vigente quanto à intolerância das diferenças. Lembrando Foucault (2001) não se trata apenas de mu-dar as verdades (no caso, sobre a dita normalidade), mas de mudar o regime político, econômico e institucional de sua produção. É neste ponto que a orientação profissio-nal, em conjunto com outras práticas sociais, tem algo a contribuir, como o demonstram também os estudos de pesquisadores dessa área com populações provenientes de classes sociais desfavorecidas ou com adolescentes em situação de vulnerabilidade social, em que o estig-ma do fracasso configura uma restrição a mais no, já tão limitado, processo de inserção profissional. Sua prática, entretanto, requer enfrentar alguns desafios.
Tendo em vista as transformações provocadas pelas lógicas globais nos novos modos de viver, a inviabilidade de projetos de vida a longo prazo (Sennett, 2004) e as in-certezas que transformam o navegar - tanto quanto o viver - em ações imprecisas, há que se supor que a escolha de uma carreira e a permanência no mundo do trabalho venha se tornando uma empreitada cada vez mais difícil, e isto não apenas para o recém saído de uma instituição psiqui-átrica. Neste sentido, o instigante paralelo estabelecido por Ribeiro (2007), entre as experiências da psicose e do desemprego, quanto à ruptura biográfica que ambas insti-tuem, leva a supor que a vivência de descontinuidade de si, atualmente, não se restrinja às pessoas inseridas nestas condições. A constatação da impossibilidade de uma iden-tidade profissional concebida como permanência e conti-nuidade, na sociedade de “curto prazo” (Sennett, 2004), convoca os orientadores profissionais ao que Lehman (1995, p. 246) denomina de “crise de lucidez”; ou seja, a necessidade de ampliar o campo de visão para “todos os conflitos de ordem social, institucional e psicológica que marcam nosso dia-a-dia” e que, de algum modo, também se apresentam no campo da orientação profissional.
Isto posto, há que se assumir que a tarefa de auxi-liar na escolha de uma carreira e na construção de um pro-jeto de vida implica o compromisso coletivo. O que tem remetido ao crescente debate, também no campo da OP, quanto à necessidade de expansão de políticas públicas em educação, saúde e trabalho. A considerar as condições de vulnerabilidade social, que geralmente acompanham o his-tórico de pacientes psiquiátricos de instituições públicas,

130
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 121-131
projetos sociais articulados com ações de orientação pro-fissional tornam-se particularmente relevantes, como bem o demonstram Bardagi, Arteche e Neiva-Silva (2005) ao tratarem de adolescentes em situação de risco. Além disto, há que se instrumentalizar a escola, pública em especial, no que concerne à educação para a carreira, para enfrentar e responder, de forma apropriada, às demandas e desafios co-locados por esses jovens (Gavilán & Labourdette, 2006).
Como se tem discutido nos eventos científicos da área, expandir o acesso à orientação profissional constitui
uma necessidade premente na realidade brasileira, conti-nuamente marcada por processos de exclusão e de desi-gualdade social. Mais do que à mera adaptação ao mun-do do trabalho, porém, deve-se visar, como observa Bohoslavsky (1997/2003), dentre outros, à apropriação da condição de autor da própria vida. Nesse sentido, a OP consiste numa tarefa ética que se produz na tensão entre o voltar-se a todos e a atenção às singularidades. Ética, tam-bém, por conceber o homem como sujeito de escolhas, por mais limitadas que estejam suas potencialidades.
Referências
Andrade, J. M., Meira, G. R. J. M., & Vasconcelos, Z. B. (2002). O processo de orientação vocacional frente ao século XXI: Perspectivas e desafios. Psicologia, ciência e profissão, 22(3), 46-53.
Bardagi, M. P., Arteche, A. X., & Neiva-Silva, L. (2005). Projetos sociais com adolescentes em situação de risco: Discutindo o trabalho e a orientação profissional como estratégias de intervenção. In C. Hutz (Org.), Violência e risco na infância e na adolescência: Pesquisa e intervenção (pp. 101-146). São Paulo: Casa do Psicólogo.
Bock, A. M. B., & Aguiar, W. M. J. (1995). Por uma prática promotora de saúde em orientação vocacional. In A. M. B. Bock, C. M. M. Amaral, F. F. Silva, L. M. C. Calejon, L. Q. de Andrade, M. C. C. Uvaldo et al. (Eds.), A escolha profissional em questão (2a ed., pp. 9-23). São Paulo: Casa do Psicólogo.
Bohoslavsky, R. (2003). Orientação vocacional: A estratégia clínica (11a ed.). São Paulo: Martins Fontes. (Original publicado em 1977)
Carvalho, M. M. M. J. (1995). Orientação profissional em grupo: Teoria e técnica vocacional. São Paulo: Editorial Psy.Dejours, C., Abdoucheli, E., & Jayet, C. (2007). Psicodinâmica do trabalho: Contribuições da escola Dejouriana a
análise da relação prazer, sofrimento e trabalho. São Paulo: Atlas.Foucault, M. (2001). Microfísica do poder (16a ed.). Rio de Janeiro: Graal.Gavilán, M., & Labourdette, S. (2006). La orientación y la educación: Investigación en áreas de alta vulnerabilidad
Psicosocial. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 7(2), 103-114. Gonçalves, A. M., & Sena, R. R. (2001). A reforma psiquiátrica no Brasil: Contextualização e reflexos sobre o cuidado
com o doente mental na família. Revista Latino-americana de Enfermagem, 9(2), 48-55.González Bello, J. (2008). Reconceptualización de la orientación educativa en los tiempos actuales. Revista Brasileira de
Orientação Profissional, 9(2), 1-8. Holanda, L. (2000). Re-orientação vocacional ocupacional: Um resgate da cidadania. In I. D. Oliveira (Org.), Construindo
caminhos: Experiências e técnicas em orientação profissional (pp. 184-189). Recife: Editora Universitária da UFPE.
Lehman, Y. P. (1995). O papel do orientador profissional-revisão crítica. In A. M. B. Bock, C. M. M. Amaral, F. F. Silva, L. M. C. Calejon, L. Q. de Andrade, M. C. C. Uvaldo et al. (Eds.), A escolha profissional em questão (2a ed., pp. 239-246). São Paulo: Casa do Psicólogo.
Lisboa, M. D. (2002). Orientação profissional e mundo do trabalho: Reflexões sobre uma nova proposta frente a um novo cenário. In R. S. Levenfus & D. H. P. Soares (Orgs.), Orientação vocacional ocupacional: Novos achados teóricos, técnicos e instrumentais para a clínica, a escola e a empresa (pp. 33-49). Porto Alegre: ARTMED.
Lucchiari, D. H. P. S. (Org.). (1993). Pensando e vivendo a orientação profissional (2a ed.). São Paulo: Summus.Melo-Silva, L. L., Lassance, M. C. P., & Soares, D. H. P. (2004). A orientação profissional no contexto da educação e
trabalho. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 5(2), 31-52. Müller, M. (1988). Orientação vocacional: Contribuições clínicas e vocacionais. Porto Alegre: Artes Médicas.Oliveira, I. D. (2000). Orientação profissional no contexto atual. In I. D. Oliveira (Org.), Construindo caminhos:
Experiências e técnicas em orientação profissional (pp. 35-52). Recife: Editora Universitária da UFPE. Ribeiro, M. A. (1998). Atelier de trabalho para psicóticos: Uma possibilidade de atuação em orientação profissional.
Psicologia, Ciência e Profissão, 18(1), 12-27.

131
Valore, L. A. (2010). Orientação profissional no contexto psiquiátrico
Ribeiro, M. A. (2004). Orientação profissional para “pessoas psicóticas”: Um espaço para o desenvolvimento de estratégias identitárias de transição através da construção de projetos. Tese de Doutorado não-publicada, Curso de Pós-Graduação em Psicologia do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, São Paulo.
Ribeiro, M. A. (2007). Psicose e desemprego: Um paralelo entre experiências psicossociais de ruptura biográfica. Cadernos de Psicologia Social e do Trabalho, 10(1), 75-91.
Sennett, R. (2004). A corrosão do caráter: Consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo (8a ed.). Rio de Janeiro: Record.
Soares, D. H. P. (2002). Técnicas e jogos grupais para utilização em orientação profissional. In R. S. Levenfus & D. H. P. Soares (Orgs.), Orientação vocacional ocupacional: Novos achados teóricos, técnicos e instrumentais para a clínica, a escola e a empresa (pp. 307-322). Porto Alegre: ARTMED.
Soares, D. H. P., Krawulski, E., Dias, M. S. L., & D’Avila, T. G. (2007). Orientação profissional em contexto coletivo: Uma experiência em pré-vestibular popular. Psicologia, Ciência e Profissão, 27, 746-759.
Sparta, M. (2003). O Desenvolvimento da orientação profissional no Brasil. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 4(1/2), 1-11.
Sparta, M., & Lassance, M. C. (2003). A Orientação Profissional e as transformações no mundo do trabalho. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 4(1/2), 13-19.
Torres, M. L. C. (2001). Orientação profissional clínica: Uma interlocução com conceitos psicanalíticos. Belo Horizonte: Autêntica.
Varjal, A. C., Medeiros, A., & Oliveira, G. (2000). Oficina para o trabalho: Orientação vocacional com psicóticos numa visão existencial fenomenológica. In I. D. Oliveira (Org.), Construindo caminhos: Experiências e técnicas em orientação profissional (pp.190-204). Recife: Editora Universitária da UFPE.
Vechi, L. G. (2003). Marcas da iatrogenia no discurso de profissionais em hospital-dia. São Paulo: Casa do Psicólogo.
Recebido: 27/07/20091ª Revisão: 19/11/2009
Aceite final: 03/02/2010
Sobre a autoraLuciana Albanese Valore é psicóloga, professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná.
Doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo, coordena projetos de pes-quisa e extensão no campo da Orientação Profissional e da Análise Institucional do Discurso.


133Disponível em http://pepsic.bvs-psi.org.br/rbop
Revista Brasileira de Orientação Profissionaljan.-jun. 2010, Vol. 11, No. 1, 133-143
Um estudo de caso em Orientação Profissional:Os papéis da avaliação psicológica e
da informação profissional
Rodolfo Augusto Matteo Ambiel1
Universidade São Francisco, Itatiba-SP, Brasil
ResumoEsse artigo objetiva descrever um processo de Orientação Profissional, baseado nos resultados de avaliação psico-lógica e de informação profissional. O cliente foi um adolescente de 16 anos, estudante do segundo ano do ensino médio de uma escola pública. No processo foram aplicados quatro testes, Escala de Aconselhamento Profissional, Teste de Fotos de Profissões, Bateria de Provas de Raciocínio e Inventário Fatorial de Personalidade. Também foram realizadas atividades de fornecimento e busca de informação profissional. Durante o processo, o cliente consolidou sua escolha por um curso pelo qual já tinha interesse, baseando-se nas reflexões promovidas pelos resultados das avaliações e atividades de informação. Uma entrevista foi realizada 15 meses após a OP, quando o cliente já havia se matriculado no curso escolhido, e avaliou-se a estabilidade de sua escolha.Palavras-chave: escolha da carreira, orientação profissional, avaliação psicológica, interesses profissionais
Abstract: A case study in vocational guidance: the role of psychological assessment and vocational informationThis article aimed at describing a process of vocational guidance, as based on the results of psychological assessment and professional information. The client was a 16 – years-old high school student in a Brazilian public school. Four test were applied: Vocational Counseling Scale (Escala de Aconselhamento Profissional), Occupational Photo Test (Teste de Fotos de Profissões / Berufisbilder BBT), Reasoning Tests Battery (Bateria de Provas de Raciocínio) and Personality Factorial Inventory (Inventário Fatorial de Personalidade). Supply of and search for vocational information were also done. During the process, the client consolidated his choice of a course in which he was already interested, based on the ideas generated by the assessment results and information activities. An interview was conducted 15 months after the process had been concluded, when he had already enrolled in the course chosen, during which the stability of his choice was evaluated.Keywords: career choice, vocational guidance, psychological assessment, career interests
Resumen: Un estudio de caso en Orientación Profesional: Los papeles de la evaluación psicológica y de la información profesional
Este artículo pretende describir un proceso de Orientación Profesional, basado en los resultados de evaluación psicológica y de información profesional. El cliente fue un adolescente de 16 años, estudiante de segundo año de enseñanza media en una escuela pública. En el proceso se aplicaron cuatro pruebas: Escala de Orientación Profesional, Prueba de Fotos de Profesiones, Batería de Pruebas de Raciocinio, e Inventario Factorial de Personalidad. También se realizaron actividades de provisión y búsqueda de información profesional. Durante el proceso el cliente consolidó su elección por un curso por el cual ya tenía interés basándose en las reflexiones promovidas por los resultados de las evaluaciones y actividades de información. Se realizó una entrevista 15 meses después de realizada la OP, cuando el cliente ya se había matriculado en el curso escogido, y se evaluó la estabilidad de su elección.Palabras clave: elección de la carrera, orientación profesional, evaluación psicológica, intereses profesionales
1 Endereço para correspondência: Universidade São Francisco. Setor de Apoio de Humanas. Rua: Alexandre Rodrigues Barbosa, 45, 13251-000, Itatiba-SP, Brasil. Fone: (11) 4534.8000. Email: [email protected]
Relato de Experiência

134
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 133-143
A Orientação Profissional (OP) teve como mar-co inicial a fundação do Vocational Bureau of Boston, em 1907, por Frank Parsons, que, dois anos mais tarde, lançou o livro Choosing a vocation, em que descreve as estratégias que utilizava com os jovens que estavam no final de seu percurso escolar obrigatório e prestes a en-trar no mercado de trabalho (Sparta, Bardagi, & Teixeira, 2006; Ribeiro & Uvaldo, 2007). Naquela época, Parsons (1909) sugeriu que uma escolha profissional adequada às características da pessoa poderia favorecer uma carreira bem sucedida, sendo necessários três passos no proces-so de orientação, a saber, conhecimento das habilidades, interesses, ambições, limitações e outras características pessoais; conhecimento das possibilidades e caracterís-ticas das diversas profissões; e uma integração adequada entre todas essas informações.
Nascimento (2007) reitera a posição apresentada por Parsons em 1909, afirmando que, num primeiro momento, o esforço deve ser no sentido de se favorecer o autoco-nhecimento; em seguida devem ser trabalhadas as infor-mações sobre as profissões e mercado de trabalho; e, por fim, deve haver um momento de integração dos dados pelo orientando, com um auxílio fundamental do orientador. A respeito da avaliação psicológica no contexto da OP, Nascimento (2007) considera que os escores dos testes po-dem ser utilizados de um modo informativo e processual com o objetivo de fornecer ao orientando mais informa-ções sobre si mesmo, sendo que seus resultados devem ser apresentados ao longo das sessões e não em um momento isolado, ao final do processo. Além disso, afirma que não deve haver momentos isolados de entrevistas ou aplica-ções de teste, sendo que o processo deve ser dinâmico e de troca entre orientador e orientando.
Nessa direção, Sparta et al. (2006) afirmam que no período anterior à metade do século XX, muitos testes psi-cológicos foram desenvolvidos ou adaptados para o con-texto da orientação e seleção profissional, especialmente para a avaliação de interesses e aptidões. Nessa época, predominavam as teorias de Traço e Fator, que se basea-vam na idéia de ajustamento entre as pessoas e as ocupa-ções. Desde então, o mundo do trabalho sofreu diversas e profundas mudanças, flexibilizando e ampliando as possi-bilidades de trabalho e, conseqüentemente, na OP também surgiram novas possibilidades de avaliação e intervenção, o que coincidiu com uma fase de decadência na produção científica a respeito dos testes psicológicos (Noronha & Ambiel, 2006). Nesse período, como indicam Sparta et al. (2006), Rodolfo Bohoslavsky propôs sua estratégia clínica de OP, em que os testes não tinham mais um pa-pel central, mas uma importante função no levantamento inicial das características pessoais do orientando, sendo
seus resultados integrados a outras experiências ocorridas durante o processo, especialmente àquelas de exploração de informações sobre o mundo do trabalho.
A esse respeito, Sparta, Bardagi e Andrade (2005) afirmam que a exploração e busca de informação cons-tituem-se como tarefas do processo de desenvolvimento de carreira, compreendido como sendo comportamentos propositais e voluntários, visando o conhecimento de si mesmo e do mundo do trabalho. Terêncio e Soares (2003) e Inácio e Gamboa (2008) afirmam que o uso da inter-net como uma ferramenta para esses fins tem aumentado consideravelmente, tendo sido utilizada tanto por clientes como por profissionais. Entretanto, o ambiente pouco con-trolado da rede pode se colocar como uma barreira no pro-cesso de exploração das informações profissionais, pois parece haver um grande número de sítios desatualizados e pouco confiáveis, sendo, portanto, necessário um uso cau-teloso e dirigido dessas informações, que devem ser discu-tidas apropriadamente para um aproveitamento efetivo.
Assim, pode-se apreender que os processos de ava-liação e as atividades de exploração e busca de informação relativo aos cursos, carreiras e mercado de trabalho assu-mem um papel central nos processos de OP. No intuito de se clarificar essa afirmação, a seguir serão relatadas pes-quisas relacionadas a essas temáticas. O estudo de Primi et al. (2002) objetivou investigar as correlações entre interes-ses profissionais, personalidade e inteligência, avaliados em 60 pessoas que freqüentaram um processo de OP que durou 10 semanas, com idades entre 13 e 32 anos, sendo que 83,3% tinham até 16 anos. Os instrumentos utiliza-dos no processo foram a Bateria de Provas de Raciocínio (BPR-5), o Questionário de Personalidade 16PF Quinta Edição e o Levantamento de Interesses Profissionais (LIP). Nos resultados, foram observadas diversas corre-lações significativas, dentre as quais, Raciocínio Abstrato (RA), Mecânico (RM) e Espacial (RE) com interesses em Ciências Físicas e Cálculo (LIP) e com Rigidez de Pensamento (Fator III do 16PF), sugerindo que pessoas com escores altos nessas características tendem a valori-zar a objetividade em oposição ao sentimento. Os autores concluem que os resultados desse estudo visam fornecer informações importantes sobre a utilidade do uso combi-nado desses instrumentos e dos construtos que avaliam, buscando otimizar a exploração das características pesso-ais no momento da escolha profissional.
Um outro estudo, que visou estudar as relações entre interesses profissionais e personalidade de jovens partici-pantes de um processo de OP, foi o de Nunes e Noronha (2009). Para tanto, foram utilizados instrumentos basea-dos na tipologia de Holland (Self-Directed Search - SDS) e no modelo dos Cinco Grandes Fatores de Personalidade

135
Ambiel, R. A. M. (2010). Avaliação psicológica em Orientação Profissional
(Bateria Fatorial de Personalidade - BFP). Foram partici-pantes 115 jovens (53,9% mulheres) com idades entre 16 e 18 anos (M=16,5; DP=0,57), estudantes de ensino médio em escolas particulares. Os resultados apontaram que as mulheres apresentaram significativamente mais traços de Abertura e Socialização e interesses Artísticos em relação aos homens, que por sua vez, apresentaram maior interes-se Realista do que as mulheres.
Quanto às correlações, entre as mulheres, as sig-nificativas foram encontradas entre o fator Abertura e os interesses Artístico e Social; fator Extroversão com Social, Empreendedor e Convencional; e Socialização com interesses Sociais. Já entre os homens, houve cor-relação entre o fator Abertura e os interesses Artístico e Social; fator Extroversão e interesse Empreendedor; fator Realização com interesse Convencional; e fator Socialização com interesse Social. As autoras concluem o estudo afirmando que o conhecimento das comuna-lidades entre as variáveis de interesses profissionais e personalidade são importantes nos processos de OP, no sentido da integração entre os dois construtos.
Abordando os limites e possibilidades de um proces-so de OP individual, Bordão-Alves e Melo-Silva (2008) relataram um caso de um adolescente de 17 anos, atendi-do em um clínica-escola de uma universidade pública do estado de São Paulo. Além das entrevistas e outras técni-cas não-padronizadas, as autoras utilizaram a Escala de Maturidade para Escolha Profissional (EMEP) e o Teste de Fotos de Profissões (BBT-Br). O processo, que tinha sido planejado com 14 sessões, acabou tendo apenas nove, devido ao excesso de faltas do cliente. A avaliação da ma-turidade para escolha evidenciou que o cliente demons-trou ter pontuação acima da média em Responsabilidade, Autoconhecimento e Determinação, enquanto que os fato-res Conhecimentos a respeito da realidade e Independência ficaram abaixo da média, sendo que a partir desses resulta-dos a intervenção foi planejada.
Quanto às informações extraídas do BBT-Br, o clien-te escolheu mais de forma neutra e menos de forma negati-va que as médias de escolhas do grupo normativo indicado no manual do instrumento, o que, segundo Bordão-Alves e Melo-Silva (2008), indica dificuldades de discriminar suas preferências e de rejeitar os estímulos que não des-pertam seu interesse. Além disso, mostrou preferência por atividades relacionadas à objetividade e raciocínio lógico (fator V) e atividades orais e de comunicação (fator O). Por fim, as autoras descrevem que houve desistência do processo por parte do cliente e, diante dos resultados das avaliações, concluíram que o cliente se alternava entre si-tuações particulares com maior ou menor amadurecimen-to para a decisão da profissão.
Sobre a exploração e informação profissional, Sparta et al. (2005) buscaram identificar as características de ex-ploração vocacional e quantidade de informação profis-sional percebida em um grupo de 59 alunos (69,5% eram mulheres), com idades entre 16 e 48 anos. Foram aplica-dos dois instrumentos, sendo um questionário que coleta-va informações sociodemográficas e relativas à definição ou dificuldades de escolha profissional e sobre a quantida-de de informação profissional que os alunos julgavam ter. Também foi aplicada uma escala de exploração vocacio-nal, composta por 30 itens em formato likert de cinco pon-tos, em que os participantes deveriam anotar a freqüência com que agem da forma proposta no item.
Os resultados indicaram que quanto mais velhos, maior eram o escores em exploração vocacional. Além dis-so, também foi constatado que aqueles que relatavam já ter um decisão profissional definida também tinham escores mais altos em exploração. Com relação à percepção de in-formação profissional, a maioria dos participantes julgou ter pouca informação a respeito do processo de escolha, profissões, vida universitária, ensino superior e mercado de trabalho, sendo que a variável que foi percebida com maior quantidade foi o vestibular. Ao se comparar os grupos de participantes que declaram já ter decidido a profissão com aqueles que permanecem indecisos com relação à quanti-dade percebida de informação, observou-se que o grupo dos decididos obteve médias significativamente maiores em profissões e vida universitária, embora em todos os itens esse grupo pontuou mais que o outro. Assim, observa-se que a exploração e informação profissionais constituem-se como fatores importantes durante o processo de escolha profissional, devendo ser um ponto essencial a se conside-rar quando do planejamento de ações em OP.
Ainda sobre a informação profissional, a pesquisa de Inácio e Gamboa (2008) teve como objetivo analisar a autoeficácia na utilização da internet para a pesquisa de informação escolar e profissional em alunos do sétimo, nono e 12º anos de escolaridade no contexto português. Para tanto, participaram da pesquisa 187 alunos (65,2% do sexo feminino), sendo 62 (33,2%) do sétimo ano, 64 (34,2%) do nono e 61(32,6%) do 12º ano, com idades en-tre 12 e 20 anos (M = 15,01; DP = 2,142). Foram aplicados dois instrumentos, a saber, um questionário de caracteriza-ção dos sujeitos quanto à sua condição sociodemográfica e ao uso da internet para a coleta de informações educacio-nais e profissionais e a escala de Auto-eficácia na Pesquisa de In¬formação Escolar e Profissional (APIEPI), constitu-ída por 17 itens, que teve suas propriedades psicométricas também avaliadas nesse estudo.
Os resultados relataram uma análise fatorial, que mostrou que a escala inteira explicou 69,77% da variância

136
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 133-143
e dividiu-se em dois fatores. O primeiro, responsável por 35,6 % da variância explicada e com alfa de 0,95, ficou com 10 itens que refletem o senso de competência para explorar informação educacional e profissional. No fator dois, que explicou 34,2% e com alfa de 0,92, carrega-ram sete itens que indicam a capacidade de encontrar sí-tios específicos na internet para obter tais informações. Também foi utilizado um modelo de regressão linear múl-tipla buscando verificar como os dois fatores da APIEPI explicam a atividade exploratória, percebendo-se que o fator 2 prediz significativamente tal atividade. Já o fator 1 não demonstrou predição significativa. Por fim, Inácio e Gamboa (2008) também encontraram dados mostrando que há uma relação significativa e positiva entre ano de escolaridade e auto-eficácia, sendo que os alunos do 12º são os mais confiantes para realizar os comportamentos exploratórios na internet.
Tendo em vista o exposto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar um atendimento em orientação profissional individual, com foco nos resultados de instru-mentos de avaliação psicológica e na discussão de infor-mações sobre as profissões. Além disso, objetivou-se tam-bém investigar a estabilidade da escolha após 15 meses do término do processo, quando o sujeito já havia se inserido no ensino superior.
Método
Participante
Foi sujeito desse trabalho M., um adolescente de 16 anos quando da realização do processo, do sexo mascu-lino, estudante de segundo ano do ensino médio de um colégio técnico público do interior do estado de São Paulo, atendido em um processo de orientação profissional reali-zado na clínica-escola de Psicologia de uma universidade particular da mesma cidade.
Instrumentos
Nessa seção serão apresentados os testes psicológicos utilizados durante o processo, a saber, Bateria de Provas de Raciocínio (BPR-5), Inventário Fatorial de Personalidade (IFP), Escala de Aconselhamento Profissional (EAP) e Teste de Fotos de Profissões (BBT-Br). Vale ressaltar que, por se tratar de uma situação de intervenção, foram se-lecionados apenas instrumentos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP).
A Bateria de Provas de Raciocínio (BPR-5) é de autoria de Primi e Almeida (2000), e avalia a capacida-de dos indivíduos em cinco tipos de raciocínio. O teste é
composto de duas formas, a saber, Forma A, para alunos da 6ª a 8ª séries do ensino fundamental e a Forma B, para alunos da 1ª a 3ª séries do ensino médio. No presente tra-balho, foi utilizada a Forma B. As provas que compõem a bateria são descritas a seguir.
Prova de Raciocínio Verbal (Prova RV). A tarefa consiste em identificar analogias entre palavras, ou seja, a relação analógica existente entre um primeiro par de pa-lavras deverá ser descoberta e aplicada de forma a iden-tificar o complemento de um segundo par entre as cinco alternativas de resposta que mantenha a mesma relação com a palavra apresentada.
Prova de Raciocínio Abstrato (Prova RA). Avalia conteúdos abstratos, como analogias com figuras geomé-tricas. A tarefa consiste em descobrir a relação existen-te entre os dois primeiros termos e aplicá-la ao terceiro, para se identificar a quarta figura entre as cinco alterna-tivas de resposta.
Prova de Raciocínio Mecânico (Prova RM). É composta por problemas práticos que envolvem conteú-dos físico-mecânicos. A resposta é dada escolhendo-se en-tre as alternativas de resposta aquela que melhor responde a questão proposta pelo problema.
Prova de Raciocínio Espacial (Prova RE). Consiste em séries de cubos tridimensionais em movimento, que podem ser constantes ou alternados. Descobrindo-se o movimento, através da análise das diferentes faces, deve-se escolher entre as alternativas de resposta a representa-ção do cubo que se seguiria se o movimento descoberto fosse aplicado ao último cubo da série.
Prova de Raciocínio Numérico (Prova RN). Composta por séries de números lineares ou alternadas, nas quais o sujeito deve descobrir qual a relação arit-mética que rege as progressões nas séries e aplicá-la respondendo quais seriam os dois últimos números que completariam a série.
Com relação aos estudos psicométricos, a precisão foi estabelecida pelo método das metades e por con-sistência interma. Já a validade foi obtida por meio de análise fatorial, que identificou cinco fatores, e pela cor-relação entre os escores das provas de raciocínio com as notas dos estudantes que participaram dos estudos de padronização.
O Inventário Fatorial de Personalidade (IFP) foi construído por Pasquali, Azevedo e Ghesti (1997) e visa avaliar 15 necessidades ou dimensões da personalidade, tendo como fundamento as contribuições teóricas de H. A. Murray. O inventário conta com 155 itens, em escala likert de sete pontos, sendo 1 = nada característico e 7 = total-mente característico. As dimensões avaliadas pelo IFP são apresentadas a seguir.

137
Ambiel, R. A. M. (2010). Avaliação psicológica em Orientação Profissional
Assistência: tendência a auxiliar e tratar as pessoas com compaixão e ternura.
Ordem: tendência a manter a ordem e a valorizar a limpeza, o equilíbrio e a precisão dos objetos do mundo exterior.
Denegação: tendência a se entregar passivamente às forças externas e a se resignar perante as dificuldades.
Intracepção: tendência a se deixar conduzir por sen-timentos e inclinações difusas.
Desempenho: necessidade de vencer obstáculos, rea-lizar ações difíceis e executar tarefas independentemente e com o máximo de rapidez.
Exibição: necessidade de impressionar, entreter e fascinar as pessoas.
Afago: tendência a buscar ajuda, proteção, consolo e perdão.
Heterossexualidade: Necessidade de planejar, man-ter e falar sobre relações heterossexuais.
Mudança: necessidade de mudar, mediante o próprio esforço, uma determinada situação ou certas característi-cas das pessoas.
Persistência: tendência a se dedicar intensamente a uma tarefa até concluí-la.
Agressão: necessidade de atacar, lutar, opor-se a algo ou alguém, mediante o uso da força.
Deferência: necessidade de admirar, prestigiar, apoiar, honrar, elogiar, imitar ou se sujeitar a um modelo ou superior.
Autonomia: tendência a ser independente, libertar-se de restrições, resistir à coerção e não se sentir obrigado a cumprir ordens de superiores.
Afiliação: necessidade de se ligar afetivamente e per-manecer fiel a alguém, fazer amizades e mantê-las e se tornar íntimo de alguém.
Os estudos de validação do IFP contaram com uma amostra de 4.308 pessoas, basicamente de estudantes uni-versitários. Sua precisão foi avaliada pelo coeficiente Alfa de Cronbach para cada escala, e foram feitos estudos de validades de conteúdo (consulta a especialistas) e estrutu-ra interna, por meio de análise fatorial.
A Escala de Aconselhamento Profissional (EAP) foi construída por Noronha, Sisto e Santos (2007), e é basea-da nas asserções de M. Savickas, para quem os interesses profissionais são padrões de gosto, aversão ou indiferença por determinadas atividades profissionais. É composta por 61 itens, que consistem em atividades profissionais diver-sas, em escala likert de cinco pontos, sendo 1 = raramente desenvolveria e 5 = frequentemente desenvolveria. Avalia sete dimensões, descritas a seguir.
Ciências Exatas: interesses por tarefas concretas, numéri-cas, que envolvam o uso ou desenvolvimento de tecnologia.
Artes e Comunicação: interesses por atividades criativas que demandem a comunicação como meio de expressão.
Ciências Biológicas e da Saúde: interesse por ativi-dades que envolvam o cuidado com pessoas, no sentido físico e psicológico, e também o trabalho com pesquisas.
Ciências Agrárias e Ambientais: interesse por traba-lhar em ambientes abertos, com objetos concretos e foco em ações sobre o meio ambiente.
Atividades Burocráticas: interesse por tarefas de classificação e organização e intermediação entre empre-sas e empregados, com foco em atividades financeiras.
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: interesses por trabalhos de cunho assistencial e por conhecer os múltiplos aspectos envolvidos nos problemas da cultura e sociedade.
Entretenimento: interesses por entreter pessoas por meio de eventos, apresentações, turismo e outros.
Além do estudo de estrutura interna, que gerou a es-trutura fatorial da escala, foram também realizados estu-dos de validade de critério, em que se estabeleceram perfis de interesses de acordo com os cursos universitários dos participantes da amostra de padronização. Quanto à pre-cisão, essa se deu por meio da verificação da consistência interna pelos métodos de Cronbach e Guttman.
O Teste de Fotos de Profissões (BBT-Br) é uma adap-tação do Berfusbilder Test (BBT), de Martin Achtinich, ten-do sido adaptado para a realidade brasileira por Jacquemim (2000), na versão masculina, e Jacquemin, Okino, Noce, Assoni e Pasian (2006), na versão feminina. Trata-se de um instrumento projetivo para avaliação das inclinações profis-sionais, constituído de um conjunto de 96 fotos, impressas em branco e preto, com dimensões de 10 X 10 centímetros. A tarefa do teste consiste na classificação das fotos, por par-te do avaliando, em positivas (que lhe agradam), negativas (que não lhe agradam) e indiferentes. Avalia oito fatores de inclinação, que caracterizam as atividades profissionais:
W: caracteriza-se por necessidade de tocar, e por rela-ções que envolvam ternura e sensibilidade;
K: indica preferência por atividades que exijam força física, agressividade e obstinação;
S: indica necessidades de ajudar, cuidar, interesse pelo outro, além de dinamismo, ousadia, energia psíquica e capacidade para se impor;
Z: caracteriza-se por necessidade de mostrar, a si mes-mo ou objetos de produção própria, e interesse pela estética;
V: necessidades de atividades que envolvam razão, conhecimento e objetividade;
G: inclinação por atividades que demandem intuição, imaginação e criatividade;
M: necessidade de reter e lidar com fatos passados, matéria (como substâncias em geral, dinheiro, terra) e pos-sessividade (material e afetiva);

138
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 133-143
O: necessidades orais, tais como falar, comunicar, nutrir e alimentar.
A normatização do teste no Brasil se deu com um to-tal de 988 estudantes de escolas públicas e particulares, de ambos os sexos. As normas são apresentadas separadamen-te por sexo e tipo de escola, e vão no sentido de indicar o índice de produtividade, ou seja, a quantidade de escolhas positivas, negativas e neutras, e a estrutura primária das escolhas, ou seja, a ordem de preferência pelos fatores.
Procedimento
Em setembro de 2007, o pai de M. procurou, a seu pedido, a professora responsável pelos atendimentos em OP da referida clínica-escola, dizendo haver o interesse para que M. se submetesse a um processo, pois ele se dizia “per-dido” (sic) quanto à sua escolha profissional. Assim, após a assinatura da autorização e termo de consentimento padrão da clínica-escola, foi marcado o primeiro atendimento com M. No dia e horário marcados, M. compareceu e foi aten-dido por um então estudante do oitavo semestre do curso de Psicologia, que conduziu as sessões, supervisionado por uma professora doutora em Psicologia. Ficou combinado que o processo seria composto por oito sessões individuais, semanais, com 50 minutos de duração, que ocorreram entre setembro e novembro de 2007. Combinou-se também que durante as sessões alguns testes psicológicos seriam apli-cados e algumas atividades informativas e de exploração seriam realizadas. É importante ressaltar que o atendimen-to procurado por M. é um serviço oferecido pela clínica-escola, que segue um formato pré-estabelecido. A bateria de avaliações também faz parte de tal formato, baseando-se na literatura sobre OP, que preconiza a avaliação de carac-terísticas de personalidade, interesses profissionais e habi-lidades cognitivas e nos testes psicológicos aprovados pelo CFP e disponíveis para uso profissional.
Posteriormente, em fevereiro de 2009, 15 meses após o fim do processo, o responsável pelos atendimentos voltou a contatar M., uma vez que nesse momento ele já tinha finaliza-do o ensino médio e prestado os vestibulares para as universi-dades pretendidas. Por meio de um contato telefônico, M. foi convidado para comparecer novamente à clínica-escola para uma única sessão de 50 minutos a fim de se investigar como havia sido a continuidade de seu processo de escolha após a finalização da OP. M. e seus responsáveis concordaram, sen-do que ele compareceu no dia e horário marcados.
Resultados e Discussão
Nessa seção, serão apresentados os dados obtidos nas entrevistas e resultados das avaliações, além de serem
descritas as atividades de informação profissional realiza-das durante o processo. Por fim, será apresentada a sessão realizada 15 meses após o término do processo relatado.
Descrição das sessões
Na primeira sessão, foi realizada uma entrevista inicial livre com M., a fim de fazer um levantamento e operacionalização de sua queixa, além de se estabelecer o contrato, em que foram combinadas as questões formais do processo, já citadas em Procedimentos. Nesse encon-tro, M. disse que pensava em exercer várias profissões, mas que mudava de opinião rapidamente. Disse também que gostava muito de futebol e que até já pensou em se profissionalizar, mas, como não se julgava bom o suficien-te, preferiu manter o esporte apenas como hobby. Ainda, afirmou que, quando contou que faria um processo de OP, alguns colegas da escola acharam estranho, pois ele ain-da estava no segundo ano. M. disse que não concordava com os colegas, porque ele se sentia bastante em dúvida quanto à escolha de sua profissão e não queria deixar para a última hora. Entretanto, quando foi falado que seriam aplicados alguns testes psicológicos, a reação de M. foi de descrédito, verbalizando “mas essas coisas funcionam mesmo?” (sic). Sua dúvida foi acolhida e respondida de forma informativa, buscando elucidar a questão.
Na segunda sessão, foi realizada uma atividade es-crita, que consistia de um questionário perguntando sobre três atividades que ele achava que fazia bem, e M. indicou ‘ler’, ‘estudar’ e ‘praticar esportes’. O questionário também perguntava sobre os três cursos de maior preferência, que foram Física, Química e História, do mais para o menos preferido, mas relatou não ter um conhecimento suficiente sobre os cursos. Nesse momento, M. foi encorajado a fazer uma pesquisa na internet sobre os cursos citados, em sites de universidades, focando especialmente nas grades cur-riculares, mas que também explorasse outras informações que ele achasse relevantes sobre os cursos, sendo solicitado que levasse as informações para as sessões seguintes.
A terceira sessão foi composta por uma discussão subsidiada por informações sobre o mercado de trabalho para os profissionais formados em Física, apresentadas pelo orientador, integrando-as com o que M. havia encon-trado em sua pesquisa nas grades curriculares. Observou-se que o curso de Física e seu campo de trabalho têm um foco em pesquisa e docência, o que agradou M. Ao se ob-servar a grade curricular do curso, que M. buscou em uma universidade pública do estado de São Paulo, ele se sur-preendeu algumas vezes, expressando uma preocupação com a possível complexidade das disciplinas a se julgar pelos nomes, mas, ainda assim, M. ficou satisfeito com

139
Ambiel, R. A. M. (2010). Avaliação psicológica em Orientação Profissional
essa busca. Além disso, foram aplicadas as três primeiras provas da BPR-5, ou seja, Raciocínios Verbal, Abstrato e Mecânico, segundo indicação do manual do teste, que su-gere a aplicação dividida em situações clínicas para evitar efeitos de cansaço. Os resultados serão apresentados no relato da quinta sessão, quando a aplicação foi concluída.
Na quarta sessão foi realizada nova discussão, baseada nas informações sobre o curso de Química que M. levou à sessão, juntamente com o material sobre mercado de traba-lho coletado pelo orientador. Apesar de as informações le-vadas sobre o mercado de trabalho, tanto de Física quanto de Química, darem conta da possibilidade de atuação em vários ramos, como em indústrias, por exemplo, foi interes-sante observar que M. focou em algumas semelhanças entre as carreiras no que toca à pesquisa e docência. Além disso, de posse da grade de Química, novamente M. mostrou-se surpreso com algumas disciplinas cujas nomenclaturas suge-riam atividades complexas, mas isso não pareceu assustá-lo.
Nessa mesma sessão, foi aplicado o IFP, e os resul-tados apontaram que suas necessidades mais fortes foram Desempenho (percentil=100) e Autonomia (90), indican-do que M. parece ter desejos de atuação independente, em que não precise de outras pessoas, tampouco que tenha que receber ordens para executar suas tarefas. Além disso, essa independência se reflete no fato de desejar fazer coi-sas difíceis, que lhe tragam status e reconhecimento pela alta qualidade de suas realizações. Dentre as necessida-des fracas, destacam-se Agressão (25), Deferência (25), Intracepção (10), Ordem (10) e Heterossexualidade (10). Esses resultados indicam que M. apresentou poucas ca-racterísticas tais como sentimentalismo, fantasia e imagi-nação, tendendo a ser mais objetivo e prático. Além disso, tende a mostrar pouco desejo de dar suporte a superiores, bem como a imitá-los e obedecê-los e pouca tendência à organização, agressão e desejo por falar de sexo.
A quinta sessão foi composta pela discussão sobre o terceiro curso de preferência de M., que era o de História, também baseada em informações sobre os cursos e mer-cado de trabalho. Nesse momento, M. contou que morou quatro anos na Espanha, por conta do doutorado do pai, e que na Europa teve contato com muitos museus, o que lhe despertou o interesse pelo assunto. Contou que gosta mui-to da história antiga e assiste com freqüência programas de TV sobre escavações e explorações à locais históricos da antigüidade. Sobre o mercado de trabalho, M. concluiu que o foco da profissão parece estar ligado à dar aulas e fazer pesquisa em história seria complicado pois teria que se “mudar para o Egito” (sic). Após uma discussão com o orientador, que procurou mostrar-lhe que não é só no Egito que é possível pesquisar a história e tampouco esse país é o único em que ocorrem escavações com esse fim,
M. afirmou que História parece não ser muito bem o que ele esperava, mas que ainda tinha interesse.
Nessa mesma sessão foram aplicadas as duas úl-timas provas da BPR-5, ou seja, Raciocínios Espacial e Numérico. Na prova de Raciocínio Verbal, M. ficou no percentil 58, que indica capacidade média de estabelecer relações abstratas entre conceitos verbais. No subteste Raciocínio Abstrato, ele obteve um percentil igual a 42, indicando uma capacidade média de estabelecer rela-ções abstratas em situações novas para as quais se possui pouco conhecimento previamente aprendido. Na prova de Raciocínio Mecânico o percentil foi de 86, indican-do conhecimento prático médio-alto de mecânica e físi-ca (adquirido principalmente em experiências cotidianas e práticas) e boa capacidade de integrar as informações em textos com a figura descritiva da situação-problema. Nas provas de Raciocínio Espacial e Numérico o percentil obtido foi de 96, indicando respectivamente, capacidade superior de formar representações mentais visuais e mani-pulá-las transformando-as em novas representações, e alta capacidade de raciocinar indutiva e dedutivamente com símbolos numéricos em problemas quantitativos e alto co-nhecimento de operações aritméticas básicas.
Na sexta sessão, a discussão foi no sentido de se comparar as habilidades percebidas por M., relatadas na atividade do segundo encontro, com as informações sobre os cursos e mercado de trabalho, discutidas nas sessões três, quatro e cinco. M. percebeu que as duas primeiras habilidades listadas, ‘ler’ e ‘estudar’, estão em acordo com os três cursos que ele pretendia seguir. Já a terceira, ‘praticar esporte’, M. concluiu que não se tratava de uma habilidade profissional para ele, mas que gostaria de man-ter apenas como hobby, como já havia dito anteriormente. Assim, após ter levantado e discutido diversas informa-ções sobre os cursos e iniciar a integração com as habili-dades relatadas, o orientador estimulou M. a pensar sobre uma hierarquia de suas preferências pelos cursos citados e ele confirmou a mesma ordem com que ele já havia os apresentado, ou seja, com o curso de Física como seu pre-ferido, seguido por Química e História.
Visando avaliar seus interesses profissionais, nessa sessão houve a aplicação da EAP e a dimensão na qual as preferências de M. se sobressaíram foi Ciências Exatas, com percentil de 72, indicando interesse por tarefas concre-tas e numéricas, que envolvem o uso ou desenvolvimento de tecnologias. Vale ressaltar que a dimensão em que M. teve o segundo maior percentil foi Artes e Comunicação, que foi 29, ou seja, houve clara distinção entre as prefe-rências por Ciências Exatas em detrimento das demais. A dimensão com menor interesse foi Entretenimento, com percentil igual a 4.

140
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 133-143
A sétima sessão foi reservada exclusivamente para a aplicação do BBT, e os resultados são apresentados a seguir. Os fatores que sobressaíram foram o Z’, que representa ne-cessidades de mostrar-se, de apresentar o próprio trabalho e de estar em evidência. Nesse fator, M. escolheu quatro fotos positivas, valor que está acima da mediana apresen-tada no manual no instrumento (Md = 2), localizando-se no quartil acima de 75, que indica escolhas positivas supe-riores a três. O fator G’, que indica necessidades ligadas à intuição, idéia, imaginação e criatividade, relacionando-se aos trabalhos de pesquisa e de elaboração de pensamento, também apresentou quatro escolhas positivas, valor supe-rior à mediana (Md = 3), também se localizando no quartil superior. Com relação aos fatores secundários, que indica meios, objetos, objetivos e locais para a execução das ati-vidades profissionais, o mais escolhido foi o v, que sugere necessidades voltadas à razão, conhecimento, objetividade,
organização, clareza de pensamento e precisão. Com rela-ção às escolhas negativas, que indicam a rejeição pelas fo-tos, os fatores que mais tiveram fotos foram o W e M, com oito fotos cada um. Esses fatores indicam, respectivamen-te, rejeições por atividades que demandem relações que envolvam ternura e sensibilidade, além de reter e lidar com fatos passados, substâncias em geral e possessividade.
A oitava e última sessão foi estruturada como uma en-trevista devolutiva e para discussão dos resultados. Nessa sessão, foram apresentados todos os resultados das ava-liações de M. e também retomadas todas as informações discutidas durante o processo, buscando integrar todos os dados. É importante ressaltar que M. não faltou e sequer chegou atrasado à nenhuma das sessões. A seguir, a Tabela 1 apresenta uma síntese dos resultados das avaliações. No que se refere ao BBT-Br, a coluna ‘mais altos’ mostra as escolhas positivas e ‘mais baixos’, as negativas.
Tabela 1Síntese dos resultados das avaliações de M
Teste Mais altos Mais baixos
BPR-5
IFP
EAP
BBT
Mecânico, Espacial e Numérico
Desempenho e Autonomia
Ciências Exatas
Z’, G’ e v
Verbal e Abstrato
Agressão, Deferência, Intracepção,Ordem e Heterossexualidade
Entretenimento
W e M
Assim, ao se analisar os resultados das avaliações de M., pode-se concluir que ele, naquele momento, tendeu a preferir atividades nas quais pudesse trabalhar sozinho, de forma independente, sendo que sua busca por realiza-ção é alta, tendendo a preferir atividades que lhe possam trazer status e reconhecimento. Além disso, característi-cas menos marcantes nele são aquelas que se referem aos seus sentimentos, tendendo a ser mais racional e prático, pouco agressivo e organizado. No que se refere à suas preferências profissionais, tendências investigativas vol-tadas à áreas de exatas, relacionadas à pesquisa e busca por explicações de fenômenos foram predominantes. Isso reforça suas necessidades por trabalhos mais racionais, em que envolvam o estudo constante e objetividade. Entretanto, percebe-se que M. também tem, atrelado à isso, necessidades de se evidenciar por meio do trabalho, de suas realizações. Quanto às suas habilidades cogniti-vas, evidenciaram-se principalmente as numéricas e es-paciais, com algum destaque também para as mecânicas, enquanto que as habilidades verbais e abstratas parecem ser as menos desenvolvidas.
Essa síntese dos resultados foi apresentada a M. na entrevista devolutiva realizada na oitava sessão, e os re-sultados de cada instrumento foram discutidos, buscan-do-se sempre integrar tais resultados com as informações discutidas ao longo das sessões. Ao se deparar com os escores dos testes e suas interpretações, M. externou sua surpresa, pois reafirmou que não acreditava na eficácia dos testes psicológicos, mas que aqueles resultados es-tavam descrevendo-o de forma coerente e dando infor-mações novas sobre si mesmo, enfatizando as avaliações da BPR-5. Ele afirmou também que durante o processo, enquanto respondia aos testes, ele teve a oportunidade de refletir sobre características pessoais acerca das quais nunca havia pensado antes.
Além disso, ele mesmo pôde fazer as próprias asso-ciações sobre suas características, tais como expostas pe-los testes, com os conteúdos que haviam sido discutidos a respeito dos cursos e mercado de trabalho. Assim, M. e o orientador discutiram sobre as características exigidas pelos cursos pelos quais ele estava interessando e as suas próprias, verificando que as informações dos testes iam ao encontro

141
Ambiel, R. A. M. (2010). Avaliação psicológica em Orientação Profissional
das demandas dos curso de Física e Química. Nesse mo-mento, foi retomada a hierarquia dos cursos preferidos por M., relembrando que Física havia sido colocada como a mais preferida, o que M. confirmou mais uma vez. Como exemplo, ele citou especificamente duas fotos do BBT-Br e, ao manusear novamente o material, indicou a foto 76, que no manual do instrumento é denominada “Engenheiro elétrico”, a respeito da qual teceu o seguintes comentário: “parece um acelerador de partículas. É fascinante, tem risco de vazar radiação. E saber que tem esse risco deixa mais emocionante!”. Assim, M. concluiu que não estava em dú-vida sobre o curso de Física ser de fato seu preferido e o qual ele realmente gostaria de exercer como profissão.
Por fim, o orientador questionou se M. já havia iden-tificado quais seriam as universidades em que gostaria de prestar vestibular, e ele respondeu que já tinha duas em mente, uma estadual e outra federal, mas que ainda não tinha certeza. O fechamento se deu com a sugestão de que a tarefa de escolher a universidade seria o próximo passo, deixando como orientação que M. continuasse sua busca por informações por meio dos sites ou mesmo de visitas.
Entrevista após a Orientação Profissional
Em fevereiro de 2009, 15 meses após o fim do proces-so de OP que se deu em novembro de 2007, M. foi convi-dado para uma nova entrevista semi-estruturada, a fim de se conhecer o percurso que ele havia feito desde então. M. relatou que sua opção pelo curso de Física se manteve, não havendo mudanças quanto a isso. Disse que no segundo se-mestre de 2008 fez cursinho pré-vestibular e que lá teve aula de Biologia com um professor “muito bom” (sic), que o fez ver a matéria de forma mais positiva. Assim, relatou que sua segunda opção hoje seria Biologia, e não mais Química ou História, como era na época da OP.
Sobre a escolha da universidade, M. relatou que havia prestado vestibular para Física em três universidades esta-duais paulistas, em campi do interior do estado. Em duas ele obteve aprovação na primeira fase, sendo que em uma delas ele ficou em segundo lugar na classificação do curso, e foi por esta que ela optou, enumerando alguns motivos. Sua primeira justificativa foi que essa universidade, embo-ra fosse em outra cidade, era bem próxima à sua casa, não acarretando uma mudança, pelo menos no início. Além disso, M. disse que sua opção se deu porque no campus onde vai estudar existem faculdades de diversas áreas, e não só de exatas, como acontece nas outras. Para saber esses detalhes, M. relatou que fez visitas durante o ano de 2008 aos três campi, e que “se encantou” (sic) com o que escolheu, devido à diversidade de conhecimentos e à pos-sibilidade de se fazer disciplinas de outros cursos.
Indagado sobre o processo de OP realizado, M. se lembrou detalhadamente, descrevendo os testes a que res-pondeu, enfatizando as provas de raciocínio da BPR-5 e a classificação de fotos do BBT-Br. Lembrou-se também das atividades de busca de informações, especialmen-te as que envolveram a busca pelas grades curriculares dos cursos. Disse que o processo foi muito válido para a consolidação de sua escolha, sendo que desde então não esteve em dúvida em nenhum momento sobre sua opção por Física. Relembrou também o fato de, no início, não acreditar em testes psicológicos e sua surpresa positiva com os resultados.
A respeito do início das aulas na universidade, que se daria duas semanas depois da entrevista, M. pareceu an-sioso, mas com boas expectativas. Mostrou-se preocupa-do com o fato de ter conversado com alguns veteranos do curso, que disseram ser “praticamente impossível acabar o curso em quatro anos” (sic), e especialmente com relação às disciplinas de matemática, mas relatou estar preparado e contar com o apoio da família.
Considerações Finais
Esse artigo objetivou relatar um caso de orientação profissional, baseado principalmente em resultados de testes psicológicos e informações sobre os cursos pre-tendidos. Além disso, um importante diferencial desse trabalho foi a entrevista para avaliação da estabilidade das escolhas, ocorrida quando o participante já havia en-trado em uma universidade. É importante perceber que M. procurou a orientação por iniciativa própria e, desde o início do processo, se mostrou preocupado com sua escolha profissional, relatando ter argumentado com co-legas a respeito da necessidade que sentia de trabalhar essa questão, enquanto seus pares aparentemente ainda não se preocupavam com isso. Além disso, ele chegou com algumas opções já formuladas, sendo um importan-te facilitador do processo.
Essas informações atestam que M. estava motivado para se submeter ao processo de OP, o que resultou em uma boa aderência ao processo como um todo, assumin-do uma postura ativa diante das atividades propostas para casa, bem como no consultório, diferentemente do caso relatado por Bordão-Alves e Melo-Silva (2008). Assim, pode-se afirmar também que a maneira colaborativa com que o cliente assume o processo é essencial para o sucesso de qualquer tipo de intervenção psicológica. No contexto estudado, o fato de se trabalhar focado em um objetivo es-pecífico se torna um facilitador para esse tipo de postura, especialmente quando a iniciativa parte do próprio sujeito. Entretanto, não se pode deixar de considerar as pressões

142
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 133-143
externas que incidem sobre os estudantes do ensino médio no que se refere às questões relativas à decisão profissio-nal, tais como cursos, exames vestibulares e a escolha da instituição de ensino, que se dá na sociedade, na família e nas próprias escolas, que muitas vezes promovem os estudantes que são aprovados em determinados cursos e universidades, e acabam também se promovendo por meio deles. Assim, em OP, deve-se atentar e investigar os mo-tivos que levam o jovem a querer se decidir e se submeter à uma orientação, muitas vezes não expressos, mas que podem influenciar na adesão ao processo.
Ao se planejar o processo a partir dos dados iniciais trazidos pelo cliente, deve-se considerar quais variáveis seriam importantes de se investigar e escolher instrumen-tos adequados para a avaliação dessas questões, visando uma intervenção efetiva. No caso relatado nesse traba-lho, apesar de já haver um protocolo de atendimento que previamente indicava quais avaliações deveriam ser fei-tas, baseado nas variáveis indicadas por Parsons (1909) e Nascimento (2007), percebeu-se que o conflito de M. es-tava em optar por um curso dentre alguns que ele já tinha em mente e o trabalho foi planejado visando integrar os resultados das avaliações com as atividades de informação realizadas. Assim, como proposto por Sparta et al. (2006), os resultados dos instrumentos serviram como fonte de re-flexão para o cliente, não sendo eles a base para decisão, mas auxiliando no autoconhecimento que, por sua vez, teve um papel importante na clarificação de sua identidade profissional. Isso pode ser observado também pelo próprio relato de M., afirmando que não dava crédito aos testes psicológicos, mas que passou a considerar como válidos, uma vez que ele se reconheceu nos resultados, e esses o auxiliaram na tomada de decisão, como é perceptível na foto do BBT que ele destacou na devolutiva e o comentá-rio a seu respeito. A partir dessa idéia, é possível hipoteti-zar que o processo de resposta ao instrumento, quando o cliente tem que prestar atenção à afirmações e se avaliar a partir delas, já se constitui como parte da intervenção, uma vez que parece promover insights e cognições sobre si mesmo, podendo ser um momento que o orientador pode utilizar para iniciar intervenções.
Ainda quanto aos resultados das avaliações, percebe-se que M. apresentou algumas características se-melhantes a outras pessoas também em processo de OP. Embora utilizando alguns instrumentos diferentes, Primi et al. (2002) encontraram dados que relacionavam sig-nificativamente os raciocínios Mecânico e Espacial com interesses em áreas exatas e características de personali-dade que preconizam a valorização da objetividade em oposição ao sentimento. Já no estudo de Nunes e Noronha (2009), em que foram avaliados interesses e personalidade
com instrumentos teoricamente diferentes daqueles usa-dos nesse estudo, foram encontrados dados que os homens tendem a preferir atividades mais racionais, exatas e que exigem mais conhecimentos mecânicos e espaciais. Essas informações ressaltam a importância de estudo com amos-tras em OP, a fim de se conhecer as relações entre os cons-trutos e facilitar o processo de integração de informações, a partir de diferentes construtos.
É importante ressaltar também a escassez de instru-mentos de avaliação psicológica específicos para a OP. Nesse trabalho, dois dos instrumentos utilizados têm in-dicações específicas para esse fim, quais sejam, a EAP e o BBT-Br, sendo que os demais têm estudos com po-pulações em situações mais gerais, embora sejam ade-quados para as características de M. Entretanto, a falta de estudos específicos acabam por causar prejuízos na interpretação e aplicação dos resultados obtidos, sendo uma proposta para trabalhos futuros. Além disso, obser-va-se que há poucas opções de instrumentos atualmente aprovados pelo CFP que avaliem outros construtos além de personalidade, inteligência e interesses. Na prática, a necessidade de avaliações de variáveis como autoeficá-cia, expectativas de resultados, dificuldades de escolha, metas de decisão, entre outros, é iminente e a constru-ção e validação de novos instrumentos para a realidade brasileira é uma realidade que precisa se consolidar no contexto nacional.
Por fim, vale um comentário sobre a entrevista reali-zada 15 meses após o processo, quando M. já havia feito sua matrícula no curso e universidade escolhidos. Pôde-se observar que M. manteve a escolha que foi consolida-da durante a OP, não apresentando mais dúvidas sobre a questão e avaliando como positiva a experiência da orien-tação recebida, entendendo-se que os procedimentos de avaliação e busca/fornecimento de informação foram efe-tivos em sua tarefa de clarificar as escolhas do estudante. Assim, é importante se pensar em formas eficazes não só de planejar, mas também de avaliar o processo, possibili-tando avaliar os impactos que o trabalho realizado teve na escolha profissional do cliente e perceber os pontos de su-cesso e os que precisam ser melhorados em futuros atendi-mentos. Dessa forma, seria desejável que não houvesse a lacuna que ainda separa a prática profissional da produção e divulgação científica, não só na OP, mas na psicologia brasileira em geral, uma vez que a maior troca entre pro-fissionais e pesquisadores favoreceria substancialmente intervenções subsidiadas em dados gerados a partir de di-ferentes pontos de vista teóricos e empíricos, mas em prol de uma mesma área de atuação, que tanto tem a oferecer à sociedade em tempos em que o trabalho parece ser uma das principais atividades humanas.

143
Ambiel, R. A. M. (2010). Avaliação psicológica em Orientação Profissional
Referências
Bordão-Alves, D. P., & Melo-Silva, L. L. (2008). Maturidade ou imaturidade na escolha da carreira: Uma abordagem psicodinâmica. Avaliação Psicológica, 7, 23-34.
Inácio, P., & Gamboa, V. (2008). A Auto-eficácia na utilização da internet para a pesquisa de informação escolar e profissional. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 9(1), 13-28.
Jacquemin, A. (2000). O BBT-Br: Teste de Fotos de Profissões: Normas, adaptação brasileira, estudos de caso. São Paulo: CETEPP.
Jacquemin, A., Okino, E. T. K. O., Noce, M. A., Assoni, R. F., & Pasian, S. R. (2006). O BBT-Br Feminino: Teste de Fotos de Profissões: Adaptação brasileira, normas e estudos de caso. São Paulo: CETEPP.
Nascimento, R. S. G. F. (2007). Avaliação psicológica em processos dinâmicos de orientação vocacional individual. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 8(1), 33-44.
Noronha, A. P. P., & Ambiel, R. A. M. (2006). Orientação profissional e vocacional: Análise da produção científica. Psico-USF, 11, 75-84.
Noronha, A. P., Sisto, F., & Santos, A. A. A. (2007). Escala de Aconselhamento Profissional-EAP- Manual técnico (Brasil). São Paulo: Vetor.
Nunes, M. F. O., & Noronha, A. P. P. (2009). Interesses e personalidade: Um estudo com adolescentes em orientação profissional. Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación, 17(1/2), 115-129.
Parsons, F. (1909). Choosing a vocation. Boston: Houghton Mifflin.Pasquali, L., Azevedo, M. M., & Ghesti, I. (1997). Inventário Fatorial de Personalidade – IFP Manual técnico de
aplicação. São Paulo: Casa do Psicólogo. Primi, R., & Almeida, L. S. (2000). Baterias de Provas de Raciocínio (BPR-5): Manual técnico. São Paulo: Casa do
Psicólogo. Primi, R., Bighetti, C. A., Munhoz, A. H., Noronha, A. P. P., Polydoro, S. A. J., Di Nucci, E. P., & Pellegrini, M. C.
K. (2002). Personalidade, interesses e habilidades: Um estudo correlacional da BPR-5, LIP e do 16PF. Avaliação Psicológica, 1, 61-72.
Ribeiro M. A., & Uvaldo, M. C. C. (2007). Frank Parsons: Trajetória do pioneiro da orientação vocacional, profissional e de carreira. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 8(1), 19-31.
Sparta, M., Bardagi, M. P., & Teixeira, M. A. P. (2006). Modelos e instrumentos de avaliação em orientação profissional: Perspectiva histórica e situação no Brasil. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 7(2), 19 – 32.
Sparta, M., Bardagi, M. P., & Andrade, A. M. J. (2005). Exploração vocacional e informação profissional percebida em estudantes carentes. Aletheia, 22, 79-88.
Terêncio, M. G., & Soares, D. H. P. (2003). A internet como ferramenta para o desenvolvimento da identidade profissional. Psicologia em Estudo, 8(2), 139-145.
Recebido: 16/07/20091ª Revisão: 29/10/2009
Aceite final: 03/02/2010
Sobre o autorRodolfo Augusto Matteo Ambiel é psicólogo, Mestre em Psicologia com foco em Avaliação Psicológica pela
Universidade São Francisco e docente do curso de graduação em Psicologia da Universidade São Francisco. Integrante do Departamento de Pesquisa e Produção de Testes da Editora Casa do Psicólogo.


145Disponível em http://pepsic.bvs-psi.org.br/rbop
Revista Brasileira de Orientação Profissionaljan.-jun. 2010, Vol. 11, No. 1, 145-149
O efeito orientador do psicodiagnostico
Beatriz Elena Mercado1
Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina
ResumoQualquer psicodiagnóstico pode ser considerado um diálogo contínuo e um acontecimento com efeito orientador. Da interação entre o psicólogo e o paciente surge uma relação especial e única com efeitos específicos caso o pro-fissional não atue apenas como um coletor de dados senão como o outro ator no processo. Esta dualidade interativa não deve ser reduzida a uma exibição do passado ou a uma projeção recíproca. Em vez disso, ela deveria gerar uma ‘co-produção da subjetividade’ que permita algo novo acontecer. Esses acontecimentos produzem efeitos internos que podem dar um novo significado à vida da pessoa, oferecendo uma nova orientação para seu presente e sua situ-ação futura.Palavras chave: interação psicodiagnóstica, intersubjetividade, orientação
Abstract: The guiding effect of psychodiagnostic interactionAny assessment process can be seen as an ongoing dialog and an event that has guiding effects. The interaction between psychologist and client results in a unique relationship that has specific effects, if the professional acts not only as a data collector, but also as the other actor in the process. This dyadic interaction should not be reduced to a display of the past nor a mutual projection. Instead, it should generate a ‘co-production of subjectivity’ that should allow for something new to happen. These events can produce inner effects that can re-signify the person’s life, thus providing a new guidance for his or her present and future circumstances. Keywords: psychodiagnostic interaction, intersubjectivity, guidance
Resumen: El efecto orientador del psicodiagnósticoTodo proceso psicodiagnóstico, entendido como quehacer dialógico y acontecimiento, conlleva un efecto orientador. La inter-versión que se produce entre psicólogo y consultante es un hecho singular que puede inscribirse como novedad produciendo efectos, no sólo resultados, si el profesional lejos de ser mero recolector de datos se constituye en el otro actor del proceso. Ese entre-dos, no se reduce al despliegue del pasado o a la proyección de uno sobre otro, sino que genera una suerte de ‘co-producción de subjetividad’ favorecedora de acontecimientos con efectos subjetivantes que resignificarán la vida de las personas, orientándolas en sus circunstancias presentes y futuras.Palabras clave: interacción psicodiagnóstica, intersubjetividad, orientación
1 Endereço para correspondência: Agüero 1948, 10º B, 1425 Buenos Aires, Argentina . Fone: 54 - 11- 4825-1782. E-mail: [email protected]
El propósito de este artículo es promover una reflexión sobre el rol orientador del psicodiagnosticador así como sobre el efecto que conlleva todo proceso de diagnóstico en tanto quehacer dialógico y acontecimiento. Planteado
el eje de la cuestión, cabe señalar que la perspectiva desde la cual se enfoca parte de considerar al psicodiagnóstico como un tipo de inter-versión (Muniz Martoy, 2005) que sienta sus bases en la situación de encuentro que produce
Ensaio

146
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 145-149
el vínculo cuasi-diádico (Laín Entralgo, 1968) que se es-tablece entre psicólogo y consultante.
El término inter-versión proviene de versar-entre y significa que al menos dos sujetos inauguran una nove-dosa forma de encuentro para subjetivarse, novedad que genera y habilita un espacio para pensar desde una óptica diferente lo que se descubre con otro en el proceso diag-nóstico (Muniz Martoy, 2005).
Este tipo de inter-versión no se limita a lo cognitivo, a la objetivación propia del quehacer diagnóstico, se re-laciona también con el operar; supone un hacer con otro (coejecución) que conlleva una actitud activa respecto a la búsqueda de respuestas. Así, significa versión que se produce y escribe entre dos.
En el contexto de tal coejecutividad la interven-ción del psicólogo, cuya práctica profesional promueve cambios en el consultante, requiere el uso de estrategias diagnósticas adecuadas para actuar en un tiempo acota-do. Elaborar este tipo de estrategias en cada caso, cons-tituye el primer desafío: el tolerar la incertidumbre que cada consultante promueve en los sucesivos encuentros (Muniz Martoy, 2005). Es posible que la mera aplica-ción de técnicas evaluativas según un esquema predeter-minado termine empobreciendo la perspectiva clínica y orientadora, simplificando la complejidad de la subjeti-vidad a investigar. Desde el primer contacto con el otro es necesario que la mirada del psicólogo pueda orientarse en búsqueda de soluciones novedosas y peculiares que permitan optimizar el encuentro con su singularidad. Al finalizar el proceso, otro desafío deberá enfrentar: el po-der conjugar la rigurosidad científica con la creatividad (Mercado, 1999) que requieren la singularidad del otro y la complejidad de la inter-versión.
El marco conceptual de esta reflexión requiere estable-cer la dinámica que operan entre sí algunos de los términos más significativos implicados en el artículo. Orientación, proviene de orientar (hacer oriente, del lat. oriens,-entis: aparecer, nacer) y significa mostrar a alguien aquello que ignora y desea saber a fin de encaminarlo hacia un fin de-terminado. En sentido específico, suele asociarse al de vo-cación, que proviene de vocado (llamado, del lat. vocatio-onis: acción de llamar) y significa llamado interior. Así, la dinámica que se establece entre estos términos permite comprender que los llamados a ser y cómo ser, instituyen lo vocacional en la trama de cada historia personal (Real Academia Española, 1982; Gelvan de Veinsten, 2004).
Diagnóstico y pronóstico también se coimplican. El primer término corresponde a la diagnosis (del gr.: distin-guir, conocer signos) conjunto de signos o indicios que sirven para fijar el carácter peculiar de una enfermedad, situación o persona. El segundo (del lat. prognosticum y
éste de prognosis: conocimiento anticipado de algún suce-so) es un término conjetural sobre algo futuro que, a partir de indicios, refiere cambios que pueden sobrevenir (Real Academia Española, 1982).
El rastreo etimológico de estos términos permite se-ñalar una cuestión central: su significado alude a una epis-temología indicial según la cual, una vez distinguidos los signos o indicios de un sujeto en el momento presente se puede conjeturar, por inferencia, acerca de lo por-venir. En ese espacio-tiempo que acontece proyectándose hacia el futuro encuentra sus raíces el efecto orientador del pro-ceso psicodiagnóstico.
Desarrollo temático
El desarrollo temático se articula en torno a las cues-tiones centrales de dicho proceso:
1ª. Cuestión: El quehacer psicodiagnóstico es un he-cho singular que puede inscribirse como novedad en el sujeto y, según cómo suceda, no sólo producirá resultados sino efectos.
Los resultados son datos objetivos que están a la vista en la producción del sujeto obtenida con técnicas de eva-luación; implican algo calculable. Los efectos, en cambio, son consecuencias que acontecen y se producen sin ha-berlas pensado previamente. No son un producto objetivo sino una resonancia subjetiva y su emergencia, aunque frecuente en los procesos diagnósticos de orientación, no siempre está visible en lo inmediato. Se trata de pensa-mientos, palabras, conductas inesperadas, emociones nue-vas o sensaciones desconocidas que, por novedosas, pue-den producir marcas subjetivas que distan de ser el mero despliegue del mundo interno en la transferencia. Cobran valor instituyente como nacimiento que surge en cada en-cuentro singular (Kacero, 2006).
Aplicar técnicas diagnósticas automáticamente, limitándose a dar consignas, lleva a inducir conductas mecánicas, repetitivas y escasamente implicadas sin dar lugar a ningún acontecimiento. No obstante, el encuentro con las técnicas puede generar por sí mismo conductas, reacciones, significaciones y desafíos nunca antes experi-mentados, reverberando efectos de los encuentros con ho-jas en blanco y de tantos otros impactos como, por ejem-plo, el tener que pensarse desde otras identidades en el Cuestionario Desiderativo. Si no se sobreimpone la técni-ca y sus modos operatorios a lo que sucede en el vínculo que se establece, el psicodiagnóstico generará contextos simbólicos facilitadores de algún tipo de metabolización (Kacero, 2006).
Lo central de la cuestión es el riesgo a no dar cabida al surgimiento de algo nuevo: la aplicación sin más de las

147
Mercado, B. E. (2010). O efeito orientador do psicodiagnóstico
categorías empíricas, válidas desde el consenso y la estan-darización, no abarca todo cuanto acontece en el proceso diagnóstico-orientador. Es necesario leer como un texto nunca antes producido, tanto los resultados de las técnicas como lo acontecido en lo vincular.
Cada encuentro dará cuenta de que se produce algo nuevo que no es simple repetición sino imprevisto, sin marca previa, diferente al mero despliegue de lo que es-taba antes. Se genera un intersticio, un movimiento de apertura que jaquea la clásica noción de transferencia en-tendida como pura actualización de algo histórico (Muniz Martoy, 2005). Es que durante el proceso diagnóstico, el presente del consultante no sólo se constituye por condi-cionamiento de su pasado sino también como efecto de los sucesivos encuentros que va teniendo con las nuevas presencias: la del psicólogo, el ámbito que lo rodea y las técnicas administradas. Si bien su pasado lo condiciona no alcanza para explicar el desenvolvimiento que se va dando en su persona, expectante como está de esclareci-miento y orientación.
La novedad se constituye como el elemento básico de la orientación. Es necesario advertir que en los encuentros psicodiagnósticos se instituyen huellas que pueden con-vertirse en marca de apertura hacia nuevas formas de pen-sar y de sentir, generándose una suerte de transformación, un salto cualitativo equivalente a un cambio de significa-ción que conlleva algo imprevisible y se constituye como acontecimiento en cada nueva vinculación. Se trata de un acontecimiento porque algo sucede de manera diferente al curso uniforme de los fenómenos; no es un saber previo ni algo experimentado sino algo imprevisto que no cabe en el saber sino en el suceder y sólo puede enunciarse después de haber sucedido (Kacero, 2006).
Quienes diagnosticamos orientando, tenemos eviden-cias de tal transformación y procuramos que algo quede dando vueltas en la mente de los consultantes para que lo que haya acontecido en nuestros encuentros produzca su efecto y se proyecte en sus vidas aconteciendo de verdad.
2ª Cuestión: El proceso orientador así implicado, conlleva intersubjetividad. Se trata de un quehacer en el cual el lugar y presencia del psicólogo cobra un relieve particular toda vez que, lejos de ser mero recolector instru-mental de datos, se constituye en el otro actor o coejecutor del proceso en el que participa promoviendo nuevos signi-ficados-acontecimientos. A su vez, el consultante tampoco es receptor pasivo de las consignas del psicodiagnostica-dor sino que a él destina sus respuestas.
El diálogo así generado instaura un tipo de rela-ción “cuasi-diádica” entre los protagonistas. “Cuasi” por la asimetría funcional de roles que requiere la obje-tivación diagnóstica (dimensión cognitiva) y “diádica”
por el vínculo intersubjetivo que sustenta la coejecu-ción del proceso diagnóstico (dimensión afectiva) (Laín Entralgo, 1968).
Desde esta perspectiva, el proceso diagnóstico-orien-tador conlleva la necesidad de reconocimiento y acep-tación por parte del consultante quien la deposita en ese quehacer compartido: sus relatos y grafismos los narra y realiza en nuestra presencia, que no es igual a cualquier otra (Gelvan de Veinsten, 2004).
En ese espacio-tiempo compartido (consultorio, es-cuela u hospital) los diagnosticadores oficiamos de co-enunciadores y nuestra presencia producirá efectos toda vez que la co-participación activa del acontecer inter-subjetivo genere un continuo de flujos, palabras, gestos y emociones que, anudándose, se convertirán en nuevos vectores de significación y experiencia.
3ª. Cuestión: ¿Qué es lo que se genera en ese ‘entre dos’?
La intersubjetividad descripta no se reduce al mero despliegue de la historia del consultante o a la proyección de un sujeto sobre el otro como si fueran dos mundos con límites precisos e independientes. Más allá de lo que se produce formal y funcionalmente entre ambos se desa-rrolla otro tipo de intercambios que constituyen un clima particular, tanto o más eficaz que el contenido informativo del intercambio verbal. De cómo se produzca el primer contacto dependerá la tonalidad del intercambio y su des-enlace (Le Breton, 2002).
El intercambio de miradas que contienen deseos de saber, de entender, de establecer relaciones y otorgar sig-nificados, da cuenta de la emocionalidad implicada en el proceso diagnóstico-orientador. La mirada produce con-tacto porque se apodera de la cara del otro y se encuentra con su intimidad, por lo que el cruce de miradas es algo así como una palpación recíproca de la cualidad de ambas presencias. También la voz condensa la cualidad de la pre-sencia del otro (Le Breton, 2002; Kacero, 2006).
Es fundamental que el consultante sienta que puede ubicarse en un lugar distinto al vincularse con el psicólogo quien le provee un espacio diferente para ser escuchado y mirado de otra manera y poder ordenar su historia. Un lugar de palabras y silencios, continuidades y quiebres, que van conformando la trama coejecutada del proceso psicodiagnóstico en el que ambos quedan marcados por la novedad que se produce escenificando una situación in-édita (Kacero, 2006).
En este acontecer la presencia del otro reviste un carácter de ajenidad y el vínculo establecido produce un doble efecto subjetivante: (a) ambas presencias actúan si-multáneamente; (b) el encuentro con el otro es un encuen-tro con el otro de uno. Tal co-presencialidad implica una

148
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 145-149
co-evolución o circularidad creativa porque algo nuevo se crea y la dicotomía entre ambos se disuelve. El efecto que conlleva supone frecuentemente una suerte de “co-producción de subjetividad”.
Consideraciones Finales
El quehacer psicodiagnóstico es de naturaleza dia-lógica porque dos subjetividades se vinculan cognitiva y emocionalmente configurando un ámbito de intimidad. En este marco, la tarea del psicólogo consiste en investigar e interpretar los hallazgos dentro del contexto de acción en que se manifiestan, dejándose tomar por lo que el otro va revelando o develando de sí mismo en sus producciones y dejándose sorprender por la peculiaridad de lo que debe desentrañar (Mercado, 2001a, 2001b).
No hay aquí linealidad causa-efecto y nuestro queha-cer puede promover acontecimientos ya que lo imprevisto no se anticipa en la continuidad de la vida psíquica y se presenta dando lugar a un momento inaugural no vivido hasta el presente. Sólo pensando en un sistema abierto de acción podremos admitir sucesos que no han tenido lugar previo y hacerles lugar: algo nuevo comenzará a anudarse entre gestos, palabras y movimientos que ocurren y trans-curren en el ámbito de la intersubjetividad generada.
La coejecución del proceso, a la vez ‘acontecial’ y ‘actualizante’, implica tanto un ‘dar a luz’ como un acto ético signado por el reconocimiento y respeto del otro. Por esta razón, las interpretaciones diagnósticas – aún pauta-das por las técnicas administradas – irán surgiendo como acontecimientos que nos extrañarán y sorprenderán por la dirección que irá tomando el pensar sugerido desde la creatividad implicada (Fernández Mouján, 1999).
Quienes tenemos la misión de orientar a jóvenes, asistimos a variadas manifestaciones de insight que en el transcurso del proceso diagnóstico dan cuenta del efecto orientador que conlleva. Frecuentemente dicen: “nunca me hubiera imaginado”, “pensé que eso no era para mí, pensaba que no podía”, “jamás pensé que tendría tanta dificultad”, “todo lo que me dijo me sirvió mucho, me des-pertó una vocación que no imaginaba”.
Estos ecos o efectos manifiestan una especie de ter-ceridad creada en el vínculo. Nuestra presencia hace que algo se construya, algo así como una “marca de origen” que puede ser decisiva para el sujeto e iluminadora para nosotros a la hora de orientarlo sobre las circunstancias y modalidades vinculares que le serán más favorables en términos de salud, autonomía y flexibilidad.
Más allá del pedido explícito de una orientación vo-cacional, tras cada demanda psicodiagnóstica se abre paso la necesidad del sujeto de conocerse a sí mismo en medio
de sus cambios y crisis vitales. Subyace en él un querer saber ensamblado con el sentido de su vida en la medi-da que su identidad implica conciencia de su mismidad y continuidad. Por eso, el insight que se produce constituye un hecho singular que puede inscribirse como novedad en la continuidad de la vida de una persona (Kacero, 2006).
Pero cuando el objetivo específico del proceso diag-nóstico es la orientación vocacional-profesional, la iden-tidad buscada por el joven será la proyección en el hacer de su identidad personal, resultado de continuas síntesis de su yo en pos de la misma. No son entonces los resulta-dos de los tests los que resolverán su inclusión en alguna carrera sino el abordaje de sus estilos de ser y de hacer, de sus creencias y valores, bagaje con el que el consul-tante va proyectando su propio modo de ser y hacer. Los anudamientos entre el ser-siendo, el ser-haciendo y el ha-cer-siendo (Gelvan de Veinsten, 1994, 2004) producidos durante el proceso de orientación son los que generan el efecto (no el resultado) del encuentro consigo mismo bajo una nueva modalidad, a veces impensada.
El enfoque presentado promueve tales aconteci-mientos advirtiendo la inconveniencia de escudarse tras resultados obtenidos técnicamente. El efecto orientador pretendido es que el consultante tome conciencia de que al elegir qué hacer está eligiendo quien ser. Su orientación vocacional-profesional, entramada con la búsqueda de su identidad, dependerá de los efectos más tangibles genera-dos durante el acontecer diagnóstico.
Así enfocada la compleja tarea diagnóstica-orienta-dora es un desafío para la creatividad. El anoticiamiento producido como efecto del acontecer implicado se vincula con lo que el pintor Magritte dijo sobre la creación: se trata de encontrar una coincidencia entre dos situaciones no establecida con anterioridad. Este factor de sorpresa o novedad actúa a la vez como causa y efecto, produciendo y ayudando a configurar nuevas situaciones en procura de alternativas novedosas o soluciones nuevas. En el contex-to de la orientación la creatividad cumple, entonces, una función de corte muy especial: la de cortar la rigidez de estructuras para generar encrucijadas (Lunazzi de Jubany, 1992; Fernández Mouján, 1999).
Los psicólogos requerimos esta competencia para ser eficaces orientadores ya que con frecuencia coinci-dencias entre situaciones no establecidas con anteriori-dad nos salen al encuentro. Debemos prepararnos para saber qué hacer con ellas y cómo asumirlas a fin de que produzcan los efectos de insight subjetivantes requeri-dos para orientar y resignificar la vida de las personas (Mercado, 2001a, 2001b).
El problema es que a veces pensamos en la necesi-dad de crear un álgebra que pueda relacionar en un mismo

149
Mercado, B. E. (2010). O efeito orientador do psicodiagnóstico
orden de cosas los pequeños detalles con las grandes ra-zones pero en el momento de develar su sentido el álge-bra no acude en nuestra ayuda. Aquí la teckné debe dar paso a la poiesis, éste es el gran desafío: saber vincular el
rigor científico con una suerte de ciencia poiética para po-der lograr la co-producción de subjetividad que requiere todo proceso orientador (Silberstein, 2001; Tustin, 1989; Mercado, 2001a, 2001b).
Referências
Fernández Mouján, O. (1999). La creación terapéutica. Actualidad Psicológica, 24(261), 2-5. Gelvan de Veinsten, S. (1994). La elección vocacional ocupacional: Estratégias y técnicas (2a ed.). Buenos Aires:
Marymar. Gelvan de Veinsten, S. (2004). La familia: Punto de partida para la futura elección vocacional-ocupacional de los hijos.
Psicología & Psicoanálisis & Salud Colectiva, 1, 68-80.Kacero, E. (2006). El Psicodiagnóstico como acontecimiento. Psicodiagnosticar, 16, 15-22.Laín Entralgo, P. (1968). La relación médico-enfermo. Madrid: Revista de Occidente.Le Breton, D. (2002). Antropología del Cuerpo y Modernidad (2a ed.). Buenos Aires: Nueva Visión.Lunazzi de Jubany, H. (1992). Lectura del psicodiagnóstico. Buenos Aires: Ed. UB. Mercado, B. (1999). La renovación de un clásico: El WISC-III y sus nuevas alternativas de interpretación. In R. Frank
de Verthelyi & V. C. S. Campo (Orgs.), Nuevos temas en evaluación psicológica (pp. 67-100). Buenos Aires: Lugar Editorial.
Mercado, B. (2001a). La creatividad en el quehacer psicodiagnóstico [Resumen]. Congreso Latinoamericano de Rorschach y otras Técnicas Proyectivas, 11 (p. 14). Rosario: ALAR.
Mercado, B. (2001b). La creatividad ante la complejidad del psicodiagnóstico [Resumen]. Congreso Nacional de Psicodiagnóstico, 5 (p. 58). La Plata: ADEIP.
Muniz Martoy, A. (2005). Conceptualizaciones acerca del diagnóstico y la intervención psicológica: Aportes para un abordaje complejo de la cuestión. In A. Muniz Martoy (Org.), Diagnósticos e intervenciones: Enfoques teóricos, técnicos y clínicos en la práctica psicológica (Vol. 3, pp. 11-28). Montevideo: Psicolibros y Waslala.
Real Academia Española. (1982). Diccionario de la lengua española (19a ed.). Madrid: Espasa-Calpe.Silberstein, F. (2001). Articulaciones narrativas en las técnicas proyectivas. Boletín Informatvivo de la Asociacion
Argentina de Estudio e Investigación e Psicodiagnóstico, 13(40), 9-15.Tustin, F. (1989). Barreras austistas en pacientes neuróticos (J. L. Etcheverry, Trad.). Buenos Aires: Amorrortu.
Recebido: 03/04/20091ª Revisão: 01/12/09
Aceite final: 22/12/09
Sobre a autoraBeatriz Elena Mercado, es Licenciada y Doctoranda en Psicología. Coordinadora de la Carrera de Especialización en
Evaluación y Diagnóstico Psicológico (Posgrado de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la USAL). Directora de la Carrera de Psicología de la Universidad Católica de La Plata (UCALP). Asesora en temas relacionados a la Acreditación de las Carreras de Psicología.


151Disponível em http://pepsic.bvs-psi.org.br/rbop
Revista Brasileira de Orientação Profissionaljan.-jun. 2010, Vol. 11, No. 1, 151-153
A editoração científica em questão:Dimensões da Psicologia1
Eduardo Name Risk2
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, Brasil
1 Resenha do livro: Sabadini, A. A. Z. P., Sampaio, M. I. C., & Koller, S. H. (Orgs.). (2009). Publicar em Psicologia: Um enfoque para a revista científica. São Paulo: Associação Brasileira de Editores Científicos de Psicologia / Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.
2 Endereço para correspondência: Universidade de São Paulo. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Programa de Pós-graduação em Psicologia. Av. Bandeirantes, 3900, 14.040-901, Ribeirão Preto-SP, Brasil. E-mail: [email protected]
A editoração científica constitui um domínio funda-mental da produção de conhecimento, cujos achados são divulgados, sobretudo, na forma de artigos, que gozam a peculiaridade de terem sido aferidos por consultores ad hoc, o que garante a priori sua “qualidade” mínima. Trata-se de um processo complexo que não envolve apenas a re-lação direta entre autor/editor/revisor, haja vista que estes estão lotados em instituições de ensino/pesquisa, que, por sua vez, estão sob o satélite de agências de fomento à pes-quisa e da política de ciência e tecnologia do país. Desta maneira, editorar um periódico científico implica a gestão de relações entre o corpo acadêmico e político-científico que norteia as diretrizes de determinada área. Cientes destes desafios e pautadas em sua fecunda experiência no campo da editoração científica, Aparecida Angélica. Z. P. Sabadini, Maria Imaculada C. Sampaio e Sílvia Helena Koller organizaram o livro Publicar em Psicologia: Um enfoque para revista científica, editado pela Associação Brasileira de Editores Científicos de Psicologia (ABECiP) e pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IP-USP), com apoio financeiro do Conselho Federal de Psicologia (CFP).
O livro aborda temas relevantes para a editoração científica, tanto em seu campo estrito, tais como, redação e padronização de manuscritos, estrutura formal e edito-rial de um periódico científico, apresentação de informa-ções estatísticas; como aqueles atinentes às Ciências da Informação, a saber, o movimento de acesso aberto às pu-blicações, indexação em bases de dados e índices biblio-métricos. Além disso, a obra tem o mérito de tangenciar
a política científica do país, ao incluir capítulos sobre a questão da autoria e avaliação de periódicos. Os capítulos são escritos por especialistas que conjuminam experiên-cia prática e conhecimento teórico na temática, o que dá ao texto uma vertente didática. Além de estar à venda na Biblioteca do IP-USP, o livro está disponível para acesso digital no site http://publicarempsicologia.blogspot.com. A fim de apresentar o conteúdo da obra, a seguir, descre-vemos sucintamente seus capítulos.
Iniciando o livro, no capítulo “A redação científica apresentada por editores”, Piotr Trzesniak e Sílvia Helena Koller discutem a escrita acadêmica, evidenciando os principais cuidados que um pesquisador deve tomar nesta etapa de registro e divulgação da investigação. Os auto-res apresentam as principais diretrizes para preparação de manuscritos às revistas científicas, descrevem as etapas da tramitação editorial e os critérios comumente utilizados na avaliação de artigos. O texto reúne orientações extrema-mente úteis, que muitas vezes aprendemos paulatinamente no decorrer de nosso métier por meios formais e informais do contato acadêmico. No âmbito da Psicologia, o capítu-lo apresenta um olhar objetivo sobre a prática, registro e divulgação da pesquisa nesta área.
A seguir, o capítulo “Preparando um periódico cien-tífico” assinado por Aparecida Angélica Z. P. Sabadini, Maria Imaculada C. Sampaio e Maria Marta Nascimento, congrega informações relevantes para a padronização de publicações seriadas. A partir da consulta às normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), APA (American Psychological Association), além de revistas
Resenha

152
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 151-153
da área, as autoras versam sobre a estrutura das publi-cações científicas, apresentando minuciosamente os ele-mentos que as compõem. Trata-se de um capítulo útil para editores e sua equipe, visto que clarifica dúvidas comuns do seu cotidiano. O texto é enriquecido por anexos que exemplificam figurativamente seus principais trechos.
No terceiro capítulo, “O movimento de acesso aberto, os repositórios e as revistas científicas”, Maria Imaculada C. Sampaio e André Serradas abordam os avanços das tecnologias de informação/comunicação e seus efeitos no conhecimento científico, particularmente, nas publica-ções. Os autores caracterizam o “Movimento de Acesso Aberto”, que visa estimular o acesso livre aos documentos científicos e assegurar os direitos autorais, além de expli-citarem declarações que o apóiam. A seguir, esmiúçam as “vertentes de acesso aberto”, ou seja, os repositórios ins-titucionais de arquivos científicos e as revistas de acesso livre. O texto apresenta com clareza temas e termos técni-cos que comumente são confusos não apenas para edito-res, como também para a comunidade científica.
Trzesniak assina o capítulo “A estrutura editorial de um periódico científico”. O autor apresenta com extrema propriedade as diversas instâncias que organizam o cor-po científico e técnico de uma revista, evidenciando que sua perenidade e mérito dependem da divisão de ativida-des entre os membros do corpo editorial e do respaldo da instituição que a mantém. Cada ramo do comitê científico contempla um conjunto de atividades, que são propostas de maneira sistematizada. Além do trabalho afinado do comitê editorial, o autor pondera que os periódicos prescindem de programas computadorizados para gerenciar a tramitação dos originais. O texto elucida a dinâmica e estrutura de um periódico, considerando que muitas vezes as funções dos membros do comitê editorial parecem se confundir.
No quinto capítulo, “Indexação e fator de impacto”, Maria Imaculada C. Sampaio e Aparecida Angélica Z. P. Sabadini abordam as principais características das bases de dados e seu papel na sistematização do conhecimen-to. As autoras versam sobre termos comuns ao campo da publicação científica, discutem os critérios comumente empregados pelos comitês indexadores para seleção dos periódicos, diferenciam os tipos de bases de dados exis-tentes e apresentam alguns indexadores importantes para a Psicologia. O texto expõe com clareza aspectos relevantes da indexação, o que pode contribuir para o trabalho de editores, que comumente não dominam temas referentes à Ciência da Informação.
Na sequência, o capítulo “Preparando um artigo cien-tífico”, da autoria de Aparecida Angélica Z. P. Sabadini, Maria Imaculada C. Sampaio e Sílvia Helena Koller, reú-ne orientações para preparação e normalização de artigos
científicos. As autoras discutem pormenorizadamente os elementos que compõem um artigo científico, tanto seus aspectos estruturais quanto de conteúdo, e apresentam di-retrizes para submissão de manuscritos. Cada seção que compõe um trabalho empírico é analisada em seus as-pectos gerais, exemplificados por meio de um conjunto de tópicos sobre os quais os pesquisadores devem versar. Trata-se do capítulo mais longo do livro, e tem o mérito de reunir orientações relevantes não apenas para a redação de manuscritos, como também para cada etapa que perfaz a realização de uma pesquisa.
O capítulo seguinte, “Autoria, co-autoria e cola-boração”, de Maria Imaculada C. Sampaio e Aparecida Angélica Z. P. Sabadini, aborda os critérios para atribui-ção de autoria a um texto científico, assim como a temá-tica da autoria institucional e internacional. Para as auto-ras, o crédito de publicação só deve ser auferido àqueles que participaram efetivamente na realização da pesquisa, já que esse é a garantia da propriedade intelectual das idéias ali presentes, ou seja, a autoria não pode se pautar em conveniências e reciprocidades. Trata-se de um tema complexo, que merece acurada reflexão dos acadêmi-cos, pois evidencia que as práticas científicas não estão imunes a acordos e cordialidades tão comuns em outras esferas da sociedade brasileira, como no campo organi-zacional e político.
O penúltimo capítulo, “Normas para a apresentação de informações estatísticas no estilo editorial APA”, assi-nado por Claudette M. M. Vendramini, Irene M. Cazorla e Cláudia B. da Silva, discute diretrizes para apresenta-ção de elementos estatísticos na forma de texto, tabelas e figuras, além de exemplificar os tipos de gráficos e suas aplicações. Considerando a ampla aplicação de métodos de análise estatística inferencial, o texto sugere modelos para sua formalização no contexto brasileiro. Deste modo, constitui um “guia” para pesquisadores que utilizam me-todologias quantitativas, assim como para a equipe edi-torial, que nele encontram um instrumental valioso para padronização de artigos desta modalidade.
Finalizando o livro, o capítulo “A avaliação de pe-riódicos científicos brasileiros da área da Psicologia”, de Oswaldo H. Yamamoto e Ana Ludmila F. Costa, discute um tema candente para a Psicologia, o processo de aferi-ção da qualidade de títulos periódicos. Os autores apon-tam que a avaliação de publicações é um processo corren-te, visto que é empregado por bases de dados, agências de fomento e pela CAPES, como parte do julgamento da qualidade da produção científica de docentes e alunos vinculados a Programas de Pós-graduação. No tocante ao Qualis Periódicos instituído pela comissão mista CAPES/ANPEPP (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal

153
Risk, E. N. (2010). A editoração científica em questão: Dimensões da Psicologia
de Nível Superior/Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia), afirmam que este além de classificar os periódicos, objetiva estimular sua qualifica-ção e estabelecer parâmetros editoriais compatíveis para área. Por outro lado, apontam que o processo avaliativo não é neutro, sendo motivado por razões políticas e éti-cas, que devem ser consideradas na reflexão de sua con-sistência e implicações.
Podemos sugerir que o livro é fruto do incentivo ao aumento quantitativo da produção científica promovido pelas agências de fomento e pelas diretrizes da CAPES. No âmbito da Psicologia, notamos que este incremento também se respalda no sistema Qualis Periódicos, em que pese sua controvérsia, possibilitou que os periódi-cos da área alcançassem um padrão formal e editorial. Além disso, a fundação da ABECiP representa um fator importante na captação de forças acadêmicas com vistas à discussão de projetos e ações no campo da editoração científica em Psicologia, frutos que a comunidade acadê-mica partilha a partir da publicação do livro Publicar em Psicologia, que deverá constituir obra de referência para
área, no que tange à padronização de artigos e periódicos e análise de suas finalidades.
Por outro lado, cientes dos esforços já envidados pela ABECiP, sugerimos que a comunidade acadêmica discu-ta amplamente os fatores econômicos, políticos e sociais que ensejam a produção/editoração científica, isto é, que o próprio campo de estudo e seus agentes se prestem à aná-lise das determinações de seu métier. Diante do conhecido aforismo “publicar ou perecer”, impõe-se aos pesquisado-res a análise dos fatores e consequências do incremento da produção científica, o que leva, a longo termo, ao questio-namento do paradigma que sustenta a área da Psicologia e seu diálogo com disciplinas afins. Desta forma, esperamos que Publicar em Psicologia: Um enfoque para revista científica além de constituir obra de referência para edito-res e autores, instigue-os à reflexão percuciente sobre sua profissão. Trata-se de uma questão não apenas acadêmica, mas sobretudo política.
Recebido: 16/03/2010Aceite final: 22/04/2010
Sobre o autorEduardo Name Risk é Psicólogo, Bacharel em Psicologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo (FFCLRP-USP), mestrando do Programa de Pós-graduação em Psicologia da mesma instituição, bolsista da FAPESP. Foi assistente editorial da Revista Brasileira de Orientação Profissional e da Paideia.


155
REVISTA BRASILEIRA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL1
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO
ESCOPO E POLÍTICA EDITORIAL
A Revista Brasileira de Orientação Profissional (RBOP) é uma publicação semestral da Associação Brasileira de Orientadores Profissionais (ABOP), em parceria com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (FFCLRP-USP) e conta com o apoio da Vetor-Editora. A Revista Brasileira de Orientação Profissional (RBOP) publica trabalhos originais na área de Orientação Profissional e de Carreira nos contextos da Educação, Trabalho e Saúde e nas interfaces com outras áreas do conhecimento. Serão aceitos manuscritos nos idiomas português, espanhol e inglês, na versão original da língua dos autores. Os trabalhos publicados deverão enquadrar-se nas categorias descritas a seguir.
Artigos originais
Limitado a 50.000 caracteres aproximadamente (incluídos os caracteres em branco e todas as partes do manuscrito, excluindo-se deste cômputo as folhas de rosto). Os artigos originais enfeixarão a maior parte do fascículo e podem ser de três categorias, como descrito a seguir.
1. Relato de pesquisa: investigação baseada em dados empíricos, utilizando metodologia científica. O artigo deve conter introdução ao problema, objetivos, método, resultados, discussão e considerações finais. Dentre os artigos originais a preferência é por artigos de pesquisa.
2. Estudo teórico: análise de construtos teóricos, levando a questionamentos de modelos existentes e à elaboração de hipóteses para futuras pesquisas. Essa categoria inclui estudos sobre métodos de investigação científica na área.
3. Revisão crítica da literatura: análise de um corpo abrangente de investigação, relativa a assuntos de interesse para o desenvolvimento da Orientação Profissional e de Carreira. Deve descrever com pormenores o processo de busca dos estudos originais, os critérios utilizados para a seleção daqueles que foram incluídos na revisão e os procedimentos empregados na síntese dos resultados obtidos pelos estudos revisados (que poderão ou não ser procedimentos de meta-análise).
Relato de experiência profissional
Estudos de caso, contendo análise de implicações conceituais, ou descrição de procedimentos ou estratégias de intervenção, contendo evidência metodologicamente apropriada de avaliação da eficácia, de interesse para a atuação de orientadores em diferentes cenários e contextos. Limitado a 50.000 caracteres (incluídos os caracteres em branco e todas as partes do manuscrito, exceto as folhas de rosto)
1 Normas atualizadas em junho de 2010. As normas para publicação e formulários em português, inglês e espanhol estão disponíveis na página da RBOP no Portal de Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC) – http://pepsic.bvs-psi.org.br/rbop e na página da Associação Brasileira de Orientação Profissional (ABOP) – www.abopbrasil.org.br
Disponível em http://pepsic.bvs-psi.org.br/rbop
Revista Brasileira de Orientação Profissionaljan.-jun. 2010, Vol. 11, No. 1, 155-164

156
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 155-164
Ensaio
Defesa de uma afirmação com argumentos convincentes em defesa da tese escolhida, apresentando explicitamente as razões que sustentam as afirmações (por exemplo, contrapondo os pontos fortes e fracos de duas perspectivas opostas sobre a tese). Limitado a 20.000 caracteres (incluídos os caracteres em branco e todas as partes do manuscrito, exceto as folhas de rosto).
Resenha
Revisão crítica de obra recém-publicada orientando o leitor quanto a suas características e usos potenciais. Limitada a 7.000 caracteres (excluindo-se deste cômputo as folhas de rosto).
Seção Especial
Contempla temáticas relativas à produção do conhecimento, editoração científica, políticas públicas, além de relatórios de gestão. A seção é organizada a critério dos Editores.
Seção Documentos
Esta seção destina-se à divulgação de relatórios de eventos científicos importantes para área, documentos históricos relevantes para a construção da Orientação Profissional no âmbito científico e profissional, além de documentos que versem sobre políticas públicas na área de educação, carreira e trabalho e oferta de serviços qualificados. A seção é organizada a critério dos Editores.
PROCEDIMENTOS DA COMISSÃO EDITORIAL
O processo de revisão editorial só terá início se o encaminhamento do manuscrito obedecer às condições estipuladas nas normas de publicação. Os trabalhos encaminhados à apreciação na RBOP devem ser inéditos e não deverão ser submetidos concomitantemente em outras publicações, assim como manuscritos com conteúdos semelhantes não deverão ter sido publicados ou estar em apreciação em qualquer veículo.
O processo editorial da RBOP pauta-se na revisão cega (double blind review) por pares da comunidade científica, ou seja, tanto a identidade de autores, como de assessores mantêm-se incógnitas. O processo de revisão editorial inicia-se com a submissão do manuscrito à Revista, cujo recebimento é acusado pela Secretaria da revista. O original é analisado primeiramente pela Comissão Editorial pautando-se nos seguintes critérios: (1) conteúdo, no que se refere aos domínios do conhecimento previstos no escopo e política editorial; (2) originalidade, relevância do tema e qualidade da metodologia científica utilizada; (3) adequação às normas editoriais adotadas pelo periódico.
Desta feita, pode-se encaminhá-lo aos autores, solicitando modificações formais, recusá-lo ou dar prosseguimento ao processo de avaliação. Caso o trabalho atenda a esses critérios, a Editoria Científica indica assessores ad hoc, que gozam de reconhecida competência na área em questão do texto, podendo valer-se do apoio do corpo editorial. O resumo do manuscrito é utilizado como veículo de consulta aos assessores, em geral entre três e cinco pesquisadores são convidados. Caso um especialista tenha qualquer impedimento de se manifestar sobre algum trabalho (conflito de interesses profissionais, financeiros, benefícios diretos e indiretos), a secretaria é informada e com base nos aceites, o procedimento para a primeira avaliação é iniciado com o envio do trabalho na íntegra, solicitando-se a análise dentro de 20 dias, no mínimo dois consultores avaliam o manuscrito.
Os consultores, após análise do manuscrito, recusam ou recomendam a publicação. Cada consultor emite um parecer em um Formulário Padrão para Parecer (FP) (disponibilizado no http://pepsic.bvs-psi.org.br/rbop) e finaliza-o com seu julgamento dentro de um dos cinco critérios, sendo três deles com possibilidade de aceitação e dois de reprovação, descritos a seguir.
Em condição de aceitação: • excelente (NOTA 5);• bom, com algumas pequenas deficiências (NOTA 4); • bom, mas necessitando de ampla revisão (NOTA 3).•

157
Normas para Publicação
Sem condição de aceitação:• deficiente, com possibilidade de ser reavaliado após extensa reformulação (NOTA 2); • deficiente, sem alternativa (NOTA 1).•
A aceitação pode ser condicionada a modificações que visam a melhorar a clareza ou precisão do texto. Os consultores são orientados a redigirem pareceres críticos, porém didáticos. Os autores recebem as cópias dos pareceres dos consultores na íntegra, tendo a Editoria Científica liberdade para emitir comentários sobre o manuscrito, que serão incorporados à comunicação (via e-mail) do Comitê Editorial. Em geral, por mais que um trabalho seja recomendado para publicação, modificações far-se-ão necessárias, partindo-se do pressuposto de que ele pode ser aperfeiçoado continuamente, dado que as solicitações de modificações são comuns e rotineiras em todos os periódicos. Desta forma, os autores de manuscritos recomendados para publicação, mas sujeitos a modificações, deverão reformular seu trabalho, no intuito de alcançar a aceitação final. Os autores são solicitados a devolver a versão reformulada dentro de 20 dias e a responder às críticas/sugestões dos assessores ad hoc, justificando as sugestões não acatadas, por meio de carta endereçada à Editoria Científica na ocasião do encaminhamento da versão reformulada do texto.
A carta com justificativas, o manuscrito reformulado e o parecer do comitê editorial referente à versão original do texto são encaminhados a um dos consultores ad hoc, que será responsável pela segunda avaliação do trabalho. Por meio do cotejamento dos pareceres originais, diante da versão reformulada do texto, caberá a ele emitir julgamento se o manuscrito pode ser publicado ou se ainda necessita de modificações. Se necessário, outros avaliadores serão consultados. No caso desta última situação, será solicitada nova reformulação aos autores, obedecendo-se ao processo descrito acima. No entanto, caso o manuscrito esteja em condições de aceite, cabe à Editoria Científica realizar uma última análise dos pareceres e do texto, no sentindo de avaliar se ainda cabem alterações. A decisão final será comunicada aos autores, qual seja do aceite do manuscrito, que será encaminhado para os procedimentos finais visando à publicação. Desta forma, cabe salientar que o julgamento final sobre a publicação de um manuscrito é sempre da Editoria Científica.
Em determinadas situações (pareceres inconsistentes, questões éticas, julgamento ambivalente, entre outras) a versão reformulada do manuscrito poderá ser, também, enviada a um dos membros do Conselho Editorial, juntamente com os pareceres dos consultores ad hoc, para uma análise final. Nesta etapa do procedimento, o conselheiro editorial pode ter conhecimento das identidades dos autores e dos consultores, cabendo a ele analisar a versão reformulada do manuscrito, auxiliando o Editor Científico a tomar a decisão final sobre sua publicação ou não. Em sua análise, o conselheiro poderá rejeitar o manuscrito, sugerir novas alterações, quantas vezes considerar necessárias, ou aceitar a versão reformulada que considera em condições de ser publicada. A seleção dos trabalhos aprovados que comporão cada número da RBOP privilegia relatos de pesquisa e a diversificação de autoria, nacional e internacional, por região do país e instituições.
No que tange aos processos finais de publicação, o manuscrito aprovado será encaminhado à revisão bibliográfica realizada por bibliotecários. Após isto, o trabalho é revisado pela Comissão Editorial e pela Secretaria da Revista, com vistas a suas últimas correções formais, já que o Editor goza do direito de fazer pequenas modificações no texto e na formatação. Os manuscritos aprovados, que enfeixarão determinado fascículo da revista, são encaminhados para editoração gráfica.
Antes de enviar os manuscritos para impressão final, o Editor Científico envia uma prova gráfica, em formato pdf para última revisão dos autores, que deverão responder em curto prazo (dois, três dias), caso não o façam, o manuscrito virá a lume conforme prova. Após isto, a prova é encaminhada à gráfica, que disponibilizará a versão impressa do periódico para distribuição. Os arquivos do fascículo, em formato pdf, são encaminhados para a equipe de bibliotecários a fim de que sejam feitas as indexações e a um profissional especializado para a preparação dos textos na metodologia SciELO visando à disponibilização no site do Portal de Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC). A última etapa consiste na distribuição dos exemplares impressos para autores, bibliotecas da Rede de Bibliotecas Psicologia (ReBAP), corpo editorial, assessores e associados da ABOP. Cada autor do artigo receberá um exemplar do fascículo em que o artigo de sua autoria foi publicado. No último fascículo de cada volume da revista constará a nominata dos consultores ad hoc que colaboraram na avaliação dos manuscritos.
DIREITOS AUTORAIS/CUIDADOS ÉTICOS
A RBOP possui os direitos autorais de todos os artigos nela publicados. A reprodução total dos artigos da revista em outras publicações, ou para qualquer outro fim, por quaisquer meios, requer autorização por escrito do Editor.

158
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 155-164
Reproduções parciais de artigos (resumo, abstract, resumen, mais de 500 palavras de texto, Tabelas, Figuras e outras ilustrações) deverão ter permissão por escrito do Editor e dos autores.
Salienta-se que o Conselho Editorial da RBOP autoriza o livre acesso e livre distribuição dos conteúdos publicados, desde que citada a fonte, ou seja, atribuindo-se crédito aos autores e distribuidores, e preservado o texto na íntegra, conforme Declaração de Florianópolis (http://www.anpepp.org.br/Editais/Declaração%20de%20Florianópolis.pdf).
Os artigos aprovados serão disponibilizados nas bases de dados em que a Revista Brasileira de Orientação Profissional está indexada, assim como, em qualquer biblioteca virtual, website ou sistema de indexação que o Editor considere prospectivamente conveniente. É permitido aos autores fazer o autoarquivamento dos artigos publicados na RBOP em repositórios institucionais ou temáticos reconhecidos em suas áreas. É permitido depositar a versão pdf disponível em http://pepsic.bvs-psi.org.br/rbop sem nenhum tempo de embargo, ou seja, imediatamente após sua publicação na internet.
Todo e qualquer manuscrito encaminhado à RBOP deve ser acompanhado do documento intitulado Declaração de Responsabilidade e Transferência de Direitos autorais (DRT), (disponibilizado no http://pepsic.bvs-psi.org.br/rbop) que versa sobre aspectos legais e éticos relativos à submissão e publicação de trabalhos nesta revista. Cada autor do manuscrito deverá preencher individualmente a declaração e assiná-la. O primeiro autor deverá reuni-las e encaminhar por correio de superfície. No que concerne aos aspectos éticos, na DRT os autores declararão anuência que todas as diretrizes e normas da Resolução Nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/reso_96.htm - clicar na Resolução Nº 196) e da Resolução 16/2000 do Conselho Federal de Psicologia relativas ao tratamento ético em pesquisa com seres humanos foram seguidas e atendidas na realização da pesquisa (http://www.crpsp.org.br/crp/orientacao/legislacao/resolucao-cfp_016-00.aspx). No caso de pesquisa com seres humanos, os autores devem informar que o trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição à qual está/estão vinculado(s), mediante inclusão de cópia do documento de aprovação ou indicação na DRT do número de registro junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).
REPRODUÇÃO DE OUTRAS PUBLICAÇÕES
Citações com mais de 500 palavras, reprodução de uma ou mais Figuras, Tabelas ou outras ilustrações devem ter permissão escrita do detentor dos direitos autorais do trabalho original para a reprodução especificada na RBOP. A permissão deve ser endereçada ao autor do trabalho submetido. Os direitos obtidos secundariamente não serão repas-sados em nenhuma circunstância.
AUTORIA
A Revista Brasileira de Orientação Profissional preconiza que a autoria de um artigo pauta-se na contribuição substancial de cada uma das pessoas listadas como autores, no que tange à concepção e planejamento do projeto de pesquisa, obtenção ou análise e interpretação dos dados, redação e revisão crítica. A indicação dos nomes dos autores, logo abaixo do título do artigo, é limitada a seis, excedendo-se esta quantidade, os colaboradores deverão ser listados no arquivo original do manuscrito como “Agradecimentos”. Salienta-se que não se justifica a inclusão de nomes de autores cuja contribuição não se enquadre nos critérios acima, podendo, nesse caso, figurar na seção “Agradecimentos”. Os conceitos emitidos nos manuscritos são de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es), não refletindo obrigatoriamente a opinião dos Editores e do Conselho Editorial.
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA SUBMISSÃO
Para garantir que o processo editorial de seu manuscrito seja rápido e eficiente, é importante que, antes do envio para a revista, alguns passos sejam observados. Siga-os, lembrando que uma boa apresentação, além de assegurar a credibilidade de seu estudo, agilizará o processo editorial: (1) solicite a um de seus colegas de área ou de departa-mento que aprecie seu manuscrito e faça comentários críticos sobre seu estudo com base no formulário padrão para parecer, mencionado anteriormente; (2) revise cuidadosamente seu manuscrito com relação à correção gramatical e digitação, bem como os itens que devem compor sua correspondência para a revista; (3) verifique se todos os cri-térios das Normas de Publicação foram atendidos. Envie o manuscrito por e-mail ([email protected]) e a DRT assinada por correio.

159
Normas para Publicação
APRESENTAÇÃO DO MANUSCRITO
As Normas de Publicação da Revista Brasileira de Orientação Profissional baseiam-se no Publication Manual of the American Psychological Association - APA (2001, 5ª edição), no que concerne ao estilo de apresentação do manuscrito. Os autores deverão também consultar o livro “Publicar em Psicologia: Um enfoque para a revista científica”, disponível no link (http://www.bvs-psi.org.br/ebooks/Publicar-emPsicologia.pdf), onde constam aspectos importantes da editoração científica e formalização de artigos.
EDITORAÇÃO DOS MANUSCRITOS Para agilizar os serviços de editoração eletrônica, utilize Microsoft Office Word ou editor de texto afim, seja econômico na
utilização de comandos, limitando-se ao número de caracteres, incluídos os caracteres em branco, definidos na seção “Escopo e política” das normas. Os trabalhos devem ser digitados em fonte Times New Roman, corpo 12, espaço 1,5 (incluindo resumos, tabelas, figuras e referências) numeradas no alto da página, à direita. Não utilize negrito, aspas, marcas d’água ou outros recursos que podem tornar o texto visualmente atrativo, mas que trazem problemas sérios para a editoração.
PARTES DO MANUSCRITO
A apresentação formal dos manuscritos deve obedecer à ordem descrita a seguir.
(a) Folha de Rosto IdentificadaTítulo em português, em inglês e espanhol (máximo de 12 palavras em cada um). O título deve ser pertinente, claro, 1. explicativo e criativo. Deve informar ao leitor o objetivo do artigo. Não deve incluir nomes de cidades, países, ou outras informações geográficas. Subtítulos devem ser utilizados apenas quando complementam o título.Título abreviado para inclusão na legenda das páginas do artigo (máximo 50 caracteres, contando-se letras, pontuações 2. e espaço entre as palavras).Nome de cada um dos autores.3. Afiliação institucional de cada um dos autores (incluir o nome da universidade, cidade, estado e país).4. Nota de rodapé com endereço completo do autor responsável pela comunicação direta com a Editoria Científica 5. (incluir CEP, telefone, fax). Lista com 6. e-mails de todos os autores e endereços completos (incluir CEP, telefone, fax) para envio de um exemplar impresso do fascículo no qual o artigo foi publicado. Nota de rodapé com agradecimentos a colaboradores (conforme descrito na seção “Autoria” destas normas), 7. informação sobre apoio institucional/financeiro ao projeto, caso procedam.Informações sobre os autores (três a quatro linhas).8.
Atenção: Como a revisão dos manuscritos é cega quanto à identidade dos autores, a Folha de Rosto Identificada deve ser a única página do manuscrito com o nome e o endereço dos autores. É responsabilidade dos autores verificar que não haja elementos capazes de identificá-los em qualquer outra parte do artigo. A Folha de Rosto Identificada, obviamente, não será encaminhada aos consultores ad hoc. A Revista Brasileira de Orientação Profissional não se responsabiliza por procedimentos dos autores que não respeitem esta norma.
(b) Folha de Rosto sem IdentificaçãoTítulo completo em português, inglês e espanhol (máximo de 12 palavras).1. Título abreviado (máximo 50 caracteres). 2.
(c) Folha contendo Resumo em portuguêsO Resumo em português deverá ter até 120 palavras, em parágrafo único. Use sempre algarismos arábicos. No caso 1. de relatos de pesquisas, o resumo deve apresentar brevemente os objetivos, método e principais resultados. O resumo não tem que, necessariamente, incluir informações sobre a literatura da área. Não devem ser incluídas referências. O objetivo deve ser claro, informando, caso seja apropriado, qual o problema e as hipóteses do estudo. Para os relatos

160
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 155-164
de pesquisa, o método deve oferecer informações breves sobre os participantes, instrumentos e procedimentos especiais utilizados. Apenas os resultados mais importantes, que respondem aos objetivos da pesquisa, devem ser mencionados no resumo. Lembre-se de que o resumo é uma das partes mais importantes do seu manuscrito. É por meio do resumo que os leitores terão o primeiro contato com o artigo, na busca na literatura científica por meio de um sistema eletrônico. Para tal, o resumo deve ser rico em informações e ao mesmo tempo sucinto. Inclua palavras-chave nos resumos para o propósito de indexação.Palavras-chave em português (no mínimo três e no máximo cinco, em letras minúsculas e separadas por vírgula 2. e sem ponto final), de acordo com a terminologia utilizada pela Biblioteca Virtual em Saúde - Psicologia (BVS-Psi). As palavras-chave devem ser selecionadas com o auxílio da ferramenta encontrada em: http://www.bvs-psi.org.br/ – consultar: Terminologias, e Terminologia Psi, onde está disponibilizado o Vocabulário de Termos em Psicologia. Termos inexistentes na Terminologia requerem justificativas.
(d) Folha contendo AbstractEm inglês, compatível com o texto do resumo. O abstract deve obedecer às mesmas especificações para a versão em
português, seguido de Keywords, compatíveis com as palavras-chave.
(e) Folha contendo ResumenEm espanhol, compatível com o texto do resumo. O resumen deve obedecer às mesmas especificações para a versão
em português, seguido de Palabras clave, compatíveis com as palavras-chave.Recomenda-se que os autores solicitem a um colega bilíngue que revise o Abstract e o Resumen, antes de submeter
o manuscrito. Estes itens são muito importantes para a divulgação de seu trabalho, pois em caso de publicação serão disponibilizados em todos os indexadores da revista. O conteúdo deve ser o mesmo do resumo em português.
(f) Corpo do textoEsta parte do manuscrito deve começar em uma nova página, após as folhas de rosto, resumo em português, abstract
e resumen. O título do manuscrito não deverá constar nesta página. Não inicie uma nova página a cada subtítulo. Separe-os usando uma linha em branco. Em qualquer categoria de submissão de trabalhos, o texto deverá ter uma organização de fácil reconhecimento, sinalizada por um sistema de títulos e subtítulos que reflitam sua estrutura. Revise seu texto, observando a ligação entre as seções e os subtítulos utilizados. Parágrafos de frase única devem ser evitados, pois fragmentam o texto. Os objetivos do estudo devem ser claramente explicitados no início do texto, remetendo à revisão da literatura existente na área e aos procedimentos metodológicos.
Quando se tratar de relato de pesquisa, o texto deverá apresentar, além das páginas referentes às folhas de rosto e resumos, Introdução, Método, Resultados, Discussão, Considerações finais e Referências. Estes subtítulos devem aparecer centrados no texto, antecedidos e seguidos por uma linha em branco. Em alguns casos pode ser conveniente apresentar Resultados e Discussão juntos.
Destaque em itálico palavras ou expressões que devam ser enfatizadas no texto impresso, por exemplo, “estrangeirismos”, tais como self, locus, rapport etc., e demais palavras que requerem relevo especial. Seja parcimonioso em tal uso, lembrando que o Manual da APA (2001, 5ª edição) não recomenda utilização de grifos no texto. Notas de rodapé deverão ser cabalmente evitadas, caso sejam imprescindíveis podem ser inseridas, ordenadas por algarismos arábicos, constando na página em que foram destacadas.
(g) Citações no corpo do textoAté 2 autores: sempre citar os dois.•
Ex.: Campos e Coimbra (1991)(Campos & Coimbra, 1991).
De 3 a 5 autores: cite todos os autores na primeira citação; nas citações sequentes, apenas o primeiro autor e et al.• Ex.: 1ª vez: Peterson, Sampson, Reandon e Lenz (1996)
(Peterson, Sampson, Reandon, & Lenz, 1996)2ª vez: Peterson et al. (1996)(Peterson et al., 1996).

161
Normas para Publicação
6 ou mais autores: cite somente o primeiro autor e et al.•
Citação de citação: use a expressão citado por.• Ex.: Para Matos (1969, citado por Bill, 1998)
OuPara Matos (1969) citado por Bill (1998)
Na seção de Referências informe a fonte secundária, no caso Bill, usando o formato apropriado. Este tipo de citação deve ser evitada, limitando-se a casos específicos que devem ser comunicados à Editoria em carta à parte. Não use os termos apud, op. cit, id. ibidem, dentre outros, eles não fazem parte das Normas da APA.
Citação de obras antigas e reeditadas: autor (data de publicação original/ data de publicação consultada). Exemplo: • Silva (1978/2005).
Citação de comunicação pessoal•
Pode ser carta, mensagem eletrônica, conversa telefônica ou pessoal. Cite apenas no texto, dando as iniciais e o sobrenome do emissor e a data completa. Não inclua nas referências, pois este tipo de menção deve ser evitado. Ex.: M. A. Carvalho (comunicação pessoal, 07 de setembro de 2001)
Para citações diretas: sempre indicar a página. •
Citações de até 40 palavras deverão ser inseridas no parágrafo, entre aspas. Caso excedam 40 palavras, dever-se-á iniciar um novo parágrafo, com margem esquerda de 5 espaços, sem aspas.
Observe com muita atenção as normas de citação, dando crédito sempre aos autores e às datas de publicação de todos os estudos referidos. Todos os nomes de autores cujos trabalhos forem citados devem ser seguidos da data de publicação, na primeira vez em que forem citados em cada parágrafo. A citação literal de um texto exige a referência ao número da página do trabalho do qual foi copiada e deve ser apresentada entre aspas, com recuo da margem esquerda, quando citações longas.
(h) Lista de referênciasAs referências utilizadas devem ser coerentes com o fundamento teórico-metodológico do trabalho, neste sentido
deverão recuperar a literatura sobre o tema e serem atualizadas. Deste modo, cerca de 30% do conjunto das obras referenciadas deverão datar dos últimos cinco anos, contados a partir da submissão do manuscrito. Caberá ao Editor, munido do apoio do Conselho Editorial e assessores ad hoc, julgar casos que não se enquadrem neste critério. Como parâmetros para os autores e assessores, registra-se que a média na RBOP (fascículos de 2008 e 2009) foi de 30 referências por artigo e destes cerca de 30% é dos últimos cinco anos. Quando houve autorreferências a média foi de 6.
Todos os estudos citados no texto devem ser listados na seção Referências. Apenas as obras consultadas e mencionadas no texto devem constar na referida seção, iniciando uma nova página. Conforme já exposto, utilize espaço 1,5 e não deixe espaço extra entre citações. As referências devem ser citadas em ordem alfabética, pelo sobrenome do autor. Em casos de referências a múltiplos estudos do mesmo autor, utilize ordem cronológica, ou seja, do estudo mais antigo ao mais recente deste autor, para listá-los nesta seção. Ao coincidirem autores e datas, utilizar a primeira letra do título para listar em ordem alfabética as referências; o ano é imediatamente seguido de letras minúsculas. Nomes de autores não devem ser substituídos por travessões ou traços. Cada uma das referências deve aparecer como um novo parágrafo, deixando cinco espaços da margem esquerda na segunda linha. Revise cuidadosamente as normas da revista antes de preparar suas referências, para obedecer a todos os critérios, a exatidão das referências é de responsabilidade dos autores.
Exemplos:
Artigo publicado em periódico científico1. Moore, J. M., Thompson, G., & Thompson, M. (1975). Auditory localization of infants as a function of reinforcement
conditions. Journal of Speech and Hearing Disorders, 40, 29-34.

162
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 155-164
- Informar número, entre parênteses, apenas quando a paginação reiniciar a cada número (e não a cada volume, como a regra geral).
Moura, C. B., & Menezes, M. V. (2004). Mudando de opinião: Análise de um grupo de pessoas em condição de re-escolha profissional. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 5(1), 29-45.
Artigo no prelo• Locatelli, A. C. D., Bzuneck, J. A., & Guimarães, S. E. R. (no prelo). A motivação de adolescentes em relação com a
perspectiva de tempo futuro. Psicologia: Reflexão e Crítica.Artigos em meio eletrônico•
Gazalle, F. K., Lima, M. S., Tavares, B. F., & Hallal, P. C. (2004). Sintomas depressivos e fatores associados em população idosa no Sul do Brasil. Revista de Saúde Pública, 38, 365-371. Recuperado em 04 agosto 2005, de http://www.scielo.br/pdf/rsp/v38n3/20652.pdf
Texto publicado em revista de divulgação comercial• Use o exemplo abaixo para textos com autor indicado. Caso o texto não indique o autor, iniciar com o título, informar ano, dia e mês, nome da revista, volume e páginas. Secco, A. (1999, 10 de Março). Os novos colegas. Veja, 32, 122-123.
Livros 2. Ferreti, C. J. (1997). Uma nova proposta de orientação profissional (3a ed.). São Paulo: Cortez.
Moura, C. B., Sampaio, A. C. P., Rodrigues, L. D., & Menezes, M. V. (2003). Orientação profissional para adolescentes em situação de primeira escolha. Santo André, SP: ESETec.
Super, D., Crites, J. O., Hummel, R. C., Moser, H. P., Overstreet, P. L., & Warnath, C. F. (1957). Vocational development: A framework for research. New York: Teachers College.
Livro organizado por editores• Lucchiari, D. H. P. S. (Ed.). (1992). Pensando e vivendo a orientação profissional. São Paulo: Summus.Guzzo, R. S. L., Witter, G. P., Pfromm Neto, S., Rosado, E., & Wechsler, S. (Orgs.). O futuro da criança na escola, família
e sociedade. Campinas, SP: Átomo.Livro com indicação de tradução•
Bohoslavsky, R. (1974). Orientação vocacional: A estratégia clínica (J. M. V. Bojart, Trad.). São Paulo: Martins Fontes.
Livro com indicação de volume de uma série• Melo-Silva, L. L., Santos, M. A., Simões, J. T., & Avi, M. C. (2003). Arquitetura de uma ocupação: Vol. 1. Orientação
profissional: Teoria e prática. São Paulo: Vetor.
Obra antiga e reeditada em data posterior3. Levin, J., & Fox, J. A. (2004). Estatística para Ciências Humanas. São Paulo: Prentice Hall. (Original publicado em 1941)
Autoria institucional4. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. (1968). Orientação profissional, seleção profissional e problemas
correlatos. São Paulo: Senai.Brasil. Ministério da Saúde. Programa Nacional de DST e Aids. (2004). Política de distribuição de preservativos para
ações de prevenção das DST/HIV/Aids no Brasil. Brasília-DF. Recuperado em 03 janeiro 2007, de http://www.aids.gov.br/final/prevencao/preservativo.pdf
Capítulo de Livro5. Beck, A. T., & Rush, A. J. (1999). Teoria cognitiva. In H. I. Kaplan & B. L. Sadock (Orgs.), Tratado de psiquiatria (6a
ed., Vol. 2, pp. 987-999). Porto Alegre: Artmed.
Teses e dissertações não publicadas6. Ferreti, C. J. (1987). Trabalho e orientação profissional: Um estudo sobre a inserção de trabalhadores na grande São
Paulo. Tese de Doutorado não-publicada, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo.

163
Normas para Publicação
Trabalho apresentado em evento7. Anais publicados regularmente•
Neiva, K. M. C. (2001). Escala de maturidade para a escolha profissional (EMEP): Aspectos teóricos e técnicos. Anais do Simpósio Brasileiro de Orientação Vocacional & Ocupacional, 4, 205-212.
Resumo de trabalho publicado• Castro, R. E. F., Melo, M. H. S., & Silvares, E. F. M. (2001). Avaliação da percepção dos pares de crianças com dificuldade
de interação em uma sucursal da clínica-escola do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo [Resumos]. Congresso Interno do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, 5 (p. 49). São Paulo: IPUSP.
Trabalho não-publicado apresentado em evento• Lanktree, C. & Briere, J. (1991, janeiro). Early data on the Trauma Symptom Checklist for Children (TSC-C). Trabalho
apresentado no Encontro da American Professional Society on the Abuse of Children, São Diego, CA.Trabalho apresentado em evento e disponível em publicação eletrônica•
Cutler, L. D., Frölich, B., & Hanrahan, P. (1997, 16 de janeiro). Two-handed direct manipulation on the responsiveworkbench. Trabalho apresentado no Symposium on the Interactive 3D Graphics. Resumo recuperado em 12 junho 2000, de http://www.ghaphics.stanford.ed/papers/twohanded/
Trabalho publicado em CD-ROM• Ribeiro, R. (2001). Psicologia social e desenvolvimento do terceiro setor: Participação da Universidade [CD-ROM].
Anais do Congresso Norte Nordeste de Psicologia, 2.
Documento publicado na Internet8. Conselho Federal de Serviço Social. Conselho Federal de Psicologia. (2007). Parâmetros para atuação de assistentes
sociais e psicólogos (as) na política de assistência social. Recuperado em 11 agosto 2008, de http://www.pol.org.br/publicacoes/pdf/relatorio_atuacao_psi_pas.pdf
Documentos Legislativos9. Decreto nº 9.394. (1999, 20 de dezembro). Regulamenta a política nacional para a integração da pessoa portadora de
deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República.Constituição da República Federativa do Brasil. (1988, 5 de outubro). Recuperado em 11 agosto 2008, de http://www.
senado.gov.br/sf/legislacao/const/
Anexos
Os Anexos devem ser apresentados em uma nova página, após as Referências. As páginas devem ser numeradas consecutivamente. Os anexos devem ser indicados no texto e apresentados no final do manuscrito, identificados pelas letras do alfabeto maiúsculas (A, B, C e assim por diante) e intitulados adequadamente. Somente utilize anexos se isso for realmente imprescindível para a compreensão do texto. Ao invés de incluir instrumentos ou outros materiais, os autores podem optar por informar aos leitores, através de uma nota, sobre a disponibilidade desses e os procedimentos para serem obtidos.
FIGURAS E TABELAS
Para preparação destas, recomenda-se leitura do capítulo “Normas para a apresentação de informações estatísticas no estilo editorial APA” presente no livro “Publicar em Psicologia: Um enfoque para a revista científica”, forma de acesso já indicada nestas normas.
As Figuras e Tabelas deverão constar após a seção de Referências, no entanto, o local de inserção sugerido deve ser indicado no texto. As palavras Figura e Tabela no texto devem ser sempre grafadas com a primeira letra em maiúscula, acompanhadas do número respectivo ao qual se referem. Expressões tais como “a Tabela acima” ou “a Figura abaixo” não devem ser utilizadas, porque no processo de editoração a localização das mesmas pode ser alterada. As normas não incluem as denominações Quadros ou Gráficos, apenas Tabelas e Figuras. Os manuscritos que se enquadram nas demais categorias deverão apresentar títulos e subtítulos de acordo com o caso. Figuras e Tabelas devem ser apresentadas com as respectivas legendas e títulos, uma em cada página ao final do texto.

164
Revista Brasileira de Orientação Profissional, 11(1), 155-164
No caso de Figuras, a versão publicada não poderá exceder a largura de 8,3 cm para figuras simples, e de 17,5 cm para figuras complexas, o autor deverá cuidar para que as legendas mantenham qualidade de leitura, caso redução seja necessária. Não serão aceitas reproduções de desenhos. A quantidade de figuras e tabelas não deve exceder cinco unidades. As figuras deverão ser em preto e branco, padrões rebuscados que possam ser confundidos entre si devem ser evitados. Os títulos das Figuras devem ser apresentados abaixo dessas, com a primeira letra em maiúscula, perfazendo no máximo 12 palavras.
Os títulos das Tabelas devem ser colocados no alto dessas, devem indicar seu conteúdo em até 12 palavras. A primeira letra de cada palavra do título das Tabelas deve ser escrita em maiúscula, sendo as demais em minúsculas. Não utilize letras maiúsculas, negritos ou itálicos dentro da Tabela. Procure não utilizar abreviações nas Tabelas, caso imprescindível indique-as claramente em nota abaixo. Na publicação impressa a tabela não poderá exceder 17,5 cm de largura x 23,7 cm de comprimento. Ao prepará-las, o autor deverá limitar sua largura a 60 caracteres, para tabelas simples a ocupar uma coluna impressa, incluindo 3 caracteres de espaço entre colunas da tabela, e limitar a 125 caracteres para tabelas complexas a ocupar duas colunas impressas. O comprimento da tabela não deve exceder 55 linhas, incluindo título e notas. Para outros detalhamentos, especialmente em casos anômalos, o manual da APA deve ser consultado. A quantidade de figuras e tabelas não deve exceder cinco unidades.
NOTAS SOBRE OS AUTORES
No encaminhamento devem constar na folha de rosto identificada. E na versão final em pdf deverão estar inseridas após a seção “Referências”. Limita-se a quatro linhas, conforme diretrizes para padronização dos manuscritos. Devem informar titulação acadêmica e instituição a que cada autor está filiado, além da atividade principal atual.
SUBMISSÃO DO MANUSCRITO
Os manuscritos submetidos, bem como toda a correspondência de seguimento que se fizer necessária, deverão ser encaminhados por e-mail ([email protected]). A Declaração de Responsabilidade e Transferência de Direitos Autorais (assinada por todos os autores) deverá ser encaminhada por correio, aos cuidados do Editor.
Enviar para:Lucy Leal Melo-Silva, EditoraRevista Brasileira de Orientação ProfissionalUniversidade de São Paulo (USP/FFCLRP/DPE)Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre14040-901 - Ribeirão Preto - SPTelefone: (16) 3602 3789Fax: (16) 3633 5668E-mail: [email protected] / [email protected]

REVISTA BRASILEIRA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
Leia, assine e publique na RBOP.
Nome: ____________________________________________________________________
End.: _____________________________________________________________________
Compl.:_____________________________ Bairro: _______________________________
CEP:_________________ Cidade:__________________________ Estado: ____________
C.P.F/C.N.P.J:_____________________________ E-mail: __________________________
Tel. ( ) ________________________________ Fax. ( ) _________________________
Data: ____/____/_____ Assinatura: ____________________________________________
[ ] Assinatura: R$ 90,00Exemplar Avulso: R$ 50,00 - Mais de dois números avulsos de períodos anteriores: R$ 30,00 cada. [ ] 2003 - Volume 4 (1/2)[ ] 2004 – Volume 5 (1) [ ] 2004 – Volume 5 (2)[ ] 2005 – Volume 6 (1) [ ] 2005 – Volume 6 (2) [ ] 2006 – Volume 7 (1) [ ] 2006 – Volume 7 (2)[ ] 2007 – Volume 8 (1) [ ] 2007 – Volume 8 (2)[ ] 2008 – Volume 9 (1) [ ] 2008 – Volume 9 (2)[ ] 2009 – Volume 10 (1) [ ] 2009 – Volume 10 (2)[ ] 2010 – Volume 11 (1)
Depositar o valor no Banco do Brasil – Ag: 3876-8, Conta: 9806-XIdentificação nominal da conta: Associação Brasileira de Orientação Profissional (Razão Social)Envie por fax [16 3602-4835, A/C Profa. Lucy] o comprovante de depósito e a informação sobre os fascículos de interesse. Ou por e-mail ([email protected]) informando também a data do depósito. Em ambos os casos o endereço completo para recebimento deve ser informado à Secretaria da Revista.

REVISTA BRASILEIRA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONALProfa. Dra. Lucy Leal Melo-SilvaFFCLRP-USP, Dpto. de Psicologia e EducaçãoAv. Bandeirantes, 3900Ribeirão Preto - SP14040-901
Remetente: _______________________________________________________________________________
End.: ____________________________________________________________________________________
Compl.:_____________________________ Bairro: ______________________________________________
Cidade:_________________________________________________ UF: ______________________________
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ] [ ] [ ]