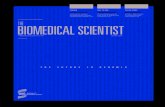ROBERT BEATTY o b e R t b e a t t y 10 milho. Para se manterem quentes, comiam à volta do lume....
Transcript of ROBERT BEATTY o b e R t b e a t t y 10 milho. Para se manterem quentes, comiam à volta do lume....
Dedicado à minha mulher, Jennifer, que desde
o início ajudou a moldar esta história, e às nossas filhas
– Camille, Genevieve e Elizabeth –, que serão sempre
o nosso primeiro público, e também o mais importante.
9
1
Serafina abriu os olhos e perscrutou a oficina obscurecida em
busca de alguma ratazana estúpida o suficiente para entrar no
seu território enquanto ela dormia. Sabia que andavam por ali,
no limite das suas rondas noturnas, rastejando pelas fendas e som-
bras da infindável cave da casa enorme, sempre prontas a roubar
tudo o que lhes fosse possível das cozinhas e despensas. Passara a
maior parte do dia a dormitar nos seus recantos favoritos, mas era
ali, enroscada sobre o velho colchão por detrás da caldeira ferru-
genta, no ambiente familiar da oficina, que mais se sentia em casa.
Martelos, chaves inglesas e engrenagens pendiam das vigas rústicas e
o ar estava cheio do odor familiar a óleo lubrificante. O seu primeiro
pensamento, ao olhar em redor e escutar os sons da escuridão, foi
que aquela parecia uma boa noite para caçar.
O seu pai, que anos antes trabalhara na construção da Man-
são Biltmore e desde então vivera na cave, sem pedir nem receber
autorização para tal, dormia na cama que construíra secretamente
atrás das prateleiras. As brasas reluziam no velho barril metálico
sobre o qual, horas antes, cozinhara o jantar de galinha e papas de
R o b e R t b e a t t y
10
milho. Para se manterem quentes, comiam à volta do lume. Como
de costume, ela comera a galinha, mas deixara as papas no prato.
– Come tudo – resmungou o pai.
– Já comi – respondeu ela, pousando o prato de lata meio vazio.
– Tudo – insistiu, empurrando o prato para junto dela –, ou nunca
vais ficar maior do que um leitãozinho. – O pai comparava-a a um
leitãozinho escanzelado sempre que queria espicaçá-la, achando que
ficaria tão furiosa que enfiaria as horríveis papas pela goela abaixo,
apesar de as odiar, mas nunca funcionava. Já não funcionava. – Come
as tuas papas, leitãozinho – repetiu, tentando picá-la.
– Eu não vou comer as papas, Papá – desafiou-o ela, esboçando
um sorriso –, por mais vezes que as ponhas à minha frente.
– São só milho moído, rapariga – argumentou ele, remexendo
o lume com um graveto de modo a dispor os troncos de madeira
como mais lhe convinha. – Toda a gente come as papas menos tu.
– Tu sabes perfeitamente que eu não consigo meter no bucho
nada que seja verde, nem amarelo, nem horroroso como essas papas,
Papá, por isso para de gritar comigo.
– Se eu estivesse a gritar contigo, tu reparavas – replicou ele,
remexendo uma vez mais no lume –, mas tens de comer a ceia.
– Já comi a parte que valia a pena comer – disse ela finalmente,
pondo termo à discussão.
Ao fim de algum tempo, esqueceram as papas e mudaram de tema
de conversa. Serafina sorria ao pensar nos seus jantares com o pai.
Não conseguia pensar em nada mais agradável do que conversar
com o pai – exceto, talvez, dormir no quentinho junto de uma das
pequenas janelas da cave quando o sol lhes batia.
11
S e R a f i n a e o M a n t o n e g R o
Com todo o cuidado, para não o acordar, desceu sorrateiramente
do colchão, caminhou em silêncio ao longo do chão de pedra, cheio
de areia, da oficina, e esgueirou-se para o corredor sinuoso. Ainda
a tirar ramelas dos olhos e a espreguiçar-se de braços e pernas, não
pôde evitar uma pontinha de excitação. A sensação irresistível de
iniciar uma noite novinha em folha provocava-lhe formigueiros por
todo o corpo. Sentia os músculos e todos os seus sentidos ganharem
vida, como se fosse uma coruja a distender as asas e a fletir as garras,
antes de levantar voo para a sua fantasmagórica caçada noturna.
Caminhou em silêncio pelo escuro, passando pelas rouparias,
copas e cozinhas. A cave fervilhara o dia todo com a atividade dos
criados, mas todas as divisões estavam agora vazias e escuras, tal
como ela gostava. Sabia que os Vanderbilt e os seus muitos hóspe-
des dormiam no segundo e terceiro pisos, acima dela, mas ali em
baixo tudo estava em sossego. Adorava fazer a ronda dos corredores
intermináveis e das arrecadações obscuras. Conhecia o toque e o
brilho de cada recanto, de cada fenda da parede. Estes eram os seus
domínios à noite, exclusivamente seus.
Ouviu um som ténue, como que de algo a deslizar. A noite
iniciava-se rapidamente. Parou. Pôs-se à escuta. Duas portas mais
abaixo, ouviu o som de patinhas a passarinhar sobre o chão nu.
Inclinou o corpo para a frente, ao longo da parede. Quando o som
parava, ela parava. Quando o som recomeçava, ela projetava-se uma
vez mais para a frente. Era uma técnica que aprendera sozinha aos
sete anos: mexer-se quando eles se mexem, parar quando param.
Conseguia agora ouvir as criaturas respirar, a esgravatar a pedra
com as unhas das patas, as caudas a roçar o chão. Sentia-lhes a
R o b e R t b e a t t y
12
tremura familiar dos dedos e a tensão das pernas. Esgueirou-se
pela porta semiaberta para o interior da arrecadação e avistou-as
no escuro: duas ratazanas enormes, de pelagem castanha sebenta,
tinham deslizado, uma de cada vez, pelo cano de esgoto abaixo até
ao soalho. As intrusas eram obviamente novatas – caçavam insensa-
tamente baratas quando poderiam muito bem, em vez disso, sorver
o creme dos pastéis acabados de confecionar, mesmo ao fundo do
corredor.
Sem emitir um som ou sequer perturbar o ar, caminhou lenta
e furtivamente na sua direção. Tinha os olhos focados nelas e os
ouvidos captavam-lhes todos os sons – conseguia até farejar-lhes o
nojento fedor a esgoto. Entretanto, as ratazanas prosseguiam a sua
atividade nojenta, sem se aperceberem minimamente da sua presença.
Deteve-se a um metro delas, oculta na escuridão de uma sombra,
pronta para o salto. Era este o seu momento preferido, o instante
imediatamente antes de se lançar sobre a presa. O corpo balançava-
-lhe ligeiramente para trás e para a frente, afinando o ângulo de
ataque. Até que, por fim, se lançou. Num movimento rápido e explo-
sivo, agarrou com as mãos nuas as ratazanas, que se contorceram,
guinchando sonoramente.
– Apanhei-vos, criaturas ascorosas! – exclamou em tom sibilante.
– A ratazana mais pequena debatia-se aterrorizada, desesperada por
se escapar, mas a maior contorceu-se e mordeu-lhe a mão. – Não há
cá mais disso! – rosnou, apertando firmemente o pescoço da criatura
entre o polegar e o indicador.
Os bichos contorciam-se freneticamente, mas ela segurava-os
com firmeza, não os deixando fugir. Levara algum tempo a aprender
13
S e R a f i n a e o M a n t o n e g R o
essa lição quando era mais nova – depois de apanhar os ratos, havia
que apertá-los com força, sem afrouxar a pressão, houvesse o que
houvesse, ainda que as suas pequenas garras nos arranhassem e as
suas caudas escamosas se nos enrolassem em torno da mão, como
uma nojenta cobra cinzenta.
Finalmente, ao fim de vários segundos de luta furiosa, as rataza-
nas exaustas perceberam que nunca lhe conseguiriam fugir. Ficaram
então imóveis, olhando-a com ar desconfiado, com uns olhos negros
semelhantes a pequenas contas. Os seus narizinhos ranhosos e os
bigodes perversamente compridos vibravam de medo. A ratazana
que a mordera enrolou-lhe lentamente a cauda longa e escamosa
duas voltas em torno do pulso, procurando ainda ganhar vantagem
suficiente para se libertar.
– Nem tentes – advertiu. Ainda a sangrar da mordidela, sobrava-
-lhe pouca paciência para os ardis da criatura. Já antes fora mordida,
mas nunca se habituara especialmente à ideia.
Segurando os animais sinistros no interior dos punhos cerrados
com firmeza, transportou-os corredor fora. Sabia-lhe bem apanhar
duas ratazanas antes da meia-noite, ainda por cima exemplares par-
ticularmente feiosos, do tipo capaz de roer um buraco numa saca
de serapilheira para chegar ao grão lá dentro, ou de fazer cair para
o chão ovos de uma prateleira para lhes quebrar a casca e se ban-
quetear com o conteúdo.
Subiu as velhas escadas de pedra que conduziam ao exterior
e caminhou pelos terrenos da mansão, iluminados pelo luar, até
chegar à borda da floresta. Aí, atirou as ratazanas para o meio das
folhas.
R o b e R t b e a t t y
14
– Agora desapareçam daqui para fora e não voltem! – gritou-
-lhes – Da próxima, não vou ser tão simpática!
As criaturas rebolaram pelo chão da floresta devido à força com
que as projetara. Detiveram-se a tremer, à espera de um golpe de
misericórdia. Quando viram que este não chegava, voltaram-se e
olharam-na assombradas.
– Desapareçam antes que eu mude de ideias – advertiu ela.
Sem hesitarem nem mais um instante, as ratazanas fugiram por
entre as folhas caídas. Noutros tempos, as ratazanas que ela apa-
nhava não tinham tanta sorte: deixava as suas carcaças junto à cama
do pai, para lhe mostrar o trabalho da noite. Mas há muito que
abandonara esse hábito.
Desde pequenita que se dedicava a estudar meticulosamente
os homens e mulheres que trabalhavam na cave, pelo que sabia
que a cada um deles estava atribuído um trabalho específico. Por
exemplo, era responsabilidade do pai reparar os elevadores, os
elevadores da comida, os mecanismos das janelas, os sistemas de
aquecimento a vapor e todas as outras engenhocas que assegura-
vam o funcionamento da enorme mansão de duzentas e cinquenta
divisões. Estava até encarregado de assegurar o bom funcionamento
do órgão de tubos do Grande Salão de Banquetes, durante os incrí-
veis bailes organizados pelo Sr. e a Sra. Vanderbilt. E para além do
pai, havia ainda cozinheiros, criadas de cozinha, carvoeiros, limpa-
-chaminés, lavadeiras, pasteleiros, criadas, criados de libré e muitos
outros.
– Eu tenho um trabalho como toda a gente, Papá? – perguntara
Serafina quando tinha dez anos.
15
S e R a f i n a e o M a n t o n e g R o
– É claro que tens – respondeu ele, mas fazendo-a suspeitar de
que lhe mentia para não lhe ferir os sentimentos.
– E qual é? Qual é o meu trabalho? – insistiu, pressionando-o.
– Na verdade, é um trabalho extremamente importante aqui em
casa, e ninguém o faz melhor que tu, Sera.
– Diz-me, Papá. Que trabalho é que é?
– Acredito que és a CCR da Mansão Biltmore.
– O que é que isso quer dizer, CCR? – perguntou ela, toda excitada.
– Tu és a Caçadora-Chefe de Ratazanas – respondeu ele.
Qualquer que tivesse sido a intenção daquelas palavras, grava-
ram-se-lhe na mente. Recordava-as ainda agora, dois anos passados,
e de como o seu pequeno peito inchara e sorrira orgulhosa ao ouvir
aquelas palavras: Caçadora-Chefe de Ratazanas. Como lhe haviam
soado bem... Toda a gente sabia que os roedores eram um pro-
blema de monta num sítio como Biltmore, com os seus barracões,
prateleiras, celeiros e o diabo-a-sete. E era bem verdade que ela
demonstrara um talento inato para apanhar as nojentas, mas astu-
tas criaturas de quatro patas que surripiavam comida e largavam
excrementos por toda a parte, ameaçando disseminar doenças, e
logravam sempre escapar aos adultos, apesar das ratoeiras e vene-
nos. Os ratinhos, tímidos e atreitos a erros induzidos pelo pânico
em momentos cruciais, apanhava-os com a maior das facilidades.
Mas as ratazanas davam-lhe que fazer todas as noites, e com elas é
que afinara os seus talentos. Agora tinha doze anos. E o seu nome
era esse: Serafina. CCR.
Ao observar as duas ratazanas correndo pela floresta, porém, uma
estranha e poderosa sensação assenhoreou-se de si. Tinha vontade
R o b e R t b e a t t y
16
de as seguir. Queria ver o que viam elas por debaixo de folhas e
gravetos. Explorar as rochas e os vales, regatos, ribeiros e outras
coisas de encher o olho. Mas o pai proibira-a.
«Nunca entres na floresta», alertara-lhe ele, vezes sem conta. «Há
lá forças negras que ninguém entende, coisas que não são naturais
e te podem fazer muito mal.»
De pé, na orla da floresta, olhava, o mais longe que a vista alcan-
çava, para o interior do arvoredo. Anos e anos a fio ouvira histó-
rias de gente que se perdera na floresta para nunca mais voltar.
Interrogava-se sobre que perigos se esconderiam lá dentro. Seria
magia negra, demónios, ou, quem saberia dizer, algum tipo de bestas
hediondas? Que coisas eram essas que o pai tanto temia?
Era capaz de discutir com ele por tudo e coisa nenhuma, só pelo
gozo que lhe dava – por exemplo, por recusar as papas, passar o dia
a dormir e a noite a caçar, ou espiar os Vanderbilt e seus hóspedes –,
mas este tema era tabu. Já sabia que quando ele pronunciava aquelas
palavras a coisa era séria. Por muita fanfarronice que lhe saísse da
boca para fora, por muito que espiolhasse pela casa toda, por vezes
era melhor ficar quietinha e fazer o que lhe diziam, percebendo que
essa era uma boa maneira de continuar a respirar.
Sentindo-se estranhamente só, desviou o olhar da floresta e de
volta à mansão. A Lua erguia-se acima dos íngremes telhados
de ardósia da casa, refletindo-se nos painéis de vidro que cobriam
o Jardim de Inverno. As estrelas cintilavam sobre as montanhas.
A relva, as árvores e as flores dos belos terrenos magnificamente
cuidados brilhavam ao luar da meia-noite. Apercebia-se de cada por-
menor, de cada sapo, cada caracol, cada uma das criaturas noturnas.
17
S e R a f i n a e o M a n t o n e g R o
Um pássaro-mimo solitário entoava a sua canção noturna a partir de
uma magnólia, e as suas crias, aconchegadas no seu ninho minúsculo
construído por entre as glicínias trepadeiras, farfalhavam enquanto
dormiam.
Sentiu-se animada pela ideia de que o seu pai ajudara a construir
tudo isto. Fora um de entre as centenas de canteiros, marceneiros e
outros artífices que tinham vindo de Asheville, das montanhas em
redor, para construir a Mansão Biltmore, muitos anos antes. Per-
manecera ao serviço para assegurar a manutenção da maquinaria.
Mas quando todos os outros trabalhadores da cave iam para casa à
noite, ter com as respetivas famílias, ele e Serafina escondiam-se por
entre a canalização fumegante e as ferramentas metálicas, na oficina,
como se fossem passageiros clandestinos na casa das máquinas de
um grande navio. A verdade é que não tinham mais nenhum sítio
para onde ir, nem familiares com quem se reunir. Sempre que ela lhe
fazia perguntas acerca da mãe, o pai recusava-se a abordar o tema.
Assim, não havia mais ninguém para além dela e do pai, e faziam
da cave a sua casa desde que se recordava.
– Porque é que nós não vivemos nos alojamentos dos criados,
nem na vila, como os outros trabalhadores, Papá? – perguntara ela
muitas vezes.
– Não penses nisso – resmungava ele à laia de resposta.
Ao longo dos anos, o pai ensinara-a a ler e escrever bastante bem,
e contara-lhe inúmeras histórias acerca do mundo, mas nunca se
dispusera muito a falar sobre o que ela mais queria, isto é, aquilo
que lhe ia bem fundo no coração – o que acontecera à sua mãe,
por que razão não tinha irmãos nem irmãs, e ela e o pai não tinham
R o b e R t b e a t t y
18
amigos que os viessem visitar. Por vezes, só lhe apetecia entrar nele e
abaná-lo por dentro, a ver o que aconteceria; quase sempre, porém,
o pai limitava-se a dormir toda a noite e trabalhar todo o dia, fazer
o jantar à noite e contar-lhe histórias. Levavam uma vida bastante
boa os dois. Assim, ela não insistia, por saber que ele não gostava
de ser abanado. E deixava-o em paz.
À noite, quando todos na grande casa se iam deitar, esgueirava-
-se para o andar de cima e tirava das prateleiras livros para ler à luz
do luar. Ouvira por acaso o mordomo gabar-se, a um escritor de
visita à casa, de que o Sr. Vanderbilt reunira vinte e dois mil livros,
dos quais só metade cabia na Sala da Biblioteca. Os outros estavam
guardados em mesas e estantes por toda a casa. Para Serafina, estes
últimos eram como bagas maduras, prontas a ser colhidas, e dema-
siado apetecíveis para se lhes resistir. Ninguém parecia dar pela
falta de um qualquer livro, o qual, em todo o caso, devolvia ao seu
lugar poucos dias depois.
Lera sobre as grandes batalhas entre os estados, com bandeiras
esfarrapadas a esvoaçar, e também sobre os monstros de ferro fume-
gante que lançavam as pessoas pelos ares. Sentia ganas de se esguei-
rar à noite para o cemitério com Tom Sawyer e Huckleberry Finn, e
naufragar na companhia da Família do Robinson Suíço. Havia noites
em que ansiava por ser uma das quatro irmãs de Mulherzinhas, e
gozar os carinhos da sua mãe carinhosa. Noutras noites, imaginava
encontrar-se com os fantasmas de Sleepy Hollow ou ouvir bater,
bater, bater à porta o corvo negro de Edgar Allan Poe. Gostava de
falar ao pai dos livros que lia, e era frequente congeminar as suas
próprias histórias, cheias de amigos imaginários, estranhas famílias
19
S e R a f i n a e o M a n t o n e g R o
e fantasmas noturnos. Ele, porém, nunca se mostrava interessado
nas suas histórias de fantasia e terror. Era um homem demasiado
terra a terra para esse tipo de coisas, e pouco amigo de acreditar em
outra coisa que não tijolos, parafusos e coisas palpáveis em geral.
Especulava cada vez mais consigo própria como seria ter algum
tipo de amigo secreto, que o pai não conhecesse, alguém com quem
pudesse conversar sobre isto e aquilo. Infelizmente, não havia exa-
tamente muitas crianças da sua idade a esgueirarem-se para a cave
a meio da noite.
Alguns dos criados dos mais baixos escalões da casa, como os
serventes de cozinha e os encarregados das caldeiras, que traba-
lhavam na cave e iam dormir a casa todas as noites, haviam-na vis-
lumbrado aqui ou ali e sabiam vagamente quem era, mas as criadas
e lacaios que trabalhavam nos pisos principais não a conheciam.
E os senhores da casa, esses, por certo nem sabiam da sua existência.
– Os Vanderbilt são boa gente, Sera – dissera-lhe o pai –, mas não
são o nosso tipo de gente. Esconde-te quando eles aparecerem. Não
deixes que ninguém te ponha a vista em cima. E, o que quer que
faças, não digas o teu nome a ninguém, nem quem tu és. Ouviste?
Serafina ouvia, sim. Ouvia muito bem. Era capaz de ouvir um rato
mudar de ideias. Só não sabia era exatamente por que razão ela e o
pai viviam como viviam. Não sabia por que razão o pai a escondia
do mundo, ou o que o levava a ter vergonha dela. Mas uma coisa
sabia seguramente: que o amava com todo o coração, e a última
coisa que queria no mundo era causar-lhe problemas.
Especializara-se por isso em andar de um lado para o outro sem
ser detetada, não apenas para melhor caçar ratazanas, mas também
R o b e R t b e a t t y
20
para evitar as pessoas. Quando se sentia particularmente corajosa,
ou então solitária, subia aos pisos de cima, misturando-se com as
pessoas que se atarefavam de um lado para outro. Agachava-se,
rastejava, ocultava-se. Era pequena para a idade que tinha, e de pé
ligeiro. As sombras eram suas amigas. Espiolhava os convidados
bem vestidos que chegavam em carruagens esplêndidas, com os seus
cavalos magníficos. Ninguém lá de cima alguma vez a vira escondida
debaixo da cama ou detrás da porta. Ninguém alguma vez reparara
nela no fundo do guarda-fatos, quando penduravam os sobretudos.
Quando as senhoras e senhores iam passear pelos jardins, ela seguia
dissimuladamente a seu lado sem que se apercebessem, e ouvia
tudo o que diziam. Adorava ver as meninas, nos seus vestidos azuis
e amarelos, com as fitinhas a dançar no cabelo, e corria junto a elas
quando saltitavam pelo jardim fora. Quando as crianças jogavam às
escondidas, não faziam a mínima ideia de que havia mais um jogador.
Às vezes chegava a ver o Sr. e a Sra. Vanderbilt a passear de braço
dado, ou avistava o sobrinho deles, de doze anos, a montar o seu
cavalo pela propriedade fora, com o seu cão preto de pelo lustroso
a correr a seu lado.
Observara-os a todos, mas nenhum deles alguma vez a vira – nem
mesmo o cão. Ultimamente, perguntava-se o que aconteceria se a
vissem. E se o rapaz a vislumbrasse? O que faria ela? E se o cão
dele a perseguisse? Teria tempo para trepar a uma árvore? Por vezes
gostava de imaginar o que diria se se deparasse face a face com a Sra.
Vanderbilt. Como está, Sra. V., sou eu que lhe apanho as ratazanas.
Quer que as mate mesmo, ou dou-lhes só um safanão? Por vezes,
imaginava-se de vestidos fantasiosos, fita no cabelo e sapatinhos
21
S e R a f i n a e o M a n t o n e g R o
brilhantes nos pés. De outras vezes, ansiava não apenas por escutar
furtivamente as pessoas à sua volta, mas também por conversar com
elas. Não apenas vê-las, mas também ser vista.
Quando vagueava à luz do luar pelos amplos relvados, regres-
sando a casa, perguntava-se o que aconteceria se um dos convidados,
ou talvez, quem sabe, o jovem amo, no seu quarto do segundo andar,
calhasse acordar nesse preciso momento, olhasse pela janela, e visse
uma rapariga misteriosa a caminhar sozinha à noite. O pai nunca
lhe falava nisso, mas sabia que não tinha exatamente uma aparência
normal, com o seu corpinho escanzelado, só músculo, osso e energia.
Não tinha um único vestido, pelo que usava habitualmente uma
das velhas camisas de trabalho do pai, que apertava à volta da cin-
tura estreita com um cordão que encontrara na oficina. Ele não lhe
comprava roupa porque não queria que as pessoas da vila fizessem
perguntas e começassem a meter o bedelho; coscuvilhice era algo
que não tolerava.
O longo cabelo dela não era de uma única cor como o das pes-
soas normais, mas de matizes variados dourados e castanho-claros.
As maçãs do rosto apresentavam uma angulosidade peculiar. E tinha
uns olhos enormes, da cor do âmbar. Via tão bem à noite como
durante o dia. Até mesmo as suas silenciosas competências de caça-
dora não eram exatamente normais. Todas as pessoas que alguma vez
encontrara, especialmente o pai, faziam tanto barulho ao caminhar
que era como se fossem um daqueles grandes cavalos Belgas de traba-
lho, que puxavam as alfaias agrícolas nos campos do Sr. Vanderbilt.
Tudo aquilo a fazia divagar, levantando o olhar para as janelas
da grande mansão: com que sonhavam as pessoas que dormiam
R o b e R t b e a t t y
22
naqueles quartos, com os seus cabelos de uma só cor, os seus longos
narizes pontiagudos e os seus grandes corpos deitados em camas
macias, na escuridão gloriosa das suas noites? Por que ansiavam?
O que os fazia rir ou pular? O que sentiam dentro de si? Quando
jantavam, à noite, as crianças comiam as papas de milho, ou só a
galinha?
Ao deslizar pelas escadas abaixo, de volta à cave, ouviu alguma
coisa num corredor distante. Deteve-se à escuta, mas não conseguiu
identificar o som. Ratazana não era, disso estava bem certa. Algo
de muito maior, mas o quê? Curiosa, caminhou na direção do som.
Passou pela oficina do pai, pelas cozinhas, e também pelas outras
divisões que conhecia bem, penetrando nas áreas mais profundas
onde caçava menos vezes. Ouviu portas fechar-se, e em seguida pas-
sos e ruídos abafados. O coração começou a palpitar-lhe ao de leve
no peito. Alguém caminhava pelos corredores da cave. Da sua cave.
Aproximou-se. Não era o criado que recolhia o lixo todas as
noites, nem um dos lacaios a preparar um petisco de fim de noite
para um hóspede – desses, conhecia-lhes bem o som dos passos. Por
vezes o ajudante do mordomo, de onze anos, detinha-se no corredor
e comia alguns dos bolinhos do tabuleiro de prata que o mordomo
o mandara ir buscar. Ela postava-se junto dele, mesmo ao virar da
esquina, no escuro, fingindo que eram amigos e conversavam no
prazer da companhia um do outro. Mas, pouco depois, o rapaz
limpava o açúcar em pó dos lábios e partia lesto escadas acima para
compensar o tempo perdido. Mas desta vez não era ele.
Quem quer que fosse, parecia calçar sapatos de solas duras –,
sapatos caros. Mas um cavalheiro não tinha nada a fazer nesta zona
23
S e R a f i n a e o M a n t o n e g R o
da casa. Porque haveria um senhor de vaguear pelos corredores
escuros a meio da noite? Cada vez mais curiosa, seguiu o desconhe-
cido, assegurando-se de não ser vista. Sempre que, furtivamente,
se conseguia aproximar o suficiente para quase o vislumbrar, o
mais que conseguia distinguir era a sombra de uma forma alta
e negra, segurando uma lanterna palidamente iluminada. E havia
uma outra sombra, alguém ou algo junto dele, mas Serafina não se
atrevia a aproximar-se o suficiente para saber de quem ou de quê
se tratava.
A cave era enorme, com diversos quartos, todos diferentes, cor-
redores e andares, construídos sobre o declive de terra em que se
sustentava a casa. Algumas zonas, como as cozinhas e a lavandaria,
tinham paredes de gesso macio e janelas. As divisões, aí, apresen-
tavam acabamentos rudimentares, mas eram limpas e secas, apro-
priadas à lide diária dos criados. Mas as secções mais distantes da
estrutura subterrânea embrenhavam-se profundamente nos buracos
húmidos e terrosos das enormes fundações. Aí, a argamassa escura
e endurecida parecia escorrer por entre os blocos de pedra gros-
seiramente talhados que formavam paredes e teto. Era raro entrar
nessas divisões, pois eram frias, sujas e bafientas.
De súbito, os passos mudaram de direção, aproximando-se dela.
A chiar, cinco ratazanas vieram a correr à frente dos passos, mais
aterrorizadas que quaisquer roedores dos muitos que já vira. As
aranhas rastejaram das fendas das paredes. Baratas e centopeias
emergiram do chão de terra. Assombrada com o que via, Serafina
susteve a respiração e colou-se à parede, cheia de medo como um
láparo a correr sob a sombra de um gavião.
R o b e R t b e a t t y
24
Enquanto o homem se encaminhava para ela, ouviu mais um som.
Era uma agitação arrastada, como que de uma pessoa pequena – de
chinelos nos pés, talvez uma criança –, mas havia algo de errado.
Os pés da criança raspavam o chão, por vezes escorregavam... a
criança seria aleijada... não... a criança estava a ser arrastada.
– Não, por favor! Não! – choramingava a menina, com a voz a
tremer de desespero. – Não devíamos vir aqui para baixo. – Falava
como alguém que tivesse sido criado numa família bem-nascida e
frequentado uma escola fina.
– Não te preocupes. É já para aqui que vamos... – replicou o
homem, detendo-se junto à porta, do outro lado da esquina onde
Serafina se encontrava. Ouvia-lhe agora respiração, o movimento
das mãos, o farfalhar da roupa. Sentiu um fogo percorrer-lhe o
corpo. Queria correr, queria fugir, mas as pernas não lhe obede-
ciam. – Não tens nada a recear, miúda – disse ele à criança. – Não
vou fazer-te mal...
A forma como pronunciou aquelas palavras provocou um arrepio
na nuca de Serafina. Não vás com ele, pensou para consigo. Não vás
com ele! A rapariga parecia pouco mais nova que ela, e Serafina que-
ria ajudá-la, mas não conseguia reunir a coragem necessária. Pres-
sionou o corpo contra a parede, certa de que seria ouvida ou vista.
As pernas tremeram-lhe, como se fossem desfazer-se debaixo de si.
Não conseguiu ver o que aconteceu de seguida, mas, de repente, a
menina lançou um grito de gelar o sangue. O som lancinante fê-la
saltar, e teve de abafar o seu próprio grito. Ouviu então uma luta,
após a qual a menina se soltou do homem e se precipitou pelo
corredor fora. Corre, miúda! Corre!, pensou Serafina para consigo.
25
S e R a f i n a e o M a n t o n e g R o
Os passos do homem desvaneceram-se ao longe, enquanto a
perseguia. Percebia-se que não corria a toda a velocidade, antes se
deslocava firmemente, sem quaisquer hesitações, como se estivesse
seguro de que a menina nunca lhe escaparia. O pai explicara-lhe que
era assim que os lobos vermelhos perseguiam e matavam veados nas
montanhas – com uma resistência persistente, e não com explosões
de velocidade.
Não sabia o que fazer. Esconder-se num canto escuro, esperando
que o homem não a descobrisse? Ou fugir em conjunto com as
ratazanas e aranhas aterrorizadas, enquanto tinha oportunidade de
o fazer? Tinha vontade de correr para os braços do pai, mas, e a
criança? A menina era tão indefesa, tão lenta, débil e assustada
e, mais do que tudo o resto, precisava de um amigo que a ajudasse
a lutar e defender-se. Serafina queria ser essa amiga; queria ajudá-la,
mas não conseguia obrigar-se a seguir nessa direção.
Ouviu então a menina gritar de novo. Aquela maldita ratazana
nojenta vai matá-la, pensou para consigo. Vai matá-la. Com um
impulso de raiva e coragem, correu na direção do som. As pernas
pareciam explodir-lhe de velocidade. A mente inflamava-se-lhe de
medo e excitação. Dobrou esquina após esquina, mas quando che-
gou à escadaria de pedra coberta de musgo que conduzia às entra-
nhas mais profundas da subcave, deteve-se, recuperando o fôlego,
e abanou a cabeça. Era um sítio frio, húmido, nojento, horrível, que
sempre fizera o possível por evitar – especialmente no inverno. Ouvia
histórias segundo as quais se guardavam cadáveres na subcave, de
inverno, quando a terra estava demasiado congelada para se con-
seguir abrir uma campa. Por que raio teria a miúda descido até lá?
R o b e R t b e a t t y
26
Seguiu, hesitante, pelas escadas molhadas e pegajosas abaixo,
levantando e sacudindo o pé de cada vez que o pousava na pedra
pegajosa. Quando por fim chegou ao fundo, seguiu ao longo de um
corredor comprido e inclinado, de cujo teto pingava uma espécie
de lodo castanho. O sítio sórdido e bafiento causava-lhe arrepios na
espinha, mas continuou a caminhar. Tens de a ajudar, repetia para
com os seus botões. Não podes voltar atrás. Prosseguiu ao longo de
um labirinto de túneis sinuosos. Virou à direita, depois à esquerda, e
de novo à esquerda, depois à direita, até perder a noção da distância
percorrida. Foi então que ouviu sons de luta e gritos mesmo ao virar
da esquina. Estava muito perto.
Hesitou, assustou-se e o coração bateu-lhe com tanta força den-
tro do peito que parecia querer explodir. Sentiu o corpo tremer por
todos os lados. Não queria dar nem mais um passo, mas os amigos
são para ajudar os amigos. Não sabia muito acerca da vida, mas
isso, sabia seguramente, e não ia fugir a correr como um esquilo
amedrontado, no preciso momento em que alguém mais precisava
dela. Tremendo por todo o corpo, controlou-se o melhor que pôde,
respirou bem fundo, e obrigou-se a dobrar a esquina.
Uma lanterna quebrada jazia deitada no chão de pedra, com o
vidro em cacos, mas a chama ainda acesa. Iluminada pela sua luz
cada vez mais débil, uma menina de vestido amarelo lutava pela
vida. Um homem alto, de manto negro com capuz, mãos manchadas
de sangue, agarrava a menina pelos pulsos. Esta tentava libertar-se.
– Não! Largue-me! – gritava ela.
– Acalma-te lá – disse-lhe o homem, com a voz a tremer de raiva,
num tom escuro e desumano. – Não te vou fazer mal, miúda...
27
S e R a f i n a e o M a n t o n e g R o
– repetiu. A rapariga tinha cabelo louro encaracolado e pele branca
e pálida. Lutava por escapar, mas o homem do manto negro puxou-
-a para junto de si e imobilizou-a nos seus braços, enquanto ela se
debatia e lhe golpeava o rosto com os pequeninos pulsos.
– Se ficares quieta, isto acaba já – alertou-a ele, puxando-a ainda
mais para junto de si. Serafina apercebeu-se subitamente de que
cometera um erro terrível. Aquilo excedia as suas possibilidades.
Sabia que deveria ajudar a menina, mas estava tão aterrorizada que
os pés se lhe colavam ao chão. Nem respirar conseguia, quanto mais
lutar. Ajuda-a!, parecia gritar-lhe o seu pensamento. Ajuda-a! Ataca
a ratazana! Ataca a ratazana!
Conseguiu finalmente reunir coragem e precipitou-se para cima
do homem, mas, nesse preciso momento, o manto de cetim negro
ergueu-se, flutuando, como se possuído por um espírito fumarento.
A menina gritou. As pregas do manto envolveram-na como os tentá-
culos de uma serpente faminta. O manto parecia mover-se, animado
por vontade própria, embrulhando-se, retorcendo-se, com um pertur-
bador som de chocalhos, como as ameaças sibilantes de uma centena
de cascavéis. Serafina viu o rosto horrorizado da menina olhando-a
do interior das pregas do manto que se fechava sobre ela, com os seus
olhos azuis suplicantes arregalados de terror. Ajuda-me! Ajuda-me!
Então, as pregas do manto cerraram-se sobre ela, o grito emude-
ceu, e a menina desapareceu no nada, restando apenas a escuridão.
Com o choque, Serafina sentiu um nó apertar-lhe a garganta.
Num instante, a menina debatia-se tentando libertar-se, no seguinte
desaparecia no ar. O manto consumira-a. Esmagada pela confusão,
dor e medo, ficou ali parada, atordoada e fora de si.
R o b e R t b e a t t y
28
Durante vários segundos, o homem pareceu vibrar violentamente
e uma auréola macabra brilhou à sua volta, numa névoa negra e bru-
xuleante. Um odor horrivelmente nauseabundo, como que de entra-
nhas podres, invadiu as narinas de Serafina, forçando-a a projetar
a cabeça para trás. Contraiu o nariz e a boca, e tentou não inspirar.
Sentindo-se asfixiar, as contrações da garganta foram sonoras
o suficiente para o homem do manto negro se voltar subitamente e
vê-la pela primeira vez. Foi como se uma garra gigante a prendesse
pelo peito. As pregas do capuz envolveram-lhe o rosto, mas ainda
conseguiu ver que nos olhos do homem brilhava uma luz sobrena-
tural. Permaneceu imóvel, paralisada, completamente aterrorizada.
– Eu não te faço mal, minha filha... – sussurrou o homem com
voz roufenha.