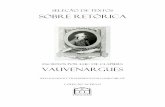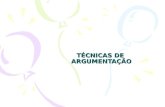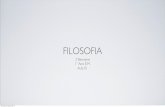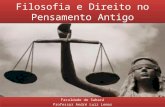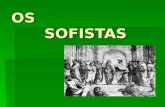Sobre a retórica e os sofistas
-
Upload
eduardo-amaral -
Category
Documents
-
view
4.856 -
download
0
description
Transcript of Sobre a retórica e os sofistas

SOBRE A RETÓRICA E OS SOFISTAS* Eduardo Amaral
A retórica é a arte de convencer os outros
pelo discurso, convencer de que sou eu
quem carrega a melhor opinião, de que
minha opinião é a mais justa. Não por acaso, é na
Grécia Antiga que a retórica conhece seu primeiro
desenvolvimento, em meio à democracia que nascia.
Basta a referência às Assembleias e aos tribunais
para verificarmos como a palavra passa a ocupar um
lugar central na vida em sociedade, tal como os gre-
gos a praticaram.
Contexto histórico — A democracia grega criou
uma nova forma de relação entre os homens, em que
pouco importava a classe social do cidadão, se era
membro da aristocracia guerreira, que antes detinha
todo o poder de mando sobre a pólis, ou se era um
simples artesão, comerciante ou agricultor: eles são
todos iguais, igualmente cidadãos, e todos os cida-
dãos têm o mesmo direito de tomar a palavra na
Assembleia onde discutem os destinos da cidade. É
importante lembrarmos entretanto que apenas eram
considerados “cidadãos”, com direito a voz e voto, os
homens adultos nascidos na cidade (pólis) – que em
Atenas, o berço da democracia, correspondia a um
décimo da população. Os outros 90% estavam exclu-
ídos dos direitos de cidadania: obviamente os escra-
vos, os metecos (estrangeiros, nascidos em outra
cidade), as mulheres e as crianças.
Seja como for, é neste chão democrático que a “arte
da palavra” que se desenvolve. Todos podem expres-
sar suas opiniões sobre o mundo e sobre os rumos
da cidade. A questão é conseguir, a partir do próprio
discurso, convencer os demais cidadãos da sua jus-
teza, de sua verdade. Ser convincente. Mas se cada
um tem uma opinião diferente, cada um argumenta
como pode, em favor de sua própria opinião e contra
as opiniões alheias. E o mesmo ocorre nos tribunais,
quando uma parte acusa e outra se defende, em um
combate de discursos que querem convencer os
jurados sobre uma ou outra versão dos fatos.
É neste contexto que devemos entender o surgimen-
to dos sofistas: eram mestres da retórica, da arte do
* Registro das aulas no primeiro semestre de 2010 para as turmas de 2º e 3º anos do ensino médio e publicado no blog CRÔNICAS DE ESCOLA: http://edu74.wordpress.com
discurso, de como compor um discurso conveniente
às circunstâncias e convincente para o público. E
isto, ensinavam a quem quisesse e, sobretudo, pu-
desse pagá-los. Quando a palavra toma lugar central
no modo pelo qual a sociedade se organiza, a retóri-
ca torna-se um instrumento importante para quem
pretenda êxito nos debates da Assembleia, influenci-
ar nas decisões a serem tomadas, conquistar a ade-
são do público à sua opinião.
Os sofistas silenciados — Contudo e antes de mais
nada, é necessário mencionarmos aqui a má fama
que envolve os sofistas. A visão que a tradição da
história da Filosofia nos legou dos sofistas é a ima-
gem de um charlatão, manipulador, de alguém que
usa da ignorância alheia em prol de si mesmo, fazen-
do prevalecer uma aparente verdade em detrimento
da própria verdade. Sofisma tornou-se sinônimo de
burla, de enganação: “argumento ou raciocínio con-
cebido com o objetivo de produzir a ilusão da verda-
de, que, embora simule um acordo com as regras da
lógica, apresenta, na realidade, uma estrutura inter-
na inconsistente, incorreta e deliberadamente enga-
nosa”; e sofista, “aquele que utiliza a habilidade retó-
rica no intuito de defender argumentos especiosos
ou logicamente inconsistentes” (Dicionário Houaiss).
Tal imagem negativa se deve em grande parte ao
combate às ideias dos sofistas feita por Platão e,
depois dele, Aristóteles. É deles aquele julgamento
que prevaleceu na história da Filosofia. Além disso,
os textos produzidos pelos sofistas se perderam e a
maior parte das referências que dispomos sobre o
que eles pensaram e produziram nos chegou sempre
por vias indiretas, na obra de seus acusadores. Di-
gamos então que no tribunal da história, venceram
os filósofos e foram vencidos os sofistas, condenados
assim ao silêncio.
São bastante recentes, desde um renovado interesse
pela retórica clássica no século XIX, as tentativas de
recuperar o ideário sofístico, depurando-o das críti-
cas que lhe foram feitas. O que parece hoje incontes-
tável é que, como nenhuma outra obra elaborada no
período clássico, é nos sofistas que encontraremos a
formação de um ideário deliberadamente compro-
missado com uma visão-de-mundo a um só tempo
humanística e democrática, enraizada no contexto
histórico que o engendrou.
1

SOBRE A RETÓRICA E OS SOFISTAS
Os sábios sofistas — Mais do que apenas ensinar
retórica, eram considerados “sábios” — e por isso
eram chamados de sofistas. A palavra grega para
designá-los, sophistés, deriva etimologicamente
de sophos (sábio) e sophia (sabedoria); é que a sabe-
doria que os sofistas detinham era distinta daquela
do sophos. Expliquemo-nos melhor. Sophos se refere
primeiramente àquele que detém um saber prático,
um “saber-fazer”; a “sabedoria”, neste caso, se refere
antes ao domínio de uma técnica. Neste sentido, o
artesão é sábio (sophos) por saber-fazer com destre-
za a sua arte, seja ela qual for.
Assim, por exemplo, um tecelão é sábio e sua sabe-
doria é fazer tecido: sabe com destreza trançar os
fios, amarrá-los, ou mesmo operar o tear. O sofista é
sábio também pelo domínio de uma arte, ele sabe-
fazer discursos. Contudo,sophistés é também “espe-
cialista no saber, possuidor de muitos saberes”. É
que, na arte de compor discursos, os sofistas acumu-
lavam toda a sabedoria da época e eram capazes de
discorrer sobre todas as artes e técnicas com a mes-
ma eloquência. Dito de outro modo e voltando ao
nosso exemplo: diferentemente do tecelão que sabe-
fazer tecido, o sofista sabe falar de tecidos, sobre o
processo de sua fabricação, sua história desde a
origem da técnica de traçar os fios de algodão, dos
diferentes usos e costumes das vestimentas em dife-
rentes culturas — tudo isso ele fala com mais elo-
quência do que o mais hábil dos tecelões, que não
saberá falar com a mesma desenvoltura sobre aquilo
que ele mesmo faz.
O mesmo vale para as outras técnicas, inclusive a-
quelas consideradas e mais estimadas na vida públi-
ca, na política. A arte da guerra, a estratégia militar,
as variadas legislações das diferentes cidades, a en-
genharia e arquitetura — sobre todos os assuntos, os
sofistas buscavam conhecer, detendo deste modo um
vasto saber. Mais do que ensinar retórica, pela retó-
rica ensinavam também sobre os assuntos de inte-
resse comum. Os sofistas eram cultos, eruditos, ver-
sados em vários assuntos, de “cultura geral”, da arte
e da literatura, dos mitos e histórias, das técnicas,
das leis e tudo o mais. Eram, ao seu tempo, enciclo-
pedistas e — sobretudo — educadores. Este o maior
projeto da sofística: tornar acessível a todos os cida-
dãos a sabedoria que os homens acumularam ao
longo de sua história.
Relativismo como visão-de-mundo
A retórica, já dissemos, é a arte de produzir
o convencimento através do discurso; trata-
se de saber como convencer os outros de que sua
opinião é a mais justa e verdadeira. É por isto que,
para os sofistas, a verdade é sempre “relativa”, ou
seja, ela sempre dependerá do êxito no exercício de
convencimento; uma vez que os outros se conven-
çam de que a verdade é isto e não aquilo, isto é ver-
dadeiro e aquilo é falso.
O quadrinho abaixo nos apresenta uma situação
assim. Em um primeiro momento, há uma multidão
que segue o um que fala: estão convencidos de que
ele é portador de uma verdade. Contudo, o outro que
fala consegue com seu discurso “engolir” o discurso
do primeiro, e assim vai conquistando adeptos ao
seu discurso, à sua opinião – vale dizer, à sua verda-
de – até que aquele seja vencido no debate.
(C) QUINO
Para os sofistas, não há verdade fora do discurso.
Não há uma “verdade do mundo”, a não ser por aqui-
lo que é dito sobre o mundo, o que julgaremos ser
verdadeiro ou falso. O discurso é verdadeiro, se con-
forme minha percepção dos fatos, ou ele é falso, se
contraria meu modo de ver o mundo. A palavra hu-
mana é a única portadora da verdade – e não há
2

SOBRE A RETÓRICA E OS SOFISTAS
verdade que exista para além dos discurso, e por
isso ela é “relativa” à compreensão da multidão so-
bre a adequação do discurso a sua própria percepção
do mundo.
Assim, não existe apenas uma, mas várias verdades
contraditórias e concorrentes entre si, tal como são
contraditórios os discursos de dois opositores con-
correntes numa assembleia. Não há critério suficien-
te para estabelecer de modo indiscutível entre os
dois quem é o verdadeiro portador da verdade, pois
tampouco existe essa verdade para além dos discur-
sos. Antes, tudo é discutível: o que existe é o conflito,
a disputa entre discursos para saber qual deles irá
convencer mais ouvintes e convencê-los melhor. Por
isto se diz que a verdade é uma “convenção”, porque
somos convencidos dela.
Como chegam os homens a serem convencidos de
que algo que é dito é verdadeiro? Essa é a questão
central da retórica, compreender que a partir do
discurso, se ele é corretamente composto, os homens
são levados a acreditar nisto ou naquilo. Portanto, a
retórica apoia-se não em uma “verdade absoluta”,
mas apenas na crença, naquilo que é considerado
verdadeiro, aquilo que parece ser verdadeiro, aquilo
em que os homens creem.
Em que creem os homens? Em primeiro lugar, cre-
mos que aquilo que percebemos, pelo simples fato
de assim o percebermos, é verdadeiro: nossas sensa-
ções, o que captamos ou podemos captar do mundo
pela nossa sensibilidade. Por isso, de um modo geral,
consideram os sofistas que o discurso, se quer con-
vencer, não pode contrariar a percepção comum dos
homens. Afinal, julgamos algo – algo que é enuncia-
do, que é dito por alguém – por verdadeiro quando
isto que é dito parece estar de acordo com aquilo nós
mesmos percebemos, ou aquilo que qualquer um
pode perceber.
Para os sofistas, é justo afirmar que o ser é ser perce-
bido. Por outro lado, nem por isso as percepções são
verdadeiramente verdadeiras, pois cada um pode
perceber as coisas de um modo diferente. É que a
opinião baseia-se naquilo que percebemos – na nos-
sa percepção, portanto. É como percebemos algo, um
fato, uma coisa qualquer, o mundo. É porque perce-
bemos de um determinado modo que temos a opini-
ão que temos. É mais justo dizer então que a opinião
que temos é um ponto de vista sobre um fato, uma
coisa, o “mundo”.
Então, o homem, cada homem particular, como dizi-
a Protágoras, é “a medida de todas as coisas”, que
ele crê serem verdadeiras ou falsas. A verdade não
se fixa: está em permanente transformação, a de-
pender de das circunstâncias e de quem fala, se con-
vence ou não. A verdade torna-se mundana, do ta-
manho dos homens, com a qual os homens fazem sua
própria história, tão contraditória quanto cheia de
equívocos, mas a história dos homens, a qual só eles
podem ser responsabilizados.
Acerca de Protágoras
Feita uma brevíssima expo-
sição sobre os sofistas, exa-
minemos um caso exemplar, daquele
que foi talvez um dos mais afamados
representantes da sofísti-
ca, Protágoras de Abdera. Contudo,
não vamos nos deter aqui a aspectos da biografia do
personagem, mas apenas interpretar um pequeno
fragmento seu, também conhecidíssimo da tradição,
do “homem-medida”, como uma síntese possível de
uma certa visão-de-mundo defendida pelos sofistas.
Então, tenha em mente o que já discutimos sobre os
sofistas, retome a leitura dos dois textos anteriores
para prosseguir.
O fragmento ao qual nos referimos é o seguinte:
O homem é a medida de todas as coisas; das
coisas que são, enquanto são, e das que não são,
enquanto não são.
Protágoras de Abdera
“Homem” aqui se refere ao “homem particular”, o
“indivíduo”. Cada um de nós, tomado isoladamente, é
senhor daquilo que julga ser verdadeiro ou falso.
Cada um de nós, portanto, é “a medida de todas as
coisas”: cada um percebe o mundo como
quer ou como pode, segundo suas convicções e suas
crenças, bem como sua formação – e cada um possui
assim uma verdade, absolutamente pessoal, particu-
lar. É neste sentido que poderemos afirmar que cada
um possui uma “verdade”, que nem sempre corres-
ponde a “verdade” do outro.
Cada um é que define “o que uma coisa é”: determina
então para si mesmo o que considera ser “verdadei-
ro”, e assim para todas as coisas que existem, das
coisas que “são enquanto são” (e vale dizer, elas são
assim para mim, se assim as percebo). O mesmo vale
também para as coisas que “não são”, isto é, as coisas
3

SOBRE A RETÓRICA E OS SOFISTAS
que julgo serem falsas ou as coisas que jamais tenha
visto, ou nem isso: trata-se também das coisas que
não possuem existência para mim pelo simples fato
de que sequer ouvi falar delas. Essas coisas “não são”
enquanto eu não estabelecer algum contato com
elas, seja através da percepção, seja por “ouvir falar”.
Até então, não poderei formar qualquer juízo sobre
elas, nem para dizer que sejam verdadeiras, nem
falsas.
Cada um possui uma verdade? Sim, é isso. Esta “ver-
dade”, então, corresponde à opinião que cada um
forma sobre as coisas do mundo. Verdade e opinião
aqui se equivalem. Se cada um tem sua opinião sobre
o mundo, muito bem!, cada um é cada um. Cada um
possui uma “verdade”, absolutamente pessoal. Mas
como estabelecer entre nós algum acordo sobre as
coisas? Um acordo é necessário, caso contrário não
seria possível sequer a convivência: viveríamos cada
um em seu próprio mundo particular, sem janelas
nem portas para os outros, sem nenhuma comunica-
ção possível. É através do discurso que nossas opini-
ões, nossas percepções, aquilo que julgamos ou
mesmo sentimos – enfim, “nossas verdades” podem
ser comunicadas para os outros, a fim de partilhar
de um mundo comum a nós.
Ora, uma verdade que valha apenas para mim tem
pouco efeito sobre o todo; mas se uma verdade vale
a uma multidão, pelo contrário, ela determina a lei,
se a lei é definida em assembleia, tal como ocorria na
democracia grega. Retomando nossa discussão ante-
rior, podemos avaliar a importância que os sofistas
davam à educação: com efeito, trata-se de partilhar
um mundo que nos seja comum, para que seja possí-
vel também um acordo. Daí a importância do discur-
so e da retórica, que para os sofistas ocupa um lugar
central.
O discurso que diz a “verdade” — isto é, o discurso
que convence mais gente sobre sua verdade e passa
a ser a opinião comum — é um discurso forte e tem
poder de mover os homens, orientá-los em sua con-
duta, sobre o que fazer ou deixar de fazer. O discurso
que apenas para mim é verdadeiro é um discurso
fraco. Se ele é “forte”, isto é, se o discurso é capaz de
alcançar os homens para que eles acreditem no que
é dito, então é estabelecido entre os homens um
acordo, uma “convenção”, porque são convencidos
da existência e da verdade acerca do discurso. Caso
contrário, pouco valerá ter um discurso ao qual nin-
guém dá crédito.
O homem é o “ser-que-fala” e o seu mundo é o
discurso — Com efeito, cada qual reconstrói o mun-
do para si mesmo pelo seu discurso a fim de comuni-
cá-lo aos outros homens. O mundo é o discurso hu-
mano, tudo aquilo que podemos expressar, e por isso
é que não há verdade para fora do discurso. O que
é indizível não participa do mundo, não ganha exis-
tência para o conjunto dos homens; a única existên-
cia que o homem pode conceber e partilhar entre os
outros homens se dá através da fala. O indizível não é
partilhável; e o que não é dito, então, não se torna
comum aos homens, porque tampouco se comuni-
ca. Sabe aquilo do qual você nunca ouviu falar? Não?
Pois é: porque um discurso que não pode ser ouvido,
quando ninguém nem terá conhecimento dele e,
portanto, por não ser partilhado, tampouco poderá
ser julgado pelos outros em sua verdade, o que no
caso equivale a não existir. As coisas que “não são,
enquanto não são”, como dizia Protágoras.
Ao definirmos o homem como “ser-que-fala” leva-
mos em conta o que diferencia os homens de qual-
quer outro ser da natureza, isto é, a capacidade hu-
mana de produzir um discurso. Isto não nos distancia
da definição do homem como ser racional: é que na
língua grega, a palavra lógos a um só tempo quer
dizer discurso e razão. Para os sofistas, seria ade-
quado dizer que encontramos a razão das coisas no
discurso.
À guisa de conclusão:
O homem em relação à natureza
Nas últimas aulas chegamos a definir o ho-
mem como o único caso na natureza de um “ser-que-
fala”, isto é, é o único animal capaz de “produzir um
discurso” – e, segundo penso, tal definição tem van-
tagens em relação àquela que aprendemos na escola
e herdamos da tradição da filosofia ocidental, que
define o homem como “ser racional”, dotado de ra-
zão. Não se trata, todavia, de negar que o homem
seja o único ser racional, mas de ampliar o escopo da
definição.
Ocorre que a expressão “ser racional” talvez não seja
uma ideia tão simples para ser facilmente apreendi-
da. Afinal de contas, quando perguntamos o que é a
razão, não encontraremos uma resposta inequívoca,
tampouco indiscutível. Com efeito, as ideias de ra-
zão, racionalidade ou raciocínio, elas também foram
produzidas ao longo da história; trocando em miú-
dos, a ideia de razão de um grego da antiguidade é
diferente daquela que temos hoje e que foi elaborada
4

SOBRE A RETÓRICA E OS SOFISTAS
a partir da modernidade. Por outro lado, se a expres-
são “razão” tem um sentido profundo para o filósofo,
ela é de uso raso e ao rés do chão para qualquer
outro que a fale. — Mas estas são outras discussões,
das quais não nos ocuparemos agora.
Seja como for, discutíamos Protágoras e os sofistas
— e portanto, a nossa referência é à Grécia Antiga.
Apenas para explicitar, voltemos ao ponto. Na língua
grega, discurso se diz lógos, a mesma palavra da qual
deriva a palavra lógica. É que lógos quer dizer, a um
mesmo tempo, três coisas que em português dize-
mos por palavras diferentes. Lógos é ‘palavra, dis-
curso, argumento’ e, porque é pelo discurso que
enunciamos aquilo que pensamos, lógos é também
‘consideração, avaliação, reflexão e juízo (discerni-
mento)’, ou seja, a nossa capacidade de pensar ra-
cionalmente. Lógos também pode ser traduzido por
razão — e assim, em nada perdemos para a defini-
ção que aprendemos na escola. Mas para um grego,
estas duas coisas são inseparáveis: o discurso para
ser produzido depende da razão tanto quanto a ra-
zão só se desenvolve no discurso.
Há um discurso que não depende da razão: o mito,
um discurso que tem mais a ver com fabula-
ção ou imaginação. O mito (em grego, mythos) não
tem nada a ver com lógos: este é discurso racional,
argumentação, explicitação de razões; aquele é “nar-
ração”, mais ou menos fabulosa ou imaginada. Con-
tudo, em nada a lembrança desta modalidade de
discurso afasta-nos da definição do homem enquan-
to “ser-que-fala”; antes, a confirma. Com efeito, o
homem é o ser-que-fala, capaz de discurso: pelo
discurso, o homem cria o seu mundo, e tanto faz se
este discurso corresponde ou não a um “outro mun-
do externo ao discurso”. O mundo criado pelo dis-
curso pode ser uma ficção – e não haveremos uma
única espécie a não ser a dos homens que seja capaz
dessa fabulação, que só é possível pelo discurso. Só
ao homem é dada a capacidade de mentir – inventar
pelo discurso um “outro mundo”, semelhante a este
(caso contrário, ele não seria capaz de convencer
ninguém de que a mentira fosse verdadeira), mas
cuja ordem é modificada, ampliada, reduzida ou
omitida.
Mas ainda há um terceiro sentido para a palavra
lógos, assim como para a palavra razão: ‘medida,
cálculo, relação, ordem’ e, por extensão, ‘fundamen-
to, razão-de-ser de algo’. Não se trata apenas das
capacidades de pensar e de falar. Existe razão nas
coisas, quando apresentamos o porque e as causas
delas serem o que são. Expliquemo-nos melhor. Na
palavra biologia, por exemplo, este “-logia” deriva-se
da mesma palavra grega que discutíamos, lógos.
Vocês dirão que biologia é ‘a ciência que estuda dos
seres vivos’. Mas o nome, para sermos fiéis à etimo-
logia, dá outro sentido, mais preciso: trata-se do
discurso (‘-logia’) sobre os seres vivos (biós). Ora,
não se trata apenas de ‘estudar’, verificar e investi-
gar os seres vivos, mas sim de produzir um discurso
sobre o que foi verificado e investigado. É no discur-
so da biologia que encontramos o lógos dos seres
vivos; é na produção deste discurso que determina-
mos a razão das coisas serem o que são, ou, voltando
a Protágoras, são os homens que, ao falar, dão a me-
dida do que os seres vivos são. É assim, pelo discur-
so, que os homens produzem o seu próprio mundo,
aquilo que reconhecem como “verdade”.
Daí aquela ideia: o mundo humano é mediado pelo
discurso. Tudo o que cada um vivencia, sente, pensa,
só ganha existência para além de si mesmo, ou seja,
para o mundo dos homens quando transformados
em discurso. Por isso, o homem é o ser-que-fala.
Imaginemos então o que seria dos homens se fossem
impedidos de falar, se não pudessem mais produzir
discursos, se não mais pudessem compartilhar suas
experiências, sentimentos e pensamentos. Se o ho-
mem é por definição o ser-que-fala, então é negada a
sua condição humana se ele é calado. A liberdade de
expressão – liberdade de falar, enfim – é o direito
humano mais fundamental, sem o qual o homem vira
bicho, sem poder participar do mundo dos homens e
partilhar com os outros aquilo que ele vivencia, sen-
te e pensa.
O reino da natureza e o reino dos homens — A
natureza não fala; os animais, tampouco; entre estes,
até há algum tipo de comunicação, mas que não se
faz através da produção de discurso, coisa que é ape-
nas dos homens. Sem a fala, o homem se reduz à
mesma condição dos outros animais do reino da
natureza.
Indicações bibliográficas
Giovanni REALE. Sofistas, Sócrates e Socráticos Meno-
res (História da Filosofia Grega e Romana, vol. II).
São Paulo: Edições Loyola, 9ª ed., 2009.