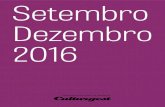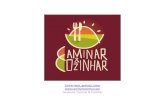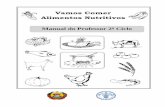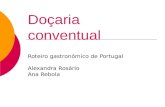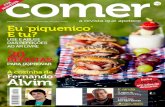Um olhar sobre o comer e o modo de comer em contexto conventual
-
Upload
museu-das-terras-de-basto -
Category
Technology
-
view
662 -
download
3
description
Transcript of Um olhar sobre o comer e o modo de comer em contexto conventual

Um olhar sobre o comer e o modo de comer em contexto
conventual
Isabel Maria Fernandes
É do conhecimento geral que a vida em clausura impunha regras rígidas de
observância colectiva sobre o modo como se gastava o tempo dentro do
espaço conventual. Ao ritmo do tempo de oração sucediam outros ritmos
destinados ao dormir, ao trabalho e ao comer.
As principais refeições eram o jantar (que hoje designamos almoço) e que
decorria por volta do meio-dia, e a ceia (a que hoje chamamos jantar) e que
sucedia ao entardecer. A ceia costumava ser mais frugal do que o jantar.
As refeições tinham lugar num espaço apropriado para o efeito – o refeitório.
Este situava-se perto da cozinha e com ela comunicava normalmente por uma
janela (muitas vezes com roda) através da qual eram passados os alimentos.
Os monges dirigiam-se para o refeitório assim que ouviam «tanger à mesa», ou
seja, assim que «eram chamados com o sinal dos sinos» que tocavam
avisando da hora da refeição (TAVARES, 1999: 66). Antes e depois de comer
lavavam as mãos em lavatório existente junto do refeitório1. Os monges
comiam em conjunto no refeitório, em silêncio, olhos postos em baixo, ouvindo
o monge leitor que do púlpito lia a Bíblia ou outras obras sacras. Comer nas
celas ou noutros locais era expressamente proibido (GOMES, 1998: 416).
O refeitório era vulgarmente composto por mesas compridas colocadas junto
às paredes e por bancos corridos, sentando-se os monges apenas de um dos
lados da mesa, aquele que ficava encostado à parede. Deste modo as mesas
dispunham-se vulgarmente em «U» com os monges voltados uns para os
outros, existindo armários, muitas vezes dois, embutidos nas paredes onde se
guardavam alguns dos utensílios necessários ao refeitório.
Os monges tinham de ser frugais na alimentação, cientes de que deviam comer
para ter saúde e poder servir na religião. Durante a refeição deviam lembrar-se
dos que tinham fome e eram mais merecedores do que eles aos olhos de
Deus, pelo que deviam comer moderadamente fazendo com que os alimentos
���������������������������������������� �������������������1 Em 1536, no Mosteiro de Santa Maria do Bouro havia «saboeiras» e «toalhas de mãos» que se destinavam muito provavelmente para o acto de lavar as mãos com sabão, que ficava pousado na saboeira, e de as limpar com «toalha de mãos».

sobejassem e no final da refeição pudessem ser distribuídos pelos mais
necessitados (TAVARES, 1999: 66 e 68-69).
A sua dieta diária ainda está mal conhecida mas, como exemplo, referiremos
os géneros alimentícios usados no Convento feminino de Santa Clara de
Guimarães e referidos nos livros de despesa (séc. XVII-XVIII): ingredientes –
açúcar, amêndoa, arroz, azeite, canela, feijão, manteiga de vaca, pingue, sal,
unto, vinagre; cereais e seus derivados – centeio, milho, trigo, pão, pão de
milho, pão de centeio; hortaliças e leguminosas – hortaliça, legumes, repolho,
tremoços; carne – carne de picado, carne de porco, carne de vaca, carneiro,
galinha, picado de vaca, presunto, toucinho, pastéis, pastéis de carne, pastéis
de pasteleiro; peixe – bacalhau, cação, faneca, lampreia, pescada, polvo, raia,
sardinha, sável; outros – leite, vinho (FERNANDES, 2004: 14).
Os alimentos eram temperados na mesa com sal e adubados com especiarias
e condimentos como a mostarda. Por isso, fazia parte da utensilagem diária
colocada na mesa o saleiro para o sal e a salsinha ou salseira para conter os
adubos – salsa, mostarda… O pão era presença habitual na mesa,
acompanhando o que se comia. Para ajudar a digerir os alimentos sólidos os
monges bebiam usualmente água ou vinho, sendo que o vinho era muitas
vezes misturado com água – vinho meado ou vinho terçado.
Sobre o modo como eram confeccionados os pratos pouco sabemos. A carne e
o peixe eram servidos cozidos ou fritos mas também podiam ser assados,
guisados ou desfeitos e metidos em empadas ou pastéis. Os legumes
acompanhavam a carne ou o peixe. Como sobremesa comiam fruta e, em dias
especiais, doces. Em tempos de festa as refeições eram mais abastadas e os
doces um complemento habitual.
No séc. XVII, no «regulamento do refeitório» do Mosteiro de Santa Cruz de
Coimbra, determina-se como os monges se deviam comportar à mesa
(TAVARES, 1999: 68-71): «estar muito compostos, quietos, graves, e
mortificados com os olhos baixos, com o tento na lição»; ao iniciar a refeição só
deviam abrir o guardanapo depois de decorrido o tempo suficiente para dizer
um Padre Nosso e uma Ave-Maria; não deviam comer apressadamente, nem
«com ambas as partes da boca», nem meter «um bocado antes de engolir o
outro»; o pão devia ser partido com a faca e não com as mãos; não deviam
meter à boca grandes pedaços, «como os meninos», «senão tudo partido»;

não deviam roer os ossos, nem bater «com eles sobre o pão ou sobre a mesa
para lhe tirar os tutanos»; não lhes era permitido meter «toda a mão na tigela
para tirar as sopas», mas podiam fazê-lo usando apenas «dois ou três dedos
sem sujar a mão»2; não deviam lamber «os dedos, como fazem os rústicos», e
se estes de qualquer modo ficassem sujos «como acontece quando o caldo é
gordo e ficam cheios de gordura», limpem-nos «dissimuladamente a um
pequeno de pão; e o mesmo façam à faca quando cortarem com ela fruta ou
coisa que a suje muito»; ao servir-se de sal deviam tirá-lo «com a faca e não
com os dedos». E mais cuidados deviam ter quando o sal se destinava a
temperar rábanos, nesse caso deviam lançar o sal sobre estes tendo por baixo
uma folha dos ditos e não o guardanapo. Todos estes cuidados – não limpar os
dedos nem a faca ao guardanapo e não usá-lo para sobre ele temperar os
rábanos – tinha como finalidade «não sujar muito o guardanapo que faça nojo
ou lhe ponha nódoa que se não tire como são as da fruta».
Interessantes são também as advertências para que «não alimpem os narizes
com o guardanapo nem com a mão descoberta senão com o lenço»; que
quando tivessem de cuspir o «não seja por cima da mesa senão debaixo dela
abaixando-se, por não fazer nojo ao companheiro, e chegando com o pé ao
cuspo apaguem-no. E tossindo cubram a boca com o lenço ou com o hábito
afastando a boca do outro companheiro». Deviam também ter compostura e
não estarem «debruçados sobre o comer», nem lançar-se «sobre o prato
quando comem», nem encostar «os braços à mesa», nem encostar-se «para
trás de sorte que fiquem mal compostos»; nem deviam acabar «de comer
depois dos outros mas antes deles, quanto puder ser». Por fim, ensina-se que
só depois do monge leitor dizer «Tu autem Domine miserere nobis», e de todos
ainda sentados responderem «Deo gracias», é que se podiam levantar, dando-
se deste modo por finda a refeição (TAVARES, 1999: 68-71) 3.
���������������������������������������� �������������������2 É importante referir que este hábito de comer com as mãos usando apenas três dos dedos é costume antigo ainda hoje em uso em alguns países, como, por exemplo, em Marrocos: «O principal utensílio culinário deste país são as mãos, ou, melhor dizendo, os dedos. Na realidade, segundo as normas do manual de bons costumes, só se devem utilizar três dedos, como o fazem os profetas: o médio, o indicador e o polegar. Comer com quatro ou cinco dedos é comportamento de glutões, excepto se o conteúdo do prato ficar demasiado macio» (MEDINA, 2005: 12). 3 Este texto vai ilustrado com uma pintura sobre tábua da autoria do Padre Manuel Correia de Sousa, datada de1703 e proveniente do Mosteiro Beneditino de Refojos de Basto. Actualmente encontra-se na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, a quem pertence e a quem agradecemos a possibilidade de ter fotografado a imagem e de a utilizar.

BIBLIOGRAFIA
DIAS, 2009
Geraldo José Amadeu Coelho Dias, OSB – O mosteiro de São Miguel de
Refojos: jóia do barroco em terras de Basto. Cabeceiras de Basto: Câmara
Municipal, 2009.
FERNANDES, 2004
Isabel Maria Fernandes − O comer e o modo de comer em espaço conventual:
um exemplo (séc. XVI). Mãos: Revista de Artes e Ofícios. 25 (Abril 2004). P.
12-15.
FERNANDES; OLIVEIRA, 2004
Isabel Maria Fernandes; António José de Oliveira − Convento de Santa Clara
de Guimarães. Boletim de Trabalhos Históricos. Guimarães. Série 2. 5 (2004).
P. 11-179.
GOMES, 1998
Saul António Gomes – Visitações a mosteiros cistercienses em Portugal:
séculos XV e XVI. Lisboa: IPPAR, 1998. (Documenta).
MEDINA, 2005
Ignacio Medina – Marrocos. Lisboa: Público, 2005 (Cozinha País a País; 4).
TAVARES, 1999
Paulino Mota Tavares – Mesa, doces e amores no séc. XVII português. Sintra:
Colares Editores, 1999.
���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������
Proprietário: Município de Cabeceiras de Basto. Fotografia de Miguel Sousa

ILUSTRAÇÕES
Ceia de S. Bento e o Corvo. Pintura sobre tábua.
Autor: Padre Manuel Correia de Sousa. 1703.
Mosteiro Beneditino de Refojos de Basto.
Actualmente na Sala de Sessões da Câmara
Municipal de Cabeceiras de Basto. Proprietário:
Município de Cabeceiras de Basto. Fotografia de
Miguel Sousa
Ceia de S. Bento e o Corvo. Pormenor. Repara-
se na loiça sobre a mesa: pratos individuais,
saleiros, pratos de fruta, copos com cerveja (?),
colher, faca com cabo de marfim (?) e garfo, pares
de vasilhas em estanho (?).Fotografia de Miguel
Sousa
Ceia de S. Bento e o Corvo. Pormenor. Repare-
se no uso do guardanapo que um dos monges leva
à boca e que outro tem pousado sobre a mesa.
Fotografia de Miguel Sousa
Ceia de S. Bento e o Corvo. Pormenor. Repare-
se no copo de vidro com cerveja (?).Fotografia de
Miguel Sousa

Isabel Maria Fernandes
Directora do Museu de Alberto Sampaio / Instituto dos Museus e da Conservação. Licenciada. Email:
Três últimas obras e três últimos artigos, mais relevantes.
Obras
Isabel Maria Fernandes − Meninos Gordos: Faiança Portuguesa. Porto: Civilização Editora,
2005.
Isabel Maria Fernandes (coord.) − Figurado português: de santos e de diabos está o mundo
cheio. Porto: Civilização Editora, 2005.
Isabel Maria Fernandes − Oleiros de Bisalhães: as voltas que o barro dá = The potters of
Bisalhães: the twists and turns of clay. In A louça preta de Bisalhães: Mondrões, Vila Real = The
black pottery of Bisalhães. Vila Real. Barcelos: Museu de Arqueologia e Numismática. Museu de
Olaria, 2009. P. 12-155.
Artigos
Isabel Maria Fernandes; António José de Oliveira − Convento de Santa Clara de Guimarães.
Boletim de Trabalhos Históricos. Guimarães. Série 2. 5 (2004). P. 11-179.
Isabel Maria Fernandes − Saberes, sabores, usos e desusos da olaria nortenha. In Saberes e
sobres: VI Congresso Galiza-Norte de Portugal. Porto: Delegação Regional da Cultura do Norte,
2006. P. 79-86.
Isabel Maria Fernandes − A arte de bem cozinhar os alimentos, em Guimarães. In As artes e as
mãos da história: o artesanato vimaranense. Guimarães: Oficina: centro de artes e mesteres
tradicionais, 2006. P. 120-129.