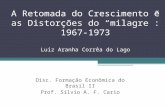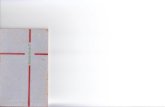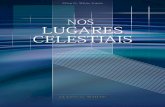UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ MESTRADO EM EDUCAÇÃO … · aprendizagem escolar em sala de aula;...
Transcript of UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ MESTRADO EM EDUCAÇÃO … · aprendizagem escolar em sala de aula;...
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
MESTRADO EM EDUCAÇÃO
MARLENE DOS PRAZERES ROSA
INTENÇÕES E AÇÕES EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE
ENSINO FUNDAMENTAL À LUZ DO IDEB
RIO DE JANEIRO
2011
MARLENE DOS PRAZERES ROSA
Intenções e ações em uma escola pública de Ensino Fundamental à luz do IDEB
Dissertação apresentada à Universidade Estácio
de Sá como requisito para obtenção do grau
de Mestre em Educação. Orientadora Profª.
Drª. Elisangela da Silva Bernado
Rio de Janeiro
2011
R788 Rosa, Marlene dos Prazeres
Intenções e ações em uma escola pública de ensino
fundamental à luz do IDEB. /Marlene dos Prazeres Rosa. –
Rio de Janeiro, 2011.
184 f.; 30 cm.
Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade
Estácio de Sá, 2011.
1. Avaliação Educacional. 2. Educação Básica. 3.
Educação, Legislação. 4. Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica - IDEB. 5. Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE. 6. Plano Nacional de Educação - PNE. I.
Título.
CDD 371.21
À memória dos meus pais,
Teófilo e Maria de Lourdes e de
minha irmã, Iracema.
Ao apoio da minha irmã, Waldelice.
AGRADECIMENTOS
Agradeço a Deus pela benção de ver realizado este trabalho.
A minha orientadora, Elisangela da Silva Bernado que, com muita dedicação ao longo dos
nossos encontros de orientação, transmitiu-me muita força, perseverança e tenacidade.
Manifesto assim, minha estima e profundo respeito, considerando os momentos em que
ocorreram eventuais discordâncias, importantes para um crescimento mútuo.
A Profª Drª Mariangela da Silva Monteiro, pela acolhida e pela oportunidade em abrir espaço
para a pesquisa de campo.
“Um homem não pode tornar suas palavras sinais das qualidades nas coisas, seja das
concepções na mente de outrem, enquanto não tiver nenhuma delas por si mesmo.
Até que tenha certas idéias por si mesmo, não pode supô-las corresponder às
concepções de outro homem, nem pode usar quaisquer sinais para elas, pois seriam
sinais de algo que não sabe o que é na verdade, implicam ser sinais de nada. Mas,
quando representa para si mesmo outras idéias dos homens por algumas de suas
próprias, se concorda em lhes dar os mesmos nomes dados pelos outros homens,
isto consiste ainda em suas próprias idéias, idéias que ele tem, e não idéias que não
tem.” (John Locke)
RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo geral investigar intenções e ações em uma escola
pública de Ensino Fundamental à luz do IDEB, no município de Duque de Caxias, estado do
Rio de Janeiro. O desenvolvimento da pesquisa obedeceu a uma abordagem qualitativa e
quantitativa de análise de dados, por meio de entrevistas semiestruturadas e questionários de
perguntas abertas junto à diretora de educação básica da SME da rede caxiense, uma
professora, uma orientadora educacional e outra pedagógica e a diretora da escola, verificação
do projeto político pedagógico, diário de classe e resultados do IDEB e da Prova Brasil. Os
resultados do estudo trouxeram, por um lado, evidências já constatadas na literatura nacional:
rendimento escolar ruim, significativo percentual de distorção-idade série; pouca interação
escola/família; o indicativo tempo formando barreiras à ampliação de ações para melhoria da
aprendizagem escolar em sala de aula; turmas numerosas; deslocamento casa-escola de difícil
acesso a maioria dos alunos. Por outro, evidenciamos intenções e ações para melhoria do
desempenho escolar nas proficiências Língua Portuguesa e Matemática, por meio do Plano de
Suporte Estratégico (Plano de Ação), ratificado pelo Conselho Escolar mediante Plano de
Ações Financiáveis, desenvolvidos em efetivo trabalho escolar coletivo.
Palavras-chave: Avaliação da Educação Básica. Legislação educacional. PNE. PDE. IDEB.
ABSTRACTY
This study aimed to generally investigate intentions and actions in a public school elementary
school in light of IDEB in the municipality of Duque de Caxias, state of Rio de Janeiro. The
development of research followed a qualitative approach and quantitative data analysis,
through semi-structured interviews and questionnaires with open questions to the director of
basic education in the SME network caxiense, a teacher, a guidance counselor and a director
of teaching and school, political and pedagogical design verification, daily class and results of
IDEB and Brazil Exam. The results of the study brought the one hand, evidence already found
in the national literature: poor school/family, the indicative time forming barriers to the
expansion of actions to improve learning in school classroom, large classes, home-school
movement difficult to reach most students. On the other, evidenced intentions and actions to
improve school performance proficiency in Portuguese and Mathematics, through the
Strategic Support Plan (Action Plan), ratified by the School Board Eligible Action Plan,
developed into an effective public school work.
Keyword: IDEB. Educational legislation. PDE. PNE. SAEB.
LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1 - Taxa de alfabetização/analfabetismo das pessoas de 15 anos
ou mais de idade – Brasil 1950 – 1980..................................................................44
Gráfico 2 - Evolução do analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade
por regiões, 1992 – 2009........................................................................................45
Gráfico 3 - Percentual do investimento público direto em educação em relação ao PIB.........50
Gráfico 4 - Percentual que conclui o ensino fundamental (por idade escolar).........................54
Gráfico 5 - Aplicação da Prova Brasil em 2005, 2007, e 2009.................................................74
Gráfico 6 - Plano de Ações Articuladas Recursos conveniados com estados
e municípios (R$ milhões).....................................................................................90
Gráfico 7 - Receita dos estados e municípios (R$ bilhões)......................................................92
Gráfico 8 - Número de matrículas nos Anos Iniciais e Anos Finais
do Ensino Fundamental Regular/Brasil 2007 – 2009............................................93
Gráfico 9 - PDDE – Recursos investidos (R$ milhões)............................................................94
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Evolução da matrícula na escola primária, por zona, no Brasil,
entre 1932 e 1970.....................................................................................................37
Tabela 2 – Participação das Esferas Administrativas nas Despesas de Educação e
Cultura - 1970/1983................................................................................................38
Tabela 3 - Taxas de repetência (%) no início do ano, segundo as séries do ensino
de 1º grau período 1967-1982.............................................................................................39
Tabela 4 - Ensino Fundamental Regular de 1º grau /Taxa de distorção idade-série
– Regiões/Brasil-1987...............................................................................................39
Tabela 5 - Taxa de Distorção Idade-Série do Ensino Fundamental Regular............................40
Tabela 6 - Taxa média esperada de conclusão do Ensino Fundamental (4ª e 8ª séries) e
Ensino Médio por região e Unidade da Federação, 2005/2006..............................52
Tabela 7 - Taxa de Frequência à escola por faixa etária, 1992 – 2009.....................................53
Tabela 8 - Proporção de alunos, por níveis do SAEB em Língua Portuguesa,
segundo séries/ Brasil – 2007.................................................................................69
Tabela 9 - Proporção de alunos, por níveis do SAEB em Matemática,
segundo séries/Brasil – 2007................................................................................70
Tabela 10 - Ensino Fundamental Regular, Prova Brasil/UF2005, 2007 e 2009.....................75
Tabela 11 - Ensino Fundamental Regular, Prova Brasil/UF 2005, 2007 e 2009....................77
Tabela 12 - Número de Professores no Ensino Fundamental por Escolaridade, segundo a Região
Geográfica e a Unidade da Federação, em 2009..................................................................86
Tabela 13 - Valor mínimo por aluno no FUNDEF e FUNDEF
(1º ciclo do ensino fundamental urbano)................................................................91
Tabela 14 - IDEB 2005, 2007 e 2009 e Projeções para o Brasil, Regiões e UF - Anos
Iniciais do Ensino Fundamental...........................................................................101
Tabela 15 - IDEB 2005, 2007 e 2009 e Projeções para o Brasil, Regiões e UF - Anos
Finais do Ensino Fundamental.................................................................................103
Tabela 16 – IDEB 2005, 2007 e 2009 dos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental Regular..............................................................................111
Tabela 17 – IDEB 2005, 2007 e 2009 dos Anos Finais do
Ensino Fundamental Regular..............................................................................112
Tabela 18 - Prova Brasil 2005, 2007 e 2009 dos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental Regular...............................................................................112
Tabela 19 – Prova Brasil 2005, 2007 e 2009 dos Anos Finais do
Ensino Fundamental Regular..............................................................................113
Tabela 20 - IDEB 2005, 2007 e 2009 dos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental Regular...............................................................................114
Tabela 21 - IDEB 2005, 2007 e 2009 dos Anos Finais do
Ensino Fundamental Regular...............................................................................114
Tabela 22 - Prova Brasil 2005, 2007 e 2009 dos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental Regular...............................................................................115
Tabela 23 - Prova Brasil 2005, 2007 e 2009 dos Anos Finais do
Ensino Fundamental Regular...............................................................................116
Tabela 24 - Taxa de Distorção Idade-Série – 4ª série/5º Ano do
Ensino Fundamental Regular..............................................................................126
LISTA DE QUADROS
QUADRO 1 – PNE: Metas de expansão do atendimento educacional.....................................51
QUADRO 2 – Alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394,
de 20 de dezembro de 1996, no período 1997-2006.........................................56
QUADRO 3 – Médias Nacionais para o IDEB........................................................................58
QUADRO 4 – Médias Internacionais para o PISA...................................................................59
QUADRO 5 – Bolsas PIB aprovadas.......................................................................................85
QUADRO 6 – Critérios de Avaliação - 4º ao 9º anos do EF- Município de
Duque de Caxias/2010...................................................................................123
QUADRO 7 – Prova Brasil, 2005 e 2007 - Total de alunos participantes..
do Ensino Fundamental.................................................................................125
QUADRO 8 – Prova Brasil, 2005 e 2007 - Percentual de distorção idade- série/EF............125
RELAÇÃO DE SIGLAS
ANEB - Avaliação Nacional da Educação Básica
ANRESC - Avaliação Nacional do Rendimento Escolar
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
EJA - Educação de Jovens e Adultos
EPT - Educação para Todos
ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente
FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Índice de Desenvolvimento da
IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
LDBEN - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
MEC - Ministério da Educação
OCDE - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico
PAF - Plano de Ações Financiáveis
PAR - Plano de Ações Articuladas
PDE - Plano de Desenvolvimento da Educação
PND - Planos Nacionais de Desenvolvimento
PNE - Plano Nacional de Educação
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PPP – Projeto Político Pedagógico
PRODOCÊNCIA – Programa de Consolidação das Licenciaturas
PROEXT - Programa de Apoio à Extensão Universitária
PROGEF - Programa Gestores em Formação
PROINFO – Programa Nacional de Informática na Educação
SAEB - Sistema de Avaliação do Ensino Básico
SME - Secretaria Municipal de Educação
SAEP - Sistema de Avaliação do Ensino Público
SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
UAB – Universidade Aberta do Brasil
UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ......................................................................................................................15
1.1 Procedimentos Metodológicos............................................................................................23
2 POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.....................................................29
2.1 Sistematização da educação básica à luz da legislação......................................................30
2.2. Educação básica e o Plano Nacional de Educação ...........................................................47
3. BREVE HISTÓRICO SOBRE O SAEB E A PROVA BRASIL....................................60
3.1 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica..........................................................64
3.2 Evolução da Prova Brasil anos iniciais e anos finais do
Ensino Fundamental 2005–2009..............................................................................................73
4 PROGRAMAS DE AÇÃO DO PDE NA PERSPECTIVA DE: MAGISTÉRIO,
FINANCIAMENTO E QUALIDADE DO ENSINO ..........................................................80
4.1 Magistério da educação básica: formação, plano de carreira e piso salarial.......................82
4.2 Financiamento da educação básica: FUNDEF/FUNDEB.................................................88
4.3. Qualidade da educação básica e o IDEB como indicador.................................................95
5 A INCURSÃO NA REDE MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS/RJ......................106
5.1 A entrada no campo de pesquisa......................................................................................106
5.2 Indicadores geográficos e socioeconômicos.....................................................................109
5.3 Indicadores educacionais..................................................................................................110
5.4 Indicadores analisados a partir da pesquisa de campo......................................................117
6 CONCLUSÃO....................................................................................................................136
7 REFERÊNCIAS.................................................................................................................139
8 ANEXOS...........................................................................................................................154
INTRODUÇÃO
Pensar a educação escolar, no Brasil, considerando a primeira década do século XXI,
significa, primordialmente, considerarmos o contexto das políticas públicas educacionais que
estão subordinadas à agenda do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), apresentado
ao país em 2007. Atrelado ao eixo desse plano, na forma de programa de ação, é instituído o
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que tem como função básica medir a
qualidade de cada escola e de cada rede de ensino, com vistas ao cumprimento das metas
fixadas no Termo de Adesão ao Compromisso Todos pela Educação. O IDEB é calculado
com base nas avaliações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP) 1 e em taxas de aprovação oriundas do Censo Escolar.
Para Coelho (2008), o debate sobre a educação básica no cenário nacional nos últimos
anos, se distingue pela repercussão gerada pelas avaliações dos desempenhos nas disciplinas
Língua Portuguesa e Matemática, da educação básica da rede pública, implicando em
mudanças nas políticas públicas e gestão educacional.
No Brasil, segundo Oliveira e Araujo (2005, p. 6) a qualidade do ensino foi
compreendida sob três abordagens: “Na primeira, a qualidade determinada pela oferta
insuficiente; na segunda, a qualidade percebida pelas disfunções no fluxo ao longo do ensino
fundamental; e na terceira, por meio da generalização de sistemas de avaliação baseados em
testes padronizados.” De acordo com Klein (2006, p. 140), “um sistema educacional é de
qualidade quando seus alunos aprendem e passam de ano. Além disso, tem que atender todas
as suas crianças e jovens.”
Mas como identificar uma educação básica de qualidade? Que mecanismos são
utilizados para avaliar a educação básica no país?
Os primeiros passos no caminho de sistematizar a avaliação da educação em larga
escala, no Brasil, ocorreram entre os anos de 1985 e 1986. Sousa (2005, p. 7) caracteriza
trabalhos de pesquisadores da Fundação Carlos Chagas, entre os anos de 1972 a 2003, que
discorrem “desde avaliação de rendimento escolar até sistemas educacionais”, além de outros
textos sobre “programas e políticas educacionais [...], medidas e avaliação educacional.”
1O INEP foi criado pelo art. 38 da Lei n.º 378, de 13 de janeiro de 1930 e organizado pelo Decreto-Lei n. 580 de
30 de julho de 1938. É uma autarquia federal ligada ao Ministério da Educação (MEC), do qual é função
“promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro com objetivo de subsidiar a
formulação e implementação de políticas públicas para a área educacional a partir de parâmetros de qualidade e
equidade, bem como produzir informações claras e confiáveis aos gestores, pesquisadores, educadores e público
em geral.” (BRASIL, 2011, p. 6).
Na década de 1980, dentre esses estudos (SOUSA, 2005), alguns “procuraram abordar
conjuntamente os fatores intra e extra-escolares na educação básica” (BONAMINO;
FRANCO, 1999), com destaque às pesquisas no âmbito do Programa de Expansão e Melhoria
do Ensino no Meio Rural do Nordeste Brasileiro – Projeto EDURAL2, mantido por meio de
acordos financeiros entre o Ministério da Educação (MEC) e o Banco Mundial, desenvolvidas
pela Fundação Carlos Chagas (GATTI, 1993; BONAMINO; FRANCO, 1999; BONAMINO,
2002).
A partir dessa pesquisa, surge em 1988, o Sistema de Avaliação do Ensino Público
(SAEP), que nesse mesmo ano gera um teste piloto nos estados do Paraná e Rio Grande do
Norte para identificar a relevância e o ajustamento dos instrumentos e procedimentos. Ocorre
que o mesmo não avança por falta de recursos financeiros. Em 1990, por meio da Secretaria
Nacional de Educação Básica, que disponibiliza recursos financeiros, tal projeto se torna
realidade no 1º ciclo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB)
(BONAMINO; FRANCO, 1999; BONAMINO, 2002; COELHO, 2008).
O SAEB coordenado pelo INEP foi criado em 1990, consolidado em 1995 e
implementado em 1999 (BONAMINO; FRANCO, 1999; BONAMINO, 2002). Em sua
consolidação é registrada pela primeira vez a participação voluntária de todas as unidades da
Federação e redes de ensino. São avaliados os desempenhos do rendimento nas disciplinas de
Língua Portuguesa (foco em leitura) e Matemática (foco em resolução de problemas). Os
resultados de desempenho se destinam ao Brasil, regiões e unidades da Federação pela sua
característica amostral. O SAEB tem como atribuição produzir informações ao Ministério da
Educação (MEC), Secretarias de Educação Estadual e Municipal, definir, reformular e
implementar políticas públicas com foco no desenvolvimento do Sistema Educacional
Brasileiro e à redução das desigualdades existentes nele. O SAEB ocorre a cada dois anos e
contabiliza dez avaliações, sendo a primeira em 1990 e a décima em 2009.
Outro instrumento que processa a avaliação da educação básica é a Prova Brasil,
criada em 2005. Surgiu em decorrência de o sistema educacional ter uma avaliação mais
2 O Projeto EDURURAL tratou de uma pesquisa desenvolvida com fundos do Ministério da Educação e do
Banco Mundial com foco na melhoria das circunstâncias do ensino de escolas da zona rural, nos estados do
Ceará, Pernambuco e Piauí (“investimento em construção de escolas, produção de material escolar, treinamento
de professores e técnicos”, entre outros). A pesquisa avaliativa baseou-se em um estudo transversal envolvendo
uma amostra de 603 escolas, com alunos de 2ª e 4ª séries do 1º grau (vivendo em condições de extrema pobreza),
nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Os itens dos testes foram construídos com base no currículo
escolar daquelas instituições, com objetivo de identificar o mínimo de conhecimentos e habilidades adquiridos
pelos alunos; dentre as diferentes variáveis definidas, constavam; condições da escola, merenda escolar, perfil de
professores, impacto de treinamentos, condições dos familiares dos alunos (GATTI, 1993, p. 101; 102).
detalhada, em complemento à avaliação já feita pelo SAEB. A Prova Brasil é de base
censitária, sendo realizada a cada dois anos; seus resultados alcançam o Brasil, as unidades da
Federação, os municípios e as escolas participantes. A primeira edição ocorreu em 2005, a
segunda, em 2007 e a terceira, em 2009. Assim como o SAEB, a Prova Brasil avalia as
proficiências em Língua Portuguesa (foco na leitura) e em Matemática (foco na resolução de
problemas). Dá ênfase aos resultados de cada unidade escolar da rede pública de ensino por
meio dos seguintes objetivos: “contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, redução de
desigualdades e democratização da gestão do ensino público; buscar o desenvolvimento de
uma cultura avaliativa que estimule o controle social sobre os processos e resultados do
ensino” (BRASIL, 2009, p. 15; 16).
O papel do Poder Público se faz presente no artigo 206 da Constituição Federal de
1988 que versa sobre os princípios que deverão ser ministrados no ensino, como: a “garantia
de padrão de qualidade” (Inciso VII). Tal princípio está regulamentado na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBEN) n. 9394/1996 (art. 3º) e inserido no Programa de
Fortalecimento de Conselhos Escolares3 – “promover a cultura do monitoramento e avaliação
no âmbito das escolas para a garantia da qualidade da educação” (CURY, 2008, p. 294;
DOURADO, 2007, p. 935). Da mesma forma, a Carta Magna (art. 209, Inciso II) determina
que seja competência do Poder Público a “autorização e avaliação do ensino". Então, é de
responsabilidade da União e dos entes federados, por meio de setores competentes, o
cumprimento dessas normas.
Dentre os argumentos oficiais que dão sustentação às políticas públicas de avaliação
da educação básica, relacionados ao foco da presente investigação – melhoria do desempenho
escolar da educação básica - está o Decreto n. 6094, de dia 24 de abril de 2007 com a seguinte
ementa:
Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela
Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com Municípios,
Distrito Federal e Estados, e a participação das famílias e da comunidade,
mediante programas e ações de assistência técnica e financeira, visando à
mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica.
Outra mudança, neste decreto, ligada às políticas de tratamento de avaliação da
educação básica é a instituição do IDEB (art. 3º), na função de “indicador” para aferir a
qualidade da educação básica; no art. 8º, § 2º, o IDEB é indicado como um dos “critérios de
prioridade de atendimento da União”, restrito às normas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE). A materialização deste atendimento junto ao ente
3 De acordo com a Portaria Ministerial n. 2896/2004 (DOURADO, 2007).
far-se-á por meio de elaboração de um Plano de Ações Articuladas (PAR), que é “o conjunto
articulado de ações, apoiado técnica ou financeiramente pelo Ministério da Educação, visando
o cumprimento das metas do Compromisso e a observância das suas diretrizes”, segundo
artigo 9º desse decreto. A elaboração do PAR só é possível após análise criteriosa do MEC,
seguido de rigoroso diagnóstico escolar, orientado pelos resultados do IDEB.
As avaliações de larga escala revelam indicadores importantes para o governo central
monitorar as condições de qualidade da educação do país. O Sistema Integrado de
Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC) é “um portal operacional e de gestão do
MEC, que trata do orçamento e monitoramento das propostas online do governo federal na
área da educação” (BRASIL, 2010), que chega até cada uma das escolas públicas das redes
estadual e municipal, por meio de um formulário online4, a partir do seguinte critério:
Prioridade de atendimento do MEC: assistência técnica e financeira (Classes
IDEB A, B e C): A. escolas públicas municipais e estaduais, consideradas
prioritárias com base no IDEB de 2005: IDEB até 2,7 para anos iniciais e até
2.8 para anos finais; B. escolas públicas municipais e estaduais, consideradas
prioritárias com base no IDEB de 2007: IDEB até 3,0 para anos iniciais e até
2,8 para anos finais; C. escolas públicas municipais e estaduais não
prioritárias, porém com IDEB de 2007 abaixo da média nacional: IDEB
abaixo de 4,2 para anos iniciais e abaixo de 3,8 para anos finais.
A partir da produção do Plano de Ações Financiáveis do PDE-Escola 5, o governo gera
verba de custeio para a escola (procedimento via online) com metas viáveis (que subsidiarão a
liberação de recursos) para a melhoria de aprendizagem dos alunos, facilitação do trabalho
docente, entre outros. O PDE-Escola é um dos programas de ação do PDE. É o plano de ações
financiáveis pelo FNDE/MEC, que tem por objetivo auxiliar determinada escola na melhoria
da aprendizagem de seus alunos e, consequentemente, o atingimento das metas previstas no
IDEB.
O PDE 6 foi lançado oficialmente ao país no dia 24 de abril de 2007, em discurso pelo
Ministro da Educação, Fernando Haddad, em Brasília. O fato ocorreu paralelamente à criação
do Decreto n. 6094/2007 que contempla as atuais políticas da educação básica. Constituído
4 Disponível em: http://simec.mec.gov.br/. Acesso em: março/2009. Segundo dados coletados na pesquisa de
campo, o orçamento da unidade de ensino foi liberado em 2008 e 2009, com base nos IDEB de 2005 e 2007. 5 Disponível em: http://simec.mec.gov.br/. Acesso em: março/2009. Instituído pela Portaria Normativa n. 27, de
21 de junho de 2007. 6 O PDE surgiu em um momento político nacional marcado por uma nova ordem governamental, destacado pela
criação de grandes planos de Estado, de cunho econômico, mas com projeções para os setores sociais e o
desenvolvimento ambiental e sustentável. O Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), o mais notável desses
planos, tem ampla cobertura pela grande imprensa, influenciando sobremaneira com a sigla „PAC‟, os outros
arranjos estratégicos setoriais que se seguiram após o mesmo, no caso o do PDE, que à época, foi denominado de
“PAC da Educação” em analogia aquele (CAMARGO; PINTO e GUIMARÃES, 2008, p. 822).
por mais de 40 programas de ação, o PDE atinge todos os níveis e modalidades da educação
nacional, com o propósito de ensejar uma educação equitativa e de boa qualidade.
Investigar a avaliação da educação básica no PDE não é um trabalho fácil. A
dificuldade inicial se dá porque o PDE não foi instituído por meio de ordenamento jurídico,
em outras palavras, não há legislação específica que o embase (HYPOLITO; IVO, 2009). No
aspecto de sua elaboração ou mesmo origem, Camargo, Guimarães e Pinto (2008) afirmam
que esse item é - “ainda uma incógnita”; mencionando que o referido Plano seria o resultado
de uma “encomenda” ao MEC, dirigida ao Ministro da Educação, Fernando Haddad7,
semelhante ao Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), este sob a coordenação da então
Ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. No aspecto de financiamento do PDE, Pinto (2007,
p. 16) faz severas críticas:
Analisar o financiamento do PDE não é tarefa fácil. Em primeiro lugar
porque quando se procura saber exatamente em que consiste esse “plano” no
sítio oficial do MEC ou em documentos legais, nada encontraremos que se
pareça com um plano de verdade. O que se tem é um link, que abre para uma
página onde consta uma definição absolutamente genérica, a qual, por sua
vez, se conecta a outra página onde são encontradas “as ações do PDE”. Não
existe nenhum documento legal; o mais próximo disso, mas no qual não se
menciona o PDE, é o Decreto n. 6.094/2007, que dispõe sobre a
implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. Esse
decreto, aliás, do ponto de vista do financiamento, prima pela desobrigação
do Governo Federal.
Outros obstáculos enunciados por Cury (2007a) e Saviani (2007) advém de
composição estrutural do Plano, que não apresenta princípios, diretrizes, objetivos e metas,
em semelhança ao Plano Nacional de Educação - PNE (BRASIL, 2001). Também, no tocante
à discussão sobre avaliação da educação básica, pode-se constatar que todas as diretrizes das
políticas públicas, principalmente as de ensino fundamental, no atual governo, estão
circunscritas nas ações do PDE, isto é, o direcionamento de avaliação da educação básica do
país está atrelado às medidas adotadas pelo Governo Federal com base no IDEB detalhado
anteriormente.
Numa retrospectiva histórica, podemos argumentar que o PDE é resultado de acordos
com lideranças institucionais e internacionais celebrados nos anos 1990 e 2000.
Em 1990, realizou-se a Conferência Mundial sobre Educação para Todos (EPT), na
cidade de Jomtien, Tailândia, acontecimento amplamente divulgado na literatura educacional.
7 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12238%3Aveja-o-
que-disse-o-ministro-haddad-no-lancamento-do-pde&catid=234%3Amaterias&Itemid=380. Acesso: 02/07/2010.
Diferentes segmentos intercontinentais, deslocados de toda parte do planeta ocuparam lugar
nesse evento: governos, agências internacionais, associações profissionais, organismos não-
governamentais e pessoas de destaque na esfera educacional. Os 155 governos presentes,
entre os quais o Brasil, assinaram uma Declaração Mundial e um plano de ação
comprometendo-se a assegurar uma educação básica a crianças, jovens e adultos. O evento foi
patrocinado por quatro entidades internacionais: UNESCO (Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura); UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a
Infância); PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento); e Banco Mundial,
que formaram uma comissão para acompanhar esse acordo.
Decorridos dez anos da Conferência de Jomtein, um segundo encontro da mesma
natureza ocorreu no ano 2000, na cidade de Dacar, Senegal, onde havia representantes de 164
países, inclusive o Brasil, o que resultou num compromisso de uma educação firmada em seis
objetivos, mencionados abaixo, a serem alcançados até 2015, para o chamado Marco de Ação
de EPT. São eles:
1. Ampliar e aperfeiçoar os cuidados e a educação para a primeira infância,
especialmente no caso das crianças mais vulneráveis e em situação de maior
carência. 2. Assegurar que, até 2015, todas as crianças, particularmente as
meninas, vivendo em circunstâncias difíceis e as pertencentes a minorias
étnicas, tenham acesso ao ensino primário gratuito, obrigatório e de boa
qualidade. 3. Assegurar que sejam atendidas as necessidades de aprendizado
de todos os jovens e adultos através de acesso eqüitativo a programas
apropriados de aprendizagem e de treinamento para a vida. 4. Alcançar, até
2015, uma melhoria de 50% nos níveis de Alfabetização de adultos,
especialmente no que se refere às mulheres, bem como acesso eqüitativo à
educação básica e contínua para todos os adultos. 5. Eliminar, até 2005, as
disparidades de gênero no ensino primário e secundário, alcançando, em
2015, igualdade de gêneros na educação, visando principalmente garantir
que as meninas tenham acesso pleno e igualitário, bem como bom
desempenho, no ensino primário de boa qualidade. 6. Melhorar todos os
aspectos da qualidade da educação e assegurar a excelência de todos, de
forma que resultados de aprendizagem reconhecida e mensurável sejam
alcançados por todos, especialmente em Alfabetização lingüística e
matemática e na capacitação essencial para a vida (BRASIL, 2008, p. 9).
Atualmente, as políticas públicas brasileiras de EPT estão condensadas no PDE, que se
apresenta apoiado em seis pilares: “i) visão sistemática da educação, ii) territorialidade, iii)
desenvolvimento, iv) regime de colaboração, v) responsabilização e vi) mobilização social” –
que atendem a princípios e objetivos constitucionais “(BRASIL, 2007, p. 11).
No Brasil, entretanto, a efetiva incorporação do PDE junto aos entes federados,
consiste em diversas medidas em decorrência da reforma do Estado, que evidencia a presença
do Banco Mundial nos projetos e reformas do ensino nacional (PARO, 2001).
Cury (2002, p. 147) levanta argumentos de que as políticas da educação vêm se
firmando “quer no campo dos suportes materiais, quer no campo de propostas institucionais,
quer no setor propriamente pedagógico”, ou seja, seu raio de ação abrange “desde a sala de
aula até os planos de educação de largo espectro”.
A configuração do PDE tem sido objeto de crítica para alguns pesquisadores. Saviani
(2007, p. 1231-1232) questiona: “Em que medida esse novo plano se revela efetivamente
capaz de enfrentar a questão da qualidade do ensino das escolas de educação básica?” O autor
levanta debate acerca do plano no intuito de analisar em que bases teórico-metodológicas está
fundamentado; provoca dúvidas pela ausência de pistas que revelem, no plano, execução e
controle. O mesmo autor chama atenção, sobre a vulnerabilidade dos meios de monitoramento
utilizados pelo governo, sinalizando possíveis manipulações de dados, estatísticas por conta
de administrações municipais, de modo a se beneficiarem de recursos e, consequentemente, a
apresentação de resultados positivos na qualidade da educação. A singularidade do plano é
outro aspecto, no qual o autor levanta a seguinte dúvida – “um plano de educação ou um
programa de metas?”.
Cury (2007a) afirma que o PDE na sua essência não é um plano, mas se incumbe de
apropriação de 47 ações voltadas para toda educação do país, com um montante de R$ 8
bilhões até o ano de 2010.
Saviani (2007) analisa o PDE em duas intenções: na primeira, afirma que o PDE não é
um plano de educação no sentido estrutural e sim, um programa de ações8, no qual
particulariza sua crítica associando o termo plano (PDE) com o Plano de Metas de Juscelino
Kubitschek, lembrando que este plano contemplava 30 metas. O autor (2007, p. 1237)
argumenta que o PDE é um “aglomerado” de 30 ações, cada qual com sua especificidade. Em
2010, no livro digital do PDE, disponível no site do MEC, constava que no plano há mais de
40 programas (ações).
Observamos que a estrutura do PDE compreende duas características distintas: uma, a
centralização e, a outra, a descentralização. A centralização ocorre porque todos os seus
programas (ações), na realidade, estão subordinados às decisões do Governo Federal. Desde
2007, posto que o principal elo para que o estado ou o município tenham acesso a um desses
programas encontra-se já consolidado por meio da adesão ao Compromisso Todos pela
Educação. A outra característica descentralização é observada na operacionalização do plano
8 Verifica-se que essa referência – um programa de ação – não é inédita, posto que conste no próprio livro
virtual (online) do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE: razões, princípios e programas.
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/livromiolov4.pdf. Capturado em mar/2009.
de meta da unidade escolar, ou seja, observamos que há autonomia para que a escola coloque
em prática a planilha orçamentária aprovada e liberada, mesmo que a secretaria de educação
esteja acompanhando direta ou indiretamente todos os movimentos da rede de ensino.
Na segunda intenção, Saviani (2007) alude ter o PDE originalidade, não contemplada
no Plano Nacional de Educação e em planos anteriores, porque aquele inova quando traz os
programas - IDEB, Provinha Brasil e o Piso do Magistério (SAVIANI, 2007).
Mattos (2006, p. 2) acrescenta que uma acepção política pode se mostrar no decurso
de um projeto, programa e plano, assim definido:
i) Projeto é considerado como um planejamento que consiste no conjunto de
atividades inter-relacionadas e coordenadas para alcançar objetivos
específicos dentro dos limites de um orçamento e de um período de tempo
definido; ii) Programa é definido como um conjunto de projetos que
persegue os mesmos objetivos; estabelece as prioridades da intervenção;
identifica e ordena os projetos, define o âmbito institucional e aloca os
recursos a serem utilizados; iii) Plano é entendido como a soma de
programas que procura objetivos comuns, ordena os objetivos e os desagrega
em objetivos específicos, que constituirão por sua vez os objetivos gerais
dos programas.
Weber (2008) acena favoravelmente para alguns dos propósitos inseridos no PDE:
proposta de criação do Sistema Nacional de Educação, ênfase à tendência republicana
primando no enfrentamento das desigualdades de acesso à educação e as devidas
considerações no que tange às necessidades de desenvolvimento econômico e social.
As pesquisadoras Sforni (2009) e Carvalho (2009) provocam reflexão em resposta à
pergunta: “O PDE traz novidades?” A primeira autora responde que “sim” e aborda o impacto
do PDE na educação básica, na perspectiva de melhoria da aprendizagem dos alunos; comenta
que, nos últimos anos o SAEB tem divulgado, com dados quantitativos, o que pesquisadores
da área educacional têm denunciado, como “a escola perdeu o seu conteúdo”, como também,
“a escola está fracassando no desempenho de sua função”; exalta as medidas desse plano a
partir da inclusão do IDEB: premiar9 com mais recursos financeiros para a educação aquelas
escolas que alcançaram as metas, os índices projetados e oferecer ajuda àquelas escolas que
não atingiram as projeções esperadas, com melhoria na gestão da escola, compra de
equipamentos e formação continuada de professores.
9 Tais medidas suscitaram críticas de Sforni (2009) e Carvalho (2009) à proposta de „prêmio‟, considerando que
a palavra premiar pode ser interpretada como - “recompensa conferida a quem se distingue em competição, jogo,
concurso” (FERREIRA, 1986, p. 1384).
Já Carvalho (2009) discorda, levando sua crítica para o Decreto n. 6094/2007, que
instituiu o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, indutor operacional do PDE.
Destaca o artigo 3º que aponta as atribuições dos sistemas escolares em promover gestão
participativa, o que já constava no Plano Diretor da Reforma do Estado (1995), e que implanta
modelo de gestão pública, por força de tendência mundial, intitulado de gerencial. Tal plano
retira do Estado o papel de único provedor dos serviços públicos, sem com isto perder seu
dever de interventor e regulador. O Estado centraliza a definição de metas e diretrizes, mas
descentraliza sua execução, compartilhando as responsabilidades com os entes federados e a
sociedade civil. Observamos um movimento crescente em prol de ações descentralizadas e as
parcerias entre Estado e sociedade, como também o surgimento de novos mecanismos de
controle pelo Estado, abrangendo avaliação de sistemas e conselhos para reivindicar
resultados, subsidiar a tomada de decisão, imprimir transparência, apresentar prestação de
contas e se responsabilizar pelos resultados educativos.
Como foi explanado antes, o PDE é um plano de governo de cunho executivo,
constituído de mais de 40 programas de ação junto às escolas públicas estaduais e municipais
de todo país. Nesse prisma, cabe esclarecer que o PNE (2001-2010) e PDE foram parâmetros
fundamentais para que o estudo empreendido.
Mediante o exposto, definimos como objetivo geral: investigar, à luz do IDEB,
intenções e ações para melhoria da qualidade do ensino, em uma escola pública de ensino
fundamental localizada no município de Duque de Caxias - RJ. Como objetivos específicos
definimos i) analisar os resultados do IDEB e da Prova Brasil nos anos de 2005, 2007 e 2009;
ii) identificar as ações da gestão escolar beneficiada com as políticas oriundas do PDE no
PDE-Escola para melhoria de aprendizagem dos alunos e, iii) identificar as intenções e ações
didático administrativo-pedagógica, em 2010, da escola investigada.
1.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Considerando-se o princípio de que não há metodologias “boas” ou “más” e sim,
metodologias adequadas ou não para se tratar um determinado problema de pesquisa
(ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004), o presente estudo teve uma
abordagem mista, utilizando coleta e análise de dados qualitativa e quantitativa (CRESWELL,
2007).
Em uma perspectiva de definição conceitual do paradigma qualitativo, Alves-Mazzotti
e Gewandsznajer (2004, p. 131), citando Patton (1986), entendem que as pesquisas
qualitativas se referendam no pressuposto de que “as pessoas agem em função de suas
crenças, percepções, sentimentos e valores e que seu comportamento tem sempre um sentido,
um significado que não se dá a conhecer de modo imediato, precisando ser desvelado”. Dessa
visão, se originam três principios fundamentais para os estudos de cunho qualitativos, quais
sejam: holístico, indutivo e naturalístico. O primeiro propõe que, para se compreender um
comportamento é necessário, substancialmente “compreensão das inter-relações que emergem
de um dado contexto”; o segundo postula que, a conduta do pesquisador deve ser guiada por
“observações mais livres, deixando que dimensões e categorias de interesses emerjam
progressivamente” no decurso do trabalho de “coleta e análise de dados”; e por último, o
princípio naturalístico “em que a intervenção do pesquisador no contexto observado é
reduzido ao mínimo”.
Nesse sentido, é oportuno que assimilemos acepções bastante distintas acerca de
ciências sociais e ciências naturais:
[...] as ciências sociais não podem estabelecer leis universais porque os
fenómenos sociais são historicamente condicionados e culturalmente
determinados; as ciências sociais não podem produzir previsões fiáveis
porque os seres humanos modificam o seu comportamento em função do
conhecimento que sobre ele adquire; os fenómenos sociais são de natureza
subjetiva e como tal não se deixam captar pela objetividade do
comportamento; as ciências sociais não são objetivas porque o cientista não
pode libertar-se, no acto de observação, dos valores que informam a sua
prática em geral e, portanto, também a sua prática cientista. [...] A ciência
social será sempre uma ciência subjetiva e não objetiva como as ciências
naturais; tem de compreender os fenómenos sociais a partir de atitudes
mentais e do sentido que os agentes conferem às suas ações, para o que é
necessário utilizar métodos de investigação e mesmo critérios
epistemológicos diferentes dos correntes nas ciências naturais; métodos
qualitativos em vez de quantitativos, com vista à obtenção de um
conhecimento intersubjectivo, descritivo e compreensivo, em vez de um
conhecimento objectivo, explicativo e nomotético (SANTOS, 2004, p. 36;
38-39)10
.
O trabalho de pesquisa adotou procedimentos de métodos mistos (CRESWELL, 2007)
e teve uma parte descritiva, representada por levantamento de dados qualitativos e
quantitativos. A sutentação desta metodologia partiu da complementariedade das abordagens
qualitativa e quantitativa. Utilizamos instrumentos de cunho quantitativo como questionários
de perguntas abertas, índices e resultados de testes para levantamento de dados; no foco
qualitativo usamos o instrumento transcrição para registro desses dados; no quesito análise de
dados, procuramos estabelecer diálogos com diversos autores identificados com temas
10
O texto manteve a ortografia vigente em Portugal, no ano de 1987, por recomendação do autor.
voltados às ciências da educação e os de conhecimento da ciência estatística (BOGDAN;
BIKLEN,1994). Os métodos de coleta de dados utilizados foram a observação, a análise
documental, a pesquisa bibliográfica e o levantamento de dados estatísticos oficiais11
(ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004; BOGDAN; BIKLEN,1994; RIZZINI
et al., 1999; LÜDKE; ANDRÉ, 1989).
Para alcançarmos os objetivos propostos à nossa pesquisa, definimos como campo de
pesquisa empírica uma escola da rede pública municipal de ensino fundamental, anos iniciais,
localizada em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, que recebeu o nome fictítico de
Delta. A opção por esta escola aconteceu porque a mesma atendeu aos critérios que
entendemos ser necessários para o desenvolvimento da investigação: i) estar situada em
perímetro urbano; ii) ter alunos matriculados em turmas de 5º ano do ensino fundamental; iii)
ser contemplada com as políticas públicas do PDE-Escola; iv) ter seu quadro de pessoal
administrativo-pedagógico completo e, v) ter um gestor com tempo de experiência na função
que pudesse demonstrar conhecimento da realidade da escola.
O planejamento procurou seguir as orientações de Alves-Mazzotti e Gewandsznajder
(2004), Bogdan e Biklen (1994), Costa (2002), Creswell (2007), Gil (1994), Rizzini et al.
(1999), Lüdke e André (1989), Zago (2003). A escolha por esses autores se fez pela clareza de
seus argumentos, no encaminhamento de estruturação de coleta e análise de dados, na
preocupação didática com os iniciantes à investigação de pesquisa científica.
Após atendimento às formalidades iniciais de apresentação do pesquisador à escola,
seguiu-se a etapa que Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004), Lüdke e André (1986)
caracterizam de período exploratório. Coube aqui todos os registros possíveis de observações:
pessoas, falas, situações, detalhes. O instrumento básico para registro das observações foi o
diário de campo (BOGDAN; BIKLEN,1994).
A observação foi utilizada simultaneamente junto à entrevista semiestruturada, que
oportuniza maior flexibilidade no intento de atender ao objetivo do pesquisador, ou seja,
redirecionar as respostas, caso não atendam a sua expectativa e podendo ser aplicada com um
número reduzido de perguntas e, também, junto aos questionários (LÜDKE; ANDRÉ, 1989;
RIZZINI et al., 1999). O roteiro das perguntas seguiu as instruções do SIMEC, no documento
Diagnóstico Escolar (Anexo A).
Os sujeitos entrevistados foram: uma diretora de escola, uma professora da turma de
5º ano do ensino fundamental, uma orientadora educacional e uma orientadora pedagógica,
11
Disponíveis no site http://www.inep.gov.br/. Acesso em 10/12/2010.
além da diretora de Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação (SME) da
Prefeitura de Duque de Caxias, que participarm com seus relatos de experiências, nos quais
buscamos captar o pensar, o agir, o sentir de seu cotidiano, suas crenças, esperanças, críticas
ou não com foco na avaliação da educação básica. Todos foram devidamente esclarecidos
pela entrevistadora quanto aos objetivos da pesquisa.
A partir de estudos de Bogdan e Biklen (1994), entendemos que a entrevista teve a
finalidade de juntar os dados fornecidos na experiência daqueles elementos envolvidos na
pesquisa, o que pode nos permitiu o desenvolvimento analítico-descritivo de como esses
sujeitos através de inteções e ações à luz do IDEB, interpretaram e praticaram a realidade de
avaliação da educação básica, enquanto políticas públicas.
Na pesquisa de campo tais procedimentos ocorreram em situações precisas. Por
exemplo, na entrevista com a diretora da EM Delta não houve uma narrativa linear, devido a
interrupções sucessivas de terceiros; contudo, estas não me causaram surpresa porque eu
observara no correr dos dias, dentro do oportuno, o movimento das pessoas no ambiente da
escola. A entrevista foi concluída levando em conta que eu procurei deixar a gestora muito à
vontade me adequando ao seu tempo disponível, e houve correspondência. Em relação ao
questionário que foi utilizado com as orientadoras pedagógica e educacional (OP/OE) e a
professora, observei que algumas respostas não forneciam dados suficientes para a análise de
dados da investigação (o questionário foi respondido por escrito pelos sujeitos, por solicitação
dos mesmos, com justificativa de não estarem bem com a voz ). Então, num segundo
momento, retomei o questionário, agora, recorrendo a metodologia da entrevista por escrito,
que segundo Lüdke e André (1989, p. 37), “nem todos se mantêm inteiramente à vontade e
naturais ao ter sua voz gravada”. Argumentei que aquele ato era apenas para esclarecer
algumas respostas as quais eu não havia entendido e, assim, eu pude concluir essa etapa da
investigação.
Lüdke e André (1986, p. 33-34) recomendam prudência para o aspecto interação que
poderia advir na entrevista, diferentemente de outros instrumentos de coleta de dados, como
por exemplo, a “observação unidirecional” ou mesmo a aplicação de questionários, que na
maioria das vezes se criam certo formalismo no sentido hierárquico de um entrevistador e de
um entrevistado. No tocante à entrevista, a relação que se criou foi de interação, havendo uma
atmosfera de influência recíproca entre quem perguntou e quem respondeu, principalmente,
na entrevista semiestruturada onde – “o entrevistado discorre sobre o tema proposto com base
nas informações que ele detém e que no fundo são a verdadeira razão da pesquisa”. As
mesmas autoras orientam atenção do investigador na utilização da técnica de entrevista: o
respeito à realidade individual do entrevistado, ou seja, atentar para as opiniões, valores, como
também saber ouvir e estimular um clima confortável de informalidade.
Outra técnica adotada para levantar os dados foi a análise documental, como projeto
político pedagógico e diário de classe, pela condição de oferecer complementação às
informações adquiridas por outras técnicas (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Esta técnica foi
utilizada para confrontar os dados de informação fornecidos pela escola. Os estudos de Guba
e Lincoln (1981) e Lüdke e André (1986) argumentam que os documentos representam um
recurso valioso onde pode-se abstrair evidências que validem argumentos e afirmações do
pesquisador.
A pesquisa prosseguiu na análise de dados após levantamento de informações nos
documentos já mencionados, na observação, nas entrevistas e nos questionários; outros dados
de cunho quantitativo foram agregados à análise: os desempenhos escolares divulgados pela
Prova Brasil 2005, 2007 e 2009 e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 2005,
2007 e 2009 divulgados pelo MEC/INEP.
Turato (2003) e Denzin e Lincoln (2006) tratam acerca das ciências sociais se
utilizarem de métodos quantitativos, como: as estatísticas, as tabelas, os gráficos e os
números, embora tradicionalmente aqueles sejam de uso das ciências naturais, estas por sua
vez adotam, também, o emprego de métodos qualitativos em suas pesquisas.
Conforme relatos nos estudos de Gatti (2002, p. 29), os conceitos quantidade e
qualidade têm proximidade relacional, posto que a quantidade esteja inserida na leitura que se
faz da “grandeza com que um fenômeno se manifesta” e, esta mesma grandeza necessita de
referencial qualitativo para ter significado. As razões para o uso de dados quantitativos foram
justificadas anteriormente.
A análise dos dados ganhou caráter sistemático após compilar todo acervo obtido no
decurso da pesquisa (LÜDKE; ANDRÉ, 1986), em outras palavras, transcrições das
entrevistas, questionários, relatos das observações, análise dos documentos e interpretação dos
dados de avaliação da educação básica (ensino fundamental) nos anos de 2005, 2007 e 2009.
Esta pesquisa está organizada em oito capítulos, compreendendo esta introdução. No
próximo capítulo, é exibido o referencial teórico, com estudos produzidos no Brasil e outros
dados do cenário internacional que tratam de legislação educacional no ordenamento jurídico
constitucional, avaliação da educação básica no PNE e PDE. No capítulo seguinte, são
mostrados os programas de ação do PDE na perspectiva de: magistério (formação, plano de
carreira e piso salarial), financiamento (FUNDEF/FUNDEB) e qualidade do ensino sob dois
aspectos: primeiro, a educação básica e o IDEB como indicador e, segundo, evolução do
IDEB conforme metas projetadas e atingidas em 2005, 2007 e 2009 no ensino fundamental.
Em seguida, é apresentado breve histórico sobre o SAEB e a Prova Brasil, além de
observação sobre a evolução da Prova Brasil em 2005, 2007 e 2009. Depois, são apontadas as
análises de dados consequente da pesquisa de campo que realizamos. Na conclusão, traçamos
nossas impressões acerca das intenções e ações, à luz do IDEB, em uma escola pública de
ensino fundamental. Na sequência, são elencadas as referências, pelas quais nos esmeramos
em aprofundar a fundamentação de nossos argumentos ao longo da construção da dissertação
e, finalizamos com os anexos que muito nos possibilitaram consubstanciar levantamento de
dados de pesquisa de campo.
2 POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Para efeito de orientação à proposta de investigação da pesquisa, organizamos em dois
eixos a estruturação do referencial teórico. No primeiro eixo, fizemos uma sistematização da
educação básica à luz da legislação a partir dos estudos de Abreu (2002); Bernado (2003);
Cunha (2005); Cury (2008a, b); Freitag (2007); Mainardes (2001); Martins (2002); Romanelli
(1997); Saviani (2004a, 2005, 2007, 2009); Soares e Sátyro (2008); Shiroma, Moraes e
Evangelista (2004); Velloso (1978); Vieira (2008), Vieira e Farias, (2007), entre outros
pesquisadores. No segundo eixo, trouxemos a educação básica e o Plano Nacional de
Educação (2001-2010) com contribuições de Camargo, Pinto e Guimarães (2008); Dourado
(2006); Valente (2001); Peroni (2003); Romanelli (1997); Souza; Silva (1997), entre outros.
Desde 2007, as políticas públicas de educação no Brasil estão reguladas pelo PDE.
Despertou nosso interesse o tom argumentativo deste Plano em dois aspectos: o primeiro, a
crítica ao PNE (2001 – 2010) que, apesar de sustentar um considerável diagnóstico dos
problemas educacionais, não apontava ações para assegurar a qualidade da educação. Em
contrapartida, o PDE apresenta o IDEB como mecanismo para aferir a qualidade da educação
e, em decorrência, o Governo Federal viabiliza políticas de suporte financeiro e recursos
técnicos à rede escolar previamente credenciada pelo SIMEC/MEC. O segundo, a crítica ao
modelo sistêmico de educação, até então predominante no Brasil, que concebia níveis, etapas
e modalidades de ensino como instâncias distintas, isoladas, desarticuladas entre si,
asseverando uma visão fragmentada que partiu de “princípios gerencialistas e fiscalistas, que
tomaram os investimentos em educação como gastos, em um suposto contexto de restrição
fiscal”. O PDE afirma que, de um modo, está “ancorado em uma concepção substantiva de
educação que perpassa todos os níveis e modalidades educacionais” (BRASIL, 2007a, p. 7) e,
de outro,
em fundamentos e princípios historicamente saturados, voltados para a
consecução dos objetivos republicanos presentes na Constituição, sobretudo
no que concerne ao que designaremos por visão sistêmica de educação e à
sua relação com a ordenação territorial e o desenvolvimento econômico e
social.
É possível considerar que o PDE, lançado em 2007, deu um salto significativo na
política educacional do país, quando incorporou o IDEB na avaliação de larga escala da
educação básica. Por outro lado, a crítica estará sempre presente quando o próprio PDE toma
para si metas do PNE (2001-2010) em período de vigência.
Diante desse quadro, nos preocupamos em reexaminar as vias de sistematização da
educação básica à luz dos princípios constitucionais, incorporados em seis das sete
Constituições Federativas do Brasil e, também, na legislação educacional afim. Antes,
porém, a título de análise dos fatos históricos relacionados à educação e as políticas públicas
correlatas, interpretamos ser plausível sucinta compreensão conceitual sobre o papel do
Estado (PERONI, 2003), considerando o veio da nossa investigação. É importante salientar
o reconhecimento da produção de extensa literatura no estado da arte dedicada à questão,
que não se esgota pela sua complexidade, dentre a qual elencamos Cunha (2005); Freitag
(2007); Höfling (2001); Peroni (2003). Logo depois, analisamos a educação básica e o PNE
(2001-2010). Na próxima seção procuramos adentrar aspectos que nos revelaram
informações possíveis a identificar políticas públicas educacionais, no Brasil, à luz da
legislação.
2.1 SISTEMATIZAÇÃ DA EDUCAÇÃO BÁSICA À LUZ DA LEGISLAÇÃO
Para compreendermos de que forma se deu o ordenamento da educação básica no
Brasil, adotamos uma estratégia nos valendo de consultas a textos constitucionais e de leis
ordinárias educacionais. O estudo do conjunto desses dispositivos nos permitiu identificar que
o acesso à educação é um direito constitucional a qualquer cidadão brasileiro. Mas de que
maneira se processam essas garantias? Qual o papel do Estado nas políticas educacionais?
A partir de uma análise do contexto histórico internacional do período após a Segunda
Guerra Mundial, em 1945, o Estado capitalista incorpora novos papéis12
, posto que o
investimento em capital fixo e condições de demanda relativamente estáveis, eram medidas
necessárias para a produção em massa e sua lucratividade (PERONI, 2003).
No propósito de ampliar as bases de fundamentação ao tema, Höfling (2001, p. 30-31)
faz um estudo da concepção de Estado e política social e como esses explicam a sustentação
de políticas públicas sociais e programas de intervenção em um determinado tempo histórico.
Estabelece diferenciação entre Estado e Governo, que se ajusta ao exposto acima. Assim, ela
considera o Estado como “o conjunto de instituições permanentes – como órgãos legislativos,
tribunais, exército, [...], que possibilitam a ação do governo” e, no caso o Governo, como “o
12
Peroni (2003), a partir das proposições de Harvey (1989), afirma que “o Estado tinha o papel de controlar os
ciclos econômicos, combinando políticas fiscais e monetárias. As políticas eram direcionadas para o
investimento público, principalmente para os setores vinculados ao crescimento da produção e do consumo em
massa, e tinham, ainda, o objetivo de garantir o pleno emprego. O salário era complementado pelos governos
através de seguridade social, assistência médica, educação, habitação. O Estado acabava exercendo, também, o
papel de regular direta ou indiretamente os acordos salariais e os direitos dos trabalhadores na produção; era o
chamado Estado de bem-estar-social” (PERONI, 2003, p. 22).
conjunto de programas e projetos que parte da sociedade (políticos, técnicos, organismos da
sociedade civil e outros) propõe para a sociedade como um todo”, o que caracteriza a
orientação política de um governo específico no comando de um Estado por um mandato
determinado.
Em estudo sobre política educacional e papel do Estado, Peroni (2003, p. 22) analisa o
conceito de Estado e afirma que este “não pode ser entendido por si mesmo” e, sim, nas
“relações materiais de existência”. A autora entende que as mudanças advindas da política
educacional na década de 1990 deveriam ser assimiladas “como parte da materialidade da
redefinição do papel do Estado”. Então, propõe que para se entender esse Estado – agente das
políticas educacionais – devemos buscar estabelecer aproximações ”conexão” entre os
diversos processos que produziram o referido movimento histórico, ou seja, através da
“reestruturação produtiva, a globalização, o neoliberalismo e a pós-modernidade”.
À frente dessa perspectiva, Hayek13
(2009, p. 107) já defendera o princípio do Estado
liberal, conjugando, simultaneamente, argumentos tanto do ponto de vista econômico quanto
do político que delimitam o raio de ação daquele:
O Estado deve restringir-se a estabelecer regras que se apliquem a princípios
gerais, e deve dar aos indivíduos liberdade em tudo o que dependa de
circunstâncias de tempo e lugar, pois só os indivíduos implicados em cada
instante podem conhecer na plenitude estas circunstâncias e adaptar a elas as
suas ações.
Pelo exposto, de acordo com Gobert (1987) e referendado por Hofling (2001, p. 31), é
possível identificar o significado de Governo como o “Estado em ação”, que se efetiva por
meio de políticas públicas que envolvem o conjunto dos poderes executivo, legislativo e
judiciário e de toda sociedade civil.
Nesse sentido, fomos investigar de que modo a lei disciplina a sistematização da
educação básica.
A educação escolar brasileira se distingue em diferentes períodos que se deu a
organização e evolução do ensino, decorrentes de fatores sócio-econômico-político-cultural
na história do Brasil (ROMANANELLI, 1997). Para estudar a avaliação da educação básica,
tendo como pano de fundo um plano de educação como instrumento basilar de análise, é
fundamental localizá-lo no contexto histórico mais amplo de medidas governamentais da
educação sistematizada. Desta forma, dividimos o eixo políticas públicas educacionais à luz
13
A referência a Rayek (2009) é da tradução (Língua Portuguesa) do livro “O Caminho para a Servidão, que
“teve como ponto de partida a edição da Routledge, de 2007, publicada pela primeira vez em 1944 [...]”,
conforme nota do tradutor.
da legislação em duas partes: a primeira – princípios constitucionais e a sistematização da
educação - apresentamos um panorama do contexto histórico-legislativo de inscrição da
evolução das políticas públicas de ensino no texto das seis Constituições Federativas
Brasileiras; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 4.024, de 20 de dezembro de
1961; a Lei n. 5692, de 11 de agosto de 1971 de Reforma do Ensino de 1º e 2º Graus14
e a
atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação n. 9394, de 20 de dezembro de 1966. Buscamos
com esses dispositivos depreender fatores determinantes na sistematização de políticas
públicas na área da educação, que repercutiram até a primeira década do século XXI. A
segunda parte procurou desvelar a avaliação da educação básica no texto do PNE (BRASIL,
2001). E programas de ação do PDE na perspectiva de: magistério, financiamento e qualidade
do ensino, observado no capítulo 3.
No entendimento de Vieira (2008, p. 23), as políticas educacionais podem ser
estudadas pela legislação, considerável instrumento que carrega um valor próprio e um
significado histórico; mais especificamente, em referência as Constituições Brasileiras, a
autora afirma que
[...] são documentos chaves para compreender os temas relevantes relativos
aos diferentes momentos históricos em que são concebidas. [...] sinalizam a
agenda de reformas que vão sendo propostas ao longo do tempo. Assim
sendo, estudá-las é não apenas oportuno como necessário ao conhecimento
da política educacional em nosso país.
Lembrando que o PDE é uma política educacional, nosso desejo é investigá-lo
enquanto “ações governamentais” (VIERA, 2008, p, 21) e que ”as políticas educacionais, [...]
expressam a multiplicidade e diversidade da política educacional em um dado momento
histórico, expressando-se através da legislação, de planos, projetos e programas [...].”
Mas como ordenar as nossas inquietações e dúvidas nessa investigação?
Até o ano de 1930 não existia uma política nacional de educação com diretrizes gerais,
pois os projetos então implementados pela União restringiam-se ao território do Distrito
Federal, mesmo que resguardada a autonomia dos Estados (EVANGELISTA; MORAES;
SHIROMA, 2004).
Com a instauração da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16
de julho de1934, as políticas educacionais dispõem, pela primeira vez, de ordenamento
jurídico de abrangência nacional. A nova Constituição estabelece medidas significativas, em
um capítulo específico, de reformas educacionais: a elaboração de um Plano Nacional de
14
Nomenclatura usada à época da vigência da Lei n. 5.692/1971 até a criação da Lei n. 9.394/1996.
Educação, obrigação do Poder Público à oferta de educação como direito de todos (art. 149)
ensino primário gratuito e obrigatório (art. 150); definição de impostos para financiamento:
“A União e os Municípios aplicarão nunca menos de dez por cento, e os Estados e o Distrito
Federal nunca menos de vinte por cento, da renda resultante dos impostos, na manutenção e
no desenvolvimento dos sistemas educativos” (art. 156) (CIAVATTA, 2003; CURY, 2008b;
FREITAG, 2007; VIERA; FARIAS, 2007).
Cury (2008b) comenta que, apesar de aparente rompimento com a barreira da
discriminação étnica quanto ao acesso à educação formal, a Constituição de 1934 dá
continuidade ao caráter elitista da questão de exclusão social. O autor (2008b, p. 1191) chama
atenção para o artigo 150, alínea e – “limitação da matrícula à capacidade didática do
estabelecimento e seleção [...]” – que determina exame de seleção para sequência de estudos,
após conclusão com êxito do ensino primário. A realidade observada é que os fatores
excludentes de acesso à escolaridade em legislações anteriores permanecem, mesmo em
menor escala, apesar de consideradas as inovações presentes.
Após os três anos de promulgação da Constituição de 1934 e com a outorgação da
quarta Constituição de 1937, não identificamos na literatura evidências de políticas públicas à
execução do Plano Nacional de Educação designado neste diploma legal (CUNHA, 2005;
CURY, 2008b; EVANGELISTA; MORAES; SHIROMA, 2004; FREITAG, 2007;
GONDRA; MAGALDI 2003; MARTINS, 2002; ROMANELLI, 1997). A ausência de
tratamento legal a respeito de Plano Nacional de Educacional se repete nas constituições
subsequentes dos anos de 1946 e 1967.
Como nos lembra Saviani (2004a, p. 74), a proposta de um Plano Nacional de
Educação esteve sob orientação do então Ministro Gustavo Capanema, em 1937, o que na
realidade era “um minucioso texto com 504 artigos que autodenominava, no artigo primeiro,
de “código da educação nacional”, o qual, entretanto, acabou sendo deixado de lado em razão
do advento do “Estado Novo” naquele mesmo ano de 1937.
Mas em que consistia a ideia central desse documento?
Saviani (2004a, p. 74), numa visão analítico-crítica, tece dois argumentos a respeito
daquele documento: i) a questão da forma, que se aproximava das prerrogativas educacionais
da Constituição de 1934, ou seja, “a ideia do plano coincidia com as próprias diretrizes e
bases da educação nacional” e ii) o sentido do conteúdo, que difundia o ideário político do
Estado Novo, o que se distanciava das intenções expressas no Manifesto dos Pioneiros da
Escola Nova, também comungadas pela Associação Brasileira de Educação (ABE). E
acrescenta:
Enquanto para os educadores alinhados com o movimento renovador o plano
de educação era entendido como um instrumento de introdução da
racionalidade científica na política educacional, para Getúlio Vargas e
Gustavo Capanema o plano convertia-se em instrumento destinado a revestir
de racionalidade o controle político-ideológico exercido através da política
educacional (SAVIANI, 2004, p. 74).
O pensar acerca da sistematização da educação básica, nos moldes do Plano Nacional
de Educação (2001-2010), nos remete ao IX Congresso Brasileiro de Educação15
, fomentado
pela ABE, que produziu a Carta Brasileira de Educação Democrática, importante documento
que traduz as aspirações da comunidade educacional preocupada e compromissada com o
destino da educação no país, naquela época; o que nos fez reproduzir o texto referente aos
“limites e obrigações da intervenção do Estado em matéria de educação (GONDRA;
MAGALDI, 2003, p. 148-149):
1- A educação é um direito, pelo que deverá ser assegurado na Constituição.
2 - A esse direito correspondem, para o Poder Púbico, o dever de regular,
por via legislativa, o exercício das atividades educacionais e a obrigação de
manter sistemas de escolas, destinadas a exercê-las. 3 - As finalidades da
educação devem ser traçadas pelo Poder Público, não arbitrariamente, mas
em conformidade das ciências de educação e com os anseios e aspirações
das coletividades, refletidos através de conselhos populares de educação. 4 –
Exercendo sua tarefa educacional por meio de órgãos autônomos, o Poder
Público deve contribuir com o máximo de recursos públicos e com a melhor
técnica pedagógica, para o que (sic) realizará todos os ensaios e pesquisas
necessários. 5 - Reconhecendo esse dever, incumbe primordialmente ao
Poder Público realizá-lo na maior amplitude. A iniciativa particular, na
concepção desse objetivo, será admitida em caráter subsidiário, com a
cooperação e assistência das autoridades de ensino. 6 - As obrigações,
atribuições ao Poder Público, correspondem o ensino em todos os graus e
ramos, bem como dizem respeito ao poder em suas três esferas – a federal, a
estadual e a municipal, no âmbito de competência de cada uma. 7 - A ação
do Poder Público deve exercer-se por meio de: a) o planejamento das
atividades, objetivamente traçado de acordo com as necessidades e
possibilidades do país, em etapas sucessivas, de ritmo crescente; b) a
coordenação das possibilidades individuais da União, dos Estados, dos
municípios e da iniciativa particular, segundo convenções, gerais ou
parciais, que considerem a variedade de situações, a liberdade de acordo e a
adequação de resoluções a cada meio. 8 - O dever do Poder Público de
prestar assistência à infância e à adolescência em geral inclusive aos
abandonados e delinqüentes, não se restringe às medidas de propaganda
junto à opinião pública nem à manutenção de postos, asilos ou patronatos,
mas se exerce em sistemas paralelos ao das escolas comuns que lhe cabem,
traduzidas em realizações imediatas e conjugadas, de que a escola comum
seja o órgão central e irradiador, com todos os sub-órgãos essenciais a cada
finalidade.
15
Congresso realizado no estado do Rio de Janeiro, de 22 a 28 de junho de 1945.
O teor doutrinário de parte da carta acima, nos ajuda a compreender os ditames
expressos no Constituição Federal de 1946 sobre as regras à sistematização da educação
nacional.
A Constituição Federal de 1946, a quinta do Brasil e quarta da República, no capítulo
destinado à educação, reproduziu a maior parte do texto da Constituição de 1934, inclusive,
mantém a competência da União nas diretrizes e bases da educação nacional, no artigo 5º,
Inciso XIV. No Capítulo II – dos Direitos e das Garantias individuais expressos na Carta de
1946, o Estado deve assegurar a todos os direitos à vida, à liberdade, à segurança individual e
à propriedade, citado no artigo 141. O texto expressa os princípios de “inspiração ideológica
liberal-democrática” presentes nas reivindicações sociais do século XX, diferentes da corrente
liberal norteadora da política econômica européia dos séculos XVII e XIX, e da “ideologia
liberal-aristocrática esposada pelas nossas elites, no antigo regime” (ROMANELLI, 1997, p.
171).
Em meio a esse diploma legal, pode ser percebido no artigo 5º, XV, d, que delega à
União o poder de legislar sobre as diretrizes e base da educação, reacende longos e intensos
debates ideológicos às críticas dos defensores da escola pública obrigatória e gratuita16
e
daquele setor a favor da iniciativa particular, o que caracterizava a política educacional ainda
e que persiste até o ano de 1961.
As vias de sustentação desses embates democráticos resultaram, finalmente, na
promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) n. 4024, de 20 de dezembro de
1961, primeira referência legal sobre as diretrizes e bases da educação nacional (CUNHA,
2005; CURY, 2008; EVANGELISTA; MORAES; SHIROMA, 2004; FREITAG, 2007;
ROMANELLI, 1997).
A nova Lei estabelece que o ensino no Brasil possa ser ministrado tanto pelo setor
público quanto pelo particular (art. 2º). Mas o que ela trouxe de inovação para o Sistema
Escolar Brasileiro?
Aspectos positivos nesta legislação aparecem no que se refere à permissão dos Estados
e estabelecimentos de ensino livremente optarem, em até duas disciplinas, para compor o
currículo de cada curso (art. 40, b), o que interpretamos como uma relativa descentralização e
flexibilização curricular (ROMANELLI, 1997).
Observa-se que a referida Lei, no artigo 27, disciplina que no ensino primário será
obrigatório a partir dos 7 anos de idade, com duração de 4 anos, podendo se estender até 2
16
O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932 tornou-se marco de sustentação por uma educação
pública gratuita e obrigatória no país (GONDRA; MAGALDI, 2003).
anos, e guarda a mesma essência de ensino encontrada na Constituição de 1946. Porém, a
gratuidade do ensino primário determinada por esta fica em aberto por aquela (CURY, 2008b)
no seu artigo 30, pois, ao definir os aspectos de isenções de obrigatoriedade, preceitua
desobrigação do ensino primário à população inserida nos casos de: “a) comprovado estado de
pobreza do pai ou responsável; b) insuficiência de escolas; c) matrícula encerrada; d) doença
ou anomalia grave da criança”. Uma das faces excludente da Lei é identificada pelo mesmo
autor (Ibid., p. 1194):
Raramente a face da desigualdade social foi tão clara: o indivíduo em estado
de pobreza está privado das virtudes de um direito proclamado como
essencial para a vida social. Mas certamente não está excluído de continuar
sendo mantido clientelisticamente nos espaços de um trabalho rural.
Também o cidadão cujo município ou região do estado careça de recursos
para abertura de escolas ou de vagas para todos também pode ser
desobrigado da freqüência à escola. Seus cidadãos, contudo, não estão
proibidos de serem sujeitos a um trabalho precário.
O caráter orgânico de exclusão focado na LDB n. 4024/1961 é antecedido no art. 18:
“Nos estabelecimentos oficiais de ensino médio e superior, será recusada a matrícula ao aluno
reprovado mais de uma vez em qualquer série ou conjunto de disciplinas”. Na realidade, o que
se aplicava na prática era a caracterizada expulsão legal do aluno, ou melhor, o educando era
impedido de renovar sua matrícula. O efeito perverso do rigor desse dispositivo na vida dos
estudantes com muita dificuldade de aprendizagem, isentava a União, os Estados e os
estabelecimentos de ensino de oportunizar novas situações de conhecimento seguidas de
avaliação de recuperação, porque não havia orientação curricular pela própria Lei. À época, a
legislação educacional apenas determinava no artigo 39, § 1º que, para efeito de avaliação do
aproveitamento do aluno, prevaleceriam os resultados obtidos, nas atividades escolares, ao
longo do ano letivo, ou seja, os aspectos formativos preponderariam aos aspectos
quantitativos.
Em 1962, surge o primeiro Plano Nacional de Educação por iniciativa do Ministério
da Educação e aprovado pelo Conselho Federal de Educação, mas sem proposta de um projeto
de lei. O Plano trazia apenas um conjunto de metas quantitativas e qualitativas com projeção
para oito anos, consoante a LDB n. 4024/1961. Segundo Cury (2007b, p. 841) citando Kelly
(1963), “coube a Anísio Teixeira articular, num só documento, as metas quantitativas e
qualitativas, as normas reguladoras da distribuição dos fundos nacionais do ensino primário e
do ensino médio e as razões que impediam a formulação quanto ao ensino superior”.
Em 24 de janeiro de 1967 é promulgada a sexta Carta Magna do país e a quinta da
República Federativa do Brasil, em plena vigência do regime militar. Nesta Constituição,
segundo Teixeira (2008), a matéria educação encontra-se disposta nos artigos 8º, XVI, XVII,
q e § 2º, e 167, § 4º, e 168 a 172. Observa-se no artigo 168 a determinação de obrigatoriedade
do ensino primário para todos nos estabelecimentos oficiais, que foi ampliada para oito anos,
dos 7 aos 14 anos de idade. Às empresas comerciais, industriais e agrícolas foram impostas
obrigações de ofertar o ensino primário gratuito aos empregados e seus filhos, bem como
delegadas às duas primeiras o dever de oferecer cursos de aprendizagem aos trabalhadores
menores (art. 170).
A Constituição Federal de 1967 extinguiu o princípio da vinculação orçamentária
incorporado nas Constituições de 1934 e 1946, que responsabilizava a União, os Estados e os
Municípios a dispor um percentual mínimo da renda resultante dos impostos para a
subsistência da educação (SAVIANI, 2008; SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2004;
VIEIRA, 2008). Cury (2008b) nos leva a inferir o espírito (procedimento) exclusivista
presente na Constituição de 1967 que expande o ensino primário para oito anos e o torna
obrigatório, apenas, à faixa etária de 7 até 14 anos. Nesse período, a migração rural-urbana
força a ampliação da rede pública de ensino e mais preparo acadêmico do corpo docente,
considerando as características dos novos alunos candidatos à escola pública, oriundos de
variados segmentos das classes populares. O aumento significativo do quantitativo de alunos
sem o devido aparato de ações pedagógicas, recursos e infraestrutura acarretou o inevitável:
evasão, repetência e baixo desempenho escolar. O movimento de matrícula em 1932, 1940,
1950, 1960 e 1970, na escola primária brasileira, é apresentado na Tabela 1 e, na Tabela 2,
consta a participação das esferas administrativas nas despesas de educação e cultura entre
1971-1983. Adiante, no Gráfico 8, mostramos a evolução do número de matrículas nos anos
iniciais e anos finais do ensino fundamental, no período 2007-2010.
Tabela 1 - Evolução da matrícula na escola primária, por zona, no Brasil, entre 1932 e 1970
Anos Zonas Total
Rural Urbana
1932
1940
1950
1960
1970
961.797
1.185.770
1.876.057
2.962.707
4.749.609
1.109.640
1.882.445
2.488.795
4.495.295
8.062.420
2.071.437
3.068.215
4.364.852
7.458.002
12.812.029 Fonte: Romanelli (1997, p. 76). Adaptado
A Tabela 1 mostra que houve uma evolução progressiva de matrícula na escola
primária, das zonas rural e urbana, entre 1932 e 1970. Quando comparamos o resultado total
do ano 1932 com o de 1970, podemos observar que o número de matrículas quintuplicou.
Mas que resultado apresentou esse movimento de matrícula ao final do ano letivo?
Tabela 2 – Participação das Esferas Administrativas nas Despesas de Educação e Cultura 1970/1983
Anos Governo Federal Estados Municípios Total
1971 23,16 64,73 12,11 100,00
1972 24,37 62,91 12,72 100,00
1973 22,47 65,07 12,46 100,00
1974 21,57 65,28 13,15 100,00
1975 22,31 64,40 13,29 100,00
1976 24,66 57,87 17,47 100,00
1977 27,13 55,94 16,93 100,00
1978 27,15 55,60 17,25 100,00
1979 26,16 56,15 17,69 100,00
1980 25,60 56,49 17,91 100,00
1981 26,76 56,70 16,54 100,00
1982 28,32 59,11 12,57 100,00
1983 25,89 58,55 15,56 100,00
Fonte: Cunha (200, p. 317).
Pelos dados da Tabela 2, podemos observar que o Governo Federal, em 1983, destinou
25,89% do erário público para as despesas em educação e cultura, cabendo aos estados o
montante de 58,55% e aos municípios apenas 15,6%. Também é clara a irregularidade da
evolução dessa participação nas três esferas administrativas, ao longo de treze anos, ou seja,
não houve um aumento crescente. Por exemplo, na esfera estadual quando comparamos o ano
de 1971 com o ano de 1983, constatamos uma defasagem para este de 9,5%, considerado o
período.
Mediante esse cenário, a Tabela 3, a seguir, aponta um quadro da educação escolar
que nos possibilita analisar a trajetória das taxas de repetência, ao longo de dezesseis anos,
com base na categoria seriação, das séries iniciais do 1º grau17
entre os anos 1967-1982.
17
Nomenclatura usada pela Lei n. 5692/1971 que fixou as Diretrizes e Bases para o Ensino de 1º e 2º Graus no
período entre os anos 1971-1996.
Tabela 3 - Taxas de repetência (%) no início do ano, segundo as séries do ensino de 1º grau
período 1967-1982.
ANOS 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
___________________________________________________________________________ 1ª série 27,72 28,63 25,55 27,77 23,01 23,23 23,43 24,75 23,74 26,34 29,54 29,63 30,39 29,02 28,82 26,30
2ª série 18,39 18,14 15,85 15,70 12,51 17,74 17,56 16,65 16,52 16,52 17,62 17,77 17,55 18,96 19,42 19,99
3ª série 15,35 15,79 13,22 11,58 10,62 10,96 11,55 10,53 10,32 12,92 14,03 14,98 15,09 15,49 16,13 16,40
4ª série 10,43 10,56 9,02 8,48 8,42 10,37 10,71 9,72 9,78 11,21 11,56 11,75 11,67 12,13 12,11 13,10
____________________________________________________________________________________________________
Fonte: Ministério da Educação e Cultura, Secretaria de Informática, Serviço de Estatística da Educação e
Cultura. Tabela extraída de: Anuário Estatístico do Brasil Anuário Estatístico do Brasil 1983. Rio de Janeiro:
IBGE, v. 44, 1984. (Adaptação)
A Tabela 3 apresenta o percentual de repetência nas quatro primeiras séries do 1º grau,
entre 1967-1982. Quando observamos os índices de repetência de cada série, na sua própria
evolução, observamos que os percentuais oscilam entre os anos, ora para mais, ora para
menos. Comparando a evolução das repetências entre os anos de 1967 e 1982, observamos
que passados dezesseis anos muito pouco mudou nessa estatística. Na 1ª série a repetência
diminui apenas 1,42%; nas 2ª, 3ª e 4ª séries houve um aumento de 1,8%; 1,05% e 2,67%,
respectivamente.
O efeito drástico com que se arrastou, por anos, a repetência no Brasil chama-se
distorção idade-série, mostrada na Tabela 4, no ensino regular do antigo 1º grau, em todo
Brasil. Os registros oficiais de 1987 denunciam a situação crítica da distorção idade-série em
todo espaço regional brasileiro.
Tabela 4 - Ensino Fundamental Regular de 1º grau /Taxa de distorção idade-série –
Regiões/Brasil - 1987 BRASIL/
REGIÕES
S É R I E S
Total 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
74,22
82,54
84,38
66,28
67,01
77,83
69,46
76,11
79,81
53,56
59,61
72,16
73,51
84,20
85,74
63,05
64,33
78,15
74,42
85,67
86,73
65,81
66,45
77,69
74,42
86,05
85,87
66,85
68,53
78,16
78,91
88,51
87,81
74,24
72,94
83,12
78,45
87,35
88,25
73,58
72,97
82,03
77,89
86,68
87,57
72,91
72,77
81,61
76,25
85,95
86,32
70,85
71,23
80,33 Fonte: MEC/SAG/CPS/CIP/SEEC, 1987. Adaptado
Legenda: 1) Em verde, acima da média do Brasil.
2) Em vermelho, abaixo da média do Brasil.
O Quadro da distorção idade-série configurado na Tabela 4 aponta que, quando
comparamos o percentual total do Brasil com o da região Nordeste, constatamos que esta se
destaca ultrapassando o Brasil com uma taxa de 12% acerca desta distorção; seguida da região
Norte com 10%a região. No quadro da seriação, verificamos que a 5ª série da região Norte
quando relacionada aos dados do Brasil, ultrapassa-o com a taxa de 10,8% na distorção idade-
série, seguida da região Nordeste com a taxa de 10,1%. A região Sul apresenta a menor
distorção de 14,2% quando comparada à média nacional, acompanhada da região Sudeste
com uma taxa de 22,9% abaixo da média do Brasil. No aspecto global do país, podemos
inferir que o segundo segmento do 1º grau tem maior taxa de distorção idade-série.
A situação-problema de distorção idade-série, nas 4ª série/5º ano e 8ª série/9º ano, do
ensino fundamental regular, no período de 2006-2010, ainda é muito preocupante observando
a Tabela 5. Quando focamos nossa atenção para a 4ª série/5º ano, em 2010, verificamos que
nas regiões Sudeste e Sul houve uma queda de 28,6% comparadas à média nacional; efeito
adverso ocorre em relação à região Norte para um aumento de 42%. Já, para a 8ª série/9º ano,
em 2010, a região Sul, quando comparada à média do Brasil, aponta uma queda de 31,3% e a
região Norte um aumento de 23,4%. Também muito próximo da região Nordeste.
Tabela 5 - Taxa de Distorção Idade-Série do Ensino Fundamental Regular
BRASIL/
REGIÕES
4ª SÉRIE/5º ANO 8ª SÉRIE/9º ANO
ANO
2006
ANO
2007
ANO
2008
ANO
2009
ANO
2010
ANO
2006
ANO
2007
ANO
2008
ANO
2009
ANO
2010
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
28,5
41,4
42,2
20,8
17,0
25,7
27,7
39,9
41,2
20,3
16,7
24,8
23,4
28,6
29,9
20,2
16,7
22,9
23,8
31,9
33,8
17,9
16,2
22,9
25,2
43,5
39,8
18,0
18,0
24,1
40,6
50,6
56,1
28,7
23,7
35,8
37,5
48,4
50,6
27,7
22,3
32,5
28,3
32,6
32,7
25,6
19,3
27,7
28,7
35,1
35,0
24,1
19,7
25,3
29,1
38,1
37,3
22,4
20,0
25,6
Fonte: MEC/INEP/Deed, (2006-2010). Adaptado Legenda: 1) Em verde, acima da média do Brasil.
2) Em vermelho, abaixo da média do Brasil.
Um estudo sobre o impacto da infraestrutura na taxa de distorção idade-série foi
realizado por Soares e Sátyro (2008), com 132.603 escolas públicas municipais (áreas rural e
urbana), de ensino fundamental, utilizando dados do Censo Escolar entre os anos 1998-2005.
As variáveis utilizadas foram infraestrutura, formação docente, alunos por turma e horas-aula.
Os autores apresentam duas justificativas que os motivaram a tal estudo: a primeira, o
conhecido Relatório Coleman (1966) que defende a ideia dos resultados escolares serem
influenciados pela família e dois outros fatores dela originados: o capital social e o meio de
vivência; a segunda, os estudos de Hanushek (1986; 1997) que, assim como o Relatório
Coleman, descartam a relação entre insumos escolares e desempenho escolar, ou seja, defende
a ideia de que o capital social e a origem socioeconômica são fatores que repercutem no
desempenho escolar.
Soares e Sátyro (2008, p. 16) partem da seguinte premissa: “casos onde as condições
de infraestrutura são muito precárias sua melhoria produz impacto positivo nos resultados
escolares.” Os autores fazem a seguinte recomendação acerca da aplicação dos resultados
desse estudo na política educacional:
O fato de uma medida ter impactos positivos sobre a qualidade educacional
não quer dizer que ela seja boa. Quando se trata de políticas públicas,
sempre há que se levar em consideração os custos de cada alternativa. Por
exemplo, tanto o número de horas de instrução diárias quanto o número de
alunos por sala de aula exercem impactos sobre a defasagem; no entanto, o
impacto do primeiro é bem maior no intervalo onde se situa a maior parte
das escolas. Aumentar o número de horas-aula de 3 para 4 reduziria a
defasagem em 5,7 pontos percentuais a um custo de 33% na folha de
pagamento; um aumento equivalente feito mediante redução de número de
alunos por sala de aula de 40 para 26 proporcionaria uma redução de 3,9
pontos – significativa, mas bem menor que 5,7 pontos.
Os mesmos autores, a partir do resultados de suas pesquisas, apontam evidências que
divergem de pesquisas consagradas, conforme exposto anteriormente:
[...] ao contrário do que diz a maior parte da literatura internacional sobre o
tema, os insumos escolares são muito relevantes na definição dos resultados
educacionais. [...] são maiores justamente para os que menos insumos têm,
uma mesma intervenção aumenta a média e reduz a desigualdade na
distribuição dos resultados escolares. É mais importante ir de três para
quatro horas de aula por dia que de quatro para cinco; tem maior impacto ir
de -1,5 para zero que de zero para 1,5 no índice de infra-estrutura; é melhor
aumentar a proporção de professores com ensino superior de 0% para 10%
que de 90% para 100%. [...] A origem socioeconômica dos alunos, os peer
effects, os efeitos de uma gestão deficiente, todos continuam sendo válidos, e
nada indica que insumos escolares melhores possam a eles sobrepujar. O que
indicamos, sim, é que os efeitos dos insumos não são nulos e que políticas
para sua melhoria não estão, a priori, fadadas ao fracasso (SOARES;
SÁTYRO, 2008, p. 17).
O sistema educacional há tempos convive com uma disparidade percentual entre a
matrícula inicial e o resultado do desempenho de aprendizagem, com destaque para o ensino
fundamental18
; esses indicadores são refletidos pelo elevado índice de reprovação e evasão
escolar apresentados nas estatísticas oficiais.
Na década de 1980, em alguns estados do país como São Paulo e Minas Gerais (1985)
e, Paraná e Goiás (1988), foi implantado o sistema de Ciclo Básico de Alfabetização, com o
18
O contexto do ensino fundamental ali referido está baseado na LDB n. 9394/1996.
propósito de reduzir o drástico quadro de repetência e evasão escolar. No ciclo, o aluno passa
a ser avaliado pelo sistema de progressão continuada, ou seja, ao longo dos três primeiros
anos do ensino, o aluno não pode ficar retido no ciclo; tal iniciativa chegou acompanhada de
mudanças para os setores administrativos e pedagógicos (BERNADO, 2003; FERNANDES,
2001; MAINARDES, 2001).
Com a instituição da LDBEN n. 9394/1996 (art.32, § 2º), os estabelecimentos de
ensino podem organizar suas turmas de ensino fundamental por meio de sistemas de ciclo,
onde a base de enturmação dos alunos tem como referência a idade; o regime de progressão
continuada19
é adotado, sem interferência na dinâmica de avaliação do processo ensino-
aprendizagem. Por meio dessa nova alternativa de organização dos sistemas de ensino, o
Governo Federal cria expectativas de reduzir o índice preocupante de repetência no país.
Arroyo (2009, p. 162; 164) entende que a prática de enturmação pelo sistema seriado,
nos casos de distorção idade-série, desloca o aluno (com o problema) de seu convívio social
com seus iguais, ou seja, de adolescentes com adolescente, no mesmo espaço e tempo de
escolaridade, considerando que aquela enturmação agrupa crianças com adolescentes. O autor
levanta a seguinte questão: “Como pode ser educativo reter adolescentes enturmados
convivendo com crianças?” Na defesa da proposta de organização do ensino em ciclos afirma:
A organização em ciclos de desenvolvimento pretende rever e reformular
essas lógicas, esses valores e concepções educativas. [...]. O convívio escolar
será educativo na medida em que nos revelemos como adultos às gerações
jovens. A procura de mecanismos que explorem as dimensões formadoras da
relação adulto-criança-adolescente-jovem passam a ser centrais. Passamos a
ver a escola como um tempo de encontro de gerações, em ciclos diversos de
aprendizado, de vivências e de interpretação da cultura. Vamos constatando
que na organização seriada infelizmente essa interação de gerações tão
pedagógicas se restringe aos tempos e espaços da transmissão formal, na
sala de aula, na turma, nos 50 minutos de cada matéria. A interação fica
empobrecida pelo formalismo, pelo silêncio dos alunos. Até pela ordem das
carteiras e pelo tom magistral, onisciente da docência.
A tendência pela adoção de ciclos no sistema educacional, como medida de redução às
crescentes reprovações e evasão escolar na educação básica, num tom reflexivo, recebe
severas críticas de Oliveira e Araujo (2003, p. 11-12):
A adoção de ciclos, da promoção automática e de programas de aceleração
da aprendizagem incide exatamente na questão da falta de qualidade,
19
Nessas circusntâncias, o ensino fundamental regular constituído por ciclos tem a seguinte caracterização na
sua formação: ciclo I: compreende três anos (1º, 2º e 3º anos do sistema seriado); ciclo 2: compreende 2 anos (4º
e 5º anos do sistema seriado) ; ciclo 3: compreende 2 anos (6º e 7º anos sistema seriado) e ciclo 4: compreende 2
anos (8º e 9º anos do sistema seriado).
evitando os mecanismos internos de seletividade escolar que consistiam
basicamente na reprovação e na exclusão pela expulsão “contabilizada”
como evasão. Pode-se discutir se essas políticas e programas surtem o efeito
de melhoria da qualidade de ensino. Na verdade, o seu grande impacto
observa-se nos índices utilizados até então para medir a eficiência dos
sistemas de ensino, não incidindo diretamente sobre o problema. Se o
combate à reprovação com políticas de aprovação automática, ciclos e
progressão continuada incide sobre os índices de “produtividade” dos
sistemas, gera-se um novo problema, uma vez que esses mesmos índices
deixam de ser uma medida adequada para aferir a qualidade num sistema
com índice de conclusão igual ou superior a 70% torna-se complexa [...].
Ocorre que, a literatura denuncia há tempos o limitado grau de comprometimento de
políticas públicas com uma educação nacional satisfatória. O fato toma vulto internacional na
década de 1990. Mas, no contexto histórico mais específico do tema, vamos encontrar
indicadores críticos, como o analfabetismo (Gráficos 1 e 2). De acordo com Beisiegel (1986),
citado por Oliveira e Araújo (2003, p. 8), o acesso ou não à escola era um indicador que
estava associado à definição da qualidade de ensino: “o ensino era organizado para atender
aos interesses e expectativas de uma minoria privilegiada [...]”. Os mesmos autores
mencionam uma cruel estatística de 60% de analfabetos, na década de 1920, da população
brasileira. Outros estudos revelaram significativa redução nesses índices, que é mostrado nos
Gráficos 1 e 2, a seguir.
Segundo informes do IBGE20
em 2000, a realidade da alfabetização no Brasil vem
sendo investigada, de forma padronizada, desde 1950. Pelos dados apresentados no Gráfico 1,
verificamos a taxa de alfabetização e analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade
no Brasil entre 1950 e 2000.
20
Tendências Demográficas – Uma análise dos resultados da amostra do Censo Demográfico 2000.
http://ww.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/tendencias_demograficas/comentarios.pdf.
49,4 50,6
60,3
39,7
66,2
33,8
74,5
25,5
79,9
20,1
86,4
13,6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1950 1960 1970 1980 1991 2000
Gráfico 1 - Taxa de analfabetização/analfabetismo das pessoas
de 15 anos ou mais de idade - Brasil 1950-2000
alfabetização analfabetismo
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1950/2000. (Adaptado)
Analisando o percentual dos indicadores alfabetização/analfabetismo no Gráfico 1,
verificamos em 1950 uma tendência proporcional para a superação das pessoas de 15 anos ou
mais de idade analfabetas sobre aquelas alfabetizadas. Na sequência, as taxas de alfabetização
apresentam crescimento contínuo, o que evidenciamos nos resultados dos anos 1960, 1970,
1980, 1991 e 2000, este último com um índice 86,4% de pessoas alfabetizadas contra 13,6%
de analfabetas no país. O Brasil, após 10 anos de compromisso firmado na Conferência de
Educação para Todos, no ano de 1990, em Dacar, Senegal, de reduzir o índice de
analfabetismo em 50% até o ano 2015, mostra que vem cumprindo a meta.
O Gráfico 2, próximo, apresenta a evolução do analfabetismo da população de 15
anos ou mais de idade por regiões, no período de 1992-2009. Após dezesseis anos, quando
relacionamos o analfabetismo entre a região Sul com a Nordeste, constatamos que no ano
2009, a região Nordeste se destaca com um índice 13,2 de analfabetismo maior que o da
região Sul.
Gráfico 2 - Evolução do analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade
por regiões, 1992-2009
32,731,8
30,529,4
27,526,6
24,223,4 23,2
22,4 21,920,7
19,9 19,418,7
28,7
5,75,85,866,66,76,97,27,67,88,18,68,7
9,39,910,9
0
5
10
15
20
25
30
35
1992 1993 1994 1995 1996 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste
Fonte: Microdados da PNAD (IBGE). Adaptado
Nota: A PNAD não foi realizada em 1994 e 2000. a partir de 2004 a PNAD passou a contemplar a população
rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
Retomando a discussão sobre a sistematização da educação básica, a literatura
consultada revela que as reformas de ensino ocorridas nos governos do regime militar tiveram
fortes recomendações de organismos internacionais e relatórios ligados ao governo norte-
americano (Relatório Atcon) e ao Ministério da Educação (Relatório Meira Mattos), que
culminaram com uma sucessão de acordos MEC-USAID (FREITAG, 2007; ROMANELLI,
1997; SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2004). Destarte, os referidos acordos
demarcaram a política educacional brasileira que passa a receber “cooperação financeira e
assistência técnica” daquelas agências, assevera Romanelli (1997, p. 225):
O aspecto mais relevante desses acordos consiste no fato de todos eles se
valerem da crise existente no sistema educacional como pretexto para
“justificar” a necessidade de cooperação. Na verdade, a crise, em si, não era
a condição básica para esses programas de cooperação, mas sim, segundo
que podemos perceber a necessidade de se anteciparem projetos de reformas
que “preparassem” o sistema educacional para contribuir ou atuar mais
eficazmente, na fase de retomada da expansão, já então prevista pelo setor
externo, dadas as condições de viabilidade criadas pelo setor interno. A crise
servia de justificativa de intervenção, mas não passava de um pretexto para
assegurar ao setor externo oportunidade para propor uma organização do
ensino capaz de antecipar-se, refletindo-a, à fase posterior do
desenvolvimento econômico. O momento era propício para essa intervenção,
porque estavam asseguradas as pré-condições políticas e econômicas da
retomada da expansão e havia, para tanto, uma condição objetiva
“justificando-a”.
As políticas de planejamento educacional até 1964, sob a responsabilidade de
educadores, são transferidas para tecnocratas; o que na realidade se configurava era a
dependência do Ministério da Educação ao Ministério do Planejamento, em que o quadro de
pessoal (dirigente e técnico) na maioria tinha formação acadêmica das áreas de ciências
econômicas (SAVIANI, 2004). O autor evidencia tal procedimento na reforma do ensino
veiculada pela Lei n. 5692/1971, artigo 33 – “o Governo Federal estabelecerá e executará
planos nacionais de educação [...]" , mais ainda, o parágrafo único elucida – “O planejamento
setorial da educação deverá atender às diretrizes e normas do Plano-Geral do Governo, de
modo que a programação a cargo dos órgãos da direção superior do Ministério da Educação e
Cultura se integre harmonicamente nesse Plano-Geral". Desse modo, os planos para o setor
educacional procediam diretamente dos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND), logo
denominados de “Planos Setoriais de Educação e Cultura” (PS).
Embora se reconheça a vasta legislação reformista do ensino no Regime Militar, é
consenso na literatura que, a política educacional dessa época fundamenta-se basicamente na
Lei n. 5.540/1968, que reformou o ensino superior, e na Lei n. 5.692/1971, que reformou o
ensino de 1º e 2º Graus (CURY, 2007b; SAVIANI, 2004b; SHIROMA; MORAES;
EVANGELISTA, 2004; ROMANELLI, 1997).
Da perspectiva do objeto de nossa investigação, é pertinente compreendermos que
inovação trouxe a Lei n. 5692 de 11 de agosto de 1971, que fixa as Diretrizes e Bases para o
ensino de 1º e 2º graus e que foi sancionada após dez anos da primeira LDB n. 4024/1961.
Essa Lei, no artigo 1º, determina o seguinte objetivo geral da educação para o ensino de 1º e
2º graus (antigos cursos primário e ginasial): “proporcionar ao educando a formação
necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-realização,
qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania.”
Das modificações inseridas pela Lei n. 5.692/1971, vale destacar a expansão
obrigatória de escolaridade de 4 para 8 anos, com a junção dos cursos primário e ginasial, que
se tornam um único curso fundamental de 1º grau. Dessa ligação, terminam os chamados
exames de admissão que selecionavam os alunos para o curso ginasial. Outra mudança
ocorrida foi a extinção do dualismo entre escola secundária e escola técnica, que passam a
coexistir com a nomenclatura de 2º grau.
Com essa breve incursão na história da educação, com base na legislação, trazendo
para estudo seis, das sete Constituições Federais Brasileiras de 1934, 1937, 1946 e 1967, a
primeira e a segunda Leis de Diretrizes e Base da Educação, n. 4.024/1961 e 9394/1996, e a
Lei n. 5.692/1971, que reformulou o ensino de 1º e 2º graus do território nacional, foi possível
depreender diversos fatores determinantes na sistematização de políticas públicas, que
repercutem até a primeira década do século XXI.
Dentre os vários dados levantados, reconhecemos alguns obstáculos enfrentados por
aqueles defensores de uma escola pública gratuita, obrigatória e de qualidade para todos os
cidadãos brasileiros. As relações de poder das classes dominantes manifestavam claro
interesse na manutenção do status quo, que se alimentava no jogo político, em outras
palavras, desde o Período Colonial, no século XVI. É somente na segunda metade do século
XX que vão se consolidar determidas políticas de abrangência internacional de acesso a uma
escola pública gratuita universal. É o que veremos, a seguir, buscando desvelar a avaliação da
educação básica no Plano Nacional de Educação (2001-2010) e, mais adiante, em capítulo que
trata de Programas de ação do PDE na perspectiva de: magistério, financiamento e qualidade
do ensino.
2.2. EDUCAÇÃO BÁSICA E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
O ministro da educação Fernando Haddad (2010), em palestra21
, no Seminário
Internacional, com presença de notórias autoridades representando órgãos educacionais
nacionais e internacionais, proferiu um discurso trazendo à baila o tema avaliação na atual
agenda de governo22
. Ele levantou referência histórica mostrando que desde o começo dos
anos 1990 o Brasil busca afirmação de avaliação da educação, com ênfase à dimensão
quantitativa ligada à qualitativa. Deu relevância à construção do IDEB e das metas criadas a
partir deste índice, necessárias ao próprio governo para estabelecer o padrão de qualidade da
educação básica, por meio do Ministério da Educação com os entes federados.
O ministro tratou de questões relacionadas ao cumprimento de metas de qualidade da
educação, à taxa de repetência e ao contexto do significado da avaliação com o emprego desse
índice.
21
Vale lembrar que o artigo 4º da Lei n. 10172/2001 dá a seguinte instrução: “A União instituirá o Sistema
Nacional de Avaliação e estabelecerá os mecanismos ao acompanhamento das metas constantes do Plano
nacional de Educação." 22
Palestra realizada no Seminário Internacional sobre Avaliação de Professores da Educação Básica: Uma
Agenda em Discussão, no Rio de Janeiro, em 24/05/2010.
O ministro salientou que o governo usa o regime de colaboração com os entes
federados para o setor econômico estabelecer apoio técnico junto a estes. Relacionou a
autonomia da educação com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) que dispunha à época, em 22 de
maio de 2010, do montante de oito bilhões de reais. Prosseguiu com relato de que o IDEB
propicia vantagens para os municípios estabelecerem os caminhos para atingir suas próprias
metas.
Dessa feita, considerando a relevância da literatura já mencionada, nas questões
referentes a políticas públicas educacionais e avaliação da educação básica, buscamos a
seguir, investigá-las e, a partir daí, identificar pontos comuns ou elementos que ainda não
foram observados na revisão da literatura.
Desde o ano 2007, os argumentos do Governo Federal sobre políticas de educação da
educação básica se remetem ao PDE, que por sua vez incorpora o IDEB, sendo este o
principal indicador de avaliação da educação básica da rede pública do país.
Mas em que instrumento legal o Governo Federal se apoiava para definir as políticas
de educação anteriores ao PDE?
A União, por meio do MEC, até o dia 24 de abril de 2007, assentava suas diretrizes
com base no PNE, instituído pela Lei n. 10.172, de 9 de janeiro de 2001, previsto na
Constituição Federal de 1988, artigo 214, e reiterado na LDB n. 9.394/1996. A estrutura
decenal do PNE (2001-2010) foi inscrita com base em diagnósticos, diretrizes, objetivos e
metas para a educação em cada nível e modalidade de ensino, para a gestão e o financiamento
da educação e para a formação e valorização do magistério e demais profissionais da
educação, com os seguintes objetivos:
a elevação global do nível de escolaridade popular; a melhoria da qualidade
do ensino em todos os níveis; a redução das desigualdades sociais e
regionais no tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na educação
pública e democratização da gestão do ensino, nos estabelecimentos oficiais,
obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na
elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das
comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes
(BRASIL, 2001, p. 34).
No quesito prioridade, o PNE elenca cinco itens que foram estabelecidos considerando
as limitações dos recursos financeiros:
1) Garantia de ensino fundamental obrigatório de oito anos a todas as
crianças de 7 a 14 anos, assegurando o seu ingresso e permanência na escola
e a conclusão desse ensino. 2) Garantia de ensino fundamental a todos os
que a ele não tiveram acesso na idade própria ou que não o concluíram. 3)
Ampliação do atendimento nos demais níveis de ensino - a educação
infantil, o ensino médio e a educação superior. 4) Valorização dos
profissionais da educação. 5) Desenvolvimento de sistemas de informação e
de avaliação em todos os níveis e modalidades de ensino (BRASIL, 2001, p.
21).
Entretanto, o contexto político-social pelo qual tramitou a elaboração do PNE até sua
aprovação, segundo Valente (2001), foi mobilizado por duas propostas divergentes, isto é,
dois projetos com interpretações distintas para a educação do país: i) o projeto democrático e
popular da sociedade brasileira, elaborado em dois Congressos Nacionais de Educação
(Coned, anos 1996 e 1997, em Belo Horizonte, contabilizando mais de 5 mil participantes de
todo recanto nacional) e ii) o projeto governamental, apresentado pelo MEC (CAMARGO;
PINTO; GUIMARÃES, 2008; PERONI, 2003; VALENTE, 2001).
Em linhas gerais, o projeto da sociedade defendia uma reivindicação histórica à luz do
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, e da Carta Magna de 1934 (art. 150): a
efetivação de um Sistema Nacional de Educação, em contraposição ao então e atual Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Básica, como também a institucionalização de uma
“escola pública, gratuita, democrática e de qualidade para todos”. Já a proposta do governo,
segundo Valente (2001, p. 12), acenava para a manutenção de política educacional até então
assentada em “dois pilares fundamentais”:
no centralismo exacerbado, particularmente na esfera federal, da
formulação e da gestão política educacional e no progressivo
abandono pelo Estado das tarefas de manutenção e desenvolvimento
do ensino, empurrando-as, sempre que possível, para a sociedade.
Tratava-se de uma política que assume os parâmetros privatistas como
os que deve subordinar o funcionamento da educação nacional.
O PNE (2001-2010) foi aprovado no segundo mandato do governo Fernando Henrique
Cardoso (1999-2002), destacando-se que tal governo se efetivou no decurso de 8 anos (1995-
1998; 1999-2002), sendo vetadas as 9 metas listadas a seguir que, na maioria, implicavam
aumento de recursos do Plano Nacional da Sociedade Civil: i) ampliar do Programa de
Garantia de Renda Mínima, nos três primeiros anos da vigência do Plano, a 50% da população
de 0 a 6 anos; ii) ampliar a oferta de ensino público, assegurando um percentual não inferior a
40% para o ensino superior; iii) criar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Superior, na esfera federal, resguardados pelo menos 75% dos 18% atribuídos ao ensino; iv)
“ampliar o programa de credito educativo [...]”; v) “ampliar o financiamento público à
pesquisa científica e tecnológica [...]”; vi) implantar, no período de um ano, planos de carreira
para os profissionais das áreas técnica e administrativa; vii) elevar o percentual de gastos
públicos em relação ao PIB, destinados à Educação, para atingir o mínimo de 7%, com
progressão anual à razão de 0,5% do PIB, nos quatro primeiros anos do Plano e de 0,6% no
quinto ano; viii) “orientar os orçamentos nas três esferas governamentais [...] e ix) destinar a
cada nível e modalidade de ensino, em dois anos, verba por aluno para garantias mínimas de
qualidade de ensino; “garantir recursos do Tesouro Nacional para pagamento dos aposentados
e pensionistas do ensino público federal”, desvinculando-os daqueles gastos de”manutenção e
desenvolvimento do ensino (DOURADO, 2006; VALENTE, 2001).
O Gráfico 3 indica o percentual do investimento público direto em educação em
relação ao Produto Interno Bruto, no período de 2000-2009, em todos os níveis de ensino.
Gráfico 3 - Percentual de investimento público direto em
educação em relação ao PIB*
3,9 4 4,13,9 3,9 3,9
4,34,5
4,75
0
1
2
3
4
5
6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fonte: INEP/MEC
* Todos os níveis de ensino
Podemos observar que, até o ano de 2009 o PIB ainda se distanciava em 2% daquela
taxa previsível no PNE até o ano 2010, prazo de sua vigência.
Camargo, Pinto e Guimarães (2008, p. 820) citam parte de um documento do Grupo
de Trabalho de Educação da Associação de Docentes da Universidade de São Paulo –
ADUSP (2008), que traduz o efeito de cota orçamentária mínima para o desenvolvimento da
educação, no trânsito internacional:
[...] nenhum país jamais conseguiu cruzar a barreira do atraso educacional,
sem um aporte de recursos adequados. Países que superaram (ou estão
superando) atraso escolar semelhante ao nosso aplicaram (ou estão
aplicando) cerca de 10% de seus PIB com a educação pública. Valores
típicos encontrados nos países que mantêm um desempenho educacional
razoável ou bom são da ordem ou superiores a 7% do PIB.
Destarte, esses vetos foram mantidos nos dois mandatos do governo Luiz Inácio Lula
da Silva (2003-2006; 2007-2010). Dois outros aspectos chamam atenção: um, nesse governo
não foram realizadas avaliações periódicas no PNE, “cujos objetivos expressos visavam
contemplar a participação da sociedade civil e resultar na aprovação de medidas visando
corrigir deficiências e distorções do plano” (DOURADO, 2006, p. 34), pelo Congresso
Nacional, conforme disciplinou a Lei n. 10.172/2001 que instituiu o Plano; outro, as metas de
expansão nos níveis e modalidades de ensino, previstas no PNE até o ano 2006, foram
atingidas com significativas defasagens, mostradas no Quadro 1.
Quadro 1- PNE: Metas de expansão do atendimento educacional.
Níveis e
Modalidades
Metas do PNE e dados de 2001 e 2006
Faixa etária
Valores em
2001
Meta PNE
(em 5 anos -
2006)
Valor em
2006
Meta PNE
(em 10 anos –
2011)
Educação
Infantil
0 a 3 anos
4 a 6 anos
10,5%
65,5%
30%
60%
15,5%
76%
50%
80%
Ensino
Fundamental
7 a 14 anos 93,1% 100% 94,8% 100%
EJA -
Alfabetização
15 anos e
mais
15,7 milhões
(sic)
Alfabetizar
10 milhões
Alfabetizados
1,4 milhão
0% (taxa de
analfabetismo)
Ensino
Médio
15 anos e
mais
8.398.008
(sic)
Dobrar
atendimento
8.906.820 Quadruplicar
atendimento
Educação
Superior
18 a 24 anos 8,5% (Não
especificado)
12,2% 30%
Fonte: Relatório Monitoramento de Educação Para Todos 2008 - Brasil.
Segundo análise no Relatório de Monitoramento de Educação para Todos no Brasil –
UNESCO (2008), as metas do PNE (BRASIL, 2001) atendem aos objetivos de Educação para
Todos e as garantias constitucionais, à época, do ensino fundamental obrigatório de 8 anos à
população de 7 a 14 anos, seu acesso e permanência na escola. No entanto, após cinco anos de
aprovação do PNE, os dados de 2006, registrados no Quadro 1, estão distantes das metas
fixadas. Na educação infantil, faixa etária até três anos, quando comparamos o valor de 2001
em relação à Meta PNE, verificamos uma diferença de 14,5% distante da Meta de 2006.
Na alfabetização de jovens e adultos, é gritante o percentual de menos de 15% (1,4
milhões) da população alfabetizada, comparado à meta de alfabetizar uma população de 10
milhões na faixa etária de mais de 15 anos de idade.
No ensino médio, observamos que a meta projetada de duplicar o número de alunos
não foi atingida, tendo em vista um aumento percentual de 5,7%, aquém de tal estimativa.
Agora, analisando o ensino fundamental, conforme o Relatório, a população atendida
no sentido de acesso, revela um percentual de 94,8% (universalização). Todavia, este
percentual não acompanha o resultado do extrato (53,8%) de conclusão do ensino
fundamental para a antiga 8ª série, mostrado na Tabela 6, a seguir.
Tabela 6 - Taxa média esperada de conclusão do Ensino Fundamental
(4ª e 8ª séries) e Ensino Médio por região e Unidade da Federação,
2005/2006
Brasil/
Regiões
Ensino Fundamental Ensino Médio
4ª série 8ª série 3ª série
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
87,6
81,0
79,4
94,5
95,0
88,9
53,8
40,5
38,7
66,6
69,1
54,2
66,6
62,7
67,7
69,3
69,0
65,3
Fonte: MEC/INEP/DTDIE. (Adaptado)
Legenda: 1) Em verde, acima da média do Brasil.
2) Em vermelho, abaixo da média do Brasil.
A Tabela 6 apresenta a taxa média esperada de conclusão do ensino fundamental e
ensino médio, nos anos 2005-2006. Os valores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, no
EF, lhes dão destaque em relação aos percentuais das Norte e Nordeste e do Brasil. É evidente
a disparidade da região Nordeste, 8ª série, quando comparada à média do Brasil, com uma
diferença abaixo de 28%; acompanhada da região Norte com um percentual de 24,7%. Em
relação a 4ª série, na região Nordeste constatamos uma diferença percentual de 9,3% abaixo
da média do país, seguida da região Norte com um percentual de 17,5%. No ensino médio, as
regiões Norte e Centro-Oeste estão abaixo da média nacional com uma diferença percentual
de 5,8% e 1,9%, respectivamente.
O grande desafio a este nível implica no aspecto de garantias de: se estabelecer
condições de permanência com qualidade e acesso destinado à pequena população em idade
escolar que se encontra fora da escola. Para Dourado (2006, p. 38), “tais avanços só se
efetivarão se forem otimizados os processos de estudantes e professores, os processos de
gestão e de financiamento, visando superar questões como distorção idade-série, evasão, entre
outras.”
Outro indicativo que teve sua evolução analisada e que nos possibilitou compreender
problemas inerentes à escolaridade no Brasil, consequentemente influindo na avaliação da
educação básica, foi pela análise da evolução da taxa de frequência escolar bruta, por faixa
etária, mostrada na Tabela7.
Tabela 7 - Taxa de Frequência à escola por faixa etária, 1992 – 2009
Faixa
etária
Anos
0 a 3
Anos
4 a 6
Anos
7 a 14
Anos
15 a 17
Anos
18 a 24
Anos
25 a 29
Anos
1992 - 54,1 86,6 59,7 22,6 5,8
1993 - 57,8 88,6 61,9 24,9 6,4
1995 7,6 53,5 90,2 66,6 27,1 7,0
1996 7,4 53,8 91,2 69,4 28,4 7,6
1997
1998
8,1
8,7
56,3
57,9
93,0
94,7
73,3
76,5
29,4
32,1
8,5
9,4
1999 9,2 60,2 95,7 78,5 33,9 10,4
2001 10,6 65,6 96,5 81,1 34,0 12,3
2002 11,7 67,0 96,9 81,5 33,9 12,5
2003 11,7 68,5 97,2 82,3 34,0 12,9
2004 13,4 70,6 97,1 81,9 32,2 12,5
2005 13,0 72,0 97,3 81,7 31,6 12,5
2006 15,4 76,1 97,6 82,1 31,7 13,0
2007 17,1 77,6 97,6 82,1 30,9 12,4
2008 18,1 79,8 97,9 84,1 30,5 12,3
2009 18,4 81,3 98,0 85,2 30,3 12,2
Fonte: Microdados da Pnad (IBGE). Adaptado.Elaboração: Disoc/Ipea.
Notas: A Pnad não foi realizada em 1994 e 2000. A partir de 2004 a Pnad passa a contemplar a população rural
de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
Obs.: Nas pesquisas de 1992 e 1993 a frequência à escola era investigada apenas para pessoas com 5 anos ou
mais de idade.
Observamos na Tabela 7, faixa etária de 0 a 3 anos, que o percentual de frequência em
2009, está distante 11,6 % do previsto no PNE (2001-2010) até o ano 2006. Todavia, em
relação à frequência da faixa etária de 7 a 14 anos, ano 2009, observamos que apenas 2% não
frequentaram a escola; isto é, uma quase universalização dos anos iniciais do ensino
fundamental.
Essa distância na frequência entre as faixas etárias de 0 a 3 anos e 7 a 14 anos,
respectivamente, em parte, se explica pela observação do cotidiano escolar da educação
infantil, porque não ocorre o mesmo rigor legal de um percentual mínimo de 75% em relação
à frequência do ensino fundamental e do ensino médio para o aluno ser aprovado na série. Na
realidade, a criança da educação infantil da escola pública falta muito à escola (creche),
inúmeros fatores concorrem para isso, principalmente situações de saúde em que o
pai/responsável depende do sistema de saúde público para assistir a criança.
O Gráfico 4 mostra o percentual de alunos concluintes do EF nos anos de 1997, 2002,
2007 e 2009, na faixa etária de 15, 19 e 24 anos.
Gráfico 4 - Percentual que concluiu o ensino fundamental
(por idade escolar)
64,4
57,7
47,6
79,3 77,1
21,1
46,4 45,8
37,3
75,772,7
46,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
15 19 24
1997
2002
2007
2009
Fonte: Pnad/IBGE 23
(2010). Adaptado .
Quando comparamos os índices dos anos de 1997 e 2009, na idade de 15 anos,
verificamos que em 2009, houve um aumento de 26,6% de conclusão do EF; comparando o
mesmo período com a idade de 19 anos, constatamos que em 2009, ocorreu uma ampliação de
32,9% dessa população terminando o EF e na idade de 24 anos, considerado o mesmo
período, reparamos que em 2009, aconteceu um acréscimo de 31,3% completando o ensino
fundamental. Por estes dados, verifica-se uma maior concentração da população concluinte do
ensino fundamental na faixa de 19 anos de idade, com distorção idade-série de 4 anos, seguida
dos 9 anos de distorção idade-série da população de 24 anos.
O Governo Federal (BRASIL, 2009, p. 12) divulgou um documento que trata dos
resultados da Avaliação do Plano Nacional de Educação no período 2001-2008, tendo como
objetivo principal “identificar os progressos realizados como também os obstáculos e desafios
ao cumprimento das metas do PNE, a partir das políticas, programas e ações do Ministério da
Educação”. Por outro lado, o eixo da avaliação não contempla aquelas políticas
implementadas pelos entes federados. Segundo o documento, “a abrangência permite, a
apreensão do cenário e do contexto atuais da realização das políticas educacionais, [...] a
23
Dados obtidos pelo site: http://gestao2010.mec.gov.br/indicadores/chart_90.php. Acesso em 21/12/2010.
compreensão dos avanços no cumprimento das metas do PNE pelos entes federados e dos
desafios que se lhe impõem.”
Com postura contraditória, no bloco dessa comunicação, associa-se a aprovação do
PDE (2007) como resposta do Poder Executivo à “necessidade de garantir a equalização das
oportunidades de acesso a uma educação de qualidade e de nela permanecer” (BRASIL, 2009,
p. 15). Ao mesmo tempo, coloca-se em evidência a competência do Estado frente à política
nacional de educação e junto aos entes federados no tratamento de apoio técnico e financeiro.
Segundo informes da Secretaria Executiva Adjunta (SEA) do MEC, para elaborar esse
documento, o Poder Executivo teve a participação seleta do INEP, de órgãos gestores do
MEC e de pesquisadores do setor educacional, reunidos pela Universidade Federal de Goiás
(UFG).
Nessas condições, identificamos, a seguir, parte do referido documento (2009, p. 14-
15; 36) que retrata o trabalho do Poder Executivo junto ao PNE, nas circunstâncias acima
descritas:
As políticas educacionais [...], a partir de 2003, reorientadas, produziram
avanços nos marcos regulatórios para a Educação Básica e para a Educação
Superior, sobretudo na expansão e defesa de uma educação pública de
qualidade a partir do binômio inclusão/democratização. [...] merecendo
particular destaque a proposta de reforma universitária, a avaliação da
educação superior, a busca da consolidação do Sistema de Avaliação da
Educação Básica (SAEB), a ampliação do Ensino Fundamental de oito para
nove anos, a implementação de políticas de ações afirmativas e, no plano
estrutural, a criação do Fundeb que substituiu o Fundef. Outros aspectos a
serem ressaltados referem-se à aprovação do Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior (SINAES) bem como de um conjunto de ações e
políticas direcionadas à expansão da educação tecnológica e superior
públicas, por meio da criação de novas instituições, campi e cursos. Além
desses, registre-se a estruturação do sistema Universidade Aberta do Brasil
(UAB), que, em parceria com as instituições de ensino superior (IES)
federais e com os municípios, tem contribuído para a expansão de cursos por
meio da modalidade Educação a Distância.
Observam-se nessas evidências que não foram apresentados resultados plausíveis da
referida avaliação a se justificar tal aprovação do PDE, em 2007, em plena vigência do PNE
(2001-2010), já explicitado anteriormente. Identificamos parte do documento Avaliação do
Plano Nacional de Educação no período 2001-2008 (2009, p. 36) que sinaliza as adversidades
encontradas pela equipe da pesquisa avaliadora, no próprio Governo, para execução do PNE:
Em que pese o desenvolvimento de ações voltadas especificamente para a
superação dos entraves acima apontados, análises e avaliações feitas por
diferentes órgãos e instituições apontam a insuficiência de recursos (mesmo
com a aprovação do Fundeb) e a dificuldade de articulação entre os entes
federados como entraves que persistem para se alcançar uma educação de
qualidade.
A despeito do exposto, muitas ações em prol da consolidação de universalização do
ensino fundamental ocorreram, as evidências são perceptíveis quando verificamos algumas
alterações na redação da LDB n. 9.394/1996 (GRACINDO, 2008), que se ajustam ao período
2001-2008, conforme documento supracitado.
O Quadro 2 apresenta determinados artigos alterados na LDB, passíveis de influenciar
as avaliações da educação básica, trazendo para o centro da discussão os arranjos políticos em
torno do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (BRASIL, 2007b).
Quadro 2 - Alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394, de 20
de dezembro de 1996, no período 1997-2006. Artigos
alterados
Leis/Decretos que alteraram
os respectivos artigos
Nova redação nos respectivos artigos da LDB
12 (novo
Inciso VIII)
Lei n. 10287, de 20 de
setembro de 2001.
Dever dos estabelecimentos de ensino de notificar ao
Conselho Tutelar, juiz da comarca, representante do
Ministério Público, relação nominal de alunos com
índice de faltas acima de 50%.
11 e 12 Lei n. 10709, de 31 julho
de 2003
Dever do poder público de ofertar transporte escolar
aos alunos da rede estadual e municipal.
26-A e 79-B
(novos)
Lei n. 10639, de 9 de janeiro
de 2003.
Obriga o ensino sobre História e Cultura Afro-
Brasileira e, oficializa o calendário escolar - 20 de
novembro, “Dia Nacional da Consciência Negra”.
36, § 2º e
39-42
Decreto n. 5514, de 23 de
julho de 2004.
Regulamenta a educação profissional, técnica ou
tecnológica.
6º
Lei n. 11114, de 16 de maio
de 2005.
Dever dos pais ou responsáveis com o menor de 6
anos à matrícula no ensino fundamental .
87, § 3º Lei n.11.330, de 25 de julho
de 2005.
Dever do Distrito Federal, estados, municípios, e
supletivamente, a União na oferta de matrícula a
partir da faixa etária de 6 anos para o ensino
fundamental.
8º e 80 Decreto n. 5622, de 19 de
dezembro de 2005.
Regulamenta a educação a distância como
modalidade educacional e dispõe itens sobre:
frequência, acesso, oferta, organização, avaliação,
integração entre os sistemas de ensino e
credenciamento.
29, §2º e 87,
§3º Inciso I
Lei n. 11274, de 6 de
fevereiro de 2006.
Amplia o ensino fundamental de 8 para anos 9 anos,
com matrícula obrigatória à população a partir de 6
anos de idade e, obriga o Distrito Federal, estados,
municípios, e supletivamente, a União, à oferta de
matrícula a partir da faixa etária de 6 anos para o
ensino fundamental.
9º, 44-46,
52-54 e 88
Decreto n. 5773, de 9 de
maio de 2006.
Regulamenta as obrigações da União e, funções de
regulação, supervisão e avaliação da Educação
Superior, respectivamente. Fonte: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394, de 20 de dezembro de 1996. Adaptado
Examinando algumas das alterações na redação da LDB n. 9394/1996, destacamos que
a Lei n. 11114, de 2005 e a Lei n. 11274, de 2006, trazem um avanço significativo para o
ensino fundamental; a primeira, obrigando a responsabilidade dos pais/responsáveis na
matrícula escolar à criança a partir dos seis anos de idades; a segunda, estendendo para nove
anos de duração a escolaridade obrigatória da população brasileira. Essas mudanças podem ter
melhor compreensão quando comparamos o disposto na Lei n. 4024/1961 que estabelecia a
quatro anos de escolaridade obrigatória e, na Lei n. 5692/1971 que decretava a amplificação
da escolaridade obrigatória para oito anos no ensino de 1º grau (ROMANELLI, 1997;
SOUZA; SILVA, 1997). Alguns dos efeitos positivos daquelas alterações somente podem ser
observadas (Gráfico 4), no período de 1997-2009 que revela um aumento de 26,5% de
concluintes do ensino fundamental para a idade de 15 anos de idade.
A Lei n. 10709/2003 assegura o acesso do aluno à escola; o dispositivo adquiriu maior
expressão, quando tornou viável o deslocamento daquele aluno, com dificuldades físicas de
locomoção motora, principalmente os de família com baixa renda, ao ir e vir à escola.
Outro aspecto importante de combate à evasão escolar está disposto na Lei n.
10287/2001, que determina notificação obrigatória pela escola à Secretaria Municipal de
Educação (SME) da relação nominal de alunos que apresentarem percentuais acima de 50%
de faltas, com encaminhamento ao Conselho Tutelar e ao juiz da respectiva comarca e ao
representante do Ministério Público (REID, 2002). É importante salientar que esse percentual
de 50% deva ser calculado observando o estabelecido no artigo 24, Inciso VI, da LDEN n.
9394/1996, que estabelece percentual de 75% de frequência escolar mínima obrigatória para
aprovação. Na realidade escolar o aluno tem direito a 25% de faltas (conforme calendário do
ano letivo), então, aquele percentual de 50% corresponde à metade (12,5%) daquele total
percentual de 25% de faltas, pelo aluno, durante o ano letivo. O que se pode depreender nesse
contexto é que, a legislação educacional fixa „um alerta‟ de controle, monitoramento em
relação à evasão escolar.
Atualmente, tramita no Congresso Nacional o projeto de lei para aprovação do novo
PNE para o decênio 2011-2020; composto por 12 artigos que abrangem grandes temas
presentes na CF de 1988, na Lei n. 9394/1996 e no PNE (2001-2010), com ampla discussão
na comunidade acadêmica e sociedade civil, alguns já inseridos na agenda de programas dos
governos federal, estadual e municipal e com anexo formado por 20 metas, seguidas de
respectivas estratégias para sua execução.
O artigo 2º instrui as dez diretrizes deste PNE (2011-2010):
I - erradicação do analfabetismo; II - universalização do atendimento
escolar; III - superação das desigualdades educacionais; IV - melhoria da
qualidade do ensino; V - formação para o trabalho; VI - promoção da
sustentabilidade sócio-ambiental; VII - promoção humanística, científica e
tecnológica do País; VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos
públicos em educação como proporção do produto interno bruto; IX -
valorização dos profissionais da educação; e X - difusão dos princípios da
equidade, do respeito à diversidade e a gestão democrática da educação.
Nesse projeto de lei, o artigo 10 doutrina a elaboração de Plano Plurianual em
consonância com as diretrizes do Plano Nacional de Educação (2011-2020) e o artigo 11
assegura o IDEB às mesmas atribuições conferidas pelo Decreto n. 6094/2007.
Destacamos, para observação, algumas metas em razão de pronunciarem um limite de
tempo à execução, considerada a data de publicação do plano, em questão: i) meta 1 –
universalizar a oferta de matrícula à educação infantil (4 e 5 anos) até 2016; ii) meta 3 -
universalização da oferta de matrícula à educação do ensino médio até 2016; iii) meta 7 –
“atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB” (Quadro 3) e, iv) meta 7 (estratégia 7.25)
– comparar os resultados do IDEB em relação aos do PISA (Programa Internacional de
Avaliação de Alunos), para “controle externo da convergência entre os processo de avaliação”
produzido por meio do INEP e outros mecanismos de avaliação internacional, conforme
Quadro 4.
Observamos no Quadro 3 as projeções das médias do IDEB para o Brasil, nas edições
dos anos 2011, 2013 2015, 2017, 2019 e 2021, para os ensinos fundamental e médio. Há
evidências de que o IDEB é uma política pública incorporada ao PDE (2007-2011), de caráter
plurianual, que está integrado ao PNE (2011-2021). Assim, indagamos: qual a razão do IDEB
não ter sido incorporado ao PNE (2001-2010) há época de sua vigência, em se tratando de
uma mesma meta traçada neste plano – qualidade da educação?
Quadro 3 - Médias Nacionais para o IDEB
IDEB 2011 2013 2015 2017 2019 2021
Anos Iniciais do Ensino Fundamental 4,6 4,9 5,2 5,5 5,7 6,0
Anos Iniciais do Ensino Fundamental 3,9 4,4 4,7 5,0 5,2 5,5
Ensino médio 3,7 3,9 4,3 4,7 5,0 5,2
Fonte: Projeto de lei do PNE decênio 2011-2020 (CONAE, 2010) 24
. Adaptado
24
Capturado no site: http://conae.mec.gov.br/. Acesso em: 02/04/2011.
O Quadro 4 mostra a projeção das médias nas proficiências de matemática, leitura e
ciências no Programa Internacional de Avaliação de Aluno, para as edições de 2009, 2012,
2015, 2018 e 2021. Podemos observar nos Quadro 3 e 4 que, o ano 2021 é referência para o
IDEB e o PISA aos acordos firmados no Compromisso Todos pela Educação.
Quadro 4 - Médias Internacionais para o PISA
PISA 2009 2012 2015 2018 2021
Média dos alunos em matemática, 395 417 438 455 473
leitura e ciências
Fonte: Projeto de lei do PNE decênio 2011-2020 (CONAE, 2010) 25
. Adaptado
O presente capítulo tratou de revisar a literatura a respeito das políticas de educação
básica, ressaltando a importância do significado do papel do Estado e da legislação
educacional na sistematização da educação básica. Contextualizamos as políticas
educacionais nos textos constitucionais do período republicano de 1934, 1937, 1946, 1967 e
1988 e, também nas leis ordinárias LDB n. 4040/1961, Lei n. 5692/1971 e LDB n. 9394/1996.
Identificamos assim que, até o ano de 1930, o país não apresentava uma política
nacional de educação com diretrizes básicas gerais, que era privilégio centralizado para a
população do território do Distrito Federal. A partir da segunda metade do século XX, a
sistematização da educação básica ganha identidade legal no contexto de lei ordinária. Dessa
feita, com a instituição da primeira LDB n. 4024/1961 temos, enfim, a caracterização da
normatização do ensino primário e secundário. Após dez anos, a Lei n. 5692/1971 apresenta a
nomenclatura de ensino de 1º e 2º graus (para o ensino básico). Atualmente, a Lei n.
9394/1996 identifica o escolarização básica com a denominação de educação básica.
Prosseguimos no contexto ora do ensino primário, ora do ensino de 1º grau ou ora do
ensino fundamental, através da análise de dados em quadros, gráfico e tabelas. Esses dados
estatísticos apontaram indicativos do cenário nacional (quantitativo, valores ou mesmo
percentual) em relação a matrículas, aprovação, repetência, frequência, concluintes do ensino
fundamental, alfabetização, analfabetismo e distorção idade-série.
Por fim, fizemos uma sintética revisão da literatura a respeito do Plano Nacional de
Educação (2001-2010) e a educação básica, salientando o contexto histórico-político de sua
aprovação, suas metas, limites, recursos financeiros e algumas alterações no texto da
LDBEN n. 9394/1996.
25
Ibid.
3 BREVE HISTÓRICO SOBRE O SAEB E A PROVA BRASIL
Para abordarmos os aspectos básicos de institucionalização do SAEB e da Prova
Brasil, especificamente, julgamos necessário apresentar, de forma sintética, os caminhos da
avaliação de larga escala no cenário internacional e sua influência no sistema educacional
brasileiro. Em seguida, procuramos resumir o período que caracteriza a expansão da pesquisa
no Brasil e identificar algumas pistas de estudos sobre a qualidade do ensino fundamental.
Logo após, examinamos de forma sucinta alguns ciclos do SAEB e da Prova Brasil com os
resultados dos anos 2005, 2007 e 2009, consoante estudos de Gatti (2002), Bonamino; Franco
(1999), Bonamino (2002); Klein e Fontanive (2009), Klein (2006), Castro (2009), entre
outros.
Há pouco mais de quatro décadas, a literatura educacional que trata a relação entre
avaliação e qualidade na perspectiva histórica (internacional) nos variados ambientes em que
se deu a sua evolução, aponta os Estados Unidos como marco de referência. Onde, em 1965
ocorreu, provavelmente, a primeira grande pesquisa educacional de larga escala, dando
origem ao chamado Relatório Coleman26
. A base legal desse Relatório advém da Lei dos
Direitos Civis de 1964, dos Estados Unidos, que procurava resgatar os direitos de voto dos
afroamericanos, extinguindo a segregação racial, dando início às pesquisas em larga escala no
campo das ciências sociais, mais especificamente à educação básica (BONAMINO;
FRANCO, 1999; BONAMINO, 2002; BROOKE; SOARES, 2008; HORTA-NETO, 2007;
LEE, 2010).
As medidas políticas educacionais americanas resultantes das conclusões do Relatório
Coleman, segundo Bonamino e Franco (1999, p. 102),
Levaram à valorização de ações de educação compensatória e indicaram a
necessidade de remanejamentos que visassem garantir uma espécie de equilíbrio
multirracial e multicultural entre as escolas. Em termos de visão geral da Educação,
as conclusões do Relatório Coleman reforçaram as críticas à Teoria do Capital
Humano e à visão do papel redentor da escola.
26
O propósito do estudo no Relatório Coleman era demonstrar que nas escolas com significativos padrões de
qualidade na estrutura física, bibliotecas equipadas e com professores capacitados, os alunos teriam melhor
desempenho em relação aqueles alunos que frequentavam escolas com uma oferta inferior de recursos.
Considerando que a maior parte das escolas que segregavam seus alunos era também com poucos recursos.
Assim, tal estudo propunha constatar que a igualdade de oportunidade educacional poderia ser atingida com a
melhoria dos recursos da instituição paralela à extinção da segregação entre seus alunos. Todavia, os resultados
evidenciaram que a desigualdade no desempenho escolar estava relacionada a fatores socioeconômicos de suas
famílias, e não entre a estrutura existente nas escolas (LEE, 2010).
Frigoto (2004, p. 92-93), através de análise crítica, discute como as evidências de
“conceitos e categorias” (ressignificados) permeiam o campo ideológico, tornando-se entraves
ao entendimento da complexidade da crise do capitalismo. De modo didático, ele levanta
algumas questões, dentre as quais: “O que constitui o capital humano e o que se diz gerar em
termos de desenvolvimento no plano inter e intra nações e no plano individual?” E na mesma
direção, o autor procura responder:
O capital humano é função de saúde, conhecimento e atitudes,
comportamentos, hábitos, disciplina, ou seja, é expressão de um conjunto de
elementos adquiridos, produzidos e que, uma vez adquiridos, geram a
ampliação da capacidade de trabalho e, portanto, de maior produtividade. O
que se fixou como componentes básicos do capital humano foram os traços
cognitivos e comportamentais. Elementos que assumem uma ênfase especial
hoje nas teses sobre sociedade do conhecimento e qualidade total [...].
Chegou-se a fazer uma escala – para os cursos de formação profissional – de
quanto de cada elemento, conhecimentos e atitudes, eram necessários de
acordo com o tipo de ocupação e tarefa. CEPAL27
, OREALC28
,
CINTERFOR29
, entre outras, foram as agências representantes dos
organismos internacionais na América Latina para disseminar as estratégias
de produzir capital humano. O resultado esperado era que nações
subdesenvolvidas, que investissem pesadamente em capital humano,
entrariam em desenvolvimento e, em seguida, se desenvolveriam. Os
indivíduos, por sua vez, que investissem neles mesmos em educação e
treinamento, sairiam de um patamar e ascenderiam para outro na escala
social.
Outros estudiosos apontados por Bonamino e Franco (1999), reanalisaram os mesmos
dados do Relatório Coleman no intuito de refutá-los, como Plowden (1967), na Inglaterra e
Forquin (1995), na França, contudo os seus resultados confirmaram as mesmas evidências da
versão original.
Em 1972, Jencks retoma as análises referentes aos dados do Relatório Coleman,
dedicando maior acuidade. Ele conclui que, de certa forma as desigualdades no desempenho
escolar residia entre alunos de uma mesma escola e não de escolas diferentes. Dessa maneira,
foi criado um novo campo de estudo onde os pesquisadores de educação almejavam
demonstrar que fatores intra-escolares podem influenciar no rendimento da aprendizagem dos
alunos. Surge, assim, “o estudo do efeito-escola”, objeto de interesse de inúmeras pesquisas
que pretendem “avaliar as características particulares das instituições de ensino”, contribuindo
para a elaboração de políticas educacionais favoráveis à criação de escolas pelas quais os
alunos adquiram melhor aprendizagem (LEE, 2010, p. 472).
27
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. 28
Oficina Regional para a América Latina e o Caribe. 29
Centro Interamericano para o Desenvolvimento do Conhecimento e da Formação Profissional.
Em linhas gerais, os fatos revelam que o Relatório Coleman (versão original)
identificado como um estudo do tipo transversal, não poderia confirmar a hipótese da “relação
entre oferta de recursos de escolas e diferenças no desempenho do alunos”, em circunstância
da inexistência de dados longitudinais (LEE, 2010, p. 474).
Ao focalizar o processo de institucionalização do SAEB, Bonamino e Franco (1999, p.
104) reproduzem afirmações de Cunha30
(1989) sobre o Relatório Coleman, que também
sinaliza a precariedade para se investigar a qualidade da educação no Brasil, naquela época:
No Brasil, infelizmente, não há um estudo como esse que mostre,
claramente, que as crianças da classe trabalhadora (naquele caso, de um
segmento etnicamente distinto) frequentam escolas de qualidade mais baixa
e são mais intensamente afetadas por ela no seu desempenho educacional.
No entanto, é possível tomar alguns dados, mesmo que parciais, e tentar
especular sobre a existência de fenômeno da mesma natureza em nosso país,
apesar de não podermos medir sua intensidade, como fez Coleman para os
Estados Unidos.
No Brasil, o assentamento dos trabalhos científicos na área educacional desponta no
início do século XX. Todavia, é a partir da criação do INEP, mencionado anteriormente, que a
pesquisa sistemática ganha espaço.
Entre as décadas de 1940 e 1950, o INEP e os seus Centros Regionais (RS, SP, RJ e
MG) tornam-se lócus “produtores e irradiadores de pesquisas e de formação em métodos e
técnicas de investigação científica em educação, inclusive as de natureza experimental”
(GATTI, 2002, p. 15; 16). O crescimento da pesquisa favoreceu o intercâmbio entre
pesquisadores. Trabalhos de Gouveia (1971; 1976), investigados por Gatti (2002, p. 17),
revelam que o enfoque inicial predominante das pesquisas no Brasil era o psicopedagógico,
centrado no “desenvolvimento psicológico das crianças e adolescentes, processos de ensino e
instrumentos de medidas de aprendizagem.” Ainda, na década de 1950, tal matéria no plano
das pesquisas educacionais, transfere-se às relações entre o sistema escolar e determinados
aspectos da sociedade.
A década de 1960 assinala o marco do desenvolvimento da pesquisa educacional no
país, com a implementação de programas sistemáticos de pós-graduação, mestrados e
doutorados. Nessa época, o país vivencia questões ligadas ao contexto de macroplanejamento,
direcionando os esforços e financiamentos no conjunto da política desenvolvimentista com
ênfase aos planejamentos, custos, eficiência, técnicas e tecnologias no ensino e ensino
30
O estudo de Cunha Educação e Desenvolvimento Social no Brasil” (1989), escrito entre 1972-75 e publicada
sua 1a
edição em 1975, é referendado por Bonamino e Franco (1999) como uma obra importante que marcou a
época.
profissionalizante. As pesquisas sobre o desempenho escolar estavam atreladas a fatores
externos (BONAMINO; FRANCO, 1999; GATTI, 2002).
A década de 1970 inicia a discussão sobre o fracasso escolar e qualidade do ensino,
além de trazer a utilização de métodos quantitativos e qualitativos mais elaborados às
análises, um referencial teórico mais crítico que sedimenta diversos estudos científicos. É
oportuno ressaltar o disposto na Lei n. 5692/1971 (art. 11) que previa estudos de recuperação
para aqueles alunos de aproveitamento insuficiente. Ao final desse período, ocorre o
reconhecimento da importância do papel da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Educação (ANPED) no trabalho de pesquisadores e difusão da pesquisa
educacional, dentro e fora do país (BONAMINO; FRANCO, 1999; CUNHA, 2005, 2002).
As décadas de 1970 e 1980 são marcadas ante um cenário de tensões política e social.
Numa, a vigência da censura; noutra, forças políticas e sociais constroem a democracia, que
repercutia no trabalho acadêmico da época (GATTI, 2002; BONAMINO; FRANCO, 1999;
BONAMINO, 2002).
As pesquisas na década de 1980 deram ênfase a fatores intra-escolares, sociais e
desigualdade educacional.
Desde 1985, no Brasil, recomendou-se o emprego do modelo matemático
PROFLUXO foi recomendado para se determinar indicadores educacionais, a partir de dados
das Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios da Fundação (PNAD) ou Censos
Demográficos. A partir de então, verificou-se que os graves problemas de fluxo da educação
básica estavam localizados nas altas taxas de repetência, ao contrário das estatísticas oficiais
que apontam para os índices de evasão escolar, segundo Ribeiro (1991).
Um estudo transversal que marcou os avanços de estudos sobre avaliação de
programas, com foco no rendimento escolar, além de outros fatores, foi o Projeto
EDURURAL (mencionado anteriormente) desenvolvido em todos os estados da região
nordeste, entre os anos de 1982-1986. Entretanto, a avaliação sistemática do Projeto
restringiu-se a uma amostra aleatória de 603 escolas dos estados do Ceará, Pernambuco e
Piauí (BONAMINO; FRANCO, 1999; BONAMINO, 2002; GATTI, 1993, 2002; HORTA-
NETO, 2007). De acordo com os dados do Relatório Técnico (CIBEC/INEP, 1982) 31
, o
referido projeto propunha enquanto prioridades:
a) Melhoria das condições de ensino, predominantemente ao nível das quatro
séries de 1º Grau, compreendendo a adequação do currículo e dos materiais
de ensino – aprendizagem às peculiaridades do meio rural, a preparação dos
31
Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002942.pdf. Acesso em: 18/06/2011.
recursos humanos, a implementação de serviços de supervisão pedagógica e
a dinamização das ações de apoio ao educando; b) A expansão e melhoria da
rede física, de forma a reduzir o déficit de escolarização, e oferecer extensão
da escolaridade (atingindo, no mínimo, a 4ª série do ensino de 1º Grau) bem
como a reorganização administrativa da rede escolar instalada, ampliando os
serviços de educação não formal e a integração escola-comunidade; c) O
fortalecimento do processo de planejamento e administração da educação,
nos níveis federal, estadual e municipal, no sentido de assegurar a
implantação e implementação do programa e a continuidade do processo de
expansão e melhoria no meio rural.
Harbison e Hanushek (1992), citados por Bonamino e Franco (1999), examinaram o
impacto do Projeto EDURURAL em escolas públicas de 1º grau localizadas nos estados de
Pernambuco, Ceará e Piauí, nos anos de 1981, 1983 e 1985, desvinculadas desse Projeto. A
pesquisa adotava modelo longitudinal, quase-experimental (BONAMINO, 2002). Os
pesquisadores detectaram que nos três estados investigados não houve avanços positivos nos
índices de promoção (rendimentos escolares).
Considerando o desdobramento do Projeto EDURURAL e as experiências adquiridas
pela equipe do MEC, o Governo Federal cria o SAEP, em 1988. O novo Sistema, com
objetivo de certificar-se da eficácia de instrumentos e procedimentos de avaliação, adota um
projeto piloto nos estados do Paraná e Rio Grande do Norte, que por impedimentos
financeiros não avança. Tal projeto retoma seu curso em 1990, com o 1º ciclo de
institucionalização do SAEB (BONAMINO; FRANCO, 1999), que substitui o SAEP por
força da Constituição Federal de 1988 (COELHO, 2008). Conforme dados oficiais, “o
objetivo do MEC era oferecer subsídios para a formulação, reformulação e monitoramento de
políticas públicas, contribuindo, dessa maneira, para a melhoria da qualidade do ensino
brasileiro” (BRASIL, 2011, p. 9).
3.1 SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
O MEC, em 1990, no restrito cumprimento da Constituição Federal de 1988 e arranjos
do Banco Mundial, institui o SAEB substituto do SAEP. Nessa perspectiva, o objetivo do
MEC era “oferecer subsídios para a formulação, reformulação e monitoramento de políticas
públicas, visando, dessa maneira, para a melhoria da qualidade do ensino brasileiro.”
(BRASIL, 2011, p. 9).
O SAEB está sob a responsabilidade da Diretoria de Avaliação da Educação Básica
(DAEB), que integra a estrutura organizacional do INEP. Ele é composto por duas avaliações
complementares, a Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB), também conhecida
como SAEB e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), identificada como
Prova Brasil.
Bonamino e Franco (1999, p. 111) apresentam os objetivos gerais do SAEB nos quatro
primeiros ciclos:
1º Ciclo, ano de 1990 - Desenvolver e aprofundar a capacidade avaliativa
das unidades gestoras do sistema educacional (MEC, secretarias estaduais e
órgãos municipais); regionalizar a operacionalização do processo avaliativo,
criando nexos e estímulos para o desenvolvimento de infra-estrutura de
pesquisa e avaliação educacional; propor uma estratégia de articulação dos
resultados das pesquisas e avaliações já realizadas ou em vias de
implementação (Brasil/MEC/INEP, s.d. p. 3); 2º Ciclo, ano de 1993 -
Fornecer elementos para apoiar a formulação, reformulação e
monitoramento de políticas voltadas para a melhoria da qualidade da
educação (Brasil/MEC/INEP, 1995); promover o desenvolvimento e o
aperfeiçoamento institucional, organizacional e operacional do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB; incrementar,
descentralizar e desconcentrar a capacidade técnico-pedagógica na área de
avaliação educacional no Brasil (Brasil/PNUD, 1992); 3º Ciclo, ano de 1995
- Fornecer subsídios para as políticas para a melhoria da qualidade, equidade
e eficiência da educação no Brasil (Brasil/MEC/INEP, s.d. Brasil/
MEC/INEP, 1995) e 4º ciclo, ano de 1997 - Gerar e organizar informações
sobre a qualidade, a equidade e a eficiência da educação nacional, de forma
a permitir o monitoramento das políticas brasileiras (Pestana, 1998).
Desde sua implementação, o SAEB já produziu dez ciclos entre os anos de 1990-2009.
Sua consolidação se dá em 1995, quando é registrada pela primeira a participação voluntária
das 27 unidades da federação. A partir de 1993, os ciclos de avaliação ocorrem a cada dois
anos.
No primeiro ciclo do SAEB, em 1990, houve a participação de 23 unidades federadas
(PESTANA, 1998) e no segundo foram agregadas 24 unidades (BONAMINO; FRANCO,
1999). Em ambos os ciclos foram avaliados alunos das turmas de 1ª, 3ª, 5ª e 7ª séries do atual
ensino fundamental, nas disciplinas Língua Portuguesa e Matemática. No ciclo de 1997, foi
introduzida a disciplina Ciências e, em 1999, as disciplinas História e Geografia. As questões
de provas para avaliação do desempenho dos alunos eram elaboradas de acordo com a
proposta curricular oficial dos sistemas de ensino estadual, dando atenção aos conteúdos
mínimos, que na realidade contemplavam a um ciclo32
, não à série propriamente dita (KLEIN;
FONTANIVE, 2009; PESTANA, 1998). O SAEB, a partir da edição de 2001, passou a
32
Como exemplo, Pestana (1998, p. 69) explica que, “parte do conteúdo da 1ª série do ensino fundamental que
era comum a todos os estados poderia aparecer em cinco estados da 1ª série e em outros cinco na 2ª série, ou em
outra série. Dessa forma, havia um viés que distorcia os resultados da prova, já que os alunos estavam em diferentes
condições de aprendizagem: uns foram expostos aos conteúdos, outros, não.” Essa situação é alteração pelo MEC do ciclo de
1995 em diante.
avaliar apenas as áreas de Língua Portuguesa e Matemática, que se mantiveram nas edições de
2003, 2005, 2007 e 2009.
O SAEB, a cada ciclo, adota os procedimentos metodológicos ligados às informações
oriundas de instrumentos como questões de provas e questionários (BONAMINO; FRANCO,
1999; BONAMINO, 2002; CASTRO, 2009; KLEIN, 2006, 2009; PESTANA, 1998), com a
função de avaliar todo sistema de ensino da educação básica do território nacional. As
informações coletadas pelo SAEB surgem de amostras aleatórias, probabilísticas, “sigilosas”
(CASTRO, 2009). Os questionários contextuais
33 fornecem indicativos das características dos
alunos (nível socioeconômico, hábitos de estudo), dos professores (formação profissional,
práticas pedagógicas, perfil cultural e socioeconômico); do diretor (estilo gerencial, perfil
cultural e socioeconômico) e da escola34
(infraestrutura: adequação, manutenção e
conservação, espaço físico e instalações, equipamentos, recursos e materiais didáticos).
Entretanto, nos dois primeiros ciclos de avaliação do SAEB, o tratamento dado aos
instrumentos cognitivos e contextuais comprometia a qualidade operacional, considerando a
natureza da própria metodologia utilizada. Para suplantar tais obstáculos e a necessidade de
“acompanhar uma tendência do desenvolvimento curricular, passou-se a avaliar as séries
finais de ciclos” (do ensino fundamental e ensino médio) (BONAMINO; FRANCO, 1999,
BONAMINO, 2002; PESTANA, 1998, p. 69).
A partir de 1995, o SAEB introduziu importantes mudanças na sua metodologia; uma,
a amostra representativa passa a abranger os alunos matriculados na série 4ª série/5º ano e 8ª
série/9º ano do ensino fundamental e a 3ª série do ensino médio. Assim, Pestana (1998, p. 69)
afirma que “com esta alteração, passou-se a examinar conteúdos que cobrem praticamente
todo o espectro curricular das propostas do Ensino Fundamental e do Médio ou de Educação
Básica no Brasil.” Para Klein e Fontanive (2009, p. 20), essa decisão reflete “a falta de
currículos e programas únicos por série em todo território nacional”, considerando que os
resultados são repercutidos por redes de ensino, em espaços geográficos federal, estadual e
regional, excluídos os resultados por escolas e por municípios, que são divulgados por meio
da Prova Brasil, desde o ano de 2005, com vistas para o desempenho escolar dos alunos de
todo ensino fundamental da rede pública (BRASIL, 2011).
33
Estão disponíveis em: http://provabrasil.inep.gov.br/. Acesso em: 24/06/2011. 34
Pestana (1998), vide referências.
A outra mudança incide na incorporação de uma metodologia estatística conhecida
como Teoria da Resposta ao Item 35 (TRI) que possibilita, entre outras coisas, a comparabilidade
dos diversos ciclos de avaliação. Com isso, principia o processo de elaboração e interpretação das
Escalas Comuns de Proficiência para “a obtenção de resultados de desempenho cognitivo mesmo
que eles tenham respondido a cadernos de testes diferentes.” (CASTRO, 2009; KLEIN;
FONTANIVE, 1995, 2009, p. 20; KLEIN, 2006).
Em 1997, as Matrizes de Referência foram elaboradas apresentando a descrição das
competências e habilidades, pertinentes ao domínio do aluno em cada série avaliada,
propiciando maior confiabilidade técnica tanto na construção dos itens as provas, como na
análise dos resultados da avaliação. No ano de 2001, essas matrizes foram atualizadas em
consonância aos Parâmetros Curriculares Nacionais, além dos currículos praticados nas
escolas de ensino fundamental e ensino médio, por meio de consulta nacional, que contou
com a participação de profissionais da educação envolvidos com trabalhos, pesquisas nas
áreas do conhecimento avaliadas. O critério adotado tinha como referência os currículos
implementados nas escolas que foram apresentados ao INEP, pelas respectivas secretarias de
educação estaduais e das capitais (BRASIL, 2011).
A Matriz de Referência do SAEB para a disciplina Língua Portuguesa (com foco na
leitura), das turmas de 3º ano, do ensino médio, está estruturada em duas dimensões: nas
habilidades e nas competências que são avaliadas por meio de unidades identificadas por
descritores, elencadas em seis tópicos: i) Procedimentos de Leitura, ii) Implicações do
Suporte, do Gênero e /ou do Enunciador na Compreensão do Texto, iii) Relação entre Textos,
iv) Coerência e Coesão no Processamento do Texto, v) Relações entre Recursos Expressivos e
Efeitos de Sentido e, vi) Variação Linguística. As Matrizes de Referência da Prova Brasil e
do SAEB para a disciplina Língua Portuguesa (com foco na leitura), das turmas de 5º e 9º
anos do ensino fundamental, também estão estruturadas em duas dimensões: nas habilidades e
nas competências que são avaliadas por meio de unidades identificadas por descritores,
seguindo o mesmo número de tópicos do 3º ano do ensino médio (BRASIL, 2011). Em
relação à disciplina Matemática (com foco na resolução de problemas), das turmas de 3º ano,
do ensino médio, está estruturada em duas dimensões: as habilidades e as competências que
35
Klein e Fontanive (1995, p. 29) explicam que “um dos requisitos da TRI é a definição da habilidade cognitiva
que o item mede, devendo ele, em princípio, medir uma habilidade de cada vez. Para tal, é necessário especificar
as habilidades desejadas e elaborar questões que avaliem estas habilidades. Em geral, o processo de
planejamento dos testes combina os conteúdos curriculares e as habilidades hierarquizadas em níveis de
complexidade a partir do que se espera que o aluno saiba e seja capaz de fazer, em uma matriz de especificação
contendo dois eixos. A decisão sobre o número de itens de teste de cada célula depende, em princípio, da ênfase
com que certos conteúdos são tratados e do equilíbrio entre o nível de complexidade das habilidades e a
maturidade intelectual (ou escolaridade) da população de alunos a ser testada.”
são avaliadas por meio de unidades identificadas por descritores, elencadas em quatro temas:
i) Espaço e Forma, ii) Grandezas e Medidas, iii) Tema III. Números e Operações /Álgebra e
Funções e, iv) Tratamento da Informação. As Matrizes de Referência da Prova Brasil e do
SAEB para a disciplina Matemática (com foco na resolução de problemas), das turmas de 5º e
9º anos, do ensino fundamental, também estão estruturadas em duas dimensões: nas
habilidades e nas competências que são avaliadas por meio de unidades identificadas por
descritores, seguindo o mesmo número de temas do 3º ano do ensino médio (BRASIL, 2011).
O SAEB, desde o ano de 2005, é aplicado somente para as turmas de 3ª série do
ensino médio e para as escolas particulares em todas as séries e as escolas rurais, na 4ª série/5º
ano do ensino fundamental, após a criação da Prova Brasil que veremos logo adiante (suas
edições em 2005, 2007 e 2009). Segundo, dados oficiais, parte das escolas participantes na
Prova Brasil ajudam a construir também os resultados do SAEB, por meio de recorte
amostral.
Mas quais são os parâmetros para que possamos identificar, na interpretação das
escalas de proficiência do SAEB, que níveis indicam se houve melhoria na qualidade da
educação básica?
Em 2006, foi criado o Movimento Todos pela Educação 36
, com proposta de contribuir
para que o Brasil garanta a crianças e adolescentes o direito à educação básica. Dessa intenção
foram estabelecidas cinco metas a serem cumpridas até o ano de 2022. Conforme Klein e
Fontanive, (2009, p. 21), a meta37
n. 3 fixa que “70% dos alunos brasileiros devem estar nos
seguintes níveis ou acima deles”, esse critério, pela explicação dos autores, de acordo com os
níveis do SAEB, tem a seguinte leitura: na disciplina Matemática, nível 225 para a 4ª série/5º
ano do ensino fundamental; nível 300 para a 8ª série/9º ano do ensino fundamental e nível 350
para o 3º ano do ensino médio; na disciplina Língua Portuguesa, nível 200 para a 4ª série/5º
36
Saviani (2007, p. 1244) analisando ao PDE, faz o seguinte comentário: “[...] o PDE assume plenamente,
inclusive na denominação, a agenda do “Compromisso Todos pela Educação”, movimento lançado em 6 de
setembro de 2006 no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Apresentando-se como uma iniciativa da sociedade civil
e conclamando a participação de todos os setores sociais, esse movimento se constituiu, de fato, como um
aglomerado de grupos empresariais com representantes e patrocínio de entidades como o Grupo Pão de Açúcar,
Fundação Itaú-Social, Fundação Bradesco, Instituto Gerdau, Grupo Gerdau, Fundação Roberto Marinho,
Fundação Educar-DPaschoal, Instituto Itaú Cultural, Faça Parte-Instituto Brasil Voluntário, Instituto Ayrton
Senna, Cia. Suzano, Banco ABN-Real, Banco Santander, Instituto Ethos, entre outros. Em seu lançamento, o
“Compromisso Todos pela Educação” definiu cinco metas: 1. Todas as crianças e jovens de 4 a 17 anos deverão
estar na escola; 2. Toda criança de 8 anos deverá saber ler e escrever; 3. Todo aluno deverá aprender o que é
apropriado para sua série; 4. Todos os alunos deverão concluir o ensino fundamental e o médio; 5. O
investimento necessário na educação básica deverá estar garantido e bem gerido [...].” 37
Conforme dispostos no site: Todos pela Educação, meta n. 3 dispõe para “todo aluno com aprendizado
adequado à sua série. Ela é o núcleo das metas do Todos Pela Educação, pois estabelece objetivamente o que
seria uma Educação de boa qualidade e os indicadores que devem ser alcançados a cada dois anos para atingir
esse nível.” Disponível em: http://www.todospelaeducacao.org.br/institucional/as-5-metas/. Acesso em:
26/06/2011.
ano do ensino fundamental; nível 275 para a 8ª série/9º ano do ensino fundamental e nível 300
para o 3º ano do ensino médio.
Em relação à Prova Brasil, a cada unidade escolar é conferida uma proficiência média
a partir da escala de 0 a 500, expressa em 10 níveis.
Klein e Fontanive (2009, p. 21) orientam que “a interpretação da escala é cumulativa”,
em outras palavras, as habilidades dominadas em um nível são aquelas descritas nesse nível e
em todos os anteriores. Atualmente, as escalas de desempenho que são intervalos que
descrevem o que os alunos sabem fazer, na disciplina Matemática, o nível 125 é o primeiro e
425 o final. Já, para a disciplina Língua Portuguesa, o primeiro nível é 125 e o final 375. Em
todos os níveis das referidas disciplinas há um intervalo entre eles de “meio desvio-padrão, ou
seja, de 25”. Dessa feita, não se pode atribuir o mesmo significado, por exemplo, para o nível
250, nessas mesmas disciplinas. As Tabelas 8 e 9 indicam o panorama dos níveis da qualidade
da educação básica no Brasil, a partir de cada nível estabelecido para as proficiências nas
disciplinas Língua Portuguesa e Matemática, conforme orientações anteriores dos
pesquisadores Klein e Fontanive (2009).
A Tabela 8 apresenta os percentuais de todos os alunos das redes de ensino de todo o
território nacional, em 2007, que alcançaram classificação superior dos diferentes níveis das
escalas na disciplina Língua Portuguesa. Podemos observar que apenas 27,9% dos alunos da
4ª série/9º ano estão acima do nível (200) de proficiência recomendado. A mesma observação
aponta que 25% dos alunos da 8ª série/9º ano e 13% dos alunos da 3ª série do ensino médio
estão aquém dos níveis estabelecidos, 275 e 300, respectivamente.
Tabela 8 - Proporção de alunos, por níveis do SAEB em Língua Portuguesa, segundo séries
Brasil - 2007 Séries/
Ano
> 125 > 150 > 175 > 200 > 225 > 250 > 275 > 300 > 325 > 350 > 375 > 400 > 425
4ª/5º EF
8ª/9º EF
3º EM
88,3
99,8
100,0
70,5
97,3
99,7
48,1
89,2
95,9
27,9
75,2
86,6
13,5
56,8
73,2
5,3
37,2
57,4
1,6
20,5
40,6
0,4
9,0
24,5
0,1
2,8
12,5
0,0
0,6
4,3
0,0
0,1
1,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
Fonte: Klein; Fontanive (2009, p. 22). Adaptado
A Tabela 9, próxima, mostra os percentuais de todos os alunos, das redes de ensino do
país, em 2007, que obtiveram classificação acima dos diferentes níveis das escalas na
disciplina Matemática. Todavia, podemos observar um quadro crítico na 4ª série/5º ano, ou
seja, 76% dos alunos estão abaixo do nível de proficiência recomendado para a série (225). A
situação é mais crítica para os alunos da 8ª série/9º ano com nível de proficiência apenas 14%
acima do recomendado (300) e a situação é pior para os alunos do 3º ano do ensino médio,
com somente 10% acima do nível de proficiência adequado para a série (350).
Tabela 9 - Proporção de alunos, por níveis do SAEB em Matemática, segundo séries
Brasil - 2007 Séries/
Ano
> 125 > 150 > 175 > 200 > 225 > 250 > 275 > 300 > 325 > 350 >375 > 400 > 425
4ª/5º EF
8ª/9º EF
3º EM
95,3
100,0
100,0
83,0
99,6
100,0
62,5
94,5
98,5
41,0
83,3
92,1
23,7
65,7
79,8
11,9
44,8
62,9
4,9
27,3
44,6
1,6
14,3
29,5
0,5
6,5
18,1
0,1
2,6
9,8
0,0
0,8
4,4
0,0
0,2
1,7
0,0
0,0
0,5
Fonte: Klein; Fontanive (2009, p. 22). Adaptado
Como podemos verificar na análise das Tabelas 8 e 9, os índices de proficiências dos
alunos das 4ª série/5º ano, 8ª série/9º ano e 3º ano do ensino médio, nas disciplinas Língua
Portuguesa e Matemática, são muito ruins. Ante tal cenário, Klein (2009, p. 9) alerta o
Governo no sentido de “adotar medidas urgentes para melhorar a educação escolar” ofertada
às crianças e jovens, no prognóstico de se “ter mais gerações perdidas e fora do mundo do
conhecimento e da tecnologia.”
Klein (2006, p. 158-159) com base na análise de resultados do Censo Escolar 1992-
2003 sobre repetência, evasão, distorção idade-série, matrículas, conclusão de séries na
educação básica e, também, em resultados do SAEB 1995-2003 pelas médias das
proficiências nas disciplinas Língua Portuguesa e Matemática, para a 4ª série/5º ano, a 8ª
série/9º ano e o 3º ano do ensino médio, propunha duas metas: “baixar as taxas de repetência e
evasão para valores menores que 5% e 1% em cada série”, no propósito de universalizar a
conclusão do ensino médio, e ainda, “requerer que mais de 75% dos alunos de uma série
tenham proficiência (habilidade) acima do nível da escala do SAEB, considerado satisfatório
para a referida série.” Ressaltamos outras metas que o próprio autor atribui serem “menos
ambiciosas”:
[...] a garantia da boa formação inicial dos professores. Além dos problemas
apontados pela avaliação dos alunos, o Exame Nacional de Cursos mostra
que há graves deficiências na formação dos professores. As licenciaturas e
cursos de magistério precisam ter disciplinas que cubram os conteúdos e as
habilidades que os professores vão ter de ensinar. [...] mudança de
metodologia: de aula passiva para participativa; trabalho em grupos na sala
de aula; ênfase em fazer o aluno pensar em vez de decorar; encorajar o aluno
a perguntar; encorajar o aluno a discutir e debater. Aprendizado de conteúdo
e memorização é conseqüência desse uso cujo objetivo é o emprego de testes
para diagnosticar e corrigir erros. Não usar testes para punir e reprovar. Os
cursos de licenciatura e de magistério deveriam ser modificados para dar
exemplo e servir de modelo; [...] a avaliação da eficácia dos Cursos Normais
Superiores leva-nos a perguntar se estão ensinando novos conteúdos? Estão
apresentando uma pedagogia moderna ou houve apenas mudança de nome?
[...] trabalhar atitude e expectativa dos professores, diretores e funcionários
das escolas quanto ao sucesso e progresso dos alunos. É preciso convencer
de que a repetência não funciona. Tem de haver programas contínuos de
recuperação; [...] trabalhar a auto-estima dos alunos. A repetência provoca
justamente o contrário; [...] incentivar o envolvimento dos pais. Trabalhar a
expectativa dos pais em relação ao sucesso e progresso de seus filhos. Os
pais precisam motivar seus filhos a estudarem e a serem bons alunos.
Aproveitar reuniões de pais para tratar desses assuntos; [...] incentivar a
valorização do bom aluno pelos pais, sociedade e escola; [...] manter o
jovem na escola de 14 a 18 anos. É preciso lembrar que quem está
aprendendo não sai da escola. Portanto é necessário melhorar os programas
de recuperação para os que precisam manter sempre monitores que possam
ajudar os colegas. É importante dar perspectiva de vida e criar cursos que
visam à empregabilidade como programas de inclusão digital e cursos
técnicos modernos; [...] para acabar ou diminuir a falta de professores,
especialmente de Matemática, Física e Química no EM, e também, no EF,
permitir que qualquer pessoa com formação superior possa ser professor
após fazer um exame de habilitação de conteúdo e passar por um
treinamento pedagógico nos moldes propostos acima, em serviço
(KLEIN, 2006, p. 159-160).
Essas proposições de Klein estão associadas à realidade do cotidiano das escolas
públicas da educação básica no país, que podem ser examinadas à luz da legislação
educacional (BRAGANÇA, 2009) e no âmbito institucional (FRANCO, 2001). No caso
específico das questões relacionadas à Formação de Professores e a sua pertinência, nos
reportamos à Resolução CNE/CP n. 1/2006, que institui as Diretrizes Curriculares Nacional
para o curso de graduação em Pedagogia, Licenciatura. Tal documento, nos dispositivos que
integram as dimensões epistemológicas, nos aspectos dos saberes teóricos (art. 2º, § 2º, Inciso
II) e práticos (art. 8º, Inciso IV), estabelece as contribuições dos conhecimentos filosófico,
histórico, antropológico, psicológico, sociológico, dentre outros; também as condições de
estágio curricular (prática). Nessa direção, é claro nos alvos de Klein (2006) as críticas à
inoperância de elementos intrínsecos ao discurso didático.
Mas como são delineadas as estratégias para assegurar a dinâmica interdisciplinar da
Matriz Curricular dos Cursos de Graduação em Pedagogia e Licenciatura?
Arroyo (2010, p. 110) sugere a recuperação da “pedagogia da como”, colocando em
debate a questão dos saberes do professor profissional. Argumenta que “as lutas da categoria
nas últimas décadas têm sido mais tensas para mudar o como ensinar, as condições materiais
em que ensinamos do que para mudar o que ensinamos”. O autor propõe que adquiramos mais
conhecimentos acerca dos “processos mentais e intelectuais”, como também pelos “hábitos e
valores provocados e ativados”, em decorrência do “como ensinamos” e “como os educandos
aprendem e se socializam.” Ele chama atenção para o conteúdo dos discursos comuns no dia a
dia de uma escola:
É interessante constatar que nas pautas das reuniões dos coletivos de escola
não entram questões sobre os conteúdos ensinados. Isso fica por conta de
cada professor (a) ou do coletivo de cada área. As questões postas e
debatidas em comum se referem ao como, a organização da escola, dos
processos escolares, dos tempos e espaços, das provas e das cargas horárias,
dos rituais comuns, das normas e dos para-casa. Todas questões sobre o
como se convive na escola, sobre as concretas formas de organizar o
cotidiano de nossa docência. Entretanto, pouco se discutem as dimensões
formadoras ou deformadoras desse como e a importância da ação como o
principal desafio para o saber (ARROYO, 2010, p. 111).
As críticas de Arroyo convergem para as reuniões de conselho de classe de certas
escolas da rede pública. Observamos que esses encontros, geralmente, ocorrem sem um
levantamento estatístico preliminar em relação ao desempenho escolar das turmas, nas
disciplinas abordadas naquele período, sem relatórios de avaliação. Outro fato que esvazia o
tom argumentativo dessas reuniões é o conselho de classe ocorrer, geralmente, antes das
avaliações de “recuperação paralela, com a justificativa de „cumprimento do calendário
letivo”, acompanhado de um número reduzido de professores. Enfim, não se pode discutir o
“como” mencionado pelo autor, porque quase não há evidências para uma avaliação
diagnóstica.
Em relação à análise daquelas questões de âmbito institucional, Franco (2001, p.127-
132) discute as potencialidades, problemas e desafios do SAEB, articulando perguntas e
respostas aos objetivos do próprio sistema. A temática discorre a partir das seguintes
perguntas:
Como os objetivos gerais do SAEB vêm sendo perseguidos ao longo dos
anos? Porque tem sido difícil oferecer, a partir dos dados do SAEB,
explicações bem fundamentadas sobre os fatores escolares que influenciam o
aprendizado dos alunos? Faz sentido persistir na tentativa de explicação dos
fatores escolares que influenciam o aprendizado dos alunos em estudos não
longitudinais, como o SAEB? Como tornar o SAEB mais relevante para
gestores e professores? Como viabilizar estudo longitudinal cuja população
de referência seja a população estudantil brasileira (em determinadas séries)?
Quais as características desejáveis de um possível estudo longitudinal?
Franco (2001, p. 133) sintetiza suas ideias caracterizando seis pontos que não se
esgotam em sua dimensão:
1. Explicitação de um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica,
com os estudos específicos alocados dentro do sistema. 2. Inclusão no
mencionado sistema de um estudo longitudinal que tenha como população
de referência a população estudantil de escolas urbanas. 3. Existência de
comitê multidisciplinar de especialistas para cada estudo, com a missão de
oferecer uma visão de conjunto que informe as decisões sobre “demandas
antagônicas” no âmbito de cada estudo. 3. Manutenção e aprimoramento da
dimensão de explicação do SAEB. 4. Aprimoramento dos aspectos técnicos
ainda problemáticos no SAEB. 5. Incorporação de novas medidas relevantes
para professores e gestores no SAEB. 6. Aprimoramento dos padrões de
interação com estados e municípios.
Podemos observar que a produção argumentativa do autor, decorridos 10 anos,
evidencia que o SAEB é uma estrutura orgânica dinâmica e como tal precisa de constante
articulação e reformulação de suas políticas públicas educacionais, mais precisamente com o
estado da arte.
3.2 EVOLUÇÃO DA PROVA BRASIL NOS ANOS INCIAIS E ANOS FINAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL 2005-2009
A Prova Brasil, utiliza a mesma metodologia do SAEB. Em sua primeira edição de
2005, o critério de participação das escolas era de no mínimo 30 alunos matriculados na
mesma série (5º e 9º anos do ensino fundamental), nas disciplinas de Língua Portuguesa e
Matemática, nas escolas públicas. Desde 2007, essas duas avaliações de larga escala são
realizadas simultaneamente, junto aos sistemas ou redes de ensino; agora, com um
quantitativo de 20 alunos reduzido por cada série avaliada. No Gráfico 5, seguinte, podemos
observar a evolução do quantitativo de alunos e escolas na aplicação da Prova Brasil 2005,
2007 e 2009.
O Gráfico 5 exibe a aplicação da Prova Brasil nos anos de 2005, 2007 e 2009.
alunosEscolas
2005
2007
2009
4.534.518
57.909
4.109.265
48.730
3.306.378
40.9200
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
Gráfico 5 - Aplicação da Prova Brasil em 2005, 2007 e 2009
2005
2007
2009
Fonte: INEP/MEC (Adaptado)
Verificamos que os dados no Gráfico 5 apontam dois aspectos distintos: no primeiro
plano, observamos que, em 2009, o total de alunos que realizaram a Prova Brasil aumentou
em 27%, quando comparado ao ano de 2005; no segundo plano, verificamos que, em 2009, o
quantitativo de escolas compromissadas com a Prova Brasil expandiu-se a um percentual de
29,3%, em relação ao ano de 2005. Em relação ao crescimento do número de alunos, podemos
deduzir que esse fato possa refletir a inclusão (participação) dos alunos das escolas da zona
rural, na realização da Prova Brasil, até então avaliados pelo SAEB. No caso da expansão das
escolas, há confirmação por meio de dados oficiais, em 2008, da adesão dos 5563 municípios
ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação do PDE.
O comportamento da educação básica (ensino fundamental), através das proficiências
em Língua Portuguesa e Matemática, no Brasil, unidades da federação e regiões geográficas,
é observado nas Tabelas 10 e 11.
A Tabela 10 apresenta os dados referentes aos resultados da Prova Brasil, em 2005,
2007 e 2009, nas disciplinas Língua Portuguesa e Matemática, 4ª série/5º ano, do ensino
fundamental.
Tabela 10 - Ensino Fundamental Regular, Prova Brasil/UF2005, 2007 e 2009. ANOS INICIAIS (4ª SÉRIE /5º ANO)
BRASIL/ 2005 2007 2009
REGIÕES/UF Matemática Língua Matemática Língua Matemática Língua
Portuguesa Portuguesa Portuguesa
BRASIL 182,38 172,31 193,48 175,77 204,29 184,28
NORTE 166,40 161,31 181,91 167,41 192,83 176,64
Acre 169,20 166,81 184,36 172,77 197,98 185,30
Amapá 162,21 155,44 174,57 160,75 185,13 169,67
Amazonas 172,45 159,61 186,09 171,54 200,96 182,97
Pará 161,97 161,00 174,52 160,37 181,98 168,20
Rondônia 171,94 166,28 186,52 170,24 199,72 180,84
Roraima 169,17 161,60 185,75 171,12 186,43 171,15
Tocantins 169,66 161,24 183,43 168,39 193,17 176,35
NORDESTE 162,62 156,62 177,09 161,09 184,34 167,17
Alagoas 163,86 154,76 174,07 156,87 174,40 157,34
Bahia 167,35 160,01 178,62 162,88 186,17 169,76
Ceará 158,91 162,33 182,19 165,55 193,38 179,72
Maranhão 164,78 162,83 178,46 164,22 181,82 167,35
Paraíba 165,83 156,91 180,84 163,34 187,15 168,94
Pernambuco 162,71 151,47 177,01 161,42 185,35 166,09
Piauí 159,25 148,38 177,16 162,66 189,78 174,07
Rio G. do Norte 152,99 140,54 167,16 149,31 179,71 162,54
Sergipe 169,89 162,39 179,65 163,81 186,13 167,84
SUDESTE 190,33 180,48 196,79 179,20 215,94 192,34
Espírito Santo 184,85 178,98 194,52 178,05 210,73 188,78
Minas Gerais 206,91 186,80 204,46 185,51 227,75 202,66
Rio de Janeiro 177,95 173,76 188,70 172,44 195,72 177,40
São Paulo 182,79 177,86 193,76 176,71 212,91 189,36
SUL 194,37 182,42 200,54 182,67 209,03 188,69
Paraná 208,33 193,76 211,24 190,90 209,03 188,69
Santa Catarina 188,60 179,72 198,37 180,40 203,56 184,19
Rio Grande do Sul 195,60 182,38 200,49 182,96 211,72 191,14
CENTRO-OESTE 185,39 172,13 198,15 181,16 211,20 191,54
Distrito Federal 200,43 185,23 208,76 191,20 223,31 200,93
Goiás 178,34 165,24 188,93 172,60 206,39 188,95
Mato Grosso 175,82 164,91 190,70 174,54 199,07 181,88
Mato G. do Sul 179,80 167,04 192,42 175,05 205,58 186,31
Fonte: Fonte: MEC/INEP. (Adaptado)
Nota: Média da Prova/ Brasil SAEB 2009 calculados somente com as escolas urbanas e sem as
escolas privadas
*Legenda: 1) Em verde, acima da média do Brasil..
2) Em vermelho, abaixo da média do Brasil.
Na Tabela 10, quando comparamos os resultados da Prova Brasil, na disciplina
Matemática, Anos Iniciais, para o Brasil entre os anos de 2007 e o de 2005, verificamos que
houve um crescimento de 5,8%; agora, em relação ao ano de 2009 com o de 2007,
constatamos que o desempenho na mesma disciplina melhorou em 5,3%. No exame da
disciplina Língua Portuguesa, quando comparados os resultados do ano de 2007 com os de
2005, observamos um progresso de 1,9% e, no confronto entre os anos 2009 e 2007, a
melhora nessa prova se evidencia com um percentual de 4,6%.
Quando relacionamos os dados do Brasil e os da categoria regional, em 2005 e 2007,
verificamos que a região Sul, na disciplina Matemática, se destaca acima da média nacional
com um percentual de 6,1% e 3,5%, respectivamente; já, em 2009, foi a região Sudeste que se
destacou com 5,4% acima resultado do Brasil. Em relação à disciplina Língua Portuguesa, em
2005 e 2007, nessa mesma ordem, a região Sul apresenta os percentuais de 5,5% e 3,8%, que
lhes dão destaque acima da média do país; em 2009, a região Sudeste obteve um percentual de
4,2% maior que o resultado do Brasil. Todavia, constatamos que a região Nordeste apresenta
o pior resultado, na disciplina Matemática, nos três anos investigados, se distanciando da
média nacional com os respectivos índices de 10,8%; 8,5% e 2,3%; na disciplina Língua
Portuguesa, novamente a região Nordeste apresenta o pior desempenho, em 2005, 2007 e
2009, aquém da média do Brasil com os percentuais de 9,1%; 8,3 e 9,3%, respectivamente.
Ao analisarmos os resultados da disciplina Língua Portuguesa verificamos que, em
2005, o estado do Paraná apresenta um índice de 8% acima da média nacional; em 2007, o
Distrito Federal se destaca com um percentual de 8% e, em 2009, é o estado de Minas Gerais
que excede em 9% em relação à média do Brasil. Em relação à disciplina Matemática
constatamos que, em 2005 e 2007, nessa mesma ordem, o estado do Paraná com os
percentuais 8,9% e 8,4% se destaca acima da média nacional; em 2009, com um percentual de
10,3%, o estado de Minas Gerais se distingue da média do país. Contudo, o pior desempenho
na disciplina Matemática, abaixo da média nacional, ocorreu no estado do Rio Grande do
Norte, em 2005 e 2007, com os respectivos percentuais 8,3% e 13,1%; em 2009, no estado de
Alagoas, distanciando-se com o percentual de 14,6% do resultado do Brasil. No que tange à
disciplina Língua Portuguesa, o pior resultado localizou-se: em 2005 e 2007, outra vez no
estado do Rio Grande do Norte com os percentuais de 18,4% e 15% menor que a média
nacional. Em 2009, novamente, o estado de Alagoas fica abaixo da média nacional em 14,6%.
Os dados referente à análise dos resultados da Prova Brasil em 2005, 2007 e 2009,
anos iniciais do EF, revelaram que 74% dos entes federados em 2005 e 2007, estão abaixo da
média do Brasil, na disciplina Matemática e, em 2009, essa defasagem chega a 70,3% nesta
disciplina. Examinando esses indicativos na disciplina Língua Portuguesa constatamos que,
em 2005 e 2007, respectivamente, 74% dos entes federados estão abaixo da média nacional;
assim como em 2009, 66,6% dos entes federados, igualmente, ficaram abaixo da média
nacional nesta disciplina.
A Tabela 11 mostra os dados referentes aos resultados da Prova Brasil, em 2005, 2007
e 2009, nas disciplinas Língua Portuguesa e Matemática, 8ª série/9º ano, do ensino
fundamental.
Tabela 11 - Ensino Fundamental Regular, Prova Brasil/UF 2005, 2007 e 2009.
BRASIL/
ANOS FINAIS (8ª SÉRIE/9º ANO)
2005 2007 2009
REGIÕES/UF Matemática Língua Matemática Língua Matemática Língua
Portuguesa Portuguesa Portuguesa
BRASIL 239,52 231,82 247,39 234,64 248,72 243,99
NORTE 226,80 223,00 232,82 224,74 233,69 235,53
Acre 222,84 227,27 234,00 225,57 238,09 240,48
Amapá 224,09 221,15 225,76 219,77 226,70 229,72
Amazonas 216,34 215,23 234,43 228,36 237,27 241,20
Pará 225,25 228,59 229,50 221,66 227,56 229,89
Rondônia 232,51 227,66 239,28 226,52 240,56 237,91
Roraima 219,47 218,73 234,77 224,07 232,99 232,20
Tocantins 218,97 218,57 231,41 223,01 233,82 234,62
NORDESTE 219,58 215,93 226,93 217,95 228,94 227,72
Alagoas 220,86 211,30 223,36 213,22 224,78 222,88
Bahia 224,33 224,22 228,55 219,85 228,05 225,75
Ceará 213,88 207,58 228,82 220,70 233,03 235,72
Maranhão 219,59 219,72 225,92 220,16 226,34 229,88
Paraíba 218,12 216,91 227,66 217,72 228,72 225,88
Pernambuco 216,03 210,82 222,89 213,51 228,15 225,94
Piauí 217,55 214,68 230,76 218,79 232,22 230,24
Rio G. do Norte 218,6 211,62 230,28 218,61 232,06 228,73
Sergipe 234,01 225,41 229,65 218,20 231,67 227,45
SUDESTE 236,17 229,81 244,57 232,69 246,62 242,69
Espírito Santo 247,76 227,00 243,82 229,69 246,37 240,63
Minas Gerais 251,63 234,55 252,89 237,30 258,82 251,17
Rio de Janeiro 220,58 223,90 231,54 223,68 238,54 235,81
São Paulo 230,22 228,45 242,51 231,86 242,75 240,27
SUL 244,62 231,93 252,09 237,05 252,96 247,13
Paraná 238,13 223,11 252,13 235,72 250,74 246,23
Santa Catarina 247,64 242,72 250,69 234,95 252,51 245,00
Rio Grande do Sul 253,33 239,41 253,00 240,85 258.57 250,99
CENTRO-OESTE 233,50 227,89 241,61 229,05 241,81 239,40
Distrito Federal 248,43 236,25 250,70 236,87 249,36 242,87
Goiás 227,65 225,63 237,43 225,56 236,58 235,22
Mato Grosso 228,06 221,23 237,42 224,76 240,88 239,45
Mato G. do Sul 236,91 234,04 249,16 236,30 251,57 249,41
Fonte: Fonte: MEC/INEP. (Adaptado)
Note: Média da Prova/ Brasil SAEB 2009 calculados somente com as escolas urbanas públicas.
*Legenda: 1) Em verde, acima da média do Brasil..
2) Em vermelho, abaixo da média do Brasil.
A Tabela 11 revela que, quando comparamos os resultados do Brasil, na disciplina
Matemática, ano de 2007 com o de 2005, verificamos que no país ocorreu um crescimento de
3,2% e, quando relacionamos o ano de 2009 com o de 2007 constatamos que, no Brasil o
desempenho na disciplina Matemática obteve uma melhoria de 0,5%. Em relação à disciplina
Língua Portuguesa, confrontando os anos de 2007 e 2005, constatamos um crescimento de
1,2%, no Brasil; no mesmo contexto, ao relacionarmos o ano de 2009 com o de 2007,
verificamos um progresso percentual de 3,8% no resultado da referida disciplina.
Quando confrontamos os dados do Brasil e os da categoria regional, verificamos que a
região Sul, na disciplina Matemática, nos anos 2005, 2007 e 2009, nessa mesma ordem, se
destaca com os percentuais de 2%; 1,9% e 1,7%, acima da média nacional. Em relação à
disciplina Língua Portuguesa, novamente a região Sul em 2005, 2007 e 2009, apresenta
destaque único acima da média do país com percentual de 0,05%; 1% e 1,3%,
respectivamente. Entretanto, verificamos que o pior resultado, na disciplina Matemática, se
concentrou na região Nordeste, nos anos de 2005, 2007 e 2009, trazendo as respectivas taxas
de 8,4; 8,3 e 8%, aquém da média nacional. Esse mesmo quadro se repete para a disciplina
Língua Portuguesa, em 2005, 2007 e 2009, quando a região Nordeste fica aquém da média
nacional com os percentuais de 6,9%; 7,1% e 6,7%; respectivamente.
Examinando o resultado da disciplina Língua Portuguesa na categoria ente federado
constatamos que em 2005, o estado de Santa Catarina se destaca acima da média nacional
com um percentual de 4,5%; em 2007, o destaque ocorre no estado do Rio Grande do Sul com
uma diferença percentual de 2,6% em relação à média nacional; em 2009, é o estado de Minas
Gerais que se distingue com um percentual de 2,9% acima da média do Brasil. Em relação à
disciplina Matemática observamos que em 2005 e 2007, com as respectivas taxas de 5,5% e
2,2%, o estado do Rio Grande do Sul se destaca acima do resultado do Brasil; em 2009, o
destaque positivo ocorre no estado de Minas Gerais com 3,9% além da média nacional. No
que tange ao aspecto de pior desempenho, na disciplina Língua Portuguesa constatamos que,
em 2005, o estado do Ceará fica abaixo 7,8% da média nacional; em 2007 e 2009, o estado de
Alagoas se distancia 9,1% e 8,7% abaixo da média do Brasil. No tocante à disciplina
Matemática, o pior resultado, em 2005, ocorreu no estado do Ceará que ficou a 10,7% abaixo
da média nacional; em 2007, o estado de Pernambuco apresenta o pior resultado do país,
destoando deste em 9,9% e, em 2009, o desempenho mais crítico foi localizado no estado de
Alagoas com uma diferença percentual de 9,6% abaixo da média do país.
A análise dos resultados da Prova Brasil 2005, 2007 e 2009, nos anos finais do EF
apontaram que o desempenho acadêmico dos alunos na disciplina Língua Portuguesa é crítico,
considerando que 85,2% dos entes federados, em 2005, estão abaixo da média nacional; em
2009, esse percentual passa para 77,7% e, em 2009, esse índice chega a 81,5%.
Nesse contexto, em relação à disciplina Matemática, os resultados do desempenho dos
alunos, em 2005, 2007 e 2009 são menos gritantes quando comparados aos resultados da
média do Brasil; verificamos que estão abaixo desta com percentuais de 22,2%; 19,9% e
22,2%; respectivamente.
Neste capítulo procuramos investigar que tratamento as pesquisas deram para a
avaliação do ensino escolar, e de que forma dão subsídios à qualidade da educação básica.
A literatura revisada apontou que no cenário internacional, à época dos anos de 1960,
os dados do Relatório Coleman associam o bom desempenho escolar à teoria do Capital
Humano. Em contrapartida, nos anos de 1970, estudos utilizando esses mesmos dados
apontam que o sucesso do desempenho escolar está ligado a fatores intra-escolares.
No Brasil, a partir de 1970, após uma década da implementação de programas lato
sensu e stricto sensu, surgem os primeiros debates sobre fracasso escolar e qualidade do
ensino. Outras pesquisas com foco nos fatores intra-escolares, sociais e desigualdade
educacional são enfatizadas na década de 1980.
Mas o acompanhamento dos resultados do desempenho escolar da educação básica só
foi possível com a institucionalização da SAEB, na última década do século XX e a criação da
Prova Brasil em meados da primeira década do século XXI.
Noutra perspectiva, examinando os resultados da Prova Brasil 2005, 2007 e 2009,
constatamos que o desempenho do ensino fundamental, no Brasil, é preocupante.
4 PROGRAMAS DE AÇÃO DO PDE NAS PERSPECTIVAS DE: MAGISTÉRIO
FINANCIAMENTO E QUALIDADE DO ENSINO
Em 2007, período de plena vigência do PNE (2001-2010), surge o PDE apoiado,
simultaneamente, ao Decreto n. 6.094/2007 para implementação do Plano de Metas
Compromisso Todos pela Educação e em outras medidas legais (CAMARGO;
GUIMARÃES; PINTO, 2008; CURY, 2007; DOURADO, 2007; GRACINDO, 2008;
HYPOLITO, 2009; HYPOLITO, 2009; SAVIANI, 2007), no propósito de melhoria da
qualidade da educação básica, com parceria da União e entes federados, família e
comunidades, através de discurso do Ministro da Educação, Fernando Haddad. O PDE 38
é
identificado como política de Estado, congregando articulação entre educação,
desenvolvimento econômico e social:
A razão de ser do PDE está precisamente na necessidade de enfrentar
estruturalmente a desigualdade de oportunidades educacionais. Reduzir
desigualdades sociais e regionais, na educação, exige pensá-la no plano do
País. O PDE pretende responder a esse desafio através de um acoplamento
entre as dimensões educacional e territorial operado pelo conceito de arranjo
educativo. Não é possível perseguir a eqüidade sem promover esse enlace.
[...] O enlace entre educação e desenvolvimento é essencial na medida em
que é por meio dele que se visualizam e se constituem as interfaces entre a
educação como um todo e as outras áreas de atuação do Estado. Não importa
a abrangência do território considerado, o bairro ou o país. A relação
recíproca entre educação e desenvolvimento só se fixa quando as ações do
Estado são alinhadas e os nexos entre elas são fortalecidos, potencializando
seus efeitos mútuos. Desse movimento de busca de sintonia das políticas
públicas entre si depende a potencialidade dos planos setoriais, inclusive o
educacional, que passam, nesses termos, à condição de exigência do
desenvolvimento econômico e social, garantindo-se que o todo seja maior
que a soma das partes (BRASIL, 2009a, p. 6-7).
Após apresentação do PDE à sociedade, seguiram-se diversas análises-críticas ora por
falta de clareza de fundamentação legal (CAMARGO; GUIMARÃES; HYPOLITO, 2009;
PINTO, 2008) ora pela inexistência de elementos característicos à estrutura de um plano
como princípios, diretrizes, objetivos e metas (CURY 2007; DOURADO, 2007; SAVIANI,
2007). Gracindo (2008, p. 222) acrescenta que tal plano configura-se a “um conjunto de
decretos, resoluções, editais, programas, projetos e ações.”
38
O documento PDE apresentado no Portal do MEC, em 2011, difere, em parte da formatação virtual,
comparada àquela do ano 2007.
Outros estudos chamam atenção para a importância de se refletir o contexto político-
social das razões de vetos ao PNE (BRASIL, 2001) no governo de Fernando Henrique
Cardoso (1995-1998; 1999-2002) e sua manutenção no governo de Luiz Inácio Lula da Silva
(2003-2006; 2007-2010) e a divulgação de lançamento do PDE (BRASIL, 2007) sem
referências ao PNE, ainda no prazo de sua vigência (BARÃO, 2008; CAMARGO; PINTO;
GUIMARÃES, 2008; GRACINDO, 2008; OLIVEIRA, 2007; WERLE, 2009).
No sentido mais amplo das políticas sociais, a política educacional assemelha-se à
especificidade de outras políticas como as de saúde, previdência e justiça, contudo, guarda
características próprias que a diferencia de outras. Então, segundo Cury (2003, p. 147), as
políticas da educação perpassam “desde a sala de aula até os planos de educação de largo
espectro”. O mesmo autor sintetiza sua análise sobre política educacional junto ao papel do
Estado, enfatizando que “as políticas educacionais são plurais porque nascem de uma
realidade social e política que se rebela em atender a desígnios únicos” (2003, p. 153).
A postura analítico-crítica dos autores na literatura evidenciada, frente às políticas
educacionais, nos estimula a revisitar seus trabalhos e tê-los como referencial teórico a
redescobrir outros significados que possam suscitar reflexão para a situação da melhoria da
qualidade da educação básica.
Nessa direção, nos juntamos às críticas de Barão (2008) perante a comunidade
acadêmica, ensejando a produção de trabalhos que propiciem tecer comparação, análise e
questionamentos sobre as razões da implementação de outro plano, no caso o PDE, se o PNE
ainda em vigência à época, não teve suas metas plenamente contempladas.
O PDE determina como objetivo melhorar, substancialmente, a educação pública
oferecida às crianças, jovens e adultos de todo país; prioriza uma educação básica de
qualidade. Apresenta-se organizado em torno de quatro eixos: educação básica, educação
superior, educação profissional e alfabetização. Para efeito de suporte financeiro e técnico, a
partir de medidas do referido Plano, o Governo Federal criou um Plano de Metas
Compromisso Todos pela Educação (BRASIL, 2007b), composto de diretrizes junto à União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em regime de colaboração. Este visa acesso à
uma educação de qualidade que propicie ao educando ações reflexivas, no contexto de um
mundo globalizado.
Embora possamos admitir que cada um dos programas de ação do PDE atenda a uma
proposta distinta, Saviani (2007, p. 1233) sinaliza que tais ações estão dispostas no site 39
do
39
http://portal.mec.gov.br/arquivos/Bk_pde/default.html
MEC de “forma individualizada, encontrando-se justapostas, sem nenhum critério de
agrupamento”. Contudo, o autor reconhece que essas ações, que envolvem todo raio de ação
do MEC, possam ser agrupadas conforme os níveis e as modalidades de ensino, como
também de programas de apoio e de infraestrutura.
Para monitorar a melhoria da qualidade da educação básica, meta não clara no PNE
(2001-2010), o MEC concebe o IDEB, índice pelo qual “todo o PDE está ancorado”
(ARAÚJO, 2007), o que veremos mais adiante. Cabe destaque a afirmativa da atual secretaria
da Educação Básica do MEC - “hoje, o MEC baseia seu projeto em um tripé formado pela
avaliação do sistema de ensino, financiamento e formação de professores [...].” (SILVA,
2008, p. 27).
Assim, para entendermos como as políticas públicas foram implementadas para a
melhoria da qualidade da educação básica, nos dispusemos a identificar que programas do
PDE se articulam com a educação básica e como os mesmos promovem a melhoria do
desempenho escolar sob três aspectos: i) magistério da educação básica pública (piso salarial,
plano de carreira e formação); ii) financiamento (FUNDEF e FUNDEB) e iii) qualidade do
ensino (IDEB).
4.1 MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: FORMAÇÃO, PLANO DE CARREIRA
E PISO SALARIAL
A Resolução CNE/CEB n. 5/2010 fixa as Diretrizes Nacionais para os Planos de
Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica pública. Ela elenca onze
artigos que orientam, em regime de colaboração, a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios a instituir seus planos de carreira. As determinações que regulam a execução dos
referidos planos podem ser identificadas sob três pilares: piso salarial, plano de carreira e
formação, que necessitam interligar-se para a estruturação da materialização dos mesmos.
Assim, procuramos enfatizar os aspectos básicos que apresentam alguma inovação às
garantias de mudança na carreira dessa categoria profissional.
O artigo 3º da Resolução em questão, define os critérios para remuneração dos
profissionais em referência, regulados pelos diplomas legais a Lei n. 11494/2007(art. 40), que
trata sobre a implementação e a LDBEN n. 9394/1996, que estipula os percentuais mínimos
que os entes federados devam encaminhar destino obrigatório na educação básica (art. 69).
O art. 4º dispõe, nesta Resolução, sobre os preceitos que todos os entes federados
devem instituir nos planos de carreira do quadro de funcionários das escolas e órgãos da rede
de educação básica pública, com vistas ao acesso à carreira (somente por meio de concurso
público, a partir de 10 anos da publicação desta Resolução), equiparação salarial com outras
carreiras profissionais de formação semelhante, organização da carga horária (com foco no
projeto político-pedagógico), progressão salarial que valorize titulação, experiência,
desempenho, atualização e aperfeiçoamento profissional, garantias de remoção e
aproveitamento dos profissionais, sem prejuízo de seus direitos trabalhistas, no caso de
mudança de residência e havendo vaga na instância de destino, entre as esferas
administrativas quando em regime de colaboração.
No quesito ligado à adequação dos planos de carreira dos entes federados, consoante
ao artigo 5º da citada Resolução, cabe ressaltar a determinação para realização de concurso
público, considerando a vacância no quadro permanente em percentual de 10%, passados 4
anos do último concurso; assegurar revisão salarial a fim de preservar o poder de compra do
profissional (Inciso III) e executar concurso interno, em tempo hábil anterior às demandas
burocráticas de relotação de outras instâncias administrativas e “das listas de classificados em
concursos público” (Inciso XXIII).
Ainda, na observância do artigo 5º, tendo como centro de interesse os aspectos
alusivos ao aperfeiçoamento da formação do profissional da educação básica pública,
salientamos a determinação para se ofertar “programas permanentes e regulares de formação
continuada”, extensivo a pós-graduação e “instituir mecanismos de concessão de licenças para
aperfeiçoamento e formação continuada” (Incisos XIV e XVII).
No âmbito do PDE, identificamos quatro programas ligados à questão da valorização
do magistério, quais sejam: o “Formação”, o “Programa de Consolidação das Licenciaturas
(PRODOCÊNCIA)”, o “Programa de Apoio à Extensão Universitária (PROEXT)” e o “Piso
do magistério”.
O Programa “Formação” está incorporado ao Sistema Universidade Aberta do Brasil
(UAB)40
, instituído pelo Decreto n. 5800, de 8 de junho de 2006, sob a gestão da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 41
. Ele é dirigido
para o desenvolvimento da modalidade de educação a distância com propósito de ampliar e
interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no país, em regime de
40
O Sistema UAB está consubstanciado no art. 84, inciso IV, da constituição Federal de 1988, no dispostos aos
art. 80 e 81 da lei n. 9394/1966, no Plano Nacional de Educação (2001-2010), na Lei 11273/2006, bem como no
Decreto n. 5622/2005. 41
O CAPES assume responsabilidade de subsidiar o MEC nas ações de suporte à “formação dos profissionais do
magistério para a educação básica e superior e para o desenvolvimento científico e tecnológico do país” (art. 2º
da Lei n. 11502/2007).
colaboração da União com entes federados; articulado a pólos de apoio presencial. São
objetivos do Sistema UAB:
I - oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e
continuada de professores da educação básica; II - oferecer cursos superiores
para capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; III - oferecer cursos
superiores nas diferentes áreas do conhecimento; IV - ampliar o acesso à
educação superior pública; V - reduzir as desigualdades de oferta de ensino
superior entre as diferentes regiões do País; VI - estabelecer amplo sistema
nacional de educação superior a distância; e VII - fomentar o
desenvolvimento institucional para a modalidade de educação a distância,
bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior
apoiadas em tecnologias de informação e comunicação.
O Programa de Consolidação das Licenciaturas (PRODOCÊNCIA) visa aprimorar a
qualidade dos cursos de licenciatura, por meio de fomento a projetos institucionais das redes
públicas federal, estadual e municipal de Educação Superior, com proposta de valorizar a
formação e o exercício dos futuros profissionais do magistério da Educação Básica. Os
projetos são submetidos às avaliações do CAPES, que repassa recursos de custeio a pagamento
de despesas necessárias ao cumprimento do projeto institucional, atendidas as exigências dos
editais à época de concurso público.
O Programa de Apoio à Extensão Universitária (PROEXT), segundo dados oficiais,
existe desde 2003, foi instituído pelo Decreto n. 6495/2008, integra parte das ações
estratégicas do PDE às políticas de formação continuada; visa financiar projetos de extensão,
ensino e pesquisa. São objetivos do PROEXT (art. 1º, § Único):
I - centralizar e racionalizar as ações de apoio à extensão universitária
desenvolvidas no âmbito do Ministério da Educação; II - dotar as instituições
públicas de ensino superior de melhores condições de gestão das atividades
acadêmicas de extensão, permitindo planejamento de longo prazo; III -
potencializar e ampliar os patamares de qualidade das ações de extensão,
projetando-as para a sociedade e contribuindo para o alcance da missão das
instituições públicas de ensino superior; IV - fomentar programas e projetos
de extensão que contribuam para o fortalecimento de políticas públicas; V -
estimular o desenvolvimento social e o espírito crítico dos estudantes, bem
como a atuação profissional pautada na cidadania e na função social da
educação superior; VI - contribuir para a melhoria da qualidade da educação
brasileira por meio do contato direto dos estudantes com realidades concretas
e da troca de saberes acadêmicos e populares; VII -propiciar a
democratização e difusão do conhecimento acadêmico; e VIII -fomentar o
estreitamento dos vínculos entre as instituições de ensino superior e as
comunidades populares do entorno.
O Programa de Bolsa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID), criado pela
Portaria Normativa n. 38, de 12 de dezembro de 2007, é uma política pública de ação do PDE
em prol da valorização do magistério, da qualidade do ensino, que oferece bolsas de estudo a
alunos do curso de magistério (licenciatura) e bolsas de pesquisa a professores da rede pública.
A finalidade do programa consiste em agregar as secretarias municipais e estaduais de
educação e as universidades públicas, para beneficiar a melhoria do ensino nas escolas oficiais
de ensino fundamental e médio que estão com IDEB abaixo da média nacional. Dentre as
intenções do PIBID existe a iniciativa de suprir a carência de professores, estimulando
incentivos às áreas nas disciplinas de ciência e matemática para o ensino fundamental (5º ao 9º
anos) e biologia, física, matemática e química para o ensino médio. As ações do PIBID estão
centradas em dois pilares: autonomia das universidades e regime de colaboração na
perspectiva da descentralização. As instituições com propostas de projetos deverão estar com
avaliação satisfatória no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES),
segundo prerrogativas da Lei n. 10861/2004. São objetivos do referido programa:
I - incentivar a formação de professores para a educação básica,
especialmente para o ensino médio; II - valorizar o magistério, incentivando
os estudantes que optam pela carreira docente; III - promover a melhoria da
qualidade da educação básica; IV - promover a articulação integrada da
educação superior do sistema federal com a educação básica do sistema
público, em proveito de uma sólida formação docente inicial; V - elevar a
qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de professores
nos cursos de licenciaturas das instituições federais de educação superior.
O Quadro 5 mostra o quantitativo de bolsas financiadas pelo Capes a instituições
conveniadas com o PIBID. Os dados demonstram que, quando relacionamos as bolsas de
estudo oferecidas aos alunos no ano de 2010 com o ano de 2007, verificamos que houve um
aumento significativo de 20,7%. No tocante ao fomento às pesquisas científicas, quando
comparamos o ano de 2010 com o de 2007, observamos que para os coordenadores houve um
aumento de 26,4% e, para os supervisores de 24,1%. Assim, podemos inferir que houve maior
produção de trabalhos científicos entre os professores (coordenadores).
Quadro 5- Bolsas PIBID aprovadas
2007 2009 2010*
Bolsas para alunos de licenciatura 2.326 11.208 13.649
Bolsas para coordenadores 259 816 981
Bolsas para supervisores 503 1.670 2.084
Total 3.088 13.694 16.714 Fonte: Capes/MEC
*Até outubro/2010
A Tabela 12 mostra os dados sobre o total de professores no ensino fundamental por
escolaridade, de acordo com a região geográfica e a unidade da federação, no ano de 2009.
Tabela 12 - Número de Professores no Ensino Fundamental por Escolaridade,
segundo a Região Geográfica e a Unidade da Federação, em 2009
Unidade da
Federação
Professores no Ensino Fundamental
Total Ensino
Fundamental
Ensino Médio
Superior
Completo Médio
total
Médio
Normal
Magistério /
Magistério
Indígena
Ensino
Médio
Brasil 1.377.483 6.926 410.129 323.534 86.595 960.428
Norte 124.622 1.529 56.646 45.104 11.542 66.447
Rondônia 12.047 100 3.349 2.834 515 8.598
Acre 6.792 209 3.776 3.065 711 2.807
Amazonas 27.779 338 9.846 7.257 2.589 17.595
Roraima 4.574 93 2.689 2.274 415 1.792
Pará 53.628 573 29.961 24.074 5.887 23.094
Amapá 6.662 51 3.422 3.185 237 3.189 Tocantins 13.140 165 3.603 2.415 1.188 9.372
Nordeste 427.175 3.990 209.925 173.200 36.725 213.260
Maranhão 63.515 757 39.625 35.843 3.782 23.133
Piauí 32.516 1.040 13.804 10.768 3.036 17.672
Ceará 58.766 184 18.566 10.898 7.668 40.016
R. G. do Norte 23.737 131 8.186 5.051 3.135 15.420
Paraíba 33.263 271 12.776 9.856 2.920 20.216
Pernambuco 63.983 444 25.957 22.036 3.921 37.582
Alagoas 22.787 96 11.805 9.956 1.849 10.886
Sergipe 17.221 110 5.274 3.975 1.299 11.837
Bahia 111.387 957 73.932 64.817 9.115 36.498
Sudeste 530.155 509 92.527 71.710 20.817 437.119
Minas Gerais 153.234 212 28.042 20.369 7.673 124.980
Espírito Santo 24.107 17 4.586 2.835 1.751 19.504
Rio de Janeiro 98.031 142 31.174 28.737 2.437 66.715
São Paulo 254.783 138 28.725 19.769 8.956 225.920
Sul 194.723 296 32.409 22.896 9.513 162.018
Paraná 75.271 76 9.252 6.688 2.564 65.943
Santa Catarina 41.140 83 6.589 2.659 3.930 34.468
R. G. do Sul 78.312 137 16.568 13.549 3.019 61.607
Centro-Oeste 100.808 602 18.622 10.624 7.998 81.584
M. G. do Sul 18.872 60 2.329 1.286 1.043 16.483
Mato Grosso 23.493 414 5.267 2.534 2.733 17.812
Goiás 41.732 125 8.156 4.745 3.411 33.451
Distrito Federal 16.711 3 2.870 2.059 811 13.838
Fonte: MEC/INEP/DEED 42
Notas:
1 - Professores são os indivíduos que estavam em efetiva regência de classe em 27/05/2009.
2 - Não inclui os professores de turmas de atividade complementar.
3 - Professores (ID) são contados uma única vez em cada Unidade da Federação, porém podem ser
contados em mais de uma UF.
4 - Inclui professores de turmas do ensino de 8 e 9 anos.
5 - Ensino Médio Normal/Magistério: Inclui os professores do Magistério Específico
Indígena
42
Capturado em: http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse. Acesso em: 26/06/2011.
Na Tabela 12, quando comparamos o total de professores (960.428) no Brasil com
escolaridade nível superior, verificamos que a região Sudeste se destaca com percentual de
45,5% e a região Norte fica aquém com apenas 6,9%. Em relação à unidade da federação, o
estado de São Paulo tem o maior percentual de 23,5%; ficando o estado de Roraima com o
menor percentual de 0,18%.
Pelo exame do total de professores (410.129), no Brasil, com escolaridade de ensino
médio, constatamos que na região Nordeste predomina mais da metade desse total (51,1%);
enquanto a região Centro-Oeste ocupa a menor parcela (4,5%). No tocante à categoria
unidade da federação, o estado da Bahia representa o percentual de 18% dessa soma;
enquanto o estado do Mato Grosso do Sul retrata o menor percentual de 0,5%, seguido do
estado de Roraima com o percentual de 0,6% e o Distrito Federal com o percentual de 0,7%.
É preocupante que na primeira década do século XXI, o país ainda tenha um total
6.926 professores do ensino fundamental com escolaridade de ensino fundamental. Desta
realidade, nos certificamos que a região Nordeste concentra mais que o dobro (57,6%) e a
menor parcela é localizada no Distrito com um percentual de 0,04%, acompanhado do estado
do Espírito Santo com percentual de 0,24%.
Continuando essa análise, Maia (2009, p. 124) nos leva a refletir que,
No Brasil, embora a preocupação com a formação de professores para as
séries iniciais tivesse início nos primeiros anos do século XIX, a organização
didática simples; o currículo pobre; uma única disciplina de caráter
prescritivo, voltada para o magistério propriamente dito; as precárias
condições de infraestrutura dos prédios escolares; os baixos salários; e o
recrutamento de pessoal de baixo nível e parca habilitação contribuíram para
o insucesso e o desprestígio das primeiras escolas normais e,
conseguemente, para a desvalorização da profissão docente, notadamente
das séries iniciais. É o que parece perdurar nos dias atuais.
A mesma autora (2009, p. 126) evidencia fatores existentes nas políticas públicas de
valorização do profissional do magistério, presentes na segunda década do século XXI:
Diferentes programas de formação continuada implementados no país
apresentaram inúmeras dificuldades e as capacitações são alvo de crítica por
parte dos professores que apontam a baixa qualidade das atividades
propostas e a falta de comprometimento dos formadores como dois aspectos
que contribuem para o fracasso da iniciativa. Desse quadro, o que se pode
depreender é que a formação inicial e continuada são ainda deficitárias e
distanciadas da realidade do cotidiano escolar, contribuindo para a
desvalorização do magistério e perda de prestígio social das professoras de
educação básica, sobretudo das séries iniciais.
Assim, observamos que o aspecto de melhoria da qualidade da educação básica atinge
não apenas um raio de ação que compreende todos os níveis e modalidades da educação do
país, mas também, o grau de competência e habilidade dos gestores educacionais federais,
estaduais e municipais à frente das políticas públicas educacionais do Brasil.
4.2 FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: FUNDEF/FUNDEB
Conforme observado (no capítulo 2), a presença da União na matéria de financiamento
obrigatório da educação básica se consolida a partir dos dispositivos legais, a Constituição
Federal de 1988 e Lei n. 9394/1996. Dessa feita, o desdobramento das políticas públicas de
financiamento para melhoria da educação básica vão se sustentar por meio dos fundos
contábeis FUNDEF e FUNDEB, considerado o período de estudo.
A melhoria da qualidade do ensino é um dos objetivos traçado no PNE (2001-2010)
que, encontra-se prescrito no artigo 214, Inciso III, da CF de 1988, transcrito na Lei n.
9394/1996, artigo 2º, Inciso IX. Na condição de um princípio legal, observa-se, na literatura,
que a qualidade da educação encontra-se inerente tanto na agenda de políticas públicas quanto
no objeto de estudos para muitos educadores (MATTOS, 2006; FRANCO, 1994; OLIVEIRA;
ARAUJO, 2003; OLIVEIRA, 2007; FRANCO; ALVES: BONAMINO, 2007; FRANCO et
al., 2007; FREITAS, 2008).
Sobre as bases de sustentação do PDE, Saviani (2007, p. 1245) argumenta que “a
infraestrutura de sustentação do PDE se assenta em dois pilares: no técnico e no financeiro”.
A dimensão operacional do PDE nos seus aspectos de assistência técnica e financeira está
fundamentada no Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação por meio do Decreto n.
6094/2007 que atende prescrições da LDBEN n. 9394/1996 e mandato da Constituição
Federal de 1988 (art. 211, § 1º):
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em
regime de colaboração seus sistemas de ensino. § 1º A União organizará e
financiará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, e prestará
assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o
atendimento prioritário à escolaridade obrigatória.
Desde o lançamento do PDE, em 2007, de acordo com o MEC, todas as transferências
voluntárias e assistência técnica advindas desse ministério para os entes federados estão
atreladas ao Plano de Ações Articuladas e ao Plano de Metas Compromisso Todos pela
Educação. Planos esses essenciais à materialização de ações, por exemplo, na infraestrutura,
como construção, reforma e ampliação e equipamentos para educação infantil e ensinos
fundamental e médio, com destino a estados e municípios conveniados, em decorrência de
resultados apontados pelo IDEB.
Em 30 de julho de 2008, o Governo Federal 43
concluiu a adesão de todos os 5.563
municípios do território brasileiro que assinaram o Compromisso Todos pela Educação, com
objetivo de melhorar os indicadores educacionais. A partir desse acordo, os estados e
municípios tiveram que elaborar um Plano de Ações Articuladas (PAR) com base nas 28
diretrizes e condições impostas no artigo 2º e, também, o artigo 3º, § único, do Decreto n.
6.094/2007, para receberem assistência técnica e/ou financeira (transferências voluntárias) do
MEC.
As outras ações de apoio financeiro, quando aprovadas, até então, estão vinculadas a
um convênio de prazo anual; a sistematização dessa operação é feita pelo gestor escolar no
portal do MEC acessando o site do SIMEC. Os critérios, parâmetros e procedimentos
referentes à assistência financeira encontram-se discriminados na Resolução/CD/FNDE/n. 46,
de 31 de outubro de 2008.
O PAR tem como referência inicial um diagnóstico da condição educacional local
ordenado em quatro dimensões: 1. Gestão Educacional. 2. Formação de Professores e dos
Profissionais de Serviço e Apoio Escolar. 3. Práticas Pedagógicas e Avaliação e, 4.
Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos. A elaboração de diagnóstico fica na
incumbência da equipe técnica local (representada por dirigentes, técnicos das Secretarias
Municipais de Educação, de gestor escolar e equipe técnica administrativo-pedagógica, de
coordenadores ou supervisores pedagógicos, de Conselho Escolar e Conselho Municipal de
Educação.
O Gráfico 6, a seguir, apresenta o montante, em milhões, entre os anos 2007-2010,
para os recursos conveniados com estados e municípios, a partir do PAR.
43
Dados levantados no portal do MEC no link IDEB. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=273&Itemid=345. Acesso em:
14/03/2009.
Gráfico 6 - Plano de Ações Articuladas Recuros conveniados com estados e
municípios* (R$ milhões)
1.226,60
5.180,40
7.200,00
2.994,40
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
8.000,00
2007 2008 2009 2010**
série acumulada
Fonte: FNDE/MEC
* Inclui: escolas urbanas, escolas do campo, escolas indígenas, escolas em áreas remanescentes de quilombos,
creches e pré-escolas, veículos do programa Caminho da escola, mobiliário e equipamentos, formação, Brasil
profissionalizado.
**Previsão.
Pelos dados do Gráfico 6, vemos que os repasse dos recursos do Governo Federal
para os estados e municípios obedecem a uma distribuição ascendente, progressiva, que em
2010 o crescimento foi da ordem de 17% relativo a 2007.
O Governo Central, no âmbito do MEC e do FNDE cria a Portaria Normativa n. 27, de
21 de junho de 2007 para viabilizar o desdobramento prático de operação no PAR, que institui
o Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE-Escola - “com vistas a diagnosticar problemas,
metas e planos de ação para as escolas das redes públicas de educação básica” (art. 1º).
No conjunto de informações já citadas, podemos inferir que as avaliações da educação
básica pós PDE, com destaque para o ensino fundamental, dependem da associação
substancial entre o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação e o PAR. Posto que
esses planos respondam diretamente pela evolução de metas projetadas no IDEB em todo
território brasileiro.
Da mesma forma, dada a relevância do apoio financeiro e técnico da União aos entes
federados para melhoria da qualidade da educação, destacamos o que o documento PDE
(BRASIL, 2008, p. 10) trata sobre financiamento da educação:
A arrecadação para repasses da União aos estados e municípios relativos ao
salário-educação saltou de R$ 3,7 bilhões em 2002 para R$ 7 bilhões em
2006. As transferências voluntárias da União atingiram um número mais
expressivo de municípios, o que permitiu ampliar o acesso a projetos
federais voltados para formação de professores, reforma e construção de
escolas, equipamentos, material pedagógico etc. O investimento mínimo por
aluno do ensino fundamental, ainda na vigência do FUNDEF, teve reajuste
de 26% acima da inflação. A merenda escolar, que teve seu valor reajustado
em 70% após uma década sem reajuste, foi estendida à creche, enquanto o
livro didático, pela primeira vez, foi oferecido aos estudantes do ensino
médio.
Ressaltamos que o FUNDEF 44
vigorou entre os anos 1996-2006. Hoje, o substituto
desse recurso contábil é o FUNDEB, promulgado através da Emenda Constitucional n 53/
2006, regulamentado pela Medida Provisória n. 339/2006 e convertida na Lei n. 11.494/2007,
em vigor desde janeiro de 2007, com vigência de 14 anos.
A Tabela 13 evidencia os valores45
do FUNDEF e FUNDEB por aluno, dos anos
iniciais, do ensino fundamental, entre o período de 1998-2010. Isto significa que,o FUNDEB,
em valores constantes, comparados aos anos de 2010 e 2007, teve um acréscimo de R$ 311,99
e em valores correntes de R$ 467,61.
Tabela 13 - Valor mínimo por aluno no FUNDEF e FUNDEF (1º ciclo do ensino fundamental urbano)
– em R$ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
FUNDEF (1998-2006)/ FUNDEB (2007-2010) Em R$ correntes
300,00
315,00
315,00
333,00
418,00
462,00
564,63
620,60
682,60
947,24
1.132,34
1.221,34
1.414,85
FUNDEF (1998-2006)/ FUNDEB (2007-2010) Em R$ constantes pelo IPCA médio de 2010
641,01
641,88
599,64
593,32
686,74
661,66
758,60
780,15
823,68
1.102,86
1.247,53
1,282,80
1.414,85
Fonte: FNDE – Portaria Interministeriais Elaboração: CEAD/CGP/SPO/SE/MEC
Agora, o Gráfico 7, próximo, apresenta a receita dos estados e municípios através do
FUNDEF, no período de 1998-2006 e do FUNDEB, entre 2007-2010.
44
O FUNDEF, conforme já mencionado, fora instituído pela Lei n.9424/1996. Dispunha sobre o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF com
vigência de dez anos, lembrando que a sua implementação ocorreu em 1998. 45
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/PrestacaoContasPresidente/2010/Arquivos/5.00.pdf.
Acesso em: 09/06/2011.
Gráico 7 - Receita dos estados e municípios (bilhões)
76,2
28,132,4
35,7
44,9
76,270,9
66,4
52
42,8
27,229,7
32,534,6
36,8
35,4
37,6 40,5
60,5
67,8
12,814,7
17,119,5
22,524,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010*
FUNDEF FUNDEB
Valores
Constantes
Valores
Correntes
Fonte: FNDE/MEC (2010). Adaptado.
Nota: * Previsão
Considerando a evolução desta receita, entre os anos de 2010 e 2007, verificamos um
aumento de 24.2 (bilhões), em valores constantes. Agora, entre os anos de 2006 e 1988,
examinamos um aumento de 15, 6 (bilhões), em valores constantes. Por estes dados,
comparando as receitas entre o FUNDEF e o FUNDEB, podemos observar que para este, em
menor tempo, há maior evolução de receita, em valores constantes.
Outra vez abordando o financiamento da educação básica, o documento PDE ressalta
duas vantagens do FUNDEB em relação ao FUNDEF e apresenta três inovações inseridas ao
FUNDEB:
1) aumentou substancialmente o compromisso da União com a educação
básica, ampliando o aporte, a título de complementação, de cerca de R$ 500
milhões (média no FUNDEF) para cerca de R$ 5 bilhões de investimento ao
ano; e 2) instituiu um único fundo para toda a educação básica, não apenas
para o ensino fundamental. Trata-se, no que diz respeito à educação básica,
de uma expressão da visão sistêmica da educação, ao financiar todas as suas
etapas, da creche ao ensino médio, e ao reservar parcela importante dos
recursos para a educação de jovens e adultos. É também a expressão de uma
visão de ordenação do território e de desenvolvimento social e econômico,
na medida em que a complementação da União é direcionada às regiões nas
quais o investimento por aluno é inferior à média nacional. Três inovações
foram incorporadas ao FUNDEB: 1) a diferenciação dos coeficientes de
remuneração das matrículas não se dá apenas por etapa e modalidade da
educação básica, mas também pela extensão do turno: a escola de tempo
integral recebe 25% a mais por aluno matriculado; 2) a creche conveniada
foi contemplada para efeito de repartição dos recursos do Fundo; e 3) a
atenção à educação infantil é complementada pelo ProInfância, programa
que financia a expansão da rede física de atendimento da educação infantil
pública (BRASIL, 2007, p. 18).
O Gráfico 8 indica o comportamento do total de matrículas no período de 2007-2010.
Observamos que houve uma redução de 5,8% na matrícula dos anos iniciais, quando
comparamos o total do ano 2010 com o de 2007. Nos anos finais esse percentual cai para
0,6%, no mesmo período.
Gráfico 8 - Número de matrículas nos Anos Iniciais e nos Anos
Finais do Ensino Fundamental Regular/Brasil 2007 - 2010
16.755.708
17.295.61817.620.43917.782.368
14.409.91014.249.633
14.466.26114.339.905
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
2007 2008 2009 2010
Anos Iniciais
Anos Finais
Fonte: MEC/INEP
Ainda, na questão primordial de assistência financeira, temos outro programa de ação
incorporado ao PDE, importante na projeção da avaliação de uma educação de qualidade com
metas previsíveis até 2011, vigência do PDE (2008-2011), tendo como principal indicador o
IDEB: é o Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial n. 17/2007, de
24/04/2007.
A operacionalização desse programa está subordinada ao Programa Dinheiro Direto
na Escola (PDDE) 46
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
O Gráfico 9 mostra os valores (R$ milhões) destinados ao Programa Dinheiro Direto
na Escola, no período de 2003-2010.
46
O Programa Dinheiro Direto na Escola foi criado em 1995, por meio da Resolução FNDE/CD n. 12,
intitulado, à época, Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, no “conjunto de
políticas de reestruturação da gestão, organização e financiamento da educação básica” (DOURADO, 2007),
com a finalidade de prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da educação
básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial mantidas
por entidades sem fins lucrativos, registradas no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) como
beneficentes de assistência social, ou outras similares de atendimento direto e gratuito ao público. O PDDE é
institucionalizado por meio da MP n. 1784/1998 e posteriormente pela Lei n. 11.947, de 16/06/2009, ver:
http://www.fnde.gov.br/index.php/programas-dinheiro-direto-na-escola. Acesso em 12/05/2011). Dourado
(Ibid.) aponta que, um dos limites do PDDE se refere à estruturação de unidades executoras nas unidades
escolares, ou seja, a instituição do setor privado a gerir recursos da escola pública, em prejuízo de outros
colegiados como os conselhos escolares, consolidados por outros programas da Secretaria de Educação
Básica/MEC.
Gráfico 9 - PDDE
Recursos Investidos* (R$ milhões)
502,9
691
1.164,30
304,5 347,1 333,9396,7
1.414,00
1.216,70
757,4
582,6
476,3417,7
463,9433,9
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010**
Valor Corrente Valores Constantes (IPCA médio)
Fonte: FNDE/MEC (2010) 47
. Adaptado
Notas: * Inclui PDE Escola.
** Previsão
Quando comparamos os valores do ano 2003 com os de 2009, podemos observar um
aumento triplicado no repasse desses recursos. Segundo informes do Governo Federal, em
2009, houve ampliação dos recursos financeiros diretos às escolas públicas, estendidos para
toda a educação pública e escolas privadas de educação especial mantidas por entidades sem
fins lucrativos. O objetivo foi a melhoria da infraestrutura física e pedagógica e o reforço da
autogestão escolar. Observamos que o fato tem como justificativa a extensão do FUNDEB
para toda educação básica. Também é visível o crescimento dos valores a partir do ano 2007
que, no espaço de três anos, teve aumento percentual de 46,4%.
O Programa Mais Educação, conforme Decreto n. 7083/2010, artigo 3º, tem como
objetivos:
I - formular política nacional de educação básica em tempo integral; II -
promover diálogo entre os conteúdos escolares e os saberes locais; III -
favorecer a convivência entre professores, alunos e suas comunidades; IV -
disseminar as experiências das escolas que desenvolvem atividades de
educação integral; e V - convergir políticas e programas de saúde, cultura,
esporte, direitos humanos, educação ambiental, divulgação científica,
enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, integração entre
escola e comunidade, para o desenvolvimento do projeto político-
pedagógico de educação integral.
47
Dados obtidos no site: http://gestao2010.mec.gov.br/indicadores/chart_7.php. Acesso em: 21/12/2010.
No exame do exposto, observamos que o FUNDEB é o principal recurso financeiro
que sustenta o PDE. Porém, além de aporte contábil, o PDE se assenta na infraestrutura
técnica, que emerge a partir de dados estatísticos relacionados ao trabalho das redes escolares
de educação básica e dos instrumentos de avaliação de larga escala, sob a coordenação do
INEP (SAVIANI, 2007). O principal instrumento técnico que desenha o programa de ação do
PDE na projeção de metas à busca de qualidade da educação básica é o IDEB, que tratamos
mais adiante.
4.3 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E O IDEB COMO INDICADOR
O documento Os Indicadores da Qualidade na Educação (2004, p. 5; 10), criado em
2004, sob a coordenação do MEC/INEP, UNICEF, PNUD e Ação Educativa, tem como
objetivo geral “ajudar a comunidade escolar na avaliação e na melhoria da qualidade da
escola”. Tal instrumento foi composto com base em elementos que caracterizam sete
dimensões da qualidade escolar: “ambiente educativo, prática pedagógica, avaliação, gestão
escolar democrática, formação e condições de trabalho dos profissionais da escola, espaço
físico escolar e, por fim, acesso, permanência e sucesso na escola.” Para se avaliar o grau
dessas dimensões no âmbito escolar, foram criados “sinalizadores de qualidade” identificados
como “indicadores”.
Os indicadores educacionais podem ter a função de monitoramento, de tomada de
decisão e de avaliação de programa ou projetos sociais. O monitoramento indica a evolução
dos indicadores, sinalizando os pontos de ajustes necessários. Por exemplo, uma rede de
ensino pode acompanhar o comportamento dos resultados do desempenho escolar de suas
escolas, identificando àquelas com maior índice de repetência, sem necessariamente terem
dificuldades de recursos ou mesmo de gestão. Quadro este que requer investigação de que
fatores estejam infuenciando, negativamente, a aprendizagem dos alunos. Outros empregos
dos indicadores educacionais como, por exemplo, auxiliar uma secretaria de educação na
tomada de decisão para capacitação profissional dos profissionais do magistério em serviço,
remanejamento de professores segundo a previsão de matrículas para o ano letivo, são
importantes. Em relação à avaliação de programas ou projetos sociais, um aspecto básico é a
certificação de que os objetivos propostos, por meio de indicadores, foram alcançados, caso
contrário se investigar as razões do fracasso (SOUZA, 2010).
No que tange à educação básica, as metas do PDE contribuem para que as escolas e
secretarias de educação possam viabilizar o atendimento de qualidade aos alunos. Para
efetivação das metas traçadas para a educação é necessário, em primeiro lugar, que as
iniciativas de apoio do MEC possam beneficiar todas as crianças na sala de aula.
Para identificar quais são as redes de ensino municipais e as escolas que apresentam
maiores fragilidades no desempenho escolar e que, por isso mesmo, necessitam de maior
atenção e apoio financeiro e de gestão, o PDE dispõe do IDEB. Para Fernandes (2007b, p. 29)
“o IDEB é o indicador objetivo para verificação do cumprimento das metas fixadas no Termo
de Adesão ao Compromisso Todos pela Educação, eixo do PDE”. Esse índice desempenha
função de termômetro da qualidade da educação básica em todos os Estados, Municípios e
escolas no Brasil, combinando dois indicadores: fluxo escolar (passagem dos alunos pelas
séries sem repetir, avaliado pelo Programa Educacenso) e desempenho dos estudantes
(avaliados pelo SAEB e pela Prova Brasil nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática),
expresso em valores de 0 a 10, calculados por meio da fórmula:
IDEBji = Nji Pji 0 Nj 10; 0 Pj 1 e 0 IDEBj 10 em que,
IDEBj = Índice de Desenvolvimento da Educação básica da unidade j
(escola, rede de ensino, município, etc.); i= ano do exame (SAEB e Prova
Brasil) e do Censo Escolar; N ji = média da proficiência em Língua
Portuguesa e Matemática, padronizada para um indicador entre 0 e 10, dos
alunos da unidade j, obtida em determinada edição do exame realizado ao
final da etapa de ensino; P ji = indicador de rendimento baseado na taxa de
aprovação da etapa de ensino dos alunos da unidade j.
O autor enfatiza que “o IDEB é crescente com a proficiência média dos estudantes e
decrescente com o tempo médio de conclusão” (2007a, p. 10).
Franco, Alves e Bonamino (2007, p. 991-992) apresentam um modo sintético de
entendimento da medição do índice em questão: IDEB = (1/T). Nota, em que:
T é o número de anos que, em média, os alunos de uma rede de ensino, de
um município, de um estado ou do país, levam para completar uma série.
Quando o fluxo escolar é perfeito, (1/T) assume o valor 1 e o IDEB equivale
à nota; quanto maior a reprovação e o abandono, maior será T e (1/T)
assumirá valores menores do que a unidade, penalizando o IDEB. Para o
cálculo do IDEB da 4ª série (5º ano); e para o calculo do IDEB de 8ª série T
com base no fluxo escolar da 5ª série a 8ª série (6º a 9º ano); Nota é a média
da Prova Brasil para a rede de ensino, o município, o estado ou o país,
transformada de modo a ser expressa por valores entre 0 e 10.
Camargo, Pinto e Guimarães (2008) analisando os dados do IDEB 2005-2007, séries
iniciais do EF, de 1.236 municípios, divulgados pelo MEC, constataram que, dessa população,
mais de 50% (668) apresentaram destaque positivo com variação de índice igual ou maior que
30%; em 287 municípios (23%) alcançaram IDEB igual ou maior que 40%; dos 167 (13,5%)
obtiveram IDEB igual ou maior que 50%; em 18 municípios o índice dobrou e 4 desses o
IDEB triplicou. Os autores (2008, p. 831-832) chamam atenção alertando que “qualquer
pesquisador ou gestor educacional sabe que as redes de ensino não apresentam saltos dessa
natureza em prazo tão curto”. As críticas dos pesquisadores chegam àqueles municípios com
resultados iguais ou superiores a percentual de 50%, com argumentos de que esses resultados
incidiram na taxa de aprovação (um dos componentes do IDEB). Os argumentos de Oliveira
(2007) e Camargo, Pinto e Guimarães (2008) são interpretados como um chamado de alerta,
considerando-se a possibilidade de manipulação, fraudes desses dados.
Oliveira (2007, p. 33) concorda que o IDEB represente importante contribuição para o
acompanhamento de resultados, porém aponta algumas de suas restrições:
[...] no que se refere à abrangência disciplinar (é mais fácil, e os
procedimentos estão mais consolidados, medir resultados em matemática e
linguagem do que em outras disciplinas igualmente importantes), as
limitações resultantes de procedimentos de aplicação (a possibilidade de
fraudes é sempre uma preocupação difícil de limitar) e, mais complicado, à
possibilidade de se reduzir a educação a processos de “preparação para os
testes”.
Camargo, Pinto e Guimarães (2008, p. 832) analisando situações passíveis de incidir
no encaminhamento do IDEB, pontuam:
Da maneira como o índice está montado, ao invés de investir em medidas de
longo prazo que sabidamente melhoram a qualidade do ensino, os
municípios, para não verem minguar o repasse de recursos do governo
federal, tendem a adotar medidas cosméticas, ou mesmo a valer-se de
fraude. A imprensa noticiou casos de escolas que diziam a determinados
alunos, aqueles que tinham as maiores dificuldades, que não precisariam vir
à escola no dia da Prova Brasil, por exemplo.
Outros dois problemas foram analisados pelos mesmos autores: i) os indicadores que
compõem o IDEB estão dissociados de outros indicadores essenciais na educação, como
qualificação dos professores, recursos colocados à disposição dos alunos, entre outros e ii) o
IDEB provoca significado competitivo (ranking) entre municípios e entre escolas, com os
resultados divulgados pelo MEC, desconsiderando aspectos de perfil socioeconômico dos
alunos e o tamanho das escolas, critérios esses adotados em outros países (CAMARGO;
PINTO; GUIMARÃES, 2008; WERLE, 2009).
Werle (2009) apresenta indagações acerca da complexidade do IDEB sendo, entre
outras, a gestão democrática da educação, quando o Estado determina, previamente aos
municípios lugar e tempo de chegada (resultados); a diversidade regional e local do país
ignoradas (cada rede/escola tem realidades específicas); a qualidade da educação expressa a
partir de fórmulas (leia-se aqui, as metas projetadas pelo IDEB para cada escola/rede de
ensino); a representação nacional dada ao Município de Barra do Chapéu, São Paulo, pela
obtenção do maior IDEB do país: 6,8, nas séries iniciais do ensino fundamental, em 2007,
com um quantitativo de tão somente 680 alunos. Nessas condições, a autora questiona o
critério de comparação de um mesmo índice (IDEB) para resultados de uma rede com apenas
680 alunos, mas com índice de 6,8 e outra rede com índice pouco maior que 4,0 e com um
quantitativo de 60.000 alunos.
Souza e Oliveira (2003, p. 875), citando Gentili e Silva (1995), provocam reflexão
crítica acerca do objetivo da avaliação educacional nas duas últimas décadas: o deslocamento
do foco que antes impunha a bandeira da “igualdade” à educação para “qualidade” da
educação. No empenho dessa política pública de um lado, a avaliação representa mecanismo
de controle interessado no “produto da ação da escola”; de outro prisma.
[...] a avaliação legitima “valorações” úteis à indução de procedimentos
competitivos entre escolas e sistemas para melhorar pontuações nos
rankings, definidos basicamente pelos desempenhos em instrumentos de
avaliação em larga escala. Tal competição é garantida pela associação entre
desempenho e financiamento, podendo redundar em critérios para alocação
de recursos, que incidem, até mesmo, em remunerações diferenciadas dentro
de sistemas de ensino que até a pouco trabalhavam com a noção de
remunerações isonômicas.
A representação de política de responsabilização educacional, no cenário
internacional, a partir de 1980, é objeto de estudo de Brooke (2006, p. 378) trazendo como
exemplos dessa prática, a Inglaterra e os Estados Unidos. A realidade da Inglaterra é
observada pela sua reforma educacional, onde foram criados um “currículo comum nacional e
um sistema de avaliação de desempenho de alunos ao final de cada etapa curricular”. A
inovação se consistiu de comparação entre escolas com foco no resultado de aprendizagem de
alunos. Entretanto, segundo o autor,
os exageros dos primeiros “ranqueamentos” das escolas, que não levaram
em consideração as diferenças socioeconômicas e de aprendizagem prévia
entre os alunos, provocaram reações negativas e perda de entusiasmo pela
política de responsabilização por parte da comunidade acadêmica e das
autoridades educacionais locais.
No contexto dos Estados Unidos, as políticas de responsabilização tornaram-se
obrigatórias em todos os estados americanos, com a adoção da lei: “Nenhuma criança deixada
para trás”, criada em 2001, pelo então presidente George Bush. Observamos que o incentivo a
essa política reside na própria configuração legal estatal, que segundo Brooke (2006., p. 379):
Hoje, todos os estados norte-americanos têm leis que estipulam novos
padrões curriculares, estabelecem novos testes alinhados com esses padrões,
novas regras para a promoção e graduação de estudantes e novas
metodologias para a publicação dos resultados dos testes e a comparação de
escolas. Em vários estados existem ainda sistemas de incentivos e sanções
que regem a oferta de recompensas e prevêem o fechamento de escolas que
não alcançam sistematicamente o desempenho considerado mínimo. Apesar
de grandes diferenças entre os padrões dos estados e entre esses e o padrão
nacional, estabelecido pela Avaliação Nacional de Progresso Educacional
(National Assessment of Educational Progress) do Departamento de
Educação (Ravitch, 2005), é inegável a convicção e a velocidade com que se
vem adotando a responsabilização como eixo central da política de gestão
dos sistemas públicos de ensino.
A filiação à política de responsabilização educacional em território brasileiro também
foi investigada por Brooke (2006, p. 386), em três estados: no Ceará, com o Sistema
Permanente da Avaliação da Educação Básica do Ceará – SPAECE (1991) em bloco com o
Prêmio Educacional Escola do Novo Milênio (2001); no Rio de Janeiro, com o Programa
Nova Escola 48
e no Paraná, com o Projeto Boletim da Escola (2001), já extinto.
Observamos que essas políticas de responsabilização, pela análise de Brooke (Ibid.)
nos estados do Rio de Janeiro e Ceará, evidenciam significativa complexidade de se negociar
o desempenho escolar a título de premiação, em instituições de ensino, haja visto a
dificuldade de se fazer reconhecer os mecanismos utilizados como indicadores da qualidade
na educação.
Sousa (2003, p. 187-188) critica o quadro tendencioso de iniciativas de avaliação
empregadas pelo Poder Executivo Federal, afirmando que
48
Segundo fala de uma professora, membro da diretoria da Coordenadoria Regional Metropolitana 4 (RJ), neste
ano de 2011, o Programa Nova Escola, no aspecto de atividades pedagógicas, se restringe às ações do SAERJ
(Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro e do SAERJINHO 2011 (sistema de avaliação
bimestral do processo de ensino e aprendizagem nas escolas). No SAERJ, constam as atribuições de avaliar, ao
final do ano, o desempenho escolar de todos os alunos das escolas agregadas às coordenadorias do estado do Rio
de Janeiro, nos „moldes das avaliações de larga‟. Em relação ao SAERJINHO 2011, conforme informação da
professora, constam de avaliações bimestrais (a toda rede estadual ligadas à Secretaria Estadual de Educação)
que são elaboradas pela Universidade Federal de Juiz de Fora (http://www.caed.ufjf.br/site/). De maneira geral,
as escolas cumprem Plano de Metas para atingir 5 (cinco) pontos (basedo nos resultados do IDEB 2009), após
decisão resultante de vários encontros e debates com o pessoal do magistério para a definição de um currículo
mínimo (já implementado) a ser adotado em todo estado do Rio de Janeiro. Para informações sobre SAERJ e
SAERJINHO 2011, acessar o portal da Secretaria Estadual de Educação do RJ:
http://www.educacao.rj.gov.br/index5.aspx. Acesso em: 02/05/2011.
[...] tende a imprimir uma lógica e dinâmica organizacional nos sistemas de
ensino, que se expressam no estímulo à competição entre as instituições
educacionais e no interior delas, refletindo-se na forma de gestão e no
currículo. Quanto ao currículo, destaca-se sua possível conformação aos
testes de rendimento aplicados aos alunos, que tendem a ser vistos como os
delimitadores do conhecimento que “tem valor”, entendido o conhecimento
como o conjunto de informações a serem assimiladas pelos alunos e
passíveis de testagem. Quanto à gestão, a perspectiva é o fortalecimento dos
mecanismos discriminatórios.
Crítica semelhante recebe o Governo Federal através de Araújo (2007, p. 4), que assim
manifesta sua descrença em relação à proposta transformadora do PDE às políticas
educacionais:
Por isso concluo que o IDEB é mais um instrumento regulatório do que um
definidor de critérios para uma melhor aplicação dos recursos da União
visando alterar indicadores educacionais. O resultado de cada município e de
cada estado será (e já está sendo) utilizado para ranquear as redes de ensino,
para acirrar a competição e para pressionar, via opinião pública, o alcance de
melhores resultados. Ou seja, a função do MEC assumida pelo governo Lula
mantém a lógica perversa vigente durante oito anos de FHC.
Oliveira (2007, p. 32), ressalvadas as críticas ao PDE, entende que este veicula um
elemento que traz inovação às ações na área educacional, por meio do IDEB, com vantagens e
desvantagens de provocar mecanismos para monitoramento de resultados dos sistemas de
ensino, auxiliando desse modo políticas de financiamento e outras de “avaliação de iniciativas
de diversas ordens”. Saviani (2007) afirma que o PDE tem um sentido positivo, reconhecendo
nas suas intenções um caráter original, que não era contemplado no PNE e não estava
integrado em planos anteriores.
Observamos que, a forma pela qual o Governo Federal dá primazia para a avaliação de
larga escala às políticas da educação básica, tem produzido muitos trabalhos acadêmicos que
não se exaurem, pela complexidade de fatores envolvidos. Assim, desperta nosso interesse em
desvelar a seguinte questão: o que revelam os resultados do IDEB 2005, 2007 e 2009 em
relação ao ensino fundamental da rede pública? Questão que abordaremos, a seguir, a partir
da análise das metas planejadas e as atingidas de acordo com os resultados do IDEB 2005,
2007 e 2009.
Conforme abordagem anterior, a título de elucidar a forma pela qual delineamos
nossas análises às próximas tabelas, lembramos que o MEC, representado pelo INEP/SAEB,
desde o ano 2007 avalia a qualidade de toda educação básica por meio do IDEB, divulgando
os resultados de desempenho escolar a partir de dois parâmetros: o IDEB Observado e as
Metas Projetadas. Há projeção de uma média 6.0 (seis) para o Brasil até o ano 2021, que foi
definida com base na média obtida pelos vinte países 49
mais desenvolvidos do mundo, que
integram a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Tabela 14 - IDEB 2005, 2007 e 2009 e Projeções para o Brasil, Regiões e UF - Anos Iniciais
do Ensino Fundamental. Brasil/
Regiões/
UF
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
IDEB Observado Metas Projetadas
2005 2007 2009 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
BRASIL 3,8 4.2 4.6 3.9 4.2 4,6 4,9 5,2 5,5 5,7 6.0
NORTE 3.2 3.6 4.2 3,3 3,6 4,1 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5
Acre 3.3 3.8 4.5 3.4 3.7 4.2 4.4 4.7 5.0 5.3 5.6
Amapá 3.1 3.0 3.6 3.1 3.5 3.9 4.2 4.4 4.7 5.0 5.3
Amazonas 3.3 3.9 4.5 3.3 3.7 4.1 4.4 4.7 5.0 5.2 5.5
Pará 2.8 2.8 3.7 2.8 3.2 3.6 3.8 4.1 4.4 4.7 5.1
Rondônia 3.6 4.0 4.4 3.6 4.0 4.4 4.7 5.0 5.2 5.5 5.8
Roraima 3.5 3.5 4.2 3.6 3.9 4.3 4.6 4.9 5.2 5.5 5.7
Tocantins 3.6 4.2 4.5 3.7 4.0 4.5 4.7 5.0 5.3 5.6 5.9
NORDESTE 2.9 3.3 3.7 3,0 3,3 3,7 4,0 4,3 4,6 4,9 5,2
Alagoas 2.9 3.3 3.3 2.9 3.3 3.7 4.0 4.3 4.6 4.9 5.2
Bahia 2.6 2.6 3.2 2.7 3.0 3.4 3.7 4.0 4.3 4.6 4.9
Ceará 3.2 3.5 4.2 3.2 3.6 4.0 4.3 4.6 4.9 5.2 5.5
Maranhão 3.2 3.3 4.0 3.3 3.6 4.0 4.3 4.6 4.9 5.2 5.5
Paraíba 3.0 3.5 3.7 3.1 3.4 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3
Pernambuco 3.1 3.5 3.9 3.2 3.5 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4
Piauí 2.6 3.2 3.8 2.6 2.9 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8
Rio Grande do Norte 2.6 3.0 3.5 2.6 2.9 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8
Sergipe 3.0 3.4 3.7 3.1 3.4 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3
SUDESTE 4,5 4,7 5,4 4,6 4,9 5,3 5,6 5,8 6,1 6,3 6,6
Espírito Santo 3.7 4.1 5.0 3.8 4.1 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 5.9
Minas Gerais 4.9 4.9 5.8 5.0 5.3 5.7 5.9 6.2 6.4 6.6 6.8
Rio de Janeiro 3.7 3.8 4.0 3.8 4.1 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 5.9
São Paulo 4.5 4.7 5.4 4.6 4.9 5.3 5.5 5.8 6.1 6.3 6.6
SUL 4,2 4,6 5,9 4,3 4,6 5,0 5,3 5,6 5,8 6,1 6,3
Paraná 5.0 5.2 5.2 5.0 5.4 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 6.9
Santa Catarina 4.3 4.7 5.0 4.4 4.7 5.1 5.4 5.6 5.9 6.2 6.4
Rio Grande do Sul 4.2 4.5 4.8 4.2 4.6 5.0 5.3 5.5 5.8 6.1 6.3
CENTRO-OESTE 3,9 4,5 5,0 3,9 4,3 4,7 5,0 5,3 5,5 5,8 6,1
Distrito Federal 4.4 4.8 5.4 4.5 4.8 5.2 5.5 5.8 6.0 6.3 6.5
Goiás 3.9 4.3 4.9 4.0 4.3 4.7 5.0 5.3 5.6 5.8 6.1
Mato Grosso 3.6 4.4 4.9 3.6 4.0 4.4 4.7 4.9 5.2 5.5 5.8
Mato Grosso do Sul 3.2 4.0 4.4 3.3 3.6 4.0 4.3 4.6 4.9 5.2 5.5 Fonte: SAEB e Censo Escolar. (Adaptado).
*Legenda: 1) Em verde, acima da média do Brasil..
2) Em vermelho, abaixo da média do Brasil.
Analisando a Tabela 14, quando comparamos o IDEB Observado do ano 2009 com o
de 2007, nos anos iniciais do EF, verificamos que no Brasil houve uma melhora no
desempenho escolar de 8,7%, mas esse percentual não é significativo, quando relacionado ao
IDEB Observado entre o ano de 2007 e o de 2005, que já apontava um progresso de 9,5% no
49
Esses países utilizam, nas suas avaliações externas, a mesma metodologia do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica.
desempenho escolar deste mesmo segmento. Contudo, chama atenção o percentual de entes
federados com IDEB abaixo da média nacional nas três edições do IDEB anos 2009, 2007 e
2005, ou seja, em 2009 e 2007, respectivamente, 66,6% dos entes federados estão abaixo da
média nacional: 4,6 e 4,2, respectivamente e, em 2005, 74% dessa população estão abaixo da
média do país: 3,8. Porém, em relação à Meta Projetada, em 2009, 92,6% dos entes federados
obtiveram sucesso.
Na categoria regional, duas regiões se destacam no país com IDEB acima da média
nacional: em 2009, a região Sul se destaca com percentual de 22%; já, em 2007 e 2005, nessa
mesma ordem, a região Sudeste, supera aquela com os percentuais 14,8%, 10,6% e 15,6%.
Todavia, a região Nordeste, em 2009, 2007 e 2005, ficou aquém da média nacional com os
respectivos percentuais 19,6%; 21,4% e de 23,7%.
Analisando a categoria ente federado, acima da média nacional temos que: em 2009, o
estado de Minas Gerais se destaca com percentual de 20,7%; em 2007 e 2005, nessa mesma
ordem, com os percentuais 19,2% e 24%; o estado do Paraná fica com destaque positivo. O
estado da Bahia, em 2009, obteve o menor IDEB do país, ficando distante deste em 30,4%.
Os estados do Paraná e Rio de Janeiro, em 2009, não atingiram a meta para 2009, ficando
distante da projeção em 3,7% e 2,4%, respectivamente.
Tabela 15 - IDEB 2005, 2007 e 2009 e Projeções para o Brasil, Regiões e UF - Anos Finais do Ensino
Fundamental
BRASIL/ Regiões/
UF
Anos Finais do Ensino Fundamental
IDEB Observado
Metas Projetadas
200
5
2007 2009 2007 2 2009 2 2011 22013 22015 22017 22019 22021
BRASIL 3.5 3.8 4.0 3.5 3,7 3,9 4,4 4,7 5,0 5,2 5,5
NORTE 3,1 3,3 3,5 3,1 3,3 3,5 3,9 4,3 4,6 4,9 5,1
Acre 3.5 3.8 4.1 3.5 3.7 4.0 4.4 4.7 5.0 5.3 5.5
Amapá 3.5 3.4 3.6 3.5 3.7 4.0 4.4 4.7 5.0 5.2 5.5
Amazonas 2.7 3.3 3.6 2.7 2.8 3.1 3.5 3.9 4.1 4.4 4.7
Pará 3.1 2.9 3.1 3.2 3.3 3.6 4.0 4.4 4.6 4.9 5.2
Rondônia 3.2 3.3 3.4 3.2 3.4 3.6 4.0 4.4 4.7 4.9 5.2
Roraima 3.2 3.5 3.7 3.2 3.4 3.7 4.1 4.4 4.7 5.0 5.2
Tocantins 3.4 3.6 3.9 3.4 3.5 3.8 4.2 4.6 4.8 5.1 5.4
NORDESTE 2,6 2,8 3,0 2,7 2,8 3,1 3,5 3,8 4,1 4,4 4,8
Alagoas 2.5 2.7 2.7 2.5 2.7 2.9 3.3 3.7 4.0 4.2 4.5
Bahia 2.6 2.7 2.8 2.7 2.8 3.1 3.5 3.9 4.2 4.4 4.7
Ceará 2.8 3.4 3.6 2.8 2.9 3.2 3.6 4.0 4.3 4.5 4.8
Maranhão 3.2 3.4 3.6 3.2 3.4 3.6 4.1 4.4 4.7 5.0 5.2
Paraíba 2.5 2.8 2.8 2.6 2.7 3.0 3.4 3.7 4.0 4.3 4.5
Pernambuco 2.4 2.5 3.0 2.4 2.6 2.8 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5
Piauí 2.6 3.1 3.4 2.7 2.8 3.1 3.5 3.8 4.1 4.4 4.7
Rio Grande do Norte 2.6 2.7 2.9 2.6 2.7 3.0 3.4 3.8 4.0 4.3 4.6
Sergipe 2.9 2.9 2.7 2.9 3.0 3.3 3.7 4.1 4.4 4.6 4.9
SUDESTE 3,6 3,8 4,1 3,7 3,8 4,1 4,5 4,9 5,1 5,4 5,6
Espírito Santo 3.5 3.6 3.8 3.6 3.7 4.0 4.4 4.8 5.0 5.3 5.5
Minas Gerais 3.6 3.7 4.1 3.6 3.8 4.0 4.4 4.8 5.1 5.3 5.6
Rio de Janeiro 2.9 2.9 3.1 2.9 3.1 3.3 3.7 4.1 4.4 4.6 4.9
São Paulo 3.8 4.0 4.3 3.8 4.0 4.2 4.6 5.0 5.3 5.5 5.8
SUL 3,5 3,9 4,0 3,5 3,7 4,0 4,4 4,8 5,0 5,3 5,5
Paraná 3.3 4.0 4.1 3.3 3.5 3.8 4.2 4.5 4.8 5.1 5.3
Santa Catarina 4.1 4.1 4.2 4.1 4.3 4.5 4.9 5.3 5.5 5.8 6.0
Rio Grande do Sul 3.5 3.7 3.8 3.5 3.7 4.0 4.4 4.8 5.0 5.3 5.5
CENTRO-OESTE 3,1 3,5 3,8 3,2 3,3 3,6 4,0 4,4 4,6 4,9 5,2
Distrito Federal 3.3 3.5 3.9 3.3 3.4 3.7 4.1 4.5 4.8 5.0 5.3
Goiás 3.3 3.4 3.6 3.3 3.5 3.7 4.1 4.5 4.8 5.0 5.3
Mato Grosso 2.9 3.6 4.2 2.9 3.1 3.3 3.7 4.1 4.4 4.6 4.9
Mato Grosso do Sul 2.9 3.5 3.6 3.0 3.1 3.4 3.8 4.2 4.4 4.7 5.0 Fonte: SAEB e Censo Escolar. (Adaptado)
*Legenda: 1) Em verde, acima da média do Brasil.
2) Em vermelho, abaixo da média do Brasil.
Examinando a Tabela 15, observamos que o Brasil, em 2009, nos anos finais do EF,
alcançou a meta projetada superando-a em 7,5%. Também, quando comparamos o IDEB do
ano 2009 com o de 2007, verificamos que no Brasil houve uma melhora de 5% no
desempenho escolar. Em 2007, o IDEB já apontara um progresso percentual de 7,9% no
desempenho escolar deste mesmo segmento, quando comparado com o resultado do IDEB de
2005. Entretanto, despertou nosso interesse o índice de entes federados com IDEB abaixo da
média nacional nas três edições do IDEB, ou seja, em 2009, 85,8% dos entes federados estão
abaixo da média nacional: 4,0; em 2007, 88,8% dessa população destoam da média nacional:
3,8 e, em 2005, 74% estão aquém do IDEB do Brasil: 3,5.
Na categoria regional, em 2009 e 2005, a região Sudeste se destaca entre as demais
com os percentuais de 2,4% e 2,7%, respectivamente, acima da média do IDEB do país. No
sentido contrário, a região Nordeste, em 2009, 2007 e 2005, ficou aquém da média do IDEB
do Brasil, com os percentuais de 25%, 26,3% e 25,7%, respectivamente.
Quando verificamos a categoria ente federado, constatamos que, em 2009, o estado de
São Paulo se destaca com percentual de 6,9% acima da média nacional. Já, em 2007 e 2005, o
destaque positivo fica para o estado de Santa Cantarina com percentuais de 7,3% e 14,6%,
respectivamente, acima da média do país. O pior desempenho escolar, em 2009, é observado
nos estados de Alagoas e Sergipe, com percentuais de 32,5%, respectivamente, abaixo da
média nacional; em 2007 e 2005, o pior desempenho escolar encontra-se no estado de
Pernambuco, com percentuais de 34,2% e 41,4%, respectivamente, abaixo da média do país.
Em relação às metas projetadas, verificamos que estas não foram atingidas pelos estados do
Amapá, Pará e Santa Catarina, distantes em 2,7%, 6,0% e 2,3%, respectivamente.
Neste capítulo, cujo objetivo foi identificar que programas do PDE articulados com a
educação básica promovem a qualidade do desempenho escolar, a partir de programas (ação)
associados ao magistério, financiamento e qualidade do ensino, o grande desafio foi encurtar
as informações coletas no referencial teórico a cada aspecto proposto, considerando a
indiscutível articulação sistêmica entre eles.
Contextualizamos o magistério da educação básica pública a começar pela Resolução
CNE/CEB n. 5/2010 que fixa as Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica pública e, que na verdade veio reafirmar
a luta de longas décadas da categoria, de modo geral, pelo direito à qualificação profissional
com garantias de dedicação ou exclusividade sem ônus salarial e dignidade no padrão de
subsistência, ou seja, um soldo que dê condições reais de compra. Considerando que tal
regulamentação emana de prescrições da Constituição Federal de 1988 e da LDBEN n.
9394/1996.
Identificamos no contexto do PDE programas direcionados à valorização do
magistério, como: “Formação”, “Programa de Consolidação das Licenciaturas
(PRODOCÊNCIA)”, “Programa de Apoio à Extensão Universitária (PROEXT)” e “Piso do
magistério”, que não realidade são políticas públicas já implementadas, mas que não chegam
à maioria dos profissionais da educação pelas limitações que o próprio sistema de ensino
impõe; assunto esse amplamente debatido no estado da arte. Contudo, há evidências pontuais
significativas, como por exemplo, os projetos educacionais há tempos sob a responsabilidade
do CAPES.
No aspecto de financiamento da educação básica, é notório o salto qualitativo com a
instituição do FUNDEB (2007-2020), até então, o fundo contábil existente era o FUNDEF
(1998-2006) restrito para o ensino fundamental. É possível afirmarmos que, o processo de
estruturação da qualidade do ensino no país é sistematizado a partir da criação do
FUNDEF/FUNDEB.
Outro parâmetro, no centro das políticas do PDE, é o IDEB que monitora a qualidade
da educação básica de todo Brasil. Tal índice tem a função de projetar médias para aferir a
qualidade do desempenho escolar. Há uma expectativa nacional em torno da média 6 (seis)
para os anos iniciais do ensino fundamental a ser alcançada até o ano de 2021.
No entanto, os resultados do IDEB 2005, 2007 e 2009 são críticos. Em relação aos
anos iniciais do ensino fundamental, a região nordeste, nesses mesmos anos, revelou o pior
ensino do país com percentuais de 19,6%, 21,4% e 23,7%, respectivamente, abaixo da média
nacional. Outro dado alarmante ocorre para os entes federados, com 66,6% abaixo da média
nacional, em 2009, seguido do estado da Bahia com 30,4% aquém da média do país. Também
cabe destaque os estados do Rio de Janeiro e Paraná que em 2009 não alcançaram a meta
projeta pelo IDEB, ambos ficaram abaixo da expectativa com percentuais de 2,4% e 3,7%,
respectivamente.
Para os anos finais do ensino fundamental a qualidade do desempenho escolar,
também é crítica. Verificamos que a região nordeste, novamente, ministra o pior ensino do
país, em 2005, 2007 e 2009, com os percentuais de 25%, 26,3% e 25%, respectivamente.
Outro indicativo péssimo, em 2009, é o percentual de 85,8% dos entes federados abaixo da
média nacional. Na categoria unidade da federação os estados de Alagoas e Sergipe mostram
a qualidade do ensino preocupante, apresentando, em 2009, um percentual de 32,5%,
respectivamente, abaixo da média do país.
Considerando o texto do capítulo apresentado, podemos afirmar que os dados
levantados sinalizam que a construção da melhoria da qualidade do ensino não é representada
só por números.
5 A INCURSÃO NA REDE MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS/RJ
A análise de dados nos possibilitou, investigar à luz do IDEB, intenções e ações para
melhoria da qualidade do ensino em uma escola de ensino fundamental regular, em turma de
5º ano, da rede pública do município de Duque de Caxias, RJ. Os critérios adotados para a
escolha do estabelecimento de ensino foram: i) ser contemplado com recursos do PDE-Escola
na perspectiva do IDEB 2009 abaixo do observado pelo MEC/INEP; ii) estar situado em
perímetro urbano; ii) ter alunos matriculados em turma de 5º ano do ensino fundamental; iii)
estar com seu quadro de pessoal administrativo-pedagógico completo e, iv) ter um gestor com
tempo de experiência na função que pudesse demonstrar conhecimento da realidade da escola.
5.1 A ENTRADA NO CAMPO DE PESQUISA
A minha entrada em campo pode ser compreendida a partir de dois momentos
distintos: o primeiro, apresentação à Secretaria Municipal de Educação (SME) esse encontro
(agendado) fora antecedido de outro com propósito de entregar o projeto de trabalho, e
aguardar contato (telefonema) do Departamento de Educação Básica para posterior entrevista
e avaliação junto à diretora desse setor, com objetivo de receber autorização para realizar a
pesquisa de campo no município de Duque de Caxias. No início da entrevista, a diretora
explicou-me que, aquele procedimento fazia parte de rotina da SME com os pesquisadores de
educação, inclusive com estagiários. Daí, fiz uma breve exposição oral sobre os objetivos do
meu projeto de pesquisa naquele município. Após escuta, a diretora expôs, de forma sucinta,
o trabalho da SME nas escolas da rede, considerados os resultados do IDEB. Eu procurava
registrar aquela fala com muita discrição, o que na realidade transformou-se em uma
entrevista, ou seja, o relato da própria diretora. A seguir, a diretora perguntou-me se eu tinha
preferência por alguma escola, respondi que meu foco eram turmas de 5º ano de escolaridade
(anos iniciais do EF). Então, ela sugeriu-me pesquisar em duas escolas 50
da rede, uma grande
e outra pequena (em quantitativo de alunos), porém, que eu decidisse no que fosse mais
apropriado. Assim, ficou formalizada a autorização para a pesquisa de campo.
A diretora do Departamento de Educação Básica chamou atenção para a geográfica do
município de Duque de Caxias, dividida em quatro distritos: o primeiro, Duque de Caxias, é
50
O trabalho de pesquisa no campo foi realizado, documentado por meio de Termos de Consentimento, com
garantia de anonimato e assinado por todas as pessoas envolvidas.
urbano; o segundo, Campos Elísios, composto de zona residencial e industrial, com destaque
à Petrobras-Reduc e onde está localizada a Prefeitura do município; o terceiro, em Imbariê,
vida mais rural, onde a maioria da população morava na condição de posseiros; agora que
conquistou o título de proprietário; o quarto, em Xerém, de dificílimo acesso. Ela sintetiza
assim esse quadro: “distritos com realidades distintas, as escolas ganham características
particulares”. Informou que o município tem 174 unidades escolares, sendo 140 de ensino
fundamental; todas as escolas têm uma equipe diretiva51
: diretor, orientadores pedagógicos e
educacionais; todas constituídas de Conselho Escolar.
A diretora informou que os candidatos a estagiários, na SME, passaram por um
treinamento para atuar junto a professores do ensino fundamental daquela rede, ou seja, uma
aprendizagem enquanto aluno universitário aplicando conhecimentos na retaguarda do
professor regente. Na prática, após passarem por uma avaliação (prova e entrevista) feita pela
própria SME, os estagiários de Pedagogia foram desempenhar atividades nas escolas, em
turmas com alunos do 4º ano de escolaridade, e os de Letras e Matemática, com alunos do 8º
ano de escolaridade, desde o mês de agosto de 2010. O objetivo da SME era dar suporte ao
trabalho de professores junto a alunos com muita dificuldade de aprendizagem e o retorno
com a sua enturmação nos 5º e 9º anos, em 2011; em outras palavras, do melhoramento do
desempenho escolar desses alunos, como também a expectativa de melhoria do IDEB da rede
municipal de Duque de Caxias, em 2011.
Para operacionalizar o referido projeto, a Prefeitura de Duque de Caxias, através de
uma equipe composta de professores da própria rede, produziu um material didático-
pedagógico (com base nos descritores da Prova Brasil) composto de um livro, em três
volumes, intitulado Projeto Conseguir, destinado aos alunos já mencionados. Outros projetos
aconteceram na rede caxiense, como o Programa Gestores em Formação – PROGEF
(reservado no calendário escolar, enquanto grupo de estudos) e o Projeto Alfaletrar (destinado
à formação continuada daqueles professores com turmas de Alfabetização).
Conforme a diretora, a SME optou por esse quadro de funcionários, considerando o
nível acadêmico de alguns de seus professores com curso de mestrado e doutorado. A
valorização foi justificada em razão da SME, à época, ser procurada por várias empresas que
ofereciam programas (software) educacionais após a divulgação do IDEB 2009.
A diretora chama atenção para três outros aspectos ligados à Prova Brasil 2009: “o
despreparo do pessoal que estava aplicando as provas”; prosseguiu relatando que “muitos
51
A expressão equipe diretiva é comumente usada na Baixada Fluminense à equipe de: diretor, orientadores
educacional e pedagógico.
alunos não sabem marcar o cartão” e acrescentou falando sobre “a frieza do aplicador nas
dúvidas dos alunos”; ou seja, tirar as dúvidas pertinentes àquele momento – “o impacto com
os alunos”, finalizou. Um dado importante informado pela diretora foi que o INEP
contabilizou a Educação de Jovens e Adultos (EJA) como se fosse ensino fundamental
regular, daí contaminou a amostra. A falha nos dados ocorreu no Educacenso 2007 com
relevância para 2009.
O segundo momento: apresentação à EM Delta52
(com dois mil alunos, do ensino
fundamental a partir do 5º ano, em 2010) - sugerida pela diretora do Departamento de
Educação Básica da SME. O encontro também fora agendado por telefonema. Já na escola,
após alguma espera, em pé, no corredor, fui recebida pela diretora da unidade nesse mesmo
local, onde me apresentei de forma protocolar, porque a diretora logo sinalizara que não
dispunha de muito tempo para conversar. Desse modo, procurei deixar claro que uma
entrevista com a diretora da escola fazia parte daquela pesquisa; agi assim porque para
atender-me ela interrompeu uma atividade, dito pela mesma. A diretora respondeu-me que
daria a entrevista quando eu solicitasse, mas sem marcar data. Em seguida, chamou uma
pessoa para conduzir-me à sala da equipe pedagógica. Nesse recinto, fui acolhida pelas
OP/OE, apresentei-me e falei dos objetivos da pesquisa. As OE/OP se colocaram à disposição
para as entrevistas, mas sem gravação de voz; depois, pediram para responder as perguntas, de
próprio punho; sinalizei que sim, entregando-lhes os formulários. Nessas circunstâncias,
observei que as entrevistas semi-estruturas se transformaram em questionários com perguntas
abertas.
A tarefa interpretativa do material coletado esteve condicionada às evidências em:
questionários, entrevistas (Anexos B, C, D e E) Projeto Político Pedagógico e documentos
sobre Plano de Suporte Estratégico/Desdobramento das Metas em Plano de Ação e, Conselho
Escolar/Planilha: Plano de Ações Financiáveis (Anexos F e G). A observação também esteve
presente em todas as etapas da coleta de dados, na pesquisa de campo.
Para levantamento de dados empregamos entrevista semiestruturada, considerando as
possíveis adaptações que esta permite (ANDRÉ; LUDKE, 1990) e de oferecer garantias à
comparação de ideias (BOGDAN; BIRKLEN, 1994).
Outros materiais (formulários) nos foram entregues pela EM Delta, nos momentos de
entrevistas, questionários. Recebemos (formulários) da OE: Ficha de Notificação
Compulsória de Maus-Tratos, Ficha de Encaminhamento ao Conselho Tutelar, Termo de
52
Nome fictício.
Responsabilidade, Instrumento de Auto Avaliação de Turma, Ficha de Análise do Orientando
(neste instrumento observamos um propósito da escola em compreender o aluno e ajudar o
professor nas suas atividades; então, o aluno foi observado pelo professor nos aspectos de:
capacidade de aprendizagem, aplicação, influência (liderança), responsabilidade, cortesia,
aparência, atitude em aula, características pessoais, por solicitação do setor de Orientação
Educacional). Recebemos, também, um documento de instruções do Conselho Tutelar do
município de Duque de Caxias, com base na Lei Federal n. 8069/1990 e Lei Municipal n.
1278/1995 intitulado: Parecer Pedagógico quanto aos encaminhamentos indevidos a este
Conselho Tutelar. Além disso, a diretora nos mostrou algumas fotos exibindo atividades intra
e extra-escolar relacionadas ao Desdobramento das Metas em Plano de Ação (Anexo F),
segundo relato da mesma.
Uma questão importante desperta nosso interesse - em que contexto histórico-
geográfico e socioeconômico está inserido o município? Os indicadores educacionais serão
analisados em seguida.
5.2 INDICADORES GEOGRÁFICOS E SOCIOECONÔMICOS
O município de Duque de Caxias está localizado entre os noventa e dois municípios do
estado do Rio de Janeiro – RJ, na Baixada Fluminense. Os dados do IBGE, Censo 2010 53
,
mostram que o município abrange uma área de 467,62 km ², com uma população, a terceira
maior do estado, de 855.048 habitantes (852.138 na zona urbana e 2.910 na zona rural). O
histórico do município revela que
A 14 de março de 1931, foi criado o Distrito de Caxias, com sede na antiga
Estação de Meriti e formado pelo território desmembrado do Distrito de
Meriti pertencente ao então Município de Iguaçu (atual Nova Iguaçu).
Rápido foi o progresso do novo Distrito, que em 31 de dezembro de 1943 foi
elevado à categoria de Município, sob a denominação de Duque de Caxias e
tendo por sede a antiga Estação. O Município, desde que se tornou
autônomo, recebeu grande impulso em sua economia. A localização, em seu
território de um parque de indústrias entre as quais a Fábrica Nacional de
Motores, constituiu fator de desenvolvimento acelerado, a que a refinaria de
petróleo, com seu extraordinário conjunto petroquímico em expansão, deu
rápido e considerável estímulo. [...] Em divisão territorial datada de I-VII-
1960, o município é constituído de 4 distritos: Duque de Caxias, Campos
Elyseos, Imbariê e Xerém. Assim permanecendo em divisão territorial
datada de 2007.
53
Dados capturados no site: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/link.php?codmun=330170. Acesso em: 7 de maio
de 2011.
Segundo o IBGE, em 2010, outros dados importantes do município caxiense ligados a
sua economia indicam que, em 2008, o PIB per capita de 37.328,52 (reais) ocupa o décimo
lugar no ranking do estado do Rio de Janeiro e, também, a existência de um complexo
empresarial com 11.695 companhias, que ocupa o terceiro lugar.
Pela descrição do contexto geográfico, identificamos que a escola Delta está localizada
no 1º Distrito, que recebe o mesmo nome do município, Duque de Caxias. De acordo com o
IBGE, o quadro da educação da rede municipal pública caxiense, em 2009, apresenta no
ensino fundamental 82.676 alunos matriculados e 2.696 docentes.
A população estudantil da EM Delta é composta de alunos residentes próximo à
escola, como também agrega um quantitativo significativo oriundo de municípios vizinhos,
no geral de São João de Meriti e Belford Roxo. A maioria desses alunos mora em comunidade
com família de situação financeira precária, em estado subumano (habitam em barracos a
beira de valões); a outra minoria pertence à família de poder aquisitivo um pouco mais
privilegiado. As crianças ficam sozinhas em casa, o dia todo, em decorrência da ausência dos
pais, que retomam aos lares à noite. Há diminutas atividades de cultura e lazer na região. A
oferta de emprego é limitada. O atendimento médico é precário. As condições locais
convivem com a ação policial nas ruas e em frente à escola.
5.3 INDICADORES EDUCACIONAIS
Nossa investigação, com base em indicadores educacionais buscou traçar o panorama
do desempenho escolar da rede municipal de Duque de Caxias analisando os resultados do
IDEB e da Prova Brasil 2005, 2007 e 2009 54
, nas próximas tabelas.
Antes, porém, vamos apresentar os dados em relação ao desempenho escolar da EM
Delta. Durante o processo de análise descritiva, os dados empíricos evidenciaram que tal
escola distanciou-se negativamente do IDEB nacional, nos anos de 2005, 2007 e 2009, em
1,4; 0,1 e 0,7 pontos, respectivamente, para os anos iniciais do ensino fundamental. Porém,
em relação às metas projetadas para os anos de 2007 e 2009, estas foram atingidas com os
relativos índices de 2,6 e 3,1. Agora, para os anos finais, em 2005 e 2007, a escola fica
aquém da média do IDEB nacional com 1,1 pontos, respectivamente e, em 2009, com 0,7
pontos. Vale ressaltar que as metas projetadas para os anos de 2007 e 2009 foram atingidas
com os índices de 2,5 e 2,7; respectivamente.
54
Até a presente data, após acessarmos o site ME/INEP/Prova Brasil, não identificamos quaisquer registros
sobre os resultados da Prova Brasil realizada em 2009, para o Brasil, Estado, Município e Escola.
Os dados referentes à Prova Brasil, ano de 2005, disciplina Língua Portuguesa,
apontaram que a EM Delta ficou abaixo da média nacional: 172,31 com 11,77 pontos e, em
Matemática, com 11,71 pontos abaixo da média do Brasil: 182,38; já, no ano de 2007, na
disciplina Língua Portuguesa, com 4,35 pontos, fica acima da média do país: 175,77; porém,
na disciplina Matemática, com uma diferença de 1,06 pontos, fica em posição inferior à média
do país: 193,48.
Nas Tabelas 16 e 17, podemos ver os resultados dos IDEB 2005, 2007 e 2009 para os
Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental Regular, relacionando-os a rede caxiense com
o estado do RJ, região Sudeste e o Brasil. E pelos dados apresentados nas Tabelas 18 e 19,
percebemos os resultados da Prova Brasil 2005, 2007 e 2009 dos Anos Iniciais e Finais do
Ensino Fundamental Regular comparando o município de Duque de Caxias com o estado do
RJ, a região Sudeste e o Brasil.
Para os Anos Iniciais do EF, na Tabela 16, quando comparamos os resultados do
IDEB 2009 com a Meta 2009, do próprio município de Duque de Caxias, constatamos que a
meta foi atingida com 2,6% acima da projeção. Agora, quando verificado o IDEB Observado
2009 em relação ao de 2005, da rede caxiense, constatamos uma melhora percentual de
13,1%. Contudo, a realidade é diferente ao examinarmos o IDEB 2009 de Duque de Caxias
em relação aos IDEB das categorias estadual, regional e Brasil, evidenciamos que este
município está abaixo dessas médias em 5%, 29,6% e 17,4; respectivamente.
Tabela 16 – IDEB 2005, 2007 e 2009 dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental Regular
Brasil/
UF/
Município
ANOS INICIAIS
IDEB Observado Metas Projetadas
ANO ANO
2005 2007 2009 2007 2009 2011 2021
Brasil
Região Sudeste
Rio de Janeiro
Duque de Caxias
3,8
4,5
3,7
3,3
4,2
4,7
3,8
3,7
4,6
5,4
4,0
3,8
3,9
4,6
3,8
3,4
4,2
4,9
4,1
3,7
4,6
5,3
4,5
4,2
6,0
6,6
5,9
5,6 Fonte: MEC/INEP (2009). Adaptado.
*Legenda: 1) Em verde, acima da média do Brasil.
2) Em vermelho, abaixo da média do Brasil.
Para os Anos Finais do EF, na Tabela 17, quando confrontamos o IDEB 2009 de
Duque de Caxias em relação à sua própria meta de 2009, constatamos que esta foi atingida
conforme projeção de 2,7. Na rede caxiense, logo que comparamos os IDEB 2009 com o
de 2005, constatamos que ocorreu um progresso de 7,4% no ensino. Contudo, o IDEB 2009
da rede caxiense está abaixo das médias das categorias estadual, regional e Brasil com os
percentuais de 12,9; 34,1% e 32,5%; respectivamente.
Tabela 17 – IDEB 2005, 2007 e 2009 dos Anos Finais do Ensino Fundamental Regular
Brasil/
UF/
Município
ANOS FINAIS
IDEB Observado Metas Projetadas
ANO ANO
2005 2007 2009 2007 2009 2011 2021
Brasil
Região Sudeste
Rio de Janeiro
Duque de Caxias
3,5
3,6
2,9
2,5
3,8
3,8
2,9
2,7
4,0
4,1
3,1
2,7
3,5
3,7
2,9
2,5
3,7
3,8
3,1
2,7
3,9
4,1
3,3
3,0
5,5
5,6
4,9
4,6 Fonte: MEC/INEP (2009). Adaptado.
*Legenda: 1) Em verde, acima da média do Brasil.
2) Em vermelho, abaixo da média do Brasil.
A Tabela 18, seguinte, aponta resultados da Prova Brasil, Anos Iniciais, sinalizando
que houve no município de Duque de Caxias uma melhora de 5,5% na disciplina Língua
Portuguesa, quando comparado os resultados do ano 2009 com o de 2005. Todavia, os
resultados são negativos quando comparamos a média da rede caxiense com as estadual,
regional e Brasil, verificamos que este município está abaixo dessas médias em 1,6%, 9,2 e
5,3%; respectivamente. Quando comparamos as médias de Matemática, da rede caxiense, ano
2009 com a de 2005, verificamos que o desempenho escolar melhorou em 10,1%. Porém, o
mesmo não ocorre ao confrontarmos a média desse município, em 2009, com as médias do
estado, da região Sudeste e do Brasil, constando que essa rede está abaixo com os seguintes
percentuais: 2%, 11,1% e 6%.
Tabela 18 - Prova Brasil 2005, 2007 e 2009 dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Regular
BRASIL/UF
Município
ANOS INICIAIS
Língua Portuguesa Matemática
ANOS ANOS
2005 2007 2009 2005 2007 2009
BRASIL
Região Sudeste
Rio de Janeiro
Duque de Caxias
172,31
180,48
173,76
165,00
175,77
179,20
172,44
171,60
184,28
192,34
177,40
174,55
182,38
190,33
177,95
172,41
193,48
196,79
188,70
187,16
204,29
215,94
195,72
191,89 Fonte: MEC/INEP/Indicadores Demográficos e Educacionais, 2005, 2007 e 2009. (Adaptado).
*Legenda: Em verde, acima da média do Brasil.
Em vermelho, abaixo da média do Brasil.
Os dados da Tabela 19, para os Anos Finais, na disciplina Matemática, indicam que o
município de Duque de Caxias, em 2009, está abaixo das médias estadual, regional e nacional
com percentuais de 6,4%, 8,0% e 10,3%; respectivamente. Mas, constatamos uma melhora
discreta de 0,6% na mesma disciplina, quando comparamos as médias da própria rede
caxiense em relação ao ano de 2009 com o de 2005. Em relação à disciplina Língua
Portuguesa, observamos que o município de Duque de Caxias apresenta uma melhora no
desempenho escolar em percentual de 2,2%, quando comparados os anos de 2009 com o de
2005. Os resultados da rede caxiense, em 2009, na mesma disciplina, quando comparados aos
das redes estadual, regional e Brasil, revelam que o desempenho escolar daquela rede está
abaixo destas com os relativos percentuais de 7,3%, 11,4% e 10,4%.
Tabela 19 – Prova Brasil 2005, 2007 e 2009 dos Anos Finais do Ensino Fundamental Regular
BRASIL/UF
Município
ANOS FINAIS
Língua Portuguesa Matemática
ANOS ANOS
2005 2007 2009 2005 2007 2009
BRASIL
Região Sudeste
Rio de Janeiro
Duque de Caxias
231,82
229,81
223,90
213,75
234,64
232,69
223,68
214,59
243,99
246,69
235,81
218,47
239,52
236,17
220,58
221,98
247,39
244,57
231,54
223,17
248,99
242,69
238,54
223,25 Fonte: MEC/INEP/Indicadores Demográficos e Educacionais, 2005, 2007 e 2009. (Adaptado)
*Legenda: 1) Em verde, acima da média do Brasil.
2) Em vermelho, abaixo da média do Brasil.
Com base nos resultados da Prova Brasil, em 2009, podemos afirmar que o
desempenho escolar tanto nos Anos Iniciais como nos Anos Finais da rede municipal de
Duque de Caxias, nas disciplinas Matemática e Língua Portuguesa não são satisfatórios e
estão abaixo das médias nacional, estadual e regional.
As próximas tabelas revelam o comportamento da Baixada Fluminense e municípios
em relação aos resultados do IDEB 2005, 2007 e 2009, Anos Iniciais e Finais do Ensino
Fundamental Regular (Tabelas 20 e 21). Também em relação à Prova Brasil 2005, 2007 e
2009, Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental Regular (Tabelas 22 e 23).
Na Tabela 20, quando comparamos o IDEB 2009, dos Anos Iniciais, da rede caxiense
com a média do IDEB da Baixada Fluminense, constatamos que o município está abaixo em
2,7%. Agora, quando comparamos os IDEB da própria Baixada Fluminense ano 2009 com o
de 2005, constatamos que houve uma melhora de 15,3% no ensino fundamental. Em
perspectiva ao IDEB Observado, no âmbito da Baixada Fluminense, constatamos que, em
2009, Duque de Caxias ocupa o 5º pior lugar; e em 2007, o 3º pior lugar junto com os
municípios de Itaguaí e Japeri e, em 2005, o 5º pior lugar junto com o município de Magé.
Tabela 20 - IDEB 2005, 2007 e 2009 dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental Regular
Baixada Fluminense/
Municípios
IDEB Observado Metas Projetadas
ANO ANO
2005 2007 2009 2007 2009 2011 2021
Baixada Fluminense* 3,3 3,7 3,9 - - - -
Belford Roxo 3,5 3,6 3,7 3,5 3,9 4,3 5,7
Duque de Caxias 3,3 3,7 3,8 3,4 3,7 4,2 5,6
Guapimirim 3,0 3,5 4,0 3,0 3,4 3,8 5,3
Itaguaí 3,3 3,7 4,1 3,4 3,7 4,1 5,6
Japeri 3,1 3,7 3,6 3,2 3,5 4,0 5,4
Magé 3,3 3,6 3,6 3,3 3,7 4,1 5,5
Mesquita 3,7 3,9 4,1 3,7 4,1 4,5 5,9
Nilópolis 3,0 3,9 3,6 3,1 3,4 3,8 5,3
Nova Iguaçu 3,6 3,9 4,0 3,7 4,0 4,4 5,8
Paracambi 3,4 4,5 4,5 3,5 3,8 4,3 5,7
Queimados 3,7 3,9 3,9 3,8 4,1 4,5 5,9
São João de Meriti 3,7 3,6 4,0 3,8 4,1 4,5 5,9
Seropédica 3,2 3,6 3,7 3,2 3,6 4,0 5,4 Fonte: MEC/INEP. Adaptada
Nota: *Resultado simulado obtido a partir da média dos IDEB dos municípios da Baixada Fluminense
Legenda: 1) Em verde, acima da média da Baixada Fluminense
2) Em vermelho, abaixo da média da Baixada Fluminense
Tabela 21 - IDEB 2005, 2007 e 2009 dos Anos Finais do Ensino Fundamental Regular
Baixada Fluminense/
Municípios
IDEB Observado Metas Projetadas
ANO ANO
2005 2007 2009 2007 2009 2011 2021
Baixada Fluminense*
Belford Roxo
Duque de Caxias
Guapimirim
Itaguaí
Japeri
Magé
Mesquita
Nilópolis
Nova Iguaçu
Paracambi
Queimados
São João de Meriti
Seropédica
3,0
2,7
2,5
3,0
3,0
3,1
3,0
3,4
2,4
3,5
3,5
3,2
2,6
3,5
3,2
2,7
2,7
2,9
2,9
3,1
3,3
3,3
3,4
3,6
3,8
3,6
2,5
3,7
3,4
2,8
2,7
3,4
4,0
3,2
3,5
3,4
3,7
3,5
4,3
3,6
3,5
3,5
-
2,7
2,5
3,0
3,0
3,1
3,0
3,4
2,5
3,5
3,6
3,3
2,7
3,6
-
2,8
2,7
3,2
3,2
3,3
3,2
3,6
2,7
3,7
3,7
3,4
2,8
3,7
-
3,1
3,0
3,4
3,4
3,5
3,4
3,9
3,0
3,9
4,0
3,7
3,1
4,0
-
4,7
4,6
5,0
5,0
5,1
5,0
5,4
4,7
5,5
5,5
5,3
4,6
5,5
Fonte: MEC/INEP (Adaptada).
Nota: *Resultado simulado obtido a partir da média dos IDEB dos municípios da Baixada Fluminense
Legenda: 1) Em verde, acima da média da Baixada Fluminense
2) Em vermelho, abaixo da média da Baixada Fluminense
Na Tabela 21, ao compararmos o IDEB 2009, Anos Finais, da rede caxiense com o da
Baixada Fluminense, verificamos que o município está abaixo da média desta com um
percentual de 20,6%. Agora, quando confrontamos os IDEB da própria Baixada Fluminense,
ano 2009 com o de 2005, nos certificamos que houve uma melhora de 11,8% no ensino
fundamental. No contexto da Baixada Fluminense, em 2009, o desempenho escolar de Duque
de Caxias ocupa o 1º pior lugar; em 2007, este município junto com o de Belford Roxo,
ocupam o 2º pior lugar acompanhados dos municípios de Itaguaí e Japeri e, em 2005, o 2º
pior lugar.
Os resultados do IDEB 2009 da Baixada Fluminense confrontados com os do
município de Duque de Caxias evidenciam que não houve melhoria na qualidade do ensino
fundamental desta rede.
Tabela 22 - Prova Brasil 2005, 2007 e 2009 dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Regular
Baixada Fluminense/ ANOS INICIAIS
Municípios Língua Portuguesa Matemática
ANOS
2005 2007 2009
ANOS
2005 2007 2009
Baixada Fluminense* 167,51 171,49 174,28 171,77 185,44 191,35
Belford Roxo 167,93 164,45 162,29 172,42 179,42 183,31
Duque de Caxias
Itaguaí
165,00
170,55
171,60
173,81
174,55
181,27
172,41
173,87
187,16
188,95
191,89
194,91
Guapimirim 169,12 171,05 182,83 172,09 185,52 199,63
Japeri 165,89 164,49 166,13 170,90 178,86 180,70
Magé 167,94 168,31 171,12 173,18 183,01 188,06
Mesquita
Nilópolis
169,05
158,73
172,69
172,91
174,11
172,32
174,00
161,84
187,14
187,58
193,13
186,63
Nova Iguaçu 167,27 169,86 172,33 171,25 184,61 189,70
Paracambi
Queimados
São João de Meriti
Seropédica
178,31
168,16
168,56
161,24
190,02
169,24
164,68
176,34
188,78
169,95
170,41
179,65
180,85
171,14
175,72
163,42
200,50
182,58
179,05
186,37
205,85
186,04
187,38
200,42
Fonte: MEC/INEP/Indicadores Demográficos e Educacionais, 2005, 2007 e 2009.
Nota: *Resultado simulado obtido a partir da média dos IDEB dos municípios da Baixada Fluminense
Legenda: 1) Em verde, acima da média da Baixada Fluminense
2) Em vermelho, abaixo da média da Baixada Fluminense
A Tabela 22 mostra os resultados da Prova Brasil, Anos Iniciais, disciplinas Língua
Portuguesa e Matemática, em 2009. Em relação à disciplina Língua Portuguesa, quando
comparamos a média: 174,55 do município de Duque de Caxias em relação a da Baixada
Fluminense: 174,26, observamos que aquele se destaca por um discreto percentual de 0,2%.
Constatamos que na Baixada Fluminense houve uma melhoria na referida proficiência com
um percentual de 3,9%, quando comparamos sua própria média do ano 2009 com a de 2005.
Agora, no ranking da Baixada Fluminense a rede caxiense, em 2009, ocupa o 5º melhor lugar;
em 2007, o 5º pior lugar e, em 2005, o 3º pior lugar. Em relação à disciplina Matemática, em
2009, quando comparamos a média caxiense: 191,89 com a da Baixada Fluminense: 191,35;
aquela se destaca desta com um modesto percentual de 0,3%. Verificamos que a Baixada
Fluminense melhorou seu desempenho escolar em 10,2%, quando comparamos a sua média:
191,35, em 2009, e a de 171,77, em 2005. Agora, no ranking da Baixada Fluminense o
município de Duque de Caxias ocupa a seguinte posição - em 2009, o 6º lugar; em 2007, o 4º
lugar.
Tabela 23 - Prova Brasil 2005, 2007 e 2009 dos Anos Finais do Ensino Fundamental Regular
Baixada Fluminense/ ANOS FINAIS
Municípios Língua Portuguesa Matemática
ANOS ANOS
2005 2007 2009 2005 2007 2009
cBaixada Fluminense* 218,31 221,36 231,20 231,45 229,98 236,06
Belford Roxo 213,27 216,47 225,25 223,23 222,86 226,46
Duque de Caxias
Itaguaí
213,75
170,55
214,59
173,81
218,47
181,27
221,98
236,20
223,17
222,97
223,25
244,11
Guapimirim 208,15 215,40 232,31 218,50 223,19 231,56
Japeri 222,72 214,13 226,60 234,94 220,60 226,46
Magé 222,19 221,60 235,60 232,11 230.03 234,38
Mesquita
Nilópolis
232,04
220,68
229,54
240,58
235,99
251,37
241,12
228,95
237,24
242,05
232,97
247,81
Nova Iguaçu 232,34 235,98 237,35 241,20 235,59 233,29
Paracambi
Queimados
São João de Meriti
Seropédica
227,34
231,29
210,24
231,82
235,77
239,16
209,93
230,82
249,41
242,24
234,68
235,14
240,84
230,89
220,31
238,59
238,23
242,06
217,86
233,99
258,17
235,44
240,37
234,53
Fonte: MEC/INEP/Indicadores Demográficos e Educacionais, 2005, 2007 e 2009.
Nota: * Resultado simulado obtido a partir da média dos IDEB dos municípios da Baixada Fluminense
Legenda: Em verde, acima da média da Baixada Fluminense
Em vermelho, abaixo da média da Baixada Fluminense
Verificamos na Tabela 23 que ao compararmos os resultados da Prova Brasil 2009,
Anos Finais, disciplinas Matemática e Língua Portuguesa, temos o seguinte quadro: em
Matemática, quando confrontamos a média: 223,35 do município de Duque de Caxias com a
236,06 da Baixada Fluminense, aquela obteve destaque negativo com percentual de 5,4%.
Constatamos que a Baixada Fluminense melhorou seu desempenho escolar de 1,9%, quando
comparamos sua média de 2009 com a de 2005. Em relação à disciplina Língua Portuguesa, a
rede caxiense, em 2009, fica abaixo da média: 231,20, da Baixada Fluminense, com um
percentual de 5,5%. Examinamos que, em 2009, a Baixada Fluminense melhorou seu
desempenho escolar em 5,6%, quando confrontamos com a sua média: 218,31, do ano 2005.
No ranking da Baixada Fluminense, em 2009, a rede caxiense ocupa o segundo pior lugar
Com base nos resultados da Prova Brasil 2009 para a Baixada Fluminense, podemos
afirmar que houve melhoria no desempenho escolar dos Anos Iniciais da rede caxiense.
Agora, em relação aos Anos Finais, o desempenho escolar não foi satisfatório tanto na
disciplina Língua Portuguesa quanto em Matemática, porque estão abaixo da média da
Baixada Fluminense.
5.4 INDICADORES ANALISADOS A PARTIR DA PESQUISA DE CAMPO
Nosso trabalho de pesquisa de campo foi desenvolvido a partir de dois instrumentos
básicos: entrevistas semiestruturadas e questionários com perguntas abertas (Anexos B, C, D
e E) com base no Documento: Diagnóstico Escolar (Anexo A) feito pelo Sistema Integrado de
Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC), para o Plano de Ação Articulada
(Anexo F) por meio do PDE-Escola.
O roteiro da pesquisa de campo (Anexos B-E) foi direcionado a uma escola de ensino
fundamental, a qual denominamos EM Delta, que vivenciava realidade administrativo-
pedagógica distinta, em outras palavras, tal unidade escolar, em 2009, alcançou IDEB: 3,0
para os Anos Iniciais; distando abaixo da média nacional com um percentual de 2,5%.
Também desenvolvia ações de desdobramento das metas do Plano de Ação, consoante às
orientações do MEC.
Para organizar a análise de dados da pesquisa de campo, na EM Delta, adotamos
algumas direções em relação às questões pertinentes ao Plano de Ação: i) análise da entrevista
com a diretora; ii) análise do questionário da professora; iii) análise das entrevistas com as
orientadoras educacional e a pedagógica; iv) análise comparativa entre o questionário da
professora e as entrevistas com as orientadoras educacional e pedagógica e v) análise
comparativa entre as entrevistas com as orientadoras educacional e pedagógica e a diretora e
os questionários da professora e das orientadoras educacional e pedagógica. Esclarecemos que
os registros das entrevistas foram feitos por anotações, após entendimento prévio com o
pessoal envolvido. A base de sustentação pela utilização da referida metodologia buscou
acompanhar às orientações de Lüdke e André (1986, p. 36):
O registro feito através de notas durante a entrevista certamente deixará de
cobrir muitas das coisas ditas e vai solicitar a atenção e o esforço do
entrevistador, além do tempo necessário para escrever. Mas, em
compensação, as notas já representam um trabalho inicial de seleção e
interpretação das informações emitidas. O entrevistador já vai percebendo o
que é suficientemente importante para ser tomado nota e vai assinalando de
alguma forma o que vem acompanhado com ênfases, seja do lado positivo
ou negativo [...].
A partir daí, passamos à fase de elaboração do “processo de codificação [...] que
relaciona os dados da pesquisa com seus objetivos” (RIZZINI et al., 1999, p. 82). Procuramos
apreender a mensagem contida nas informações dos sujeitos envolvidos com a pesquisa no
propósito de “compreender o processo mediante o qual as pessoas constroem significados e
descrever em que consistem estes mesmos significados” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 70).
Redistribuímos o material coletado, com vistas a uma melhor interpretação dos dados, em três
eixos: i) a prática da avaliação no contexto escolar e o exercício das tarefas escolares; ii)
distorção idade-série e iii) perspectivas de melhoria da qualidade do ensino fundamental:
Primeiro eixo: a prática da avaliação no contexto escolar e o exercício das tarefas
escolares. A literatura aponta que discutir o tema avaliação no âmbito de espaço intra-escolar
é uma tarefa complexa, consideradas as múltiplas dimensões que sua representação possa
alcançar (HADJI, 2001). Assim, tomamos como referência Perrenoud (1999, p. 145), cujo
tratamento ao tema avaliação incide sob um olhar igualmente sistêmico, ao afirmar que para
mudar a prática de uma avaliação formativa, “talvez se deva mudar a escola”.
A perspectiva sistêmica de avaliação que nos apresenta o autor é orientada por uma
relação de interdependência além do sentido formativo: relação família-escola, educação
continuada, valorização do trabalho escolar coletivo, política-institucional, plano curricular
dinâmico, autonomia escolar, práticas pedagógicas. Quando indagamos à professora da EM
Delta - de que forma a avaliação é utilizada, obtivemos o seguinte depoimento:
Avaliamos para melhorar o andamento de nossa escola e alcançarmos os
objetivos propostos no planejamento. [...]; têm provas, trabalhos, testes que
tenho que usar, mesmo que aquele resultado não condiga à realidade; cada
trabalho vale 2,5. Exemplo, tem uma aluna que faz todo trabalho, a mãe é
professora, mas é muito fraquinha. Ela faz tudo, eu tenho que aproveitar os
trabalho dela, mas tenho que enfrentar. Assim como tenho aluno que é bom,
mas não faz nada, falta muito. Em momentos raros dá pra perceber que ele é
bom, lê, escreve, mas são situações. Acho complicado essa aluna; você tem
que dá toda pontuação; fica complicado; você Sab,.e que foi a garota que
fez, tem que se levar em conta; tem pesquisa individual, ela fez, tenho que
aceitar; ela é fraca em cálculo, escrita, mas não falta, tá ali com tudo
certinho, o dever de casa traz tudo certinho, tem em casa alguém para ajudar,
ela faz aqui, também; ela precisa de mais aula, de recuperação; ela já é
retida.
(Delta P)
Pela resposta da professora Delta P, observamos um procedimento normatizado entre
as secretarias municipais de educação (SME), que determinam previamente um modelo, uma
prática de avaliação do desempenho escolar, em regimento único, deliberações, circulares,
entre outros, às escolas públicas de suas jurisdições. Mas por outro lado, o quadro revela a
questão ideológica representada pela sistematização de normas impostas por políticas da SME
e o conflito na práxis docente, evidenciadas por meio de barreiras às limitações da hora/aula,
faltas excessivas do aluno e as peculiaridades do dever de casa. Também, o referido relato
parece transparecer preocupação com uma possível reprovação da aluna, na série – “ela já é
retida.”
Uma pesquisa envolvendo 57.258 alunos de 4ª série do EF, na disciplina Matemática,
por meio de dados do SAEB 2001, a partir das variáveis origem socioeconômica e cultural,
práticas de estudo e demanda por dever de casa, revelou que “a demanda por dever de casa é
benéfico para 100% dos estudantes” (FRANCO et al., 2007, p. 293).
Considerando que as tarefas escolares têm efeitos positivos no desempenho dos alunos,
sondamos a prática de atividades com o dever de casa na EM Delta, indagando a professora
Delta P em que situações, condições, frequência, são passados deveres de casa, como também
da participação dos pais dos alunos. Ela relatou:
Entendemos os deveres de casa como um suporte na aprendizagem, mas
infelizmente muitos pais não apresentam o comprometimento com a
aprendizagem do filho. Passo todos os dias: 2ª feira, Português/História – o
dever daqui ( História) vai ser corrigido na próxima 2ª feira, o de Português,
na próxima 4ª feira; 3ª feira, Matemática/Ciências; 4ª feira,
Geografia/Português; 5ª feira, Matemática/Ciências; 6ª feira,
Matemática/Português/avaliação; Matemática e Português, dia sim, dia não.
(Delta P)
A professora Delta P revela cumprir uma rotina diária de atividades com os deveres de
casa. Ela nos permite observar o cuidadoso trabalho sistêmico na abordagem dos
componentes da matriz curricular dos anos iniciais do ensino fundamental na sua prática
pedagógica. Deixa subjetiva a participação mais atuante da família no acompanhamento
dessas tarefas, mas não sinaliza nenhuma ação de enfrentamento do exposto.
De acordo com os relatos da professora Delta P, entendemos que acompanhar,
orientar, refletir e sistematizar as questões de hábitos de estudos do aluno, não se restringe à
tarefa docente, mas se estende, também, à atenção de toda equipe pedagógica. Assim,
procuramos comparar a análise de dados da respectiva professora com o levantamento de
dados fornecidos pela OE Delta. Persistimos no indicativo tarefas escolares considerando que,
o cumprimento das tarefas escolares contribui nos resultados do desempenho escolar do aluno
(FRANCO et al., 2007).
Observamos que a participação dos pais em relação aos deveres de casa dos
filhos é mínima. [...]. Pais e alunos são orientados e estimulados quanto à
aquisição de hábitos de estudo. [...].
(Delta OE)
A resposta da orientadora Delta OE reafirma fala anterior em relação ao isolamento
constante da família na rotina escolar; sem não deixar de expressar o esforço da equipe com a
aprendizagem do educando.
Em relação aquele indicativo reprovação, aludido pela professora Delta P, Afonso
(2000, p. 43) faz uma análise sintética acerca da responsabilização profissional dos
professores, em que
[...] interessa discutir as diferentes modalidades de avaliação quando se vive
uma época em que os professores são culpabilizados pelos resultados dos
alunos e dos sistemas educativos. De facto, a imputação de responsabilidade
aos professores tem sido, em diferentes propostas de reformas, a estratégia
mais frequente para justificar o que se considera ser a má situação do ensino
e das escolas. A discordância que mantemos em relação a este e outros
traços exemplificativos da prática discursiva neoconservadora não nos
impede, porém, de procurar um aprofundamento teórico que contribua para
o debate em torno da legitimidade para se estabelecerem modelos de
responsabilização profissional dos professores. Esta responsabilização
profissional, no entanto, deve ser discutida face ao exercício (legítimo) do
controlo por parte do Estado, e/ou de outros sectores e actores sociais, sobre
o que se ensina e como se ensina nas escolas públicas, ou de interesse
público.
No sentido de compreender melhor a questão da responsabilização do professor
profissional, identificamos um referencial de competências (PERRENOUD, 2000) que tem
como intenção “orientar a formação contínua [...]”, não se esgotando em si pela sua
complexidade e abrangência, nos possibilitando refletir os aspectos de espaço e de tempo à
materialização desse conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes viabilizados no
contexto sistêmico-institucional.
No âmbito sistêmico, Afonso (2000, p. 37) distingue a avaliação de “criterial”, com
dois focos: no contexto pedagógico, em sala de aula, o autor a denomina de “nível micro” e,
no contexto mais amplo de escola, ele a caracteriza de “nível meso”; essas noções também
foram examinadas por Nóvoa (1992), de acordo com Bernado (2003).
Embora, tenhamos percebido, no depoimento da professora, uma atenção para os
acertos nas tarefas escolares apresentadas pelos alunos, mas o emprego de uma avaliação
trabalhando os erros cometidos pelos mesmos não foi manifestado. Nessa situação, Perrenoud
(1999, p. 78) propõe considerarmos a ideia de avaliação formativa como ”toda prática de
avaliação contínua que pretenda contribuir para melhorar as aprendizagens em curso”. Então,
no propósito de identificar mais pistas de emprego da avaliação na prática docente, ou melhor,
de uma observação formativa, que no pensar de Perrenoud (1999, p. 104) implica em
orientar e otimizar as aprendizagens em curso sem preocupação de
classificar, certificar, selecionar. [...] pode ser instrumentada ou puramente
intuitiva, aprofundada ou superficial, deliberada ou acidental, quantitativa ou
qualitativa, longa ou curta, original ou banal, rigorosa ou aproximativa,
pontual ou sistemática. Nenhuma informação é excluída a priori, nenhuma
modalidade de percepção e de tratamento é descartada.
Na visão de Perrenoud a avaliação, na função formativa, contribui à interação entre professor e
aluno. A comunicação, a observação e a crítica são aspectos fundamentais que o professor deva
utilizar no cotidiano de vida escolar do aluno. Dessa feita, o professor na expectativa de aperfeiçoar a
aprendizagem, fará os ajustes de forma mais sistemática e individualizada, criando condições mais
satisfatórias a definir o desempenho de seu aluno.
Nesse sentido, indagamos à professora Delta P o que é feito com os resultados das
avaliações periódicas de ensino?
Reunimos o grupo escolar e traçamos metas para melhorar os índices de
aprendizagem, e individualmente também - coloco eles sentados comigo; é
claro que não dá para fazer isso todo dia; sento eles, peço para escrever
alguma coisa, façam cálculos.
(Delta P)
Dessa questão, apreendemos que a professora Delta P empregou a avaliação numa
perspectiva dinâmica, dialógica, que nos reporta às críticas de Romão (1999, p. 43) dirigidas
aos “problemas da avaliação da aprendizagem resultantes também do tráfico ideológico das
elites”. O autor nos chama atenção a refletirmos,
Mais importante do que ser muito exigente ou rigorosa quanto à disciplina
cobrada pelos alunos, é a capacidade de ser provocadora da leitura crítica
das determinações naturais e sociais, de ser estimuladora da criatividade e da
independência reflexiva. Boa escola não é a que ensina coisas, mas a que
permite a superação da “curiosidade ingênua” pela “curiosidade
epistemológica [...].
Para termos mais clareza do significado e emprego da avaliação na EM Delta, como
também o comprometimento do trabalho da equipe pedagógica, indagamos à orientadora
Delta OE, de que forma os alunos com dificuldade de aprendizagem recebem auxílio,
estímulo e apoio para atingir o nível de aprendizagem estimado, sendo respondido:
Os alunos estão sempre sendo estimulados: através de atividades
diversificadas, incentivo dos professores e recuperação paralela.
(Delta OE)
Mais uma vez, esse depoimento deixa oculto o significado no tratamento das
dificuldades de aprendizagem dos alunos, ou seja, a limitação de tempo, ausência de pessoal
de apoio e o emprego da avaliação no restrito cumprimento legal da LDB n. 9394/1996 (art.
13, Inciso IV).
Pela relevância do presente estudo, tratamos, a seguir, de documentar a fala da
professora Delta P, quando indagada - em que momentos são delegados aos alunos a
responsabilidade de se auto-avaliarem 55
? Por quê?
Para perceberem o grau de comprometimento que cada um tem com o
ensino. Eles sabem, os alunos sabem se estão bem, fez um bom trabalho ou
não, são poucos os alunos mais infantis, mas a maioria sabe se vai bem ou
mal. Exemplo, tenho um aluno que a mãe veio no meio do ano para ver
como estamos trabalhando. Falei que ia tudo bem, mas ele está deixando a
desejar; a mãe copiou tudo – falei do peso das notas, a mãe foi embora,
sumiu e nunca mais eu consegui falar, e o filho sabe que não trazendo está
com nota baixa - os bilhetes, jogou tudo fora, dizia que a mãe estava
viajando; agora no 4º bimestre, deixei fazendo na sala (no horário do recreio
– 20 minutos), ele fica 10 minutos na sala, para que não seja retido.
(Delta P)
A resposta da professora propicia um entendimento de que os conceitos de aprender e
refletir esse aprendizado parecem presentes no contexto escolar, isto é, a relação reflexiva da
apropriação do conhecimento cognitivo e o pensar crítico da qualidade desses saberes.
Todavia, o cotidiano de sala de aula também é constituído por adversidades, flagrante no
relato desta professora. Através desta fala podemos subtender a representação simbólica de
tantas outras queixas e reclamações do distanciamento da família do aluno à escola pública de
educação básica.
Perrenoud (2000) organiza um elenco de dez competências atribuídas às atividades
profissionais docente, dentre as quais destacamos o exercício de desenvolver no aluno a
capacidade de auto-avaliação. O autor afirma que tal atividade promove o desenvolvimento
do aluno à aquisição de conhecimento teóricos e práticos nas suas tarefas escolares.
Retomando o relato anterior, procuramos investigar que tratamento a Orientação
Educacional56
dispunha à prática de auto-avaliação junto aos alunos; considerando os diversos
55
Trouxemos essa questão para análise descritiva considerando sua inserção no conjunto de itens para o
Diagnóstico Escolar (Anexo G), conforme metas de políticas públicas do Governo Federal.
estudos referendados na literatura educacional quanto à importância da avaliação contínua do
rendimento dos alunos (PERRENOUD, 2000; HADJI, 2001; LUCKESI, 1998; ROMÃO,
1999; HOFFMANN, 2000, 2001). E assim nos foi respondido:
Alguns professores adotam esta prática da auto-avaliação. O objetivo é levar
o aluno à reflexão, estimular a responsabilidade e autocrítica. Através do
Conselho de classe, conversa informal com os professores, relatórios das
turmas.
(Delta OE)
A resposta da orientadora Delta OE parece fazer referência de um lado, que a prática
da auto-avaliação cabe apenas aos professores. Por outro lado, observamos que ela sinaliza
ambiente onde tal prática se realiza, mas deixa subjetivo o meio pelo qual se faz o registro
das evidências junto aos professores.
Por outro lado, identificamos que a escola cumpre rigoroso critério de avaliação
padronizado, apresentado no Quadro 6, para toda rede municipal, conforme nosso
levantamento de dados e análise de documentos em registro do Projeto Político Pedagógico
da EM Delta 57
.
O ensino fundamental do município de Duque de Caxias tem critérios específicos para
avaliar o desempenho escolar: i) para as turmas de 1º, 2º e 3º anos do 1º segmento, a avaliação
é feita, bimestralmente, através de registros de avanços da aprendizagem do aluno, sem
reprovação ao final do ano letivo e, ii) a partir do 4º ano, a avaliação do desempenho escolar
obedece a uma escala de nota de 1 (um) a 10,0 (dez), com os valores:
Quadro 6 - Critérios de Avaliação - 4º ao 9º anos do EF- Município de Duque de
Caxias/2010
Avaliação Prova Teste Trabalho Participação Total
Pontos 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 Fonte: Projeto Político Pedagógico das EM Delta (2010).
Para ser aprovado, o aluno tem que obter média igual ou superior a 6,0 (seis) ao final
de cada bimestre. Caso alcance uma média menor que 6,0 (seis), irá para recuperação, e ao
final se a nota for menor que 6,0 (seis), terá direito a uma quinta prova, que será somada à
média anula mais a nota da quinta prova e dividida por dois.
Partindo de conceitos já consagrados na literatura, Luckesi (1998, p. 33) postula que
“a avaliação é um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade tendo em
56
Reiteramos em nossos argumentos que, a questão de se trabalhar hábitos de estudos junto ao educando é uma
prática pedagógica que envolve o corpo docente e toda equipe técnico-pedagógica no estabelecimento de ensino. 57
A EM Delta, no ano de 2010, era formada a partir de turmas do 5º ano do ensino fundamental.
vista uma tomada de decisão”. Desse enunciado, o autor elenca três perspectivas de avaliação
no contexto da prática da aprendizagem escolar: primeira, um “juízo de valor” – princípios
preestabelecidos de ordem qualitativa que norteiam o ajuizamento do objeto; em outros
termos, é o grau subjetivo de aproximação do objeto ao idealizado que orienta a avaliação;
segunda, “os indicadores da realidade delimitam a qualidade efetivamente esperada do
objeto”, ou seja, a particularidade real do objeto incide no seu valor. Um exemplo prático, um
aprendizado que envolve um raciocínio matemático não pode ser avaliado pelo mesmo
critério que se avaliaria um comportamento de hábitos de estudo com as tarefas escolares
(participação) e, por último, tomada de decisão – não se admite desinteresse, há que se uma
determinação.
Na defesa de se refletir o significado da avaliação e suas conseqüências na vida escolar
do aluno, alguns autores chamam atenção à ênfase que a prática da avaliação escolar deposita
no emprego da avaliação com finalidade classificatória, em detrimento de seu fim
diagnóstico; ou melhor, afasta da avaliação seu “momento dialético” que é oportunizado pela
sua ação diagnóstica do processo de aprendizagem escolar (ESTEBAN et al., 2004; HADJI,
2001; HOFFANN, 2000; 2001; LUCKESI, 1998; ROMÃO, 1999).
Identificamos, assim, que as intenções e ações à luz do IDEB no contexto escolar e o
exercício das tarefas escolares envolve a participação coletiva da comunidade escolar. Na
busca de uma educação de qualidade não satisfaz definir quais as capacidades e habilidades
que os alunos devem adquirir. Antes de se avaliar o desempenho dos alunos a partir das
proficiências sistematizadas, é necessário que a escola reveja as diretrizes e os pressupostos
que devem orientar suas práticas educativas. Todavia, o papel do professor, na promoção de
uma aprendizagem significativa, ultrapassa os limites da sala de aula, chamando à
responsabilidade presença fundamental daqueles gestores educacionais ligados ao controle e
monitoramento da qualidade do ensino da educação básica, como as secretarias federal,
estadual e municipal de educação.
Segundo eixo: distorção idade-série. Observamos na literatura educacional que, quando
se esgotam os mecanismos sistêmicos de „conduzir‟ o aprendizado escolar e sua consequente
avaliação junto ao educando, o provável resultado desse processo é a reprovação ou retenção
na série. Os sucessivos anos de escolaridade repetidos naquela mesma série são denominados
distorção idade-série 58
. Segundo Sátyro; Soares (2008, p. 8), “o conceito de distorção
58
O INEP em relação aos indicadores eficiência e rendimento escolar, apresenta para cálculo da distorção idade-
série a seguinte orientação: [...] considerando o Censo Escolar do ano t e a série k do ensino fundamental, cuja a
idade adequada é de i anos, então o indicador será expresso pelo quociente entre o número de alunos que, no ano
idade/série usado é a porcentagem de alunos defasados dois anos ou mais. [...] Quanto maior a
distorção pior é o desempenho escolar.”
Em nossa pesquisa de campo, na EM Delta, com base no diário de classe de uma turma
de 37 alunos (professora Delta P), identificamos que 24,3% encontravam-se em situação de
distorção idade-série. Dessa forma, levantamos a seguinte pergunta à orientadora educacional:
que ações específicas são desenvolvidas junto àqueles alunos com distorção idade-série?
Temos poucos casos em nossa escola. Para os casos de repetência – é feito
um trabalho intensivo com participação da família. Sala de Leitura – Sala de
Informática – Sala de Recursos.
(Delta OE)
Ocorre que, no levantamento de dados estatísticos oficiais dos resultados da Prova
Brasil 2005 e 2007, obtivemos algumas evidências em relação à distorção idade-série
referentes à nossa investigação. Tais evidências são acentuadas nos Quadros 7 e 8, que
apresentam, respectivamente, o contexto do total de alunos participantes e o percentual da
situação-problema de distorção idade-série na Prova Brasil, em 2005 e 2007, nos anos iniciais
e finais do ensino fundamental, no município de Duque de Caxias e na escola investigada na
pesquisa de campo.
Quadro 7 – Prova Brasil, 2005 e 2007 - Total de alunos participantes do EF
Anos Município de Duque de Caxias EM Delta
Anos Iniciais Anos finais Anos Iniciais Anos finais
2005 5.712 2.648 326 149
2007 9.842 3.514 62 293
Fonte: INEP (2011) 59
Quadro 8 – Prova Brasil, 2005 e 2007 - Percentual de distorção idade-série do EF
Anos Município de Duque de Caxias EM Delta
Anos Iniciais Anos finais Anos Iniciais Anos finais
2005 50,7% 65,3% 52,3% 82,9%
2007 34,2% 54,8% 33,2% 59,2%
Fonte: INEP (2011)60
t, completam i + 2 anos ou mais (nascimento antes de t -[i + 1]), e a matrícula total na série k. A justificativa
deste critério é que os alunos que nasceram em t - [i + 1], completam i + 1 anos no ano t e, portanto, em algum
momento deste ano (de 1º de janeiro a 31 de dezembro) ainda permaneciam com i anos e, por isso, o critério aqui
adotado, considera estes alunos como tendo idade adequada para esta série. Os que nasceram depois de t - [i + 1]
completam, no ano t, i anos ou menos.
Instrução colhida no site http://www.edudatabrasil.INEP.gov.br/ (Glossário). Acesso em: 25/04/2011. 59
http://www.INEP.gov.br/ 60
Ibid.
A partir dos resultados mostrados no Quadro 7, verificamos no Quadro 8 que, em
2005, no município de Duque de Caxias é elevado o percentual de alunos cursando uma série
que não corresponde a sua idade, ou seja, mais da metade do quantitativo de alunos
pesquisados está frequentando cerca de dois anos ou mais, a mesma série.
Os resultados apontados no Quadro 8 indicam que, no município de Duque de Caxias,
em 2007, nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, houve uma respectiva queda de
16,5% e 10,5% em relação aos alunos com idade superior à série cursada. Na EM Delta, nessa
mesma ordem, a distorção idade-série caiu para 19,1% e 23,7%.
O contexto da distorção idade-série em relação à 4ª série/5º ano, do ensino
fundamental regular, apresentado na Tabela 24 é muito crítico.
Tabela 24 - Taxa de Distorção Idade-Série – 4ª série/5º Ano do Ensino Fundamental
UF/ Município/Escola
ANO
2006
ANO
2007
ANO
2008
ANO
2009
ANO
2010
Brasil
Estado do Rio de Janeiro
28,5
35,5
27,7
36,6
23,4
36,7
23,8
42,6
25,2
33,2
Duque de Caxias 51,2 49,4 38,2 48,9 38,1
EM Delta* - 39,7 67,0 25,0 51,4 Fonte: MEC/INEP/Deed
Nota*: Em 2006, não havia turma de 5º ano.
Legenda: Em vermelho, acima da média do Brasil.
Quando comparamos, em 2010, as taxas de distorção idade-série da EM Delta e do
município de Duque Caxias em relação às taxas do estado do Rio de Janeiro, verificamos um
aumento percentual de 35,4%, e 12,9%, respectivamente. O quadro também é preocupante
quando comparamos a taxa de distorção da EM Delta com a taxa nacional, verificamos um
aumento de distorção na ordem de 51%; o cenário para a rede caxiense aponta um percentual
de 33,8% maior que a média do país. Outro aspecto crítico observado na própria EM Delta é
que as taxas de distorção idade-série entre os anos 2007-2010 são irregulares, ou seja, em
2008, verificamos que essas taxas aumentaram em 40,8%; em 2009, essas distorções
diminuem em 62,3% e, em 2010, essas distorções duplicaram.
Para melhor ilustrar essa situação no contexto da EM Delta, a diretora nos relatou que
todos os alunos com distorção idade-série estão envolvidos com o Programa Mais Escola 61
,
61
Portaria Normativa Interministerial n. 17, de 24 de abril de 2007. O Programais Mais Educação, visa
desenvolver ações, no contraturno escolar, para a melhoria do rendimento do aluno e do aproveitamento do
tempo escolar, desenvolvidas no contraturno. No propósito de reduzir evasão, reprovação e distorções de idade-
série.
Mas eles desistem muito, é uma rotatividade muito grande. A própria família
não vê importância do projeto, tira o aluno por questão boba; ele não quer
mais; aí, tira. Também trabalhar com faixa de 1516 anos é muito difícil. Para
o aluno participar do projeto, a família tem que assinar um termo e, para sair,
também. Mas a família diz – ele não quer.
(Delta D)
Arroyo (2010, p. 162) defende o direito de espaço/tempo distintos ao educando com
problema de distorção idade-série, criticando a cultura conteudista que contraria a plenitude
de jovens com 13, 14, 15 anos de idade vivenciar suas experiências de vida junto aos seus
pares iguais:
Os critérios que justificam a retenção ou repetência e a enturmação de idades
diferentes na mesma série é a suposta lógica precedente dos conteúdos: o
domínio do letramento precede todo o percurso subsequente, logo o aluno
não poderá ir para frente enquanto não dominar a lectoescrita, não poderá
passar para a próxima série se não dominar a média de conteúdos da série
precedente, independente da idade que tiver e do ciclo de desenvolvimento
humano em que estiver. [...] será enturmado com criancinhas de 6 e 7 anos,
nas primeiras séries, e ai poderá ficar por anos independente de seu tempo
humano. Violentamos seu tempo.
Como já foi abordado (na seção: 2.1), apresentamos uma pesquisa (SÁTYRO;
SOARES, 2008) que sugere enquanto política pública para a defasagem idade-série, ser
menos dispendioso aos cofres públicos diminuir de 40 para 26 alunos por sala de aula do que
aumentar uma hora a mais na sua carga hora/aula. Ocorre que, a carga horária de 4 horas
diárias (um turno) é a realidade das escolas, para os anos iniciais do ensino fundamental, da
rede municipal de Duque de Caxias e de outros municípios da Baixada Fluminense; outro fato
a considerar é a jornada diária de três turnos nessas unidades de ensino, em algumas destas
chegam até a quatro turnos. O contexto da existência de biblioteca ou sala de leitura e material
pedagógico (em uso) apontados nessa pesquisa a influir no desempenho escolar, foi
evidenciado, favoravelmente, nos relatos do pessoal da EM Delta:
A gente melhorou muito no IDEB, a escola está mais equipada62
, o professor
tem material para trabalhar. [...]. Ficamos dois anos sem recursos. A verba
só foi liberada ao final de 2008. O que não precisava de verba, fomos
realizando.
(Delta D)
A escola proporciona um suporte pedagógico adequado e diversificado.
Aqui, temos uma sala que está a nossa disposição. Assim como a sala de
informática, desde que agende, mas o trabalho é sempre junto com a
62
Vide Anexo G.
professora de informática. Usei o data show com ajuda do pessoal da
Secretaria; usei o palco, no auditório.
(Delta P)
No trabalho de observação e os relatos das entrevistas e questionários, as duas
principais queixas na EM Delta foram: a não participação do responsável do aluno e o não
cumprimento das tarefas escolares. Mas, também, identificamos pela análise desses relatos
outros dois indicativos: o tempo hora-aula (insuficiente para a demanda) e ausência de pessoal
de apoio (falta de professor). Outro aspecto igualmente tangível a nossa observação é a
infraestrutura dos prédios, ou seja, não existe dependência para atividades complementares
com aqueles alunos do ensino fundamental. Porém, o espaço físico (pátio aberto) é amplo.
Diante do exposto, cabem aqui algumas indagações: os programas de ação do PDE e
as suas respectivas políticas implementadas, materializadas no PDE-Escola, assegurarão
aquelas evidências? O que está dificultando ao Governo Federal a revisão do artigo 24, Inciso
I, da LDB n. 9394/1996 – “a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas
por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos
exames finais, quando houver”?
Na disposição de investigar mais expressões de afirmação do fortalecimento de
práticas pedagógicas educativas à implementação de políticas públicas, em decorrência dos
resultados do IDEB, em 2005, 2007 e 2009, procuramos identificar ações e intenções de
melhoria da qualidade do ensino fundamental, na subseção a seguir.
Terceiro eixo: perspectivas de melhoria da qualidade do ensino fundamental. Como já
exposto, o Governo Federal, a cada dois anos, desde 2007, utiliza o IDEB para medir a
qualidade da educação básica. Observamos que o MEC a título de iniciar as comparações dos
avanços dos IDEB observados e metas projetadas, retroage estimando um IDEB para o ano
2005, em relação ao Brasil, Estados, Distrito Federal, Municípios e escolas participantes das
avaliações ANEB (SAEB) e ANRESC (Prova Brasil). Assim, procuramos desvendar, por
meio de entrevistas/questionários, que intenções e ações foram sistematizadas na EM Delta à
luz do IDEB, considerando algumas questões:
Houve alguma dificuldade inicial, pela escola, na interpretação do documento (Plano
de Ações Articuladas) 63
? De que forma foi solucionada?
63
A este propósito, é necessário conhecermos a forma pela qual ocorreraram, à época, as instruções
determinadas pelo MEC e seu desdobramento no preenchimento dos formulários (online) para cada
estabelecimento de ensino, na figura do gestor (diretor escolar e equipe). Assim, o MEC apresenta o Roteiro do
PAR (http://www.fnde.gov.br/index.php/programas-par): A dinâmica do PAR tem três etapas: o diagnóstico da
realidade da educação e a elaboração do plano são as primeiras etapas e estão na esfera do município/estado. A
Teve sim, porque quando chegou, você tinha que preparar o plano de ação
[...] mas houve um treinamento pela SME, mas a gente deveria ter sentado
mais tempo com o professor, ser um plano minucioso. O MEC determinou
tempo. O tempo do professor do 2º segmento é curto, cada encontro foi um
grupo de professor. No segundo momento foi mais fácil – explicaram que
era uma verba do Governo Federal. Começou em 2008. Em 2009, foi mais
fácil, a gente já conhecia.
(Delta D)
Que problemas foram apontados no Plano de Ação? Que prioridade foi definida,
enquanto intenção e ação, com foco na melhoria da qualidade da aprendizagem dos alunos,
consequentemente, alcançar a meta do IDEB para o ano 2011?
Reprovação em Língua Portuguesa e Matemática, no 6º e 7º anos. Sendo que
as prioridades foram Leitura, Escrita e Matemática para os 6º e 7º anos64
.
(Delta D)
Percebemos nas respostas da diretora um empenho em se trabalhar os componentes
curriculares valorizados pelo MEC/INEP, em relação à avaliação de desempenho escolar
bienal, tendo como alvo aqueles alunos enturmados nos anos de escolaridade que
possivelmente integrarão a avaliação oficial realizada pelo Governo Federal (no caso a
avaliação externa esperada para 2011).
Um aspecto relevante aspecto salta aos nossos olhos – a crítica ao atual modelo de
prova de que o MEC/INEP se utiliza para aplicar a Prova Brasil nas escolas da rede pública,
onde as respostas às questões dessa prova são colocadas em um cartão-resposta, ou seja, um
modelo de prova desconhecido pelos alunos, porque não é rotina da escola esse tipo de
instrumento de avaliação as suas práticas de ensino. Evidenciamos que a escola parece fazer
um grande esforço para adaptar esse instrumento de avaliação nos planos de aula, buscando
modelos de provas alternativos, diversificados, para „treinarem‟ os alunos no mecanismo de
terceira etapa é a análise técnica, feita pela Secretaria de Educação Básica do ministério da Educação e pelo
FNDE. Depois da análise técnica, o município assina um termo de cooperação com o MEC, do qual constam os
programas aprovados e classificados segundo a prioridade municipal. O termo de cooperação detalhada a
participação do MEC – que pode ser com assistência técnica por um período ou pelos quatro anos do PAR e
assistência financeira. No caso da transferência de recursos, o município precisa assinar um convênio, que é
analisado para aprovação a cada ano. Dessa feita, esclarecemos que, no que ser refere à interpretação do
„documento‟ pela escola, consiste nas execução das duas primeiras etapas do PAR, em questão: a realidade da
EM Delta, objeto de nossa pesquisa, que redundou no Plano de Metas. 64
De acordo com os relatos da diretora do Departamento de Educação Básica (Secretaria de Educação de Duque
de Caxias), em 2010, a rede caxiense priorizou para atendimento das dificuldades de aprendizagem, com vistas
às avaliações externas (larga escala), os alunos das turmas de 3º e 4º anos e os de 7º e 8 anos.
associar a questão respondida ao lugar onde assinalar a resposta, supostamente, correta e,
também, minimizar o impacto no momento de acesso a esse material (Prova Brasil).
Na tentativa de identificar mais pistas do trabalho escolar para se alcançar as metas
estabelecidas pela condição de IDEB baixo, visando o aprimoramento da qualidade da
educação, mais especificamente, o ensino fundamental, levantamos os seguintes dados das
EM Delta em relação ao IDEB e à Prova Brasil com a equipe gestora (diretores e
orientadores).
Que tratamento a escola deu aos resultados de desempenho dos alunos, a partir do Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica, divulgados pelo MEC/INEP nos anos 2005, 2007 e
2009?
Houve conversa sobre o IDEB. Em 2009, não houve problema. Em 2010,
chamou-se os pais pela Direção; com o pessoal do Ensino Fundamental, 2º
segmento, foi em toda rede municipal. Houve reuniões específicas com
professores de Matemática e Língua Portuguesa. Trabalhou-se as questões
da Prova Brasil, antes houve reunião com o pessoal da SME. Orientadores
pedagógicos e professores discutiram os descritores da Prova Brasil em toda
a rede. Depois aconteceu outra reunião, na unidade escolar, com professores
específicos de Português e Matemática. Ocorreram reuniões com os pais;
objetivo, informando a situação, pedindo ajuda para os pais incentivarem a
leitura em casa. (Delta OP)
Qual o significado do instrumento de avaliação Prova Brasil?
É mais uma forma de avaliar o trabalho realizado pela Escola e o
desempenho de nossos alunos.
(Delta OP)
Analisando a primeira resposta da orientadora pedagógica da EM Delta, acerca do tratamento
dado ao IDEB, constatamos que houve envolvimento da equipe escolar em função da perspectiva dos
resultados do IDEB em 2011, com atenção particular aos descritores da Prova Brasil. Também é clara,
na segunda resposta, uma das finalidades da Prova Brasil. Mais adiante, por meio de relatos da
diretora Delta D, contatamos que algumas dessas intenções e ações se efetivaram no conjunto escolar
na busca de melhoria da qualidade do ensino fundamental.
Assim, na tentativa de revisar e refletir o significado do trabalho do orientador
pedagógico, nos baseamos em Libâneo (2008, p. 62-63) que entende ser fundamental a
presença do pedagogo escolar junto aos professores, na interpretação, na adequação do saber
teórico e o desdobramento prático em sala de aula. O autor afirma ser relevante a competência
técnica do pedagogo: “na definição de objetivos educativos, nas implicações psicológicas,
sociais, culturais no ensino, nas peculiaridades do processo de ensino e aprendizagem, na
detecção de problemas de aprendizagem entre alunos, na avaliação, no uso de técnicas e
recursos de ensino”, entre outras.
Retomamos, então, aos depoimentos da diretora Delta D com a seguinte pergunta:
como a gestão escolar administra as necessidades de aperfeiçoamento de toda equipe escolar
para melhoria de suas habilidades?
A rede municipal capacita os funcionários; quando eu trouxe os palestrantes,
os professores gostaram muito; eles gostam muito de gente de fora.
(Delta D)
Nessa direção, sondamos da orientadora Delta OP que intenções foram elencadas com
vistas à melhoria da qualidade do ensino. Ela nos respondeu com foco nas turmas de 5º ano
daquela escola:
Diversos projetos e atividades foram desenvolvidos ao longo do ano letivo,
visando à melhoria da qualidade do ensino, tais como: projeto viajando na
leitura e na escrita, apoio da Sala de Leitura com diversas atividades, grupos
de estudo.
(Delta OP)
Dando sequência à investigação, consultamos a diretora Delta D acerca das intenções
(metas) e ações que foram definidas pela EM Delta, por conta do desdobramento do Plano de
Ação (PDE-Escola) à luz dos resultados do IDEB no ano de 2009. A sua resposta nos
possibilitou identificar que as intenções (metas) foram traçadas no propósito de: promover, no
prazo de 1 ano, a formação continuada de todos os professores das disciplinas Língua
Portuguesa e Matemática das turmas de 6º e 7º ano do ensino fundamental; realizar atividades
diferenciadas, no prazo de 1 ano, como feiras de ciências, literária, festival de música e
passeio (atividades extra-classe); promover, no período de 1 ano, atividades diferenciadas por
meio de recursos tecnológicos; aumentar, no prazo de 1 ano, o percentual de aprovação de
60% para 85%, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática para os alunos do 6º e 7º
ano do ensino fundamental; executar, a cada bimestre, uma reunião de pais de alunos dos 6º e
7 anos do ensino fundamental, com baixo rendimento nas disciplinas de Língua Portuguesa e
Matemática executar, no período de 1 ano, dois encontros direcionados a cidadania e mais
outros dois voltados para a comunidade com foco na qualidade de vida.
Agora, enquanto ações foi proposto: planejar revisão de atividades dos alunos com
dificuldade de aprendizagem nos conteúdos nas disciplinas Língua Portuguesa e Matemática;
promover, em prazos determinados, estratégias com foco nos saberes cognitivos daqueles
alunos com baixo rendimento escolar, a partir de eventos intra e extra escolares (olímpiadas,
teatro, oficinas diversas) atividades esportivas (com os pais de alunos), utilização de recursos
tecnológicos; atividades musicais; capacitar 12 professores nas disciplinas Língua Portuguesa
e Matemática a partir das diretrizes dos Parâmetros Curriculares e da Proposta Pedagógica da
SME de Duque de Caxias, entre outros
Da perspectiva da unidade escolar, manifestamos interesse em conhecer de que modo
a autonomia da gestão escolar ajudou a implementar o Plano de Ação. O que foi respondido
pela diretora Delta D:
Estamos ligados à SME. Não temos muito autonomia, estamos presos.
Exemplo, não temos autonomia para liberar aluno, não temos esse tipo de
decisão. Acho que cada escola tem as suas diferenças, mas aqui, é assim.
Como no calendário que tem que terminar hoje65
, não temos autonomia de
liberar. Ficamos muito interligados; de um lado é ruim, mas por outro, é
bom, temos com quem reclamar – têm os supervisores pedagógicos e de
merenda, com presença constante (semanalmente). A verba tem autonomia,
tem o Conselho Escolar, tem um plano de ação.
(Delta D)
A autonomia escolar não é objeto de nosso estudo, mas compreendê-la na dinâmica do
estabelecimento de ensino público se faz necessário, com vistas aos mecanismos de
implementação de políticas públicas para melhoria da qualidade da educação. Nesse contexto,
Martins (2002, p. 104) afirma:
[...] questão importante a ser considerada ainda, no processo de constituição
da autonomia, é que a cultura sacralizada da organização escolar não é
completamente vulnerável ou invulnerável à normatização estatal. De certa
forma, as organizações escolares realizam uma releitura sobre as normas
oficiais, dando origem a um produto híbrido. Nesse sentido, podemos
afirmar que não bastam apenas novos e/ou maiores investimentos em larga
escala de recursos físicos e financeiros, pois há um tempo de mudança na
cultura institucional da rede de escolas e dos próprios órgãos gestores dos
sistema com todo seu ritual burocrático-normativo.
As respostas da diretora em relação à autonomia podem ser analisadas sob alguns
aspectos: a limitação do raio de ação do gestor escolar na própria rotina da escola, marcada
pela forte presença da centralização da SME, mesmo que se reconheça a competência
profissional de profissionais, que fazem a mediação entre as normas instituídas e a execução
destas pelas escolas. Por outro lado, há uma consciência crítica de que a criação dos conselhos
escolares veio dar mais transparência às ações de gestão de verba pública.
65
A Diretora estava fazendo referência ao dia 20 de dezembro (o dia da entrevista), que no calendário do ano
letivo daquele município, encerrava as atividades com os alunos nas escolas de toda a rede.
Como a escola avalia o papel da gestão escolar?
A rede exige que tenha Pedagogia em gestão escolar. A escola que não teve
um IDEB bom, os gestores foram convidados para fazerem um curso de pós-
graduação em gestão escolar, oferecido pelo MEC, na UFRJ (2008-2009).
Foi à distância, mas tinham aulas presenciais, no Fundão. [...]. O curso de
gestor me fez ver a escola, mudei a minha prática, a importância do
Conselho Escolar, os pais, a parte pedagógica. [...] Temos dificuldade em
compor a equipe, até para dobra ninguém quer.
(Delta D)
A resposta da diretora mostra reconhecimento pela formação continuada recebida, ela
faz referência que não tinha habilitação no Curso de Pedagogia (condição imposta pela SME
para o cargo de diretora escolar), o que é evidenciado pela mudança de sua prática
pedagógica, considerando os desafios do próprio cotidiano escolar.
Que dificuldades a escola encontra no seu dia a dia que comprometem a melhoria da
aprendizagem escolar? De que forma são encaradas?
A grande dificuldade é o envolvimento dos pais – eles colocam muita
responsabilidade na escola. A gente procura através de reunião, sensibilizar
esses pais que mais precisam; é que temos muita dificuldade quando vêm
aqui, chegam com pressa. Ao final do ano aparecem para saber o porquê o
filho ficou retido. A escola está perdendo a função dela [...].
(Delta D)
Diante do exposto, indagamos à OE que procedimentos a escola adota junto àqueles
alunos em situação-problema de frequência (um dos fatores de evasão escolar)?
Fazemos um levantamento das faltas a cada bimestre, chamamos a família.
Quando a falta é excessiva, mandamos para o Conselho Tutelar. Temos um
trabalho, mandamos um relatório para a SME e alguns para o Conselho
Tutelar. As faltas não são abonadas, são justificadas, a família tem
conhecimento disso. O entrosamento do trabalho é maravilhoso, me sinto
emocionada, os professores são maravilhosos, não há atrito. Há integração,
seguimos o regimento escolar do município; quanto ao trabalho do
orientador – resgatar a convivência do professor/aluno, escola/família, nosso
objetivo é cumprir o PPP, visando a qualidade do ensino.
(Delta OE)
Nessa questão buscamos cruzar as respostas da diretora com as OE/OP, e mais uma
vez, evidenciamos que a presença da família dentro da escola é tida como prerrogativa
fundamental para acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos,
consequentemente, influindo nos resultados do desempenho escolar. Da mesma forma os
relatos das orientadoras reiteram o cumprimento legal da família do aluno, conforme disposto
na LDB n. 9394/1996 e Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 66
.
Finalizamos o capítulo com algumas constatações já identificadas na literatura
revisada e pelos próprios resultados oficiais divulgados (SOARES; SÁTYRO, 2008;
FRANCO, 2007; SOARES, 2002): significativo percentual de distorção-idade série; pouca
interação escola/família; a infraestrutura do prédio inoperante à demanda das atividades
escolares, ou seja, os indicativos tempo/espaço estão aquém do necessário, impedindo a
ampliação de ações para melhoria da aprendizagem escolar, observadas nas unidades
escolares.
Lembramos que no texto da nossa primeira LDBEN n. 4024/1961 (art. 38, Inciso I,
alínea a) estabelecia uma duração mínima do período escolar de 180 dias, excluída a carga
horária destinada às avaliações (“provas e exames”). Passados 10 anos, a Lei n. 5692/1971
mantém esses 180 dias letivos (art. 11). Decorridos 25 anos, esta lei foi revogada pela
LDBEN n. 9394/1996; que altera o ano calendário escolar para 200 dias letivos (art. 24). Um
aspecto importante é assinalado no art. 34 deste dispositivo: o ensino fundamental (anos
iniciais) ser ministrado em uma jornada de quatro horas diárias, com seu aumento progressivo
de permanência na escola; já, o § 2º dispõe para um aumento progressivo, em tempo integral,
para o ensino fundamental, a critério dos sistemas de ensino. Há inúmeros estudos na
literatura educacional alertando que tal matéria, enquanto direito do cidadão e dever do
Estado, não se consubstanciou efetivamente na rede pública de ensino.
Passados quinze anos, finalmente, em relação a essa última prerrogativa, no dia 3 de
maio de 2011, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado aprova o Projeto de Lei
do Senado, n. 388 de 2007 67
que altera a redação do artigo 24 da atual LDBEN n. 9394/1996,
modificando os Incisos I, ou seja, a carga horária anual de 800 horas passa para 960 horas e, o
Inciso VI - a frequência mínima obrigatória, antes, de setenta e cinco por cento, agora, passa a
oitenta por cento68
.
Dessa feita, estimamos pela lógica matemática (parâmetro pela quatro horas diárias,
ainda vigentes) que, doravante, a carga-horária diária (ensino fundamental, anos iniciais) seja
de cinco horas, ou seja, uma hora a mais do ocorrido cerca de quinze anos da vigência da
LDBEN n. 9394/1996, até então.
66
Criado pela Lei n. 8069, de 13 de julho de 1990. 67
Parecer completo site: http://legis.senado.gov.br/mate-pdf/89059.pdf. Acesso em: 5/5/2011. 68
Capturado no site: http://www.senado.gov.br/noticias/aprovado-aumento-da-carga-horaria-para-ensino-
basico.aspx. Acesso em: 4/05/2011.
A análise dos resultados deste capítulo indicou que há evidências de políticas públicas
para a melhoria do desempenho escolar do ensino fundamental na escola investigada; que
puderam ser verificadas por meio de relatos das pessoas entrevistadas (diretora, professora e
OE e OP), acesso a documentos (relatórios, diário de classe, projeto político pedagógico,
fotografias, planilhas e planos do PAR), além do depoimento feito pela diretora de educação
básica da secretaria de educação do município de Duque de Caxias.
As intenções e ações à luz do IDEB foram constatadas pela observação do Plano de
Suporte Estratégico, que traduzia o desdobramento das metas em plano de ação, indicando: as
ações (objetivos), período (início e término), responsável (professores), resultado esperado,
indicador, custo (capital/custeio) e agente financiador (PDE). Outro instrumento que nos deu
subsídios para elucidar nosso estudo foi o Plano de Ações Financiáveis com anuência do
Conselho Escolar da EM Delta. Nesse documento estão descritos a aquisição de materiais e
contrações de profissionais com as respectivas ações decorrentes, com base nos recursos de
capital/custeio (previsto, executado e saldo a reprogramar).
A construção de ações e intenções para a melhoria do desempenho escolar nos leva à
compreensão crítica de se refletir o trabalho coletivo da escola, por meio de discussões,
engajamentos, associações, permanente qualificação profissional e tomada de decisão.
A escola, assim, se manifesta como um instrumento que corporifica e reproduz a
estrutura existente, a sistematização dos costumes, a concentração do poder da ideologia da
gestão educacional operante.
6 CONCLUSÃO
Esta pesquisa teve como objetivo geral investigar intenções e ações em uma escola
pública de ensino fundamental à luz do IDEB para melhoria da qualidade do ensino.
A argumentação desenvolvida neste trabalho, por meio do valor atribuído à revisão
crítica de estudos, pesquisas, manifestações, interessados no acompanhamento e divulgação
das políticas públicas no segmento da educação, possibilitou-nos identificar que a avaliação
da educação básica, na primeira década do século XXI, está preocupada com o aumento do
desempenho escolar, consequentemente com a melhoria da qualidade do ensino.
Por sua vez, a LDB n. 9394/1996 (art. 9º, Inciso VI) sustenta a prerrogativa da União
em “assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental,
médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de
prioridades e a melhoria da qualidade do ensino”; confirmando o art. 214 da Constituição
Federal de 1988 que determina, por meio do PNE, definições de políticas públicas, entre as
quais “melhoria da qualidade do ensino” (Inciso III).
Para monitorar a qualidade da educação básica, o Governo Federal criou, em 2007, o
IDEB que projeta metas à toda rede de ensino do país, na perspectiva do Brasil alcançar a
média 6 (seis) até o ano 2022, data comemorativa do bicentenário da Independência do Brasil.
Após dezessete anos da criação do SAEB, o MEC adota o IDEB, como um indicador
formado pelo fluxo escolar (passagem dos alunos pelas séries sem repetir, avaliado pelo
Programa Educacenso) e desempenho dos estudantes, avaliados pela ANEB, conhecida como
SAEB e pela ANRESC, identificada como Prova Brasil, nas áreas de Língua Portuguesa e
Matemática, expresso em valores de 0 a 10. Através desses valores, são projetadas metas para
o Brasil, os estados, distrito Federal e todos os 5.563 municípios do país que, em 2008,
consolidaram o Compromisso Todos pela Educação.
Os dados empíricos levantados na pesquisa de campo evidenciaram que, os anos
iniciais do ensino fundamental, na escola investigada beneficiada com o programa ação PDE-
Escola, encontra-se abaixo da média nacional em relação aos IDEB 2005, 2007 e 2009 em
1,4; 0,1 e 0,7 pontos, respectivamente. Da mesma forma, os anos finais do ensino
fundamental estão abaixo da média do país em 1,1 pontos, comparados aos IDEB 2005 e
2007 e, em 0,7 pontos, quando comparados ao IDEB 2009.
O quadro igualmente é crítico em relação às taxas de distorção idade-série, quando
confrontamos, em 2010, a média dos anos iniciais do ensino fundamental da EM Delta com a
média do Brasil, verificamos um aumento na ordem percentual de 51% para essa escola.
Após observação do contexto da pesquisa de campo, no estabelecimento de ensino
investigado, concluímos com alguns indicativos: a falta de motivação dos pais/responsáveis
no acompanhamento da frequência do aluno, bem como o não cumprimento regular de suas
tarefas escolares; alunos frequentando o 5º ano do ensino fundamental, com idade acima do
previsto (10-11 anos), caracterizando a chamada distorção idade-série. Os alunos em situação-
problema de distorção idade-série participaram do Programa Mais Educação, no horário
contraturno, segundo relatos.
Por outro lado, os resultados deste estudo sugerem que as ações para a melhoria da
qualidade do ensino, em escola pública de ensino fundamental, podem ser desenvolvidas em
situações de trabalho coletivo que sejam planejadas e especialmente direcionadas para esse
fim.
Assim, identificamos metas para a melhoria do ensino por meio do Plano de Suporte
Estratégico (desdobramento das metas no PDE-Escola, em Plano de Ação) com registros das
ações (professores à frente dos trabalhos), etapas de execução; resultados esperados a partir de
estratégias como planejamento de revisão dos conteúdos das disciplinas Língua Portuguesa e
Matemática (aulas de reforço, aulas de recuperação, atividades literárias); eventos realizados
como presença de palestrantes e oficinas realizadas, festival, teatro, cinema; salas de estudo,
gibiteca e banda musical otimizadas; produção de material didático-pedagógico com base nos
descritores da Prova Brasil, construído por uma equipe de profissionais, previamente
lecionados, da própria rede caxiense de ensino. Vale destacar que o prédio da escola oferece
espaço físico satisfatório, além de amplo pátio aberto.
Outro aspecto que ratificou as evidências de metas para a melhoria do desempenho
escolar na unidade de ensino invetigada, foi a presença do Conselho Escolar, por meio do
Plano de Ações Financiáveis, trazendo a descrição de materiais e contratações de profissionais
com as respectivas ações decorrentes, sustentado pelos recursos de capital/custeio (previsto,
executado e saldo a reprogramar).
Os dados empíricos revelaram que a escola enfrenta obstáculos, por exemplo, a
estabilidade do quadro docente (constantes pedidos de relotação), turmas com grande
quantitativo de alunos, alunos com dificuldade de deslocamento devido residir em outros
municípios, distantes do próprio município de Duque de Caxias.
A pesquisa tornou possível identificar na Resolução CNE/CEB n. 5/2010, que fixa as
Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação
Básica Pública, alguns dispositivos que se cumpridos a rigor pelas secretarias de educação,
poderão desenhar um novo quadro para a qualidade da educação básica pública, tendo em
vista o cenário do IDEB 2009, nos anos iniciais do ensino fundamental, evidenciar um
percentual de 66,6% dos entes federados abaixo da média nacional. Também acompanhado
dos anos finais com percentual de 77,7 dos entes federados abaixo da média do Brasil.
O estudo, portanto, atingiu os objetivos propostos, considerando que os resultados da
investigação trouxeram, por um lado, evidências já consolidadas na literatura educacional
nacional, como o rendimento escolar municipal ruim, significativo percentual de distorção-
idade-série; baixíssima interação escola/família; o indicativo tempo (hora/aula) formando
barreiras à ampliação de ações para melhoria da aprendizagem escolar em sala de aula; turmas
numerosas; deslocamento casa-escola de difícil acesso a maioria dos alunos. Por outro,
evidenciamos intenções e ações à luz do IDEB, para melhoria da qualidade da educação, por
meio de políticas públicas incorporadas ao Plano de Suporte Estratégico (Plano de Ação),
ratificado pelo Conselho Escolar, mediante Plano de Ações Financiáveis, desenvolvidos em
efetivo trabalho escolar coletivo, junto à equipe da escola investigada.
7 REFERÊNCIAS
AFONSO, Natércio. Avaliação e desenvolvimento organizacional da escola. Revista Meta:
Avaliação. Rio de Janeiro, Fundação Cesgranrio, v. 1, n. 2, p.150-169, mai./ago. 2009.
ALVES, Maria Tereza G. A pesquisa em Eficácia Escolar no Brasil: evidências sobre efeito
das escolas e fatores associados à eficácia escolar. In: BROOKE, Nigel; SOARES, José
Francisco (Org.). Pesquisa em eficácia escolar: origem e trajetórias. Tradução: Viamundi
Idiomas e Traduções; Cleusa Aguiar Brooke; Rômulo Monte-Alto. Belo Horizonte, ed.
UFMG, p. 482-552. 2008.
ALVES-MAZZOTTI, A. J. GEWANDSZNJDER, F. O método nas ciências naturais e
sociais. 2 ed. São Paulo, Pioneira, 139 p. 2004.
ARAÚJO. Luiz. Os fios condutores do PDE são antigos. 2007. Disponível em:
http://www.redefinanciamento.ufpr.br/araujo2.pdf. Acesso em: 13/08/2010.
ARROYO, Miguel G. Ofício de mestre: Imagens e auto-imagens. 12. ed. p. 162; 164 –
Petrópolis, RJ, Vozes, 2010.
BARÃO, G. O. D. O Plano de Desenvolvimento da Educação e o Plano Nacional de
Educação: interlocuções, ausências e silenciamentos. Artigo apresentado por ocasião do 1º
Seminário Nacional de Educação – XX Semana da Pedagogia. Novembro de 2008. Unioeste
– Cascavel/Paraná. Disponível em:
http://www.unioeste.br/cursos/cascavel/pedagogia/eventos/2008/5/Artigo%2036.pdf. Acesso
em: 03/04/2010.
BARBEIRO, Heródoto. História do Brasil. São Paulo, Ed. Moderna, 1978.
BEAUACHAMP, Jeanete; PAGEL, Sandra Denise; NASCIMENTO, Aricélia Ribeiro do.
(Org.). Ensino fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos
de idade. Brasília, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007.
BÉLAIR, Louse. A Formação para a complexidade do ofício de professor. In: PERRENOUD,
Philippe et al. (Orgs.). Formando professores profissionais. Quais estratégias/ Quais
competências? - 2 ed. rev., p. 55-65. Porto Alegre, Artmed Editora.Tradução: Fátima Murad e
Eunice Gruman, 2001.
BERNADO, Elisangela da Silva. Formação continuada de professores em escolas organizadas em
ciclos. Dissertação de Mestrado. PUC/RJ. Maio/2003.
BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação – uma introdução à teoria
e aos métodos. Porto, Portugal, Porto Editora, 1994.
BONAMINO, Alicia. Tempos de avaliação educacional: O SAEB, seus agentes, referências e
tendências. Rio de Janeiro: Quartet, 2002.
BONAMINO, Alicia; FRANCO, Creso. Avaliação e política educacional: o processo de
institucionalização do SAEB. Cadernos de Pesquisa, n. 108, p. 101-132, novembro/1999. Disponível
em: http://www.scielo.br/pdf/cp/n108/a05n108.pdf. Acesso em: 20/03/2009.
BONAMINO, Alicia Catalano. Tempos de avaliação educacional: o SAEB, seus agentes,
referências e tendências. Rio de Janeiro: Quartet, 2002.
BONNIOL, Jean-Jacques; VIAL, Michel. Modelos de Avaliação: textos fundamentais. Trad.
Cláudia Schilling. Porto Alegre, ARTMED Editora, 2001.
BRAGANÇA, INÊS F. S. Formação e profissionalização docente no Brasil: instituições,
práticas educativas e história. In: As redes de conhecimentos e as tecnologias, 2009, Rio de
Janeiro, As redes de conhecimentos e as tecnologias: os outros como legítimo outro. Rio de
janeiro: Laboratório Educação e Imagem, 2009.
BRASIL. Censo Escolar 2010: visão geral dos principais resultados. MEC/INEP: Brasília, 20
de dezembro de 2010. Disponível em:
http://www.INEP.gov.br/download/censo/2010/apresentacao_divulgacao_censo_2010.pdf.
Acesso em: 20/01/2011.
_____CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Publicado no
DOU, de 05/10/1988. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm. Acesso:
20/03/2009.
_____CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1967. Publicado
no DOU, de 20.10.1967. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao67.htm. Acesso: 20/03/2009.
_____CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (DE 16 DE
JULHO DE 1934). Publicado no DOU, de 16/07/1934. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao34.htm. Acesso: 03/03/2009.
_____CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (DE 10 DE NOVEMBRO DE
1937). Publicado no DOU, de 10/11/1937. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao37.htm. Acesso: 03/03/2009.
_____ CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (DE 18 DE SETEMBRO DE
1946). Publicado no DOU, de 19.9.1946. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao46.htm. Acesso: 20/03/2009.
____CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL ( DE 24 DE
FEVEREIRO DE 1891). Publicado no DOU, de 24.2.1891. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao91.htm. Acesso em:
03/04/2009.
_____CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DO IMPÉRIO DO BRASIL (De 25 DE março de 1824).
Registrada na Secretaria de Estado dos Negócios do Império do Brasil a fls. 17 do Liv. 4º de
Leis, Alvarás e Cartas Imperiais. Rio de Janeiro em 22 de Abril de 1824. Disponível em:
http://planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao24.htm. Acesso: 03/03/2009.
_____ Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394, de 20 de dezembro de 1996.
Publicado no DOU, de 23.12.1996. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm. Acesso em: 23/02/2009.
_____Lei n. 4024, DE 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Publicado no DOU, de 27.12.1961. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4024.htm. Acesso em: 13/04/2009.
_____Lei n. 5692, de 11 de agosto de 1971. Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º
graus., e dá outras providências. DOU, de 12.8.1971. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5692.htms. Acesso em: 06/02/2009.
_____Ministério da Educação. PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO: razões,
princípios e programas. Brasília, 2007a. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/index.htm. Acesso em: 10/02/2009.
_____ PDE. PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO: razões, princípios e
programas. P. 6; 7 MEC, 2009a. Disponível em:
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me004370.pdf. Acesso em: 20/12/2010.
_____ Ministério da Educação. PDE/PROVA BRASIL: Plano de Desenvolvimento da
Educação 2009. Brasília: MEC, SEB; INEP, 2009b.
Disponível em: http://www.oei.es/salactsi/provabrasil_matriz.pdf. Acesso em: 20/03/2009.
_____ Ministério da Educação. PDE/SAEB: Plano de Desenvolvimento da Educação 2011.
Brasília: MEC, SEB; INEP, 2011. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf. Acesso em: 14/06/2011.
_____ Lei n. 10172, de 9 de janeiro de 2001. PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (PNE)
– Subsídios para a Elaboração dos Planos Estaduais e Municipais de Educação. 124 p.
Brasília-DF, 2001. Disponível em: http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=pt-
BR&q=cache:2q2qB- 9ofYUJ:http://www.fnde.gov.br/index.php/resolucoes-anteriores/1223-
planonacionaleducacao/download+subs%C3%ADdios+para+o+plano+nacional+de+educa%
C3%A7%C3%A3o+2001&ct=clnk. Acesso em: 08/04/2009.
Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. Publicado no DOU, de 10 de
janeiro de 2001. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10172.htm. Acesso em: 02/2009.
____Decreto n. 6094, de dia 24 de abril de 2007. Dispõe sobre a implementação do Plano
de Metas Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de colaboração
com Municípios, Distrito Federal e Estados, e a participação das famílias e da comunidade,
mediante programas e ações de assistência técnica e financeira, visando a mobilização social
pela melhoria da qualidade da educação básica. 2007b
_____ Lei n. 5540, de 28 de novembro de 1968. Fixa normas de organização e funcionamento
do ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá outras providências. Publicação:
Diário Oficial da União de 29/11/68.
_____ Lei n. 11274, de 6 de fevereiro de 2006. Amplia o ensino fundamental de 8 para anos 9 anos,
com matrícula obrigatória à população a partir de 6 anos de idade e, obriga o Distrito Federal, estados,
municípios, e supletivamente, a União, à oferta de matrícula a partir da faixa etária de 6 anos para o
ensino fundamental, respectivamente. Artigos alterados: 26-A e 79-B (novos). Publicado no DOU,
de 7 de fevereiro de 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2006/Lei/L11274.htm. Acesso em: 06/02/2009.
_____ Decreto n. 5773, de 9 de maio de 2006. Regulamenta as obrigações da União e, funções de
regulação, supervisão e avaliação da Educação Superior, respectivamente. Artigos alterados 9º, 44-46,
52-54 e 88.
_____ Lei n. 11114, de 16 de maio de 2005. Altera os Arts. 6o, 30, 32 e 87 da Lei n
o 9.394, de
20 de dezembro de 1996, com o objetivo de tornar obrigatório o início do ensino fundamental
aos seis anos de idade. Publicado no DOU, de 17 de maio de 2005.
_____Lei n. 10709/2003, de 31de julho de 2003. Alteração, Lei de Diretrizes e Bases da
Educação. Nacional, responsabilidade, estados, municípios, garantia, transporte escolar,
estudante. Publicado no DOU, de 1º de janeiro de 2003.
_____ Lei n. 11.330, de 25 de julho de 2005. Dever do distrito Federal, estados, municípios, e
letivamente, a União na oferta de matrícula a partir da faixa etária de 6 anos para o ensino fundamental Alteração, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Artigos alterados 87, § 3º.
_____ Lei n. 10287, de 20 de setembro de 2001. Dever dos estabelecimentos de ensino de notificar ao
Conselho Tutelar, juiz da comarca, representante do Ministério Público, relação nominal de alunos
com índice de faltas acima de cinquenta por cento.
_____ Lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003. “Obriga o ensino sobre História e Cultura Afro-
Brasileira e, oficializa o calendário escolar - 20 de novembro” - Dia Nacional da Consciência Negra.
Alteração, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Artigos alterados: 26-A e 79-B.
Publicado no DOU, de 10 de janeiro de 2003
_____ Lei n. 9424, DE 24 de dezembro de 1996. Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, na
forma prevista no art. 60, § 7º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá
outras providências. Publicado no DOU, de 26 de dezembro de1996.
_____Lei n. 11494, de 20 de Junho de 2007. Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -
FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; altera a
Lei n. 10.195, de 14 de fevereiro de 2001; revoga dispositivos das Leis n. 9.424, de 24 de
dezembro de 1996, 10.880, de 9 de junho de 2004, e 10.845, de 5 de março de 2004; e dá
outras providências. Publicado no DOU, de 21.6.2007 e retificado no DOU, de 22.6.2007.
_____ Lei n. 11738, de 16 de Julho de 2008. Regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput
do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial
profissional nacional para os profissionais do magistério. Publicado no DOU, de 17.7.2008.
____ Decreto n. 5622, de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta a educação a distância como
modalidade educacional e dispõe itens sobre: freqüência, acesso, oferta, organização, avaliação,
integração entre os sistemas de ensino e credenciamento. Alteração, Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. Artigos alterados: 8º e 80. Publicado no DOU, de 20.12.2005.
_____Decreto n. 5514, de 23 de julho de 2004. Regulamenta a educação profissional, técnica
ou tecnológica. Alteração, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Artigos alterados:
36, § 2º e 39-42. Publicado no DOU, de 26 de julho de 2004.
____Emenda Constitucional n.º 53/06, criou o FUNDEB – Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -
aprovada em 06 de dezembro de 2006. Publicado no DOU, de 9 de março de 2006.
_____Decreto n. 5773, de 9 de maio de 2006. Regulamenta as obrigações da União e, funções
de regulação, supervisão e avaliação da Educação Superior, respectivamente. 9º, 44-46, 52-54
e 88. Publicado no DOU, de 10 de maio de 2006
_____Portaria Normativa n. 27, de 21 de junho de 2007. Institui o Plano de Desenvolvimento
da Escola – PDE-Escola. Publicado no DOU, de 22 de junho de 2007.
_____Resolução/CD/FNDE/n. 46, de 31 de outubro de 2008. Altera a Resolução D/FNDE/N°
29 de 20 de junho de 2007, que estabelece os critérios, os parâmetros e os procedimentos para
operacionalização da assistência financeira suplementar e voluntária a projetos educacionais,
no âmbito do Compromisso Todos pela Educação. DOU n. 214, de 4 de novembro de 2008,
SEÇÃO 1, p. 16.
____Relatório de monitoramento de educação para todos Brasil 2008: educação para
todos em 2015; alcançaremos a meta? Tradução: Guilherme T. Freitas e Claudia David.
p.32 – Brasília : UNESCO, 2008. Disponível em:
http://unesco.unesco.org/imagens/0015/001592/159294por.pdf. Acesso em: 20/03/2009.
_____Mapa do Analfabetismo no Brasil. p. 6. l MEC/INEP. s/d. Disponível em:
http://www.inep.gov.br/estatisticas/analfabetismo/. Acesso em: 20/09/2010.
_____ SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação. Disponível
em: http://simec.mec.gov.br/ Acesso em: 29/06/2010.
_____Lei n. 8069, de 13 de julho de 1990. Dispões sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente. Publicado no DOU, de 16 de julho de 1990.
_____ Decreto n. 6495, de 30 de junho de 2008. Institui o Programa de Extensão
Universitária – PROEXT. Publicado no DOU, de 1º de julho de 2008.
_____ Lei n. 10861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior - SINAES, com o objetivo de assegurar processo nacional de avaliação
das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico
de seus estudantes, nos termos do Art. 9º, VI, VIII e IX, da Lei n. 9394, de 20 de dezembro de
1996. Publicado no DOU, de 15 de abril de 2004.
_____ Portaria Normativa n. 38, de 12 de dezembro de 2007, Ministério da Educação.
Dispões sobre o programa de Bolsa Institucional à Docência - PIBID. Publicado no DOU, de
12 de dezembro de 2007.
_____ Emenda Constitucional n. 59, de 11 de novembro de 2009. Publicado no DOU, de 12
de novembro de/2009.
_____ Lei n. 11738, de 16 de Julho de 2008. Regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput
do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial
profissional do magistério da educação básica. Publicado no DOU, de 17 de julho de 2008.
_____ Resolução n. 5, de 3 de agosto de 2010. Fixa as Diretrizes Nacionais para os Planos de
Carreira e Remuneração dos Funcionários da Educação Básica pública. Publicado no DOU,
Brasília, 4 de agosto de 2010, seção I, p. 15.
_____ Lei n. 11502, de 11 de julho de 2007. Modifica as competências e a estrutura
organizacional da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –
CAPES.
_____ Ministério da Educação. PDE/SAEB – Plano de Desenvolvimento da Educação.
Avaliação da Educação Básica, matrizes de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC,
SEB; INEP, 2011. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf.
Acesso em: 09/06/2011.
_____ Resolução CNE/CP n. 1, de 15 de maio de 2006. Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Curso de Graduação em pedagógica, Licenciatura. Publicado no DOU, de 16
de maio de 2006, Seção 1, p. 11.
BROOKE, Nigel; SOARES, José Francisco (Orgs.). Pesquisa em eficácia escolar: origem e
trajetórias. Tradução: Viamundi Idiomas e Traduções; Cleusa Aguiar Brooke; Rômulo Monte-
Alto. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.
BROOKE, Nigel. O futuro das políticas de responsabilização educacional no Brasil.
Cadernos de Pesquisa, v. 36, n. 128, p. 377-401, maio/ago. 2006. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/cp/v36n128/v36n128a06.pdf. Acesso em: 20/03/2009.
CAMARGO, R. B.; GUIMARÃES, J. L. e PINTO, J.M.R. Sobre o Financiamento no Plano
de Desenvolvimento da Educação. Cadernos de pesquisa, v. 38, n. 135, p. 817 – 839, set/dez.
2008
CAPES, de que trata a Lei n. 8405, de 9 de janeiro de 1992, e altera as Leis n. 8405, de 9 de
janeiro de 1992, e 11273, de 6 de fevereiro de 2006, que autoriza a concessão de bolsas de
estudo e pesquisa de participantes de programas de formação inicial e continuidade de
professores para a educação básica.
CARTILHA DO FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação - Principais Mudanças em Relação ao
FUNDEF – Tribunal de Contas - Coordenadoria de Controle Externo - Assessoria Técnica -
Recife/ PE, março de 2007.
CARVALHO, Elma J. G.; SFORNI, Marta S. F. O PDE traz novidade? Artigo do Jornal n.
67 (online) junho de 2007. Universidade Estadual de Maringá (UEM) Disponível em:
http://www.jornal.uem.br/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=321:o-pde-
traz-novidades&catid=55:jornal-67-junho-de-2007&Itemid=2. Acesso em: 03/05/2010.
CASTRO, Maria Helena. Sistemas de Avaliação da Educação no Brasil: avanços e novos
desafios. São Paulo Perspec., São Paulo, v. 23, n. 1, p. 5-18, jan/.jun. 2009. Disponível em:
http://www.seade.gov.br/produtos/spp/v23n01/v23n01_01.pdf. Acesso em: 22/06/2011
CERVI, Réjane de Medeiros. Padrão estrutural do sistema de ensino no Brasil - Curitiba:
Editora Ibepx, 2008.
COELHO, Maria I. Mattos. Vinte anos de avaliação da educação básica no Brasil:
aprendizagens e desafios. In: Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v. 16, n. 59, p.
229-258, abr./jun. 2008.
CONAE 2010. Projeto de lei para aprovação do Plano Nacional de Educação decênio 2011-
2020. CONAE (Conferência Nacional de Educação) 2010. Brasília, 28 de Março a 01 de
Abril. Disponível em: http://conae.mec.gov.br/. Acesso em: 02/04/2011.
CONTRERAS, Jose. A autonomia de professores. Tradução de Sandra Trabucco Valenzuela.
p. 97. São Paulo, Cortez Editora, 2002.
CUNHA, Luiz Antônio. Educação, Estado e Democracia no Brasil. 5. ed. São Paulo: Cortez;
Niterói, RJ: Ed. da Universidade Federal Fluminense; Brasília, DF: FLACSO do Brasil, 2005.
CURY, Carlos Roberto Jamil. A EDUCAÇÃO BÁSICA COMO DIREITO. Cadernos de
Pesquisa, v. 38, n. 134, p. 293 - 303, maio/ago. 2008a. Disponível em:
http://www.smec.salvador.ba.gov.br/site/documentos/espaco-virtual/espaco-
escola/apoio/educacao-basica-como-direito.pdf. Acesso em: 10/10/2008.
_____ Sistema Nacional de Educação: Desafio para uma educação igualitária e federativa.
Educ. Soc., Campinas, vol. 29, n. 105, p. 1187 - 1209, set./dez. 2008b.
Disponível em: http://www.cedes.unicamp.br. Acesso em: 22/12/2009.
_____ A educação escolar, a exclusão e seus destinatários. Educação em Revista: Belo
Horizonte, n. 48, p. 205 - 222, dez. 2008c
_____Impacto sobre as dimensões de acesso e qualidade. In: GRACINDO, Mariângela
(Coord.). O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) São Paulo: Ação Educativa - (em
Questão), v. 4. 2007a.
_____Estado e Políticas de Financiamento em Educação. Educ. Soc., Campinas, vol. 28, n.
100 - Especial, p. 831-855, out. 2007b.
Disponível em: http://www.cedes.unicamp.br. Acesso em:
_____Políticas da educação: um convite ao tema. In: FÁVERO, Osmar; SEMERARO,
Giovanni (Org.) et. al. Democracia e Construção do Público no Pensamento Educacional
Brasileiro. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, p. 147-162, 2003.
_____O Plano Nacional de Educação: duas formulações. Cadernos de Pesquisa, n. 104, julho
de 1998, Fundação Carlos Chagas, São Paulo, 1998.
DENZIN, N. K; LINCOLN, Y. S. (Orgs.). O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e
abordagens. Porto alegre, RS, Artmed, 2006.
Discurso do Ministro da educação Fernando Haddad. Lançamento do PDE, Ministério da
Educação, Brasília, 2007. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12238%3Aveja-o-
que-disse-o-ministro-haddad-no-lancamento-do-pde&catid=234%3Amaterias&Itemid=380.
Acesso em: 20/04/2009.
DOURADO, Luiz Fernando. Plano Nacional de Educação: avaliações e retomada do
protagonismo da sociedade civil organizada na luta pela educação. In: FERREIRA Naura S.
Carapeto (Org.). Políticas públicas e gestão da educação: polêmicas, fundamentos e análises.
Brasília: Líber Livro Editora, 2006.
_____Políticas e Gestão da Educação Básica no Brasil: limites e perspectivas. Educ. Soc.,
Campinas, vol. 28, n. 100 - Especial, p. 921-946, out. 2007 921
Disponível em: http://www.cedes.unicamp.br. Acesso em: 26/03/2009.
ESTEBAN, Maria Teresa (Org.) et. al. Avaliação: uma prática em busca de novos sentidos. 5.
ed. – Rio de Janeiro, DP&A, 2003.
EVANGELISTA, Olinda; MORAES, Maria Célia M.; SHIROMA, Eneida Oto. Política
educacional. 3. ed. Rio de janeiro: DP&A, 2004.
FERNANDES, Reynaldo. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).
MEC/INEP. Brasília-DF. 2007a. Disponível em:
http://www.odetemf.org.br/curriculo/ideb_indice_de_desenvolvimento_da_educacao_basica.
Pdf. Acesso em: 20/04/2009.
_____IDEB: monitoramento objetivo da qualidade dos sistemas a partir da combinação entre
fluxo e aprendizagem escolar. In: GRACINDO, Mariângela (Coord.). O Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE) São Paulo: Ação Educativa - (em Questão), v. 4.
2007b.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da Língua Portuguesa. 2. ed. Rio
de Janeiro, Ed. Nova Fronteira S. A. 1986.
FIRME, Tereza Penna. Avaliação: Tendências e Tendenciosidades. Ensaio: Ava. Pol. Pub.
Educ. Rio de Janeiro, v. 1, n. 2, p. 5-12, jan/mar. 1994
FRANCO, Creso; ALVES, Fátima; BONAMINO, Alicia. Qualidade do ensino fundamental:
políticas, suas possibilidades, seus limites. Educ. Soc., Campinas, vol. 28, n. 100 - Especial, p.
989-1014, out. 2007. Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br. Acesso em: 03/2009.
FRANCO, Creso et al. Qualidade e equidade em educação: reconsiderando o significado de
“fatores intra-escolares”. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v.15, n.55, p. 277-
298, abr./jun. 2007. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v15n55/a07v1555.pdf.
Acesso em: 03/2009.
_____O SAEB - Sistema de Avaliação da Educação Básica: potencialidades, problemas e
desafios Revista Brasileira de Educação. n. 17, p. 127-133, maio/jun/Jul/ago 200.
http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital/RBDE17/RBDE17_11_ESPACO_ABERTO. pdf.
_____Ciclos e letramento na fase inicial do ensino fundamental. Revista Brasileira de
Educação, n. 25, jan/fev/mar/abr. 2004. Disponível em:
http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital/RBDE25/RBDE25_05_CRESO_FRANCO.pdf.
Acesso em: 03/2009.
FRANCO, Creso; MANDARINO, Mônica e ORTIGÃO, Maria Isabel. Projeto pedagógico e
os resultados escolares. In: Pesquisa e planejamento econômico. p. 468 | ppe | v.32 | n.3 | dez
2002.
FREIRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala. 19. ed. 572 p. Rio de Janeiro: José Olympio,
1978.
FREIRE, Paulo. Não há docência sem discência. In:_____. Pedagogia da autonomia: saberes
necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, (Coleção Leitura), 30. ed. p. 21-45,
2004
_____ Pedagogia do oprimido, 11 ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1982.
FREITAG, Barbara. Escola, Estado e Sociedade. 7. ed. rev. – São Paulo, Centauro, 2005.
FREITAS, Dirce Nei Teixeira. Ação reguladora da União e qualidade do ensino obrigatório
(Brasil, 1988-2007). Educar, Curitiba, n. 31, p. 33–51, 2008. Editora UFPR 33. Disponível
em: http://www.scielo.br/pdf/er/n31/n31a04.pdf. Acesso em: 26/03/2009.
FRIGOTTO, Gaudêncio. Os Delírios da Razão: crise do capital e metamorfose conceitual no
campo educacional. In: GENTILI, Pablo (Org.). Pedagogia da exclusão: crítica ao
neoliberalismo em educação. 11. ed. p. 77-108. Petrópoli, Editora Vozes, 2004.
GATTI, Bernardete. A. A construção da pesquisa em educação no Brasil. Brasília, Plano,
2002.
_____ O RENDIMENTO ESCOLAR EM DISTINTOS SETORES DA SOCIEDADE. Trabalho
apresentado no Seminário Comparativo sobre Rendimento Escolar, realizado na Universidade Católica
de Córdoba (Argentina), entre 22 a 25 de março de 1993. Disponível em:
http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/eae/arquivos/1153/1153.pdf. Acesso em:
13/05/2011.
_____Avaliação Educacional no Brasil: pontuando uma história de ações. EccoS Rev. Cient.,
UNINOVE, São Paulo, n. 1, v. 4, p. 17-41, 2002.
GHEDIN, Evandro; PIMENTA, Selma G. (Orgs.). Professor reflexivo: da alienação da
técnica à autonomia da crítica. GHEDIN et al. In: Professor reflexivo no Brasil: gênese e
crítica de um conceito. 5. ed. p. 129-150. São Paulo, Cortez Editora, 2008.
GONDRA. José G.; MAGALDI, Ana Maria. A reorganização do campo educacional no
Brasil: manifestações, manifestos e manifestantes. Rio de Janeiro: 7 Letras, p. 148; 149. 2003.
GRACINDO, Regina Vinhaes. Sistemas municipais de ensino: limites e possibilidades. In:
BRZEZINSKI, Iria (Org.). et. al. LDB dez anos depois: reinterpretação sob diversos olhares.
São Paulo: Cortez, 2008.
HADJI, Charles. A avaliação desmistificada. Tradução Patrícia C. Ramos. – Porto Alegre:
ARTMED Editora., p. 20. 2001.
HAYEK, Friedrich. O planeamento e o Estado de direito. In:_____. O Caminho para a
Servidão. Edições 70, LDA, p. 103-119. Lisboa, Portugal. 2009. Tradução Marcelino Amaral.
Revisão Luis Abel Ferreira.
HÖFLING, Eloisa de Mattos. Estado e políticas (públicas) Sociais. Cadernos Cedes, ano
XXI, n. 55, p. 30-41, novembro/2001. Disponível em:
HOFFMANN, Jussara. Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-escola à
universidade. Porto Alegre: Mediação, 2000.
HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. 2. ed. Porto Alegre:
Mediação, 2001.
HORTA-NETO. Um olhar retrospectivo sobre a avaliação externa no Brasil: das primeiras
medições em educação até o SAEB de 2005. Revista Iberoamericana de Educación (ISSN:
1681-5653), n. 42/5, p. 1-12, 25 de abril de 2007. Disponível em:
http://www.rieoei.org/1533.htm. Acesso em: 24/06/2011.
HYPOLITO, Álvaro M; IVO, Andressa A. O Plano de Desenvolvimento da Educação:
uma analise no contexto escolar... In: 32º reunião anual da ANPED, 2009, Caxambú.
Sociedade, cultura e educação: novas regulações? Rio de Janeiro: Anped, 2009. p. 1-15.
INDICADORES DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO/Ação Educativa, UNICEF, PNUD e
INEP-MEC (Coord.). São Paulo, Ação Educativa, 2004. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_indqua.pdf. Acesso em: 20/06/2011.
INEP. Sinopses Estatísticas. 2008 - Sinopses do Professor. Disponível em:
http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse. Acesso em: 13/06/2011.
IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. PNAD 2009 - Primeiras análises: Situação
da educação brasileira - avanços e problemas – n. 66, p. 13; 14 Comunicados do Ipea,18 de
novembro de 2010.
JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário Básico de Filosofia. 5. ed. Rio de
Janeiro: ZAHAR, 2008
KLEIN, Ruben. Como está a educação no Brasil? O que fazer? In: Ensaio: aval. pol. públ.
Educ., Rio de Janeiro, v. 14, n. 51, p. 139-172, abr./jun. 2006.
KLEIN, Ruben; FONTANIVE, Nilma. Alguns indicadores educacionais de qualidade no
Brasil de hoje. São Paulo Perspec., São Paulo, v. 23, n. 1, p. 19-28, jan./jun. 2009. Disponível
em: http://www.seade.gov.br/produtos/spp/v23n01/v23n01_02.pdf . Acesso em: 23/06/2011.
_____Avaliação em larga escala: uma proposta inovadora. Em aberto, Brasília, ano 15, n. 66,
abr./jun. 1995. Disponível em:
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me000710.pdf. Acesso em 22/06/2011.
LEE, Valerie E. A necessidade dos dados longitudinais na identificação do efeito-escola. R.
bras. Est. Pedag., Brasília. v. 19, n. 229, p. 471-480, set./dez. 2010. Disponível em:
http://www.rbep.inep.gov.br/index.php/RBEP/article/viewFile/1797/1371. Acesso em:
23/06/2011.
LOCKE, Jonh. Os Pensadores. 3. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983.
LIBÂNEO, José Carlos. Que destino os educadores darão à Pedagogia? In:____. Pedagogia e
pedagogos, para quê? 10. ed. p. 43-68. São Paulo: Cortes, 2008.
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação Educacional Escolar: para além do autoritarismo. In:
_____Avaliação da aprendizagem escolar. 7. ed., p. 27-47. – São Paulo: Cortez, 1998.
LÜDKE, M. e ANDRÉ. M.E.D. Métodos de coleta de dado: observação, entrevista e análise
documental. In:______Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. p. 25-44. São Paulo:
EPU, 1986.
MAINARDES, Jefferson. A Promoção automática em questão: argumentos, implicações e
possibilidades. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos/INEP Brasília, v. 79, n. 192, p. 16-
29, maio/ago. 1998. Disponível em:
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me0000320.pdf. Acesso em: 20/08/2010.
_____A organização da Escolaridade em Ciclos: Ainda um Desafio para os Sistemas de
Ensino. In: FRANCO, Creso. (Org.). Avaliação, ciclos e promoção na educação. p. 35-54.
Porto Alegre, ArtMed, 2001.
MARTINS, Ângela Maria. Autonomia e/ou descentralização? A (ex)tensão do tema na
agenda das políticas educacionais recentes. In: _____Autonomia da Escola a (ex)tensão do
tema nas políticas públicas.São Paulo, Cortez, p. 89-132, 2002
MATTOS, Maria J. V. Reformas, Mudanças e Inovações Educacionais e o Papel do Estado:
Dilemas para melhoria da qualidade do ensino. DOXO vol. 1, n. 2, p. 2. 2006.
MAYER, Frederick. História do Pensamento Educacional. ZAHAR EDITORES: Rio de
Janeiro. 667 p. Tradução de Helena Maria Camacho. 1976.
MELLO, Guimar Namo et. al. Ensino de 1º grau: as estratégias da transição democrática. In:
Educação e Transição Democrática. São Paulo, Cortez, 5. ed. p. 13-43, 1987.
NEVES, Carmen M. C. Autonomia da escola pública: um enfoque operacional. In: VEIGA,
Ilma Passos A. Veiga. (Org.). Projeto político-pedagógico: uma construção possível.
Campinas, SP, Papirus, 14. ed. p. 2002.
NÓVOA, António (Org.). Os professores e as histórias da sua vida. In. NÓVOA, A. et al.
Vidas de Professores. 2. ed. p. 16. Tradução: Maria dos Anjos Caseiro, Manuel Figueiredo
Ferreira. Porto Editor: Portugal, 2007.
OLIVEIRA, Raimundo Portela. Qualidade com garantia de respeito às diversidades e
necessidades de aprendizagem. In: GRACINDO, Mariângela (Coord.). O Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE) São Paulo: Ação Educativa, p. 32-34 - (Em Questão),
v. 4. 2007.
OLIVEIRA, Raimundo Portela; ARAUJO, Gilda Cardoso. Qualidade do ensino: uma nova
dimensão da luta pelo direito à educação. Revista Brasileira de Educação, n. 28, p. 11; 12.
Jan/Fev/Mar/Abr 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n28/a02n28.pdf
PERONI, Vera. Breves considerações sobre a redefinição do papel do Estado. In: ____.
Política Educacional e papel do Estado: no Brasil dos anos 1990. São Paulo, Xamã, p. 21-71,
2003.
PERRENOUD, Philippe. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho.
In:____. Dez novas competências para ensinar. Tradução: Patrícia Chittoni Ramos. p. 67-77,
Porto Alegre, ARTMED Editora, 2000.
PESTANA, Maria Inês. O sistema de avaliação brasileiro. R. bras. Est. Pedag., Brasília, v.
79, n. 191, p. 65-73, jan./abr. 1998. Disponível em:
http://www.rbep.inep.gov.br/index.php/RBEP/article/viewFile/231/232. Acesso em:
20/03/2009.
PINTO, José Marcelino. O financiamento das ações propostas in: GRACINDO, Mariângela
(Coord.). O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). São Paulo, Ação Educativa -
(Em Questão), v. 4, p. 16-18, 2007
PLANO DE AÇÕES FINANCIÁVEIS DO PDE – ESCOLA. - PDE/FNDE/MEC. Disponível
em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/paf_pde_esc.pdf. Acesso em: mai/2010.
REID, Miriam. Evasão Escolar – Vamos mudar essa história. Texto da lei n. 10287, de 20 de
setembro de 2001 que combate a Evasão Escolar. Câmara dos Deputados. Centro de
Documentação e Informação. Coordenação de Publicações: Brasília – 2002.
Relatório de monitoramento de educação para todos Brasil 2008: educação para todos em
2015; alcançaremos a meta? – Brasília: UNESCO, p. 9, 2008. Tradução: Guilherme Teixeira
de Freitas e Claudia Davi.
RIBEIRO, Sérgio Costa. A pedagogia da repetência. Estud. av. [online]. 1991, vol.5, n.12, pp.
07-21. ISSN 0103-4014. doi: 10.1590/S0103-40141991000200002. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141991000200002. Acesso
em: 02/04/2011.
RIZZINI, et al. Métodos e técnicas de coletas de dados. In:______Pesquisando – guia de
metodologia de pesquisa para programas sociais. Rio de Janeiro: Ed. Universidade Santa
Úrsula, 1999.
ROMÃO, José Eustáquio. Avaliação e Ideologia. In:_____. Avaliação dialógica: desafios e
perspectivas. 2. ed. São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire – Guia da Escola cidadã; v. 2. p.
43-51, 1999.
SAMMONS, Pam. As características-chave das escolas eficazes. In: BROOKE, Nigel;
SOARES, José Francisco (Org.). Pesquisa em eficácia escolar: origem e trajetórias.
Tradução: Viamundi Idiomas e Traduções; Cleusa Aguiar Brooke; Rômulo Monte-Alto. Belo
Horizonte: ed. UFMG, p. 343-344, 2008.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 2. ed. São Paulo, Cortez,
2004.
SAVIANI, Dermeval. Escola e Democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze
teses sobre educação e política. 20. ed. São Paulo, Cortez Editora, 1988.
_____Sistemas de ensino e planos de educação: o âmbito dos municípios.
Educação & Sociedade, ano XX, n. 69, p. 119-136, Dezembro/1999.
_____ O legado educacional do regime militar. Cad. CEDES [online]. 2008, vol.28, n.76, pp.
291-312. ISSN 0101-3262. doi: 10.1590/S0101-32622008000300002.
_____ O Plano de Desenvolvimento da Educação: análise do projeto do MEC.
Educ. Soc., Campinas, vol. 28, n. 100 - Especial, p. 1231-1255, out. 2007. Disponível em:
http://www.cedes.unicamp.br. Acesso em: 20/04/2010.
_____PERCORRENDO CAMINHOS NA EDUCAÇÃO. Educ. Soc., Campinas, vol. 23, n. 81,
p. 273-290, dez. 2002. Disponível em http://www.cedes.unicamp.br
_____ SISTEMA DE EDUCAÇÃO: SUBSÍDIOS PARA A CONFERÊNCIA NACIONAL
DE EDUCAÇÃO. In: Programa de Formação da CNTE / APP-Sindicato / UFPR - Um novo
conceito de atuação sindical Fascículo 4 - O Impacto das Propostas dos Movimentos Sindicais
e Sociais na Conferência Nacional de Educação (CONAE 2010), p. 43;44 - Novembro / 2009.
Disponível em: http://www.appsindicato.org.br. Acesso em: 14/03/2010.
_____Da Nova LDB ao Novo Plano Nacional de Educação: Por Uma Outra Política
Educacional. 5. ed. p. 74-75 – Campinas, SP: Autores Associados (Coleção educação
contemporânea), 2004a.
_____A escola pública brasileira no longo século XX (1890-2001). Trabalho apresentado no
III Congresso Brasileiro da História da Educação. Curitiba, 2004b.
SILVA, Maria do Pilar L. A. Escola Pública de Qualidade. In: Revista Aprendizagem: a
revista da prática pedagógica. Entrevista. p. 24-27, Ano 2, n. 5, mar./abr., 2008.
SOARES, José Francisco (Coord.). Escola eficaz: um estudo de caso em três escolas públicas
de ensino do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: GAME/FAE/UFMG, 2002.
SOARES, Sergei; SÁTYRO, Natália O Impacto da Infra-Estrutura Escolar na Taxa de
Distorção Idade-Série das Escolas Brasileiras de Ensino Fundamental – 1998 a 2005. Brasília-
DF. MEC/INEP, 2008. Disponível em:
http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/publicacoes/tds/td_1338.pdf. Acesso em: 18/04/2010.
SOUSA, Sandra M. Zákia L. 40 Anos de Contribuição à Avaliação Educacional. Estudos em
Avaliação Educacional, v. 16, n. 31, p. 7-36, jan/jun. 2005. Disponível em:
http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/eae/arquivos/1220/1220.pdf. Acesso em:
20/03/2009
_____Possíveis impactos das políticas de avaliação no currículo escolar. Cadernos de
Pesquisa, São Paulo, n.119, p.175-190, jul. 2003. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/es/v20n69/a06v2069.pdf. Acesso em: 20/04/2009.
SOUZA, Donaldo Bello de; FARIA, Lia C. M. (Orgs.). O processo de construção da
Educação Municipal pós-LDB 9394/96: políticas de financiamento e gestão. In: SOUZA,
Donaldo Bello de; FARIA, Lia C. M. de. et al. Desafios da Educação Municipal. Rio de
Janeiro: DP&A, p. 45-84, 2003.
SOUZA, Alberto de Mello. A Relevância dos Indicadores Educacionais para a Educação
Básica: informação e decisões. Meta: Avaliação. Rio de Janeiro, v. 2, n. 5, p. 153-179,
mai./ago. 2010
SOUZA. Paulo N. Pereira de; SILVA, Eurides Brito da. Como entender a aplicar a nova LDB
(Lei n. 9394/96). Ed. Pioneira: São Paulo, 1997.
SOUZA. Sandra Z. L.; OLIVEIRA, Romualdo P. POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO DA
EDUCAÇÃO E QUASE MERCADO NO BRASIL. Educ. Soc., Campinas, vol. 24, n. 84, p.
873-895, setembro 2003. Acesso em: 22/12/2010. Disponível em: http://www.cedes.unicamp.
Acesso em: 12/04/2010.
Subsídios ao Ministério Público para acompanhamento do FUNDEB – Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.
2008. Disponível em:
http://www.mp.rs.gov.br/areas/infancia/arquivos/fundeb_subsidios_mp.pdf. Acesso em:
02/06/2011.
TEIXEIRA, Maria Cristina. O DIREITO À EDUCAÇÃO NAS CONSTITUIÇÕES
BRASILEIRAS. Revista do Curso de Direito, vol. 5. n. 5, p. 161, 2008. Disponível em:
https://www.metodista.br/revistas/revistas-
ims/index.php/RFD/search/authors/view?firstName=Maria&middleName=Cristina&lastNam
e=Teixeira&affiliation=&country=BR. Acesso: 20/10/2010
VALENTE, Ivan. Plano Nacional de Educação. Rio de Janeiro: DP&A, p. 9-44, 2001.
VALENTE, Ivan; ROMANO, Roberto. PNE: PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO OU
CARTA DE INTENÇÃO? Educ. Soc., Campinas. Vol. 23, n. 80, setembro/2002, p. 96-107.
Disponível em: http://www.cedes.unicamp.br. Acesso em: 20/04/2010.
VELLOSO, Jacques R. O financiamento da Educação na transição democrática. In: MELLO,
Guiomar N. et al. EDUCAÇÃO E TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA. MELLO. São Paulo, Cortez
(Coleção polêmicas do nosso tempo) 5. ed., p. 45-72, 1987.
VIANNA, Heraldo Marelim. Estudos em Avaliação Educacional. Avaliação Educacional.
Fundação Carlos Chagas, São Paulo, n. 17, p. 73-129, jan/jun. 1998.
_____Novos Estudos em Avaliação Educacional. Avaliação Educacional. Fundação Carlos
Chagas, São Paulo, n. 19, p. 77-139, jan/jun. 1999
VIEIRA, Sofia Lerche; FARIAS, Isabel M. Sabino. Política Educacional no Brasil:
introdução histórica. Brasília, Líber Livro Editora, 2007.
WEBER, Silke. Relações entre esferas governamentais na educação e PDE: o que muda?
Caderno de Pesquisa, v. 38, n. 134, p. 305-318, mai/ago, 2008. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/cp/v38n134/a0338134.pdf. Acesso em: 02/06/2009.
WERLE, Flávia Obino Corrêa. A reinvenção da gestão dos sistemas de ensino: uma discussão
do Plano de Desenvolvimento da Educação (2007). Revista Educação em Questão, Natal, v.
35, n. 21, p. 98-119, mai/ago. 2009.
ANEXO A - SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação Ministério da Educação / SE - Secretaria Executiva DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação Escola: XX Município: Baixada Fluminense, RJ Estado: Rio de Janeiro Valor PAF(R$) 13.000,00 – (Custeio: R$ 9.100,00 – Capita: R$: 3.900,00) Diagnóstico Escolar Instrumento 2 1 - Ensino e Aprendizagem 1.1 - Currículo organizado e articulado 1.1.a - A escola possui e utiliza parâmetros curriculares? Escala: 2 - Raramente ou Fraca Evidência: Os professores não possuem os PCNs. 1.1.b - A escola tem uma Proposta Pedagógica que orienta o processo de ensino e aprendizagem? Escala: 5 - Sempre ou muito bom Evidência: A Proposta Pedagógica do ano de 2008 esta documentada e arquivada na Unidade Escolar. 1.1.c - A escola tem objetivos e rnetas definidos na Proposta Pedagógica para cada série ou ciclo e disciplina...? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: A escola não possui os PCNs. 1.1.d - Os professores definem com o diretor e supervisor/orientador pedagógico a metodologia de ensino a ser seguida... ? Escala: 5 - Sempre ou muito bom Evidência: Através de reuniões pedagógicas. 1.1.e - Os conteúdos para cada disciplina e para cada série ou ciclo são organizados de forma sequencial? Escala: 5 - Sempre ou Muito Bom Evidência: Através de proposta pedagógica 1.1.f - Os professores sabem qual o conteúdo a ser trabalhado em cada série ou ciclo e em cada disciplina? Escala: 5 - Sempre ou Muito Bom Evidência: Os conteúdos foram planejados no início do ano pelos professores. 1.1.g - Os professores sabem qual o conteúdo trabalhado no ano anterior por outro professor? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Depende do interesse do professor. 1.1.h - As etapas e níveis de aprendizado a serem alcançados pelos alunos estão claramente definidos? Escala: 5 - Sempre ou Muito bom Evidência: Através de proposta pedagógica e planejamento. 1.1.i - Os objetivos de aprendizagem são cobertos e alinhados com as avaliações propostas? Escala: 5 - Sempre ou Muito bom Evidência: Através de proposta pedagógica. 1.1.j - A equipe escolar reúne para revisar o currículo a partir da avaliação do monitoramento e da prática de cada... ? Escala: 5 - Sempre ou Muito bom Evidência: Através de conselho de classe e reuniões pedagógicas. Total: 43 1. 2- Proteção do tempo de aprendizagem
1.2.a - Os eventos escolares e os assuntos administrativos são organizados e tratados com um mínimo de interrupção...? Escala: 4 - Na maioria das vezes
Evidência: ata de reuniões. 1.2.b - O tempo previsto para cada matéria é claramente definido e seguido pelos professores? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Depende do professor. 1.2.c – Os professores começam e terminam as aulas pontualmente? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Alguns professores não eram pontuais. 1.2.d - A interrupção de aula devido à ausência de professores, reuniões, recessos etc. é mínima? Escala: 4 – Na maioria das vezes Evidência: Os professores no ano de 2008 eram muito faltosos. 1.2.e - Os professores dispõem de um plano de aula pronto quanto os alunos entram na sala de aula? Escala: 4 - Na maioria das vezes. Evidência: Os professores dispõem de plano de aula. 1.2.f - A transição entre atividades desenvolvidas em sala de aula é rápida? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Plano de aula. 1.2.g - A maior parte do tempo dos alunos na escola é dedicada a atividades de aprendizagem? Escala: 5 - Sempre ou Muito bom Evidência: É dedicado à aprendizagem dos conteúdos.
1.2.h - Durante o tempo dedicado às aulas, os professores se concentram nas atividades de ensino? Escala: Na maioria das vezes Evidência: Alguns professores se dedicam outros não. Total: 31
1.3 - Práticas efetivas dentro de sala de aula 1.3.a - Os professores procuram constantemente propor atividades que propiciem a prática de valores e atitudes almejadas...? Escala: 4 – Na maioria das vezes· Evidência: Propõem atividades extras para a prática de valores.
1.3.b - 0 ritmo de instrução é ajustado para atender aos alunos que aprendem com maior ou menor facilidade? Escala: 2 - Raramente ou Fraca Evidência: Os professores estabelecem um tempo igual para todos 1.3.c - Os alunos que não terminam as atividades durante a aula recebem orientação especial, para que se mantenham no ritmo da turma? Escala: 2 - Raramente ou Fraca Evidência: Alguns tinham esse cuidado. 1.3.d - As disciplinas críticas recebem maior atenção por parte da escola e dos professores? Escala 5: Sempre ou Muito Bom Evidência: Através de atividades planejadas em sala de aula. 1.3.e - Os professores conhecem as necessidades da turma e dão atenção aos alunos com dificuldade...? Escala; 2 - Raramente ou Fraca Evidência: Alguns professores tinham essa atenção. 1.3.f - Os professores explicam aos alunos os objetivos das lições e da matéria numa Iinguagem simples e clara? Escala: 2 - Raramente ou Fraca Evidência: Os professores não falam os objetivos. 1.3.g - Os professores estabelecem uma relação entre as lições assinalando aos alunos os conceitos ou habilidades chaves...? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Diário de classe do professor. 1.3.h - Os professores estimulam a curiosidade e o interesse dos alunos relacionando o conteúdo da lição...? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Entrevistas com alunos. 1.3.i - Durante as aulas, os professores fazem perguntas sobre pontos-chave da lição para verificar a compreensão...? Escala: 5 - Sempre ou Muito bom Evidência: Conversa informal com os alunos. 1.3.j - Exercícios, tarefas e provas são corrigidos e devolvidos rapidamente, além disso, são usados para replanejar...? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Entrevista com os alunos. 1.3.1 - Os professores fazem elogios e críticas construtivas aos alunos em sala de aula? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: No livro de ocorrências. 1.3.m - Os professores evitam a ocorrência de interrupções em sala de aula, não desperdiçando o tempo de ensino e de aula...? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Entrevistas com os alunos. 1.3.n - Os problemas de disciplina são resolvidos na sala de aula, sem necessidade de encaminhar os alunos à direção? Escala: 1 - Nunca ou muito fraca Evidência: Através do livro de ocorrência dos alunos. Total: 41 1.4 - Estratégias de ensino diferenciadas 1.4.a - Os professores usam e articulam técnicas variadas de ensino, induindo tarefas e deveres individuais, discussão...? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Plano de aula e do diário dos professores. 1.4.b - Os professores utilizam televisão, vídeo, computador e outros materiais interativos, quando necessário? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Horário de atividades extraclasse. 1.4.c - Os alunos são ativamente engajados nas atividades de sala de aula? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Ata do conselho de classe. 1.4.d - Os professores utilizam material de uso social nas praticas pedagógicas estimulando os alunos a perceberem...? Escala: 2 - Raramente ou Fraca Evidência: Plano de atividades complementares. 1.4.e – Os professores aproveitam os espaços externos para realizar atividades cotidianas como ler, contar, histórias,...? Escala: 2 - Raramente ou Fraca Evidência: Espaço inadequado. 1.4.f - Os professores propõem atividades pedagógicas fora da escola como passeios, incursões etc.? Escala: 5 - Sempre ou Muito bom Evidência: Plano de ação. Total: 21 1.5 – Deveres de casa frequentes e consistentes 1.5.a - Os professores passam dever de casa sempre que necessário? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Atividade prevista no plano de aula dos professores. 1.5.b - Os alunos fazem o dever de casa regularmente? Escala: 2 - Raramente ou Fraca Evidência: Caderno dos alunos. 1.5.c - O conteúdo e a frequência do dever de casa são adequados à idade e ao ambiente familiar dos alunos? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Caderno do aluno. 1.5.d - Os deveres de casa são passados em quantidade suficiente e em nível de dificuldade adequado...? Escala 3: Às vezes ou Regular Evidência: Plano de aula.
1.5.e - O professor comenta com os alunos os deveres de casa realizados? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Conversa informal com os alunos. Total: 15 1.6 - Disponibilidade e utilização de recursos didaticopedagógicos 1.6.a - Os professores dispõem de materiais pedagógicos e didáticos adequados, que permitem atividades diversificadas? Escala: 1 - Nunca ou Muito Fraca Evidência: Inexistência de material pedagógico. 1.6.b - A equipe escolar conhece o material pedagógico e didático existente na escola, sabe onde está guardado e...? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Reuniões pedagógicas. 1.6.c - Os alunos podem identificar seus livros-textos e descrever seu conteúdo? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Entrevista com os alunos. 1.6.d - Os alunos podem identificar outros materiais de leitura7 Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Conversa informal com as alunos. 1.6.e - Os alunos possuem caderno, papel, lápis, borracha etc? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Entrevistas com os alunos. Total: 14 1.7. - Avaliação contínua do rendimento dos alunos 1.7.a - Os professores fazem uma avaliação diagnóstica no início de cada etapa de ensino, para que possam por em prática...? Escala 5: - Sempre ou Muito Bom Evidência: Registro descritivo do desenvolvimento do aluno. 1.7.b - Os professores monitoram continuamente o progresso dos alunos e sabem quantos e quais estão em dificuldades...? Escala: 5 - Sempre ou Muito Bom Evidência: Relatórios de avaliação. 1.7.c - Há coleta de dados, arquivos e relatórios sobre o desempenho dos alunos? Escala: 5 - Sempre ou Muito Bom Evidência: Relatórios dos alunos. 1. 7.d - A avaliação do desempenho dos alunos em todos os níveis está adequada aos objetivos de ensino? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Avaliação do desempenho. 1.7.e - A equipe escolar utiliza os resultados de testes e relatórios de avaliação para localizar problemas potenciais? Escala: 4 – Na maioria das vezes Evidência: Reuniões pedagógicas. 1.7.f - A equipe escolar utiliza essas informações para fazer revisões da forma como o currículo está organizado, articulado...? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Relatórios de revisão do planejamento anual 1.7.g - A escola utiliza padrões de desempenho para avaliar a aprendizagem dos alunos, com base nos parâmetros curriculares...? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Cicio 1 – Relatórios. Ciclo 2 – Conceitos. 1.7.h - Os alunos têm clareza dos conteúdos e do grau de expectativa da aprendizagem que se espera deles nas avaliações? Escala: 2 - Raramente ou Fraca Evidência: Pesquisas com alunos. 1.7.i - Em momentos determinados, é delegada aos alunos a responsabilidade de se autoavaliarem? Escala: 1 - Nunca ou Muito Fraca Evidência: Entrevista com os alunos. 1.7.j - São aplicados diferentes instrumentos de avaliações proporcionadas várias situações de aprendizagem...? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Plano de aula do professor. Total: 37 2 - Clima Escolar 2.1 - Estabelecimento de altos padrões de ensino 2.1.a - Os professores têm claro os objetivos de aprendizagem que devem ser alcançados por todos os alunos? Escala: 5 - Sempre ou Muito Bom Evidência: Proposta Pedagógica. 2.1.b - O diretor e os professores são capazes de citar as metas e os objetivos curriculares da escola para pais de alunos...? Escala: 5 - Sempre ou Muito bom Evidência: Reunião de pais. 2.1.c - O diretor e os professores comunicam aos alunos as metas de aprendizagem e de comportamento estabelecidos? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Conversa informal com os alunos. 2.1.d - Os alunos com dificuldades de aprendizagem recebem auxilio, estimulo e apoio para atingir o nível de aprendizagem...? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: PIanos de aula dos professores. 2.1.e – O diretor e os professores monitoram regularmente o desempenho dos alunos, sabendo quais estão em dificuldades...? Escala: 2 - Raramente ou Fraca Evidência: Conselho de classe. 2.1.f - O diretor acompanha, com frequência, o desempenho dos professores e o desenvolvimento de seus programas curriculares...? Escala: 2 - Raramente ou Fraca Evidência: Conselho de Classe.
2.1.g - A escola dispõe de parâmetros e Instrumentos que permitem acompanhar o desempenho de professores e alunos? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Ata de desempenho dos alunos. 2.1.h - Os padrões que definem o sucesso acadêmico são claros e conhecidos por todos as professores e alunos? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Entrevista com professores e alunos. 2.1.i - A escola estabelece relação clara entre os objetivos de aprendizagem, as atividades de ensino e a avaliações...? Escala: 5 - Sempre ou Muito Bom Evidência: Proposta pedagógica e plano de aula. 2.1.j - A equipe escolar define padrões de desempenho para avaliar os alunos, com base nos parâmetros curriculares...? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Proposta Pedagógica. 2.1.l - A escola provê apoio e orientação na implementação do currículo? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Ata de reunião de grupo de estudos. 2.1.m - O professor planeja, no começo do ano, como trabalhará sua disciplina durante o ano letivo, informando os alunos...? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Planejamento anual e pesquisa com alunos. 2.1.n - O plano de curso do professor contém as informações necessárias sobre a matéria, como ensiná-la, como avaliá-la...? Escala: 2 - Raramente ou Fraca Evidência: Planos de curso dos professores. Total: 47 2.2 - Altas expectativas em relação à aprendizagem dos alunos 2.2.a - No contato com pais e alunos, diretor e professores expressam sua confiança na capacidade de aprendizagem dos alunos? Escala: 5 - Sempre ou Muito Bom Evidência: Reunião com os pais. 2.2.b - O diretor, no contato com professores, expressa sua confiança na capacidade de aprendizagem dos alunos? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Pesquisa com os professores. 2.2.c - A direção mantém o ensino e a aprendizagem como centro do diálogo e atenção de toda a equipe escolar...? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: É demonstrado por meio da construção do PPP. Total: 13 2.3 - Comunicação regular entre a equipe escolar, pais e a comunidade 2.3.a - O diretor promove reuniões frequentes com o corpo docente, com pauta antecipada? Escala: 5 - Sempre ou Muito Bom Evidência: Calendário de atividades anual. 2.3.b - A comunicação da escola com os pais e a comunidade é frequente? Escala: 5 - Sempre ou Muito bom Evidência: Recados e avisos no caderno do aluno. 2.3.c - Os pais entram em contato com o diretor por iniciativa própria? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Conversa informal com os pais. 2.3.d – O diretor envolve-se em atividades organizadas pela comunidade? Escala: 1 - Nunca ou Muito Fraca Evidência: Entrevista com a comunidade. 2.3.e - A escola promove eventos na escola de interesse da comunidade? Escala: 2 - Raramente ou Fraca Evidência: Espaço inadequado. 2.3.f - A direção da escola procura envolver os pais nas decisões relativas à melhoria da escola e enfatiza que a sua...? Escala: 5 - Sempre ou Muito Bom Evidência: Atas de reuniões de pais. 2.3.g - Toda a equipe escolar trabalha de forma cooperativa e harmoniosa? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Entrevista com equipe escolar. Total: 25 2.4 – Presença efetiva do diretor 2.4.a - O diretor participa das assembleias escolares, supervisionando o bom andamento dos trabalhos? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Atas das reuniões. 24.b – O diretor é encontrado facilmente na escola, fora de seu gabinete? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Pesquisa com a equipe de funcionários. 2.4.c - O diretor permanece na escola durante o período de atividades escolares? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Pesquisa com funcionários e pais de alunos. 2.4.d - O diretor aumenta a frequência e a qualidade dos contatos Informais entre os membros da equipe escolar...? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Pesquisa com a equipe pedagógica. 2.4.e - O diretor Iidera o estabelecimento e a implementação de normas de comportamento entre os membros da equipe escolar? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Pesquisa com o quadro de funcionários. 2.4.f - O diretor está constantemente informado da eficácia das atividades de ensino desenvolvidas pelos professores? Escala: 4 - Na maioria das vezes
Evidência: Atas de reuniões pedagógicas. Total: 23 2.5 - Ambiente escolar bem organizado e agradável 2.5.a - A escola é Iimpa, organizada e tem aparência atrativa? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidencia: Necessidade de reformas pesquisa junto à comunidade escolar. 2.5.b - As aulas iniciam-se e terminam no horário? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Entrevista com os pais. 2.5.c - As tarefas, os Iivros e os materiais a serem utilizados são preparados antes do início das aulas? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Observações diárias da equipe pedagógica. 2.5.d - Os alunos são estimulados a participarem da organização, decoração, ordem e Iimpeza das salas de aula? Escala: 2 - Raramente ou Fraca Evidência: Falta de cartazes dentro da sala de aula. Total: 13 2.6 - Normas e regulamentos escolares 2.6.a - A escola possui um código de conduta escrito que especifica as normas de comportamento para alunos e professor? Escala: 1 - Nunca ou Muito Fraca Evidência: Entrevistas com professores, alunos e funcionários. 2.6.b - O código de conduta é amplamente divulgado e é conhecido por alunos, professores e pais? Escala: 1 - Nunca ou Muito Fraca Evidência: Depoimentos dos professores e funcionários. 2.6.c - As normas de disciplina são aplicadas pronta e integralmente para todos? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Entrevistas com alunos. 2.6.d - Os procedimentos de disciplina são rotineiros e de fácil e rápida aplicação? Escala: 2 - Raramente ou Fraca Evidência: Entrevistas com funcionários e alunos. 2.6.e - Há normas em relação a atrasos e faltas, tanto para professores quanto para alunos? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Atas de alunos faltosos. Total: 11 2.7 - Confiança dos professores no seu trabalho 2.7.a - Os professores consideram-se capazes de ensinar bem? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Depoimento dos professores. 2.7.b - Os professores sentem-se à vontade com os materiais de aprendizagem, integrando-os às tarefas de sala de aula...? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Relatos dos professores. 2.7.e - Os professores acham seu trabalho significativo? Escala: 5 - Sempre ou Multo Bom Evidência: Depoimentos dos professores. Total: 12 2.8 - Compromisso e preocupação da equipe escolar com os alunos e com a escola 2.8.a - Os alunos confirmam que os professores estão comprometidos com o ensino e se preocupam com eles? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Depoimento dos alunos. 2.8.b - Os professores estabelecem altos padrões de trabalho e comportamento? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Plano de aula. 2.8.c - A equipe escolar e os pais referem-se à escola como um lugar onde há atenção e cuidado em relação aos alunos? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Entrevista com os pais. 2.8.d – O absenteísmo e a falta de pontualidade dos professores são vistos como um problema na escola? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Livro de ponto. Total: 13 2.9 - Trabalho em equipe 2.9.a - Os professores planejam as atividades de ensino de forma cooperativa? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Reuniões de grupos de estudo. 2.9.b - Os professores trocam ideias entre si? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Reuniões pedagógicas. 2.9.c – Os professores, diretor e equipe técnica trabalham em conjunto para tratar de questões de interesse da escola? Escala: 5 - Sempre ou Muito bom Evidência: Atas de reuniões de diretor e equipe. Total: 13 Total: 170 3 – Pais e Comunidade 3.1 - Apoio material da comunidade 3.1.a - A comunidade contribui voluntariamente com a escola, para garantir a manutenção e melhoria das condições...? Escala: 2 - Raramente ou Fraca Evidência: Entrevista com professores e funcionários.
3.1.b· A equipe escolar e os pais dos alunos reúnem-se para discutir as necessidades materiais da escola e as maneiras...? Escala: 2 - Raramente ou Fraca Evidência: Entrevista com os pais. Total: 4 3.2 - Comunicação frequente entre corpo docente e pais 3.2.a - A escola promove eventos que permitam contato entre pais e professares? Escala: 5 - Sempre ou Muito bom Evidência: Reuniões com pais. 3.2.b - Os professores comunicam-se frequentemente com os pais? Escala: 5 - Sempre ou Muito bom Evidência: Bilhetes e avisos no caderno e reuniões com os pais. 3.2.c - Os pais comparecem e participam das reuniões para as quais são convidados? Escala: 2 - Raramente ou Fraca Evidência: Ata de reuniões. Total: 12 3.3 - Participação da comunidade na gestão da escola 3.3.a - Os pais têm participação nas reuniões do Colegiado? Escala: 4 - Na malaria das vezes Evidência: Atas de reuniões. 3.3.b - Os pais sabem quem é seu representante no Colegiado? Escala: 2 - Raramente ou Fraca Evidência: Entrevistas com os pais. Total: 5 3.4 - Envolvimento dos pais na aprendizagem 3.4.a - Os pais participam de reuniões de avaliação na escola? Escala: 1 - Nunca ou muito fraca Evidência: Reuniões de pais. 3.4.b - Os pais acompanham os deveres de casa dos filhos? Escala: 2 - Raramente ou Fraca Evidência: Acompanhamento do caderno do aluno. 3.4. c - Há evidência de leitura, conversações e brincadeiras dirigidas no lar? Escala: 2 - Raramente ou Fraca Evidência: Entrevista com os alunos. 3.4.d - A equipe escolar incentiva os pais a acompanharem o progresso de seus filhos? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Atas de reuniões de pais e palestras. Total: 9 Total: 31 4.1 - Gestão do pessoal docente e não-docente 4.1.a - A direção tem claramente definidas as funções e atribuições de todo o pessoal da escola e expressa qual a sua... ? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Regimento da escola com atribuições de cada membro da equipe. 4.1. b - A direção monitora e avalia as atividades desenvolvidas por todos os profissionais da escola? Escala: 2 - Raramente ou Fraca Evidência: Atas de reuniões 4.1.c - A direção identifica necessidades de aperfeiçoamento de toda a equipe escolar para a melhoria de suas habilidades...? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Atas de reuniões pedagógicas. 4.1.d - A direção organiza espaço e tempo para que as membros da equipe escolar se reúnam, troquem experiências, estudos...? Escala: 5 - Sempre ou Muito bom Evidência: Atas de reuniões pedagógicas e grupo de estudo. 4.1.e - A direção providencia atualização para o seu pessoal docente, técnico e administrativo, com a frequência necessária...? Escala: 2 - Raramente ou Fraca Evidência: Pesquisa com os professores. 4.1.f - Os profissionais da escola são valorizados por meie de mecanismos de profissionalização e responsabilização? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Pesquisa com a equipe administrativa e técnicas 4.1.9· A escola adota medidas de promoção do bem-estar para auxiliar os seus profissionais a atingir as metas? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Pesquisa com os professores. 4.1.h - A escola acompanha o nível de satisfação, participação e bem-estar de seus profissionais...? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Depoimento dos professores. Total: 29 4.2 - Formação e desenvolvimento 4.2.a - Os professores conhecem metodologias de avaliação e usam esse conhecimento para desenvolver avaliações coerentes...? Escala: 5 - Sempre ou Muito bom Evidência: Planejamento anual dos professores. 4.2.b - Os professores demonstram ter domínio da matéria que ensinam? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Plano de aula e reuniões pedagógicas. 4.2.c - Os professores participam, com frequência, de cursos de atualização, demonstrando empenho no seu desenvolvimento...? Escala: 3 - Às vezes ou Regular
Evidência: Entrevista com o professor. 4.2.d - A direção da escola identifica necessidades de aperfeiçoamento de pessoal docente e não-docente para a melhoria...? Escala: 5 - Sempre ou Muito Bom Evidência: Entrevista com o corpo discente e docente. 4.2.e - A direção da escola define anualmente um programa de desenvolvimento do pessoal docente e não-docente? Escala: 2 - Raramente ou Fraca Evidência: Conversa informal. 4.2.f - Os professores utilizam abordagens pedagógicas atualizadas? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidencia: Planos de aula e planejamentos. 4.2.g - A equipe escolar (docentes e não-docentes) aceita inovações e se mostra envolvida em processos de mudança? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Atas de reuniões pedagógicas 4.2.h - Os professores têm informações atualizadas sobre tecnologia e recursos educacionais? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Grupos de estudos. Total: 30 4.3 - Experiência apropriada 4.3.a - Os professores são experientes no manejo de turmas e no acompanhamento do trabalho individual e de grupos? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Plano de aula e observação direta. 4.3.b - O desempenho do professor dentro de sala de aula é avaliado? Escala: 4 – Na maioria das vezes Evidência: Plano de aula e observação direta. Total: 8 4.4 - Compromisso da equipe escolar com os objetivos e metas da escola 4.4.a - Os professores e funcionários são comprornetidos com os objetivos e metas da escola? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Planejamento e projeto da unidade 4.4.b - Os professores e funcionários conhecem os objetivos e metas da escola? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Entrevista com os professores. .4.4.c - Os supervisores ou coordenadores pedagógicos orientam os professores para o alinhamento entre suas praticas...? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Relatórios da equipe pedagógica. 4.4.d - A equipe escolar avalia o desempenho de seu pessoal e o da escola como um todo, bem como o seu esforço para mudar...? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Relatórios da equipe pedagógica. 4.4.e - Docentes e não-docentes demonstram entusiasmo no desempenho de suas funções...? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Observações diárias. Total: 18 Total: 85 5 - Gestão de Processos 5.1 - Conselho/Colegiado Escolar atuante 5.1.a - A escola dispõe de um Colegiado ou Conselho Escolar com funções e atribuições bem definidas? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Regimento escolar. 5.1.b - O Colegiado ou Conselho funciona de maneira permanente? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Atas de reuniões 5.1.c - O Colegiado ou Conselho realiza reuniões sistemáticas? Escala: 3 – À vezes ou Regular Evidência: Atas de reuniões. 5.1.d - As reuniões do Colegiado ou Conselho são marcadas com antecedência, em horário que todos possam participar e...? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Entrevistas com os membros CAEM. 5.1.e - Os segmentos representantes da comunidade interna e externa à escola têm participação efetiva no Colegiado ou...? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Regimento escolar. 5.1.f – Os processos de ensino, aprendizagem e gestão participativa da escola atendem ao que foi definido e validado para...? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Atas de reuniões. Total: 19 5.2 - Utilização e controle dos recursos financeiros
5.2.a - A direção é capaz de demonstrar que os insumos escolares adquiridos com os recursos provindos do governo...? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Prestação de contas. 5.2.b - A direção tem objetivos claros para a aplicação dos recursos financeiros disponíveis, efetuando os gastos...? Escala: 5 - Sempre ou Muito bom Evidência: Prestação de contas. 5.2.c – A direção submete o planejamento para a aplicação dos recursos financeiros ao Colegiado ou Conselho Escolar...? Escala: 5 - Sempre ou Muito bom Evidência: Ata do conselho do CAEM. 5.2.d - A direção controla e registra de forma apropriada os gastos efetuados pela escola?
Escala: 5 - Sempre ou Muito bom Evidência: Ata de registro de prestação de contas. Total: 19 5.3 - Planejamento de ações 5.3.a - A escola define conjuntamente seus objetivos/ metas e estratégias e os planos de ação para alcançá-los? Escala: 5 - Sempre ou Muito Bom Evidência: Plano de ação. 5.3.b - O diretor e os professores tomam decisões conjuntas relativas ao horário escolar, aos livros-texto e demais...? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Reuniões pedagógicas. 5.3.c - O Currículo Escolar é discutido e definido por toda a equipe escolar, com validação do Colegiado ou Conselho? Escala: 2 - Raramente ou Fraca Evidência: Não existia conselho escolar. 5.3.d - Os processos críticos da escola são gerenciados com auxilio de indicadores de desempenho com vistas à realização...? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Plano de ação. Total: 15 5.4 – Objetivos claros 5.4.a - Os objetivos da escola são claramente definidos e aceitos pela comunidade escolar? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Reuniões de pais. 5.4.b·· Os profissionais da escola sabem o objetivo do seu trabalho e estão mobilizados para a análise e melhoria...? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: regimento escolar – reuniões internas 5.4.c - A escola tem autonomia para decidir sobre horários escolares, metodologias adotadas, equipamentos e...? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Proposta Pedagógica - calendário estabelecido pela SME. 5.4.d - A escola dispõe de critérios e instrumentos para determinar a eficácia escolar? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Proposta Pedagógica. 5.4.e - A escola estabelece metas de excelência? Escala: 2 - Raramente ou Fraca Evidência: Proposta Pedagógica. Total: 16 5.5 - Rotina Organizada 5.5.a - A escola dispõe de procedimentos administrativos bem definidos, padronizados e utilizados? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Controle secretaria escolar. 5.5.b - As pessoas na escola conhecem e utilizam todos os procedimentos disponíveis para executar bem o seu trabalho? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Controle da secretaria escolar. 5.5.c - Cada profissional da escola sabe medir e avaliar o resultado de seu trabalho? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Não é feita avaliação formal. 5.5.d - Os dados necessários ao gerenciamento da escola são levantados de forma competente? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Através de relatórios. 5.5.e - Os problemas que surgem na escola são comunicados à direção? Escala: 5 - Sempre ou Muito bom Evidência: Livro de ocorrências. 5.5.f· As atividades e processos desenvolvidos na escola são documentados e otimizados? Escala: 5 - Sempre ou Muito Bom. Evidência: Relatórios e avaliações. 5.5.g - As informações circulam de maneira rápida e correta entre setores profissionais da escola? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Caderno de circular. Total: 27 Total: 96 6 - Infraestrutura 6.1 - Instalações adequadas da escola 6.1.a – O prédio e o pátio são bem conservados e têm aparência atrativa? Escala: 1 - Nunca ou multo fraca Evidência: A escola precisa de reformas. 6.1.b - Os banheiros são limpos e mantidos em condições adequadas de uso? Escala: 5 - Sempre ou muito bom Evidência: Pesquisa com os alunos. 6.1.c - A escola possui um espaço disponível para atividades de leitura e pesquisa? Escala: 1 - Nunca ou muito fraca Evidência: Pesquisa com os alunos - não possuímos sala de leitura, biblioteca. 6.1.d - As salas de aula, laboratórios e biblioteca estão em boas condições de uso? Escala: 1 - Nunca ou muito fraca Evidência: Pesquisa com os alunos - não possuímos essas salas. 6.1.e - As salas de aula, laboratórios, biblioteca etc. são utilizados de forma adequada? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: A escola só possui sala de aula, não possui biblioteca, sala de vídeo etc. 6.1.f - Os alunos têm consciência de sua participação na conservação do patrimônio escolar?
Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Conversa com os alunos. Total: 16 7.1 - Desempenho acadêmico dos alunos 7.1.a - Os históricos acadêmicos recentes mostram evolução favorável em relação às medias nacionais/estadual e regional? Escala: 3 - Às vezes ou Regular Evidência: Relatório de desempenho. 7.1.b - Os dados de desempenho demonstram elevadas taxas de aprovação em todas as series e disciplinas, e essa taxa...? Escala: 2 - Raramente ou Fraca Evidência: Relatório de desempenho. 7.1.c - A taxa de abandono tem diminuído consistentemente a cada ano? Escala; 4 - Na maioria das vezes Evidência: Relatório de taxa de abandono. 7.1.d - A media de aprovação dos alunos, em Português e Matemática, tem aumentado a cada ano...? Escala: 2 - Raramente ou Fraca Evidência: Relatório de desempenho. 7.1.e - A distorção idade-serie tem diminuído consistentemente a cada ano? Escala: 2 - Raramente ou Fraca Evidência: Tabela de distorção serie-idade Total: 13 7.2 - Desempenho geral da escola 7.2.a - Há evidências de que todas as metas estabelecidas nos planos de ação da escola são integralmente cumpridas? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Ata de conselho de classe. 7.2.b - Os resultados da escola indicam tendência crescente no nível de satisfação da equipe escolar, dos pais e...? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Ata de reunião de pais. 7.2.c – Há evidências de tendência de melhoria na qualidade dos processos de gestão e serviços da escola? Escala: 4 - Na maioria das vezes Evidência: Entrevista com os pais. Total: 12 Total: 25 Ficha resumo Criticidade Prioridade Total de pontos
ANEXO B - MODELO DE QUESTIONÁRIO PERGUNTAS ABERTAS/
ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM A PROFESSORA - ESCOLA DELTA
Com base no Diagnóstico Escolar feito pelo Sistema Integrado de Monitoramento do
Ministério da Educação (SIMEC), para o Plano de Ação por meio do PDE-Escola:
Primeiro momento: apresentação pessoal
Segundo momento: perguntas
1. Qual a sua participação na elaboração do Plano de Ação do PDE-Escola?
2. De que forma a avaliação é utilizada?
3. De que forma é verificado o desempenho dos alunos?
4. O que é feito com os resultados das avaliações periódicas de ensino?
5. Como os alunos têm clareza dos conteúdos e do grau de expectativa da aprendizagem que
se espera deles nas avaliações?
6. Em que momentos são determinados aos alunos a responsabilidade de se auto-avaliarem?
Por quê?
7. De que forma você tem acesso a informações atualizadas sobre tecnologias e recursos
educacionais?
8. Que materiais pedagógicos e didáticos adequados, na escola, que permitem atividades
diversificadas junto aos alunos?
9. Que ações são adotadas, na escola, na falta de caderno, papel, lápis, borracha e os livros
didáticos para os alunos?
10. Em que situações, condições, frequência são passados deveres de casa? Qual a
participação dos pais dos alunos?
11. De que maneira os alunos que não terminam as atividades durante a aula recebem
orientação especial para que se mantenham no ritmo da turma?
ANEXO C - MODELO DE QUESTIONÁRIO PERGUNTAS ABERTAS/
ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM A ORIENTADOR A EDUCACIONAL –
ESCOLA DELTA
Com base no Diagnóstico Escolar feito pelo Sistema Integrado de Monitoramento do
Ministério da Educação (SIMEC), para o Plano de Ação por meio do PDE-Escola:
Primeiro momento: Apresentação pessoal
Segundo momento: perguntas
1. Qual a participação dos pais nas reuniões de avaliação da escola?
2. Há acompanhamento pelos pais dos deveres de casa dos filhos? Há incentivos pela escola?
Como?
3. Em momentos determinados, é delegada aos alunos a responsabilidade de se auto-
avaliarem? Por quê? Como?
4. Os alunos têm clareza dos conteúdos e do grau de expectativa da aprendizagem que se
espera deles nas avaliações?
5. De que forma Os alunos com dificuldade de aprendizagem recebem auxílio, estímulo e
apoio para atingir o nível de aprendizagem?
6. O conteúdo do dever de casa é adequado à idade e ao ambiente familiar dos alunos?
7. Para os alunos sem caderno, papel, lápis, borracha, livros didáticos, que ações são adotadas
na falta desse material?
8. O ritmo de instrução é ajustado para atender aos alunos que aprendem com maior ou menor
facilidade? Por quê? Como?
9. Que ações são adotadas junto àqueles alunos em situação distorção idade-série? Como?
10. Qual a principal ação implementada, na unidade escolar na escola, com foco na evasão
escolar e alunos faltosos?
ANEXO D - MODELO DE QUESTIONÁRIO PERGUNTAS ABERTAS/
ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM A ORIENTADOR A PEDAGÓGICA –
ESCOLA DELTA
Com base no Diagnóstico Escolar feito pelo Sistema Integrado de Monitoramento do
Ministério da Educação (SIMEC), para o Plano de Ação por meio do PDE-Escola:
Primeiro momento: Apresentação pessoal
Segundo momento: perguntas
1. Que problemas foram apontados com foco na aprendizagem escolar?
2. Que intenções (objetivos) foram elencadas com vistas à melhoria da qualidade do
desempenho escolar?
3. Que tratamento a escola deu aos resultados de desempenho dos alunos, a partir do Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica, divulgados pelo MEC/INEP nos anos 2005,
2007 e 2009?
4. Qual o significado do instrumento de avaliação Prova Brasil?
5. De que forma você participou da elaboração das metas e ações do PDE-Escola?
6. No caso da aprendizagem que trabalho é feito após testes e relatórios de avaliação para
identificar problemas de aprendizagem?
7. De que forma a escola utiliza padrões de desempenho para avaliar a aprendizagem dos
alunos, com base nos parâmetros curriculares?
8. Que trabalho a escola realiza para diminuir a distorção idade-série?
9. O ritmo de instrução é ajustado para atender aos alunos que aprendem com maior ou
menor facilidade? Por quê? Como?
10. Como o desempenho do professor dentro da sala de aula é avaliado? Por quê?
11. De que forma a escola utiliza padrões de desempenho para avaliar a aprendizagem dos
alunos, com base nos parâmetros curriculares?
12. Qual a participação dos pais na vida escolar do aluno?
ANEXO E – MODELO DE QUESTIONÁRIO PERGUNTAS ABERTAS/
ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM A DIRETORA – ESCOLA DELTA
Com base no Diagnóstico Escolar feito pelo Sistema Integrado de Monitoramento do
Ministério da Educação (SIMEC), para o Plano de Ação por meio do PDE-Escola:
Primeiro momento: Apresentação pessoal.
Segundo momento: perguntas
1. Houve alguma dificuldade inicial, pela escola, na interpretação do documento? De forma
foi solucionada?
2. De que maneira se desenrolou a elaboração do Plano de Ação?
3. Que problemas foram apontados no Plano de Ação?
4. Que intenções (objetivos) foram definidas no Plano de Ação?
5. Que metas foram traçadas no Plano de Ação? Em que situação, no momento, se encontra
tais ações?
6. Que ações foram apontadas no Plano de Ação? Em que situação, no momento, se encontra
tais ações?
7. Que mudanças ocorreram na unidade escolar após a aprovação do Plano de Metas?
8. De que modo a escola lida com a condição de sua autonomia?
9. Como a escola avalia a gestão escolar?
10. Como a gestão escolar administra as necessidades de aperfeiçoamento de toda equipe
escolar para melhoria de suas habilidades?
11. Que prioridade foi definida pela escola, enquanto intenção e ação, com vistas à melhoria
da aprendizagem dos alunos, consequentemente, alcançar a meta do IDEB para o ano 2011?
12. Que dificuldades a escola encontra no seu dia a dia que comprometem a melhoria da
qualidade de aprendizagem escolar? De que forma são encaradas?
ANEXO F - PLANO DE SUPORTE ESTRATÉGICO – PANO DE AÇÃO DESDOBRAMENTO DAS METAS EM PLANO DE AÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DELTA OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desenvolver atividades diferenciadas que promovam o processo ensino-aprendizagem de forma significativa. LÍDER DO OBJETIVO: Prof. ESTRATÉGIA: Adotar estratégias de ensino diferenciadas, inovadoras e criativas. META: Aprimorar a formação continuada de todos os professores de Língua Portuguesa e Matemática em 1 (um) ano. INDICADOR DA META: Nº de formações implementadas/nº de formações previstas x 100 GERENTE DO PLANO DE AÇÃO: Prof. INÍCIO: abril de 2008 REVISÃO: bimestral TÉRMINO: dezembro de 2009
Nº AÇÃO PERÍODO
RESPONSÁVEL RESULTADO ESPERADO
INDICADOR
CUSTO QUEM
FINANCIA INÍCIO TÉRMINO CAPITAL CUSTEIO
1 Elaborar um planejamento para revisão dos conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática em que os alunos encontram mais dificuldade.
AGO
DEZ
Prof.
Planejamento realizado
Documento contendo o planejamento revisado
1.000,00
PDE
Realizar uma oficina pedagógica por bimestre com os professores de Língua Portuguesa e Matemática
AGO
DEZ
Prof.
Oficinas realizadas
Reuniões realizadas x 100 Reuniões a realizar
1.000,00
PDE
Otimizar 1 sala de estudos dos professores com livros, notebooks, cadeiras, TV, DVD e ar condicionado.
OUT
OUT
Prof.
Sala de estudos otimizada
Aparelhos adquiridos x 100 Aparelhos a adquirir
1.000,00 3.500,00
1.500,00
PDE
Realizar encontros bimestrais sistemáticos para acompanhamento do desenvolvimento dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática
AGO
DEZ
Prof.
Encontros realizados
Encontros realizados x 100 Encontros a realizar
500,00
PDE
Assinar jornais, revistas, periódicos e compra de livros para o aprimoramento da prática do professor.
AGO
DEZ
Prof.
Assinatura adquirida
Adquiridos x 100 A adquirir
500,00
PDE
ANEXO F - PLANO DE SUPORTE ESTRATÉGICO – PANO DE AÇÃO DESDOBRAMENTO DAS METAS EM PLANO DE AÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DELTA OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desenvolver atividades diferenciadas que promovam o processo ensino-aprendizagem de forma significativa. LÍDER DO OBJETIVO: ESTRATÉGIA: Adotar estratégias de ensino diferenciadas, inovadoras e criativas. META: Realizar 5 atividades diferenciadas em 1 ano: 2 Aulas-Passeio, 1 Feira de Ciências, 1 Feira Literária, 1 Festival de Música INDICADOR DA META: Nº de formações implementadas/nº de formações previstas x 100 GERENTE DO PLANO DE AÇÃO: INÍCIO: abril de 2008 REVISÃO: bimestral TÉRMINO: dezembro de 2009
Nº AÇÃO PERÍODO
RESPONSÁVEL RESULTADO ESPERADO
INDICADOR
CUSTO QUEM
FINANCIA INÍCIO TÉRMINO CAPITAL CUSTEIO
2 Realizar 2 aulas-passeio a museus, teatros e bibliotecas para incentivar as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática onde apresentam baixo desempenho.
AGO
DEZ
Prof.
Aulas-passeio realizadas
Passeios realizados x 100 Passeios a realizar
2.000,00
PDE
Otimizar 1 sala de banda utilizando instrumentos de sopro e repercussão.
AGO
DEZ
Prof. Sala da banda otimizada
Instrumentos adquiridos x 100 instrumentos a adquirir
3.000,00 1.000,00
PDE
Realizar Projeto Interdisciplinar e 1 Feira de Ciências no Laboratório de Ciência da escola
AGO
OUT
Prof. Projeto Realizado
Nº de formações implementadas/ nº de projetos previstos x 100
500,00
PDE
Realizar uma Feira Literária utilizando diferentes materiais impressos e diferentes livros paradidáticos na Sala de Leitura com a participação dos alunos do 6º, 7º e 8º anos.
AGO
DEZ
Prof. Feira Literária Realizada
Livros adquiridos x 100 livros a adquirir
500,00
PDE
ANEXO F - PLANO DE SUPORTE ESTRATÉGICO – PANO DE AÇÃO DESDOBRAMENTO DAS METAS EM PLANO DE AÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DELTA OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desenvolver atividades diferenciadas que promovam o processo ensino-aprendizagem de forma significativa. LÍDER DO OBJETIVO: ESTRATÉGIA: Criar espaços diferenciados de aprendizagem na escola. META: Implementar 5 espaços para atividades em 1 ano INDICADOR DA META: Nº de espaços criados/nº de espaços previstos x 100 GERENTE DO PLANO DE AÇÃO: INÍCIO: abril de 2008 REVISÃO: bimestral TÉRMINO: dezembro de 2009
Nº AÇÃO PERÍODO
RESPONSÁVEL RESULTADO ESPERADO
INDICADOR
CUSTO QUEM
FINANCIA INÍCIO TÉRMINO CAPITAL CUSTEIO
3 Realizar um festival de música.
NOV NOV
Prof.
Festival realizado
Festival realizado / festival previsto x 100
1.000,00
1.000,00
PDE
Criar 1 (uma) Gibiteca na Sala de Leitura. AGO
OUT
Prof. Gibiteca realizada
Adquiridos x 100 A adquirir
500,00
500,00
PDE
Realizar 1 (uma) atividade mensalmente de recreação com vários tipos de bolas, mesas de totó, ping pong, apitos e uniformes esportivos
AGO
NOV
Prof. Atividades recreativas realizadas
Realizadas x 100 A realizar
1.000,00
PDE
Realizar a cada semestre 1 (uma) atividade de cinema na escola.
AGO
DEZ
Prof. Cinema na escola realizado
Realizadas x 100 A realizar
500,00
PDE
Organizar na escola 1 (uma) atividade de teatro anualmente a partir do uso da Sala de Leitura e auditório utilizando fantasias, cortinas, cadeiras.
AGO
OUT
Prof. Atividades de teatro realizadas
Realizadas x 100 A realizar
1.500,00
750,00 750,00
ANEXO F - PLANO DE SUPORTE ESTRATÉGICO – PANO DE AÇÃO DESDOBRAMENTO DAS METAS EM PLANO DE AÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DELTA OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desenvolver atividades diferenciadas que promovam o processo ensino-aprendizagem de forma significativa. LÍDER DO OBJETIVO: ESTRATÉGIA: Criar espaços diferenciados de aprendizagem na escola. META: Promover 6 atividades diferenciadas utilizando recursos tecnológicos em um ano INDICADOR DA META: Nº de projetos desenvolvidos/nº de projetos previstos x 100 GERENTE DO PLANO DE AÇÃO: INÍCIO: abril de 2008 REVISÃO: bimestral TÉRMINO: dezembro de 2009
Nº AÇÃO PERÍODO
RESPONSÁVEL RESULTADO ESPERADO
INDICADOR
CUSTO QUEM
FINANCIA INÍCIO TÉRMINO CAPITAL CUSTEIO
4 Realizar 1 (um) Projeto Monitores de Inclusão digital no Laboratório de Informática utilizando recursos tecnológicos (computadores, impressoras, máquina digital).
AGO
DEZ
Prof.
1 Projeto Monitores / realizado
Nº de projetos desenvolvidos/nº previsto x 100
1.000,00
PDE
Realizar 2 (duas) atividades áudios-visuais na Sala de Vídeo, utilizando TVs, DVDs e projetores de imagem.
AGO
DEZ
Prof.
2 Atividades realizadas
Atividades realizadas/ atividades previstas x 100
800,00
PDE
Realizar 1 (um) Projeto de rádio-escola utilizando caixas de som amplificadas, microfones, microcomputador e CDs diversos
AGO
DEZ
Prof.
1 Projeto Rádio-escola realizado
Atividades realizadas/ atividades previstas x 100
1.000,00
500,00
PDE
Realizar 4 (quatro) atividades com softwares educativos de Língua Portuguesa e Matemática
AGO
DEZ
Prof.
4 Atividades realizadas
Atividades realizadas/ atividades previstas x 100
500,00
PDE
ANEXO F - PLANO DE SUPORTE ESTRATÉGICO – PANO DE AÇÃO DESDOBRAMENTO DAS METAS EM PLANO DE AÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DELTA OBJETIVO ESTRATÉGICO: Elevar o desempenho acadêmico dos alunos. LÍDER DO OBJETIVO: ESTRATÉGIA: Aumentar a taxa de aprovação nas disciplinas críticas (Língua Portuguesa e Matemática) dos alunos do 6º e 7º anos de escolaridade. META: Aumentar a taxa de aprovação de 60% para 85%, em Matemática, dos alunos do 6º e 7º anos de escolaridade em 1 ano. INDICADOR DA META: Nº de alunos do 6º e 7º anos de escolaridade aprovados em Matemática/nº de alunos do 6º e 7º anos de escolaridade previstos x 100 GERENTE DO PLANO DE AÇÃO: INÍCIO: abril de 2008 REVISÃO: bimestral TÉRMINO: dezembro de 2009
Nº AÇÃO PERÍODO
RESPONSÁVEL RESULTADO ESPERADO
INDICADOR
CUSTO QUEM
FINANCIA INÍCIO TÉRMINO CAPITAL CUSTEIO
5 Implementar aulas de reforço mensalmente em Matemática para os alunos de 6º e 7º anos de escolaridade com baixo desempenho
AGO
DEZ
Prof.
Reuniões Realizadas
Realizadas x 100 A realizar
500,00
PDE
Implementar mensalmente atividades com jogos matemáticos para os alunos de 6º e 7º anos de escolaridade.
AGO
DEZ
Prof.
Planejamentos realizados
Atividades realizadas/ atividades previstas x 100
500,00
PDE
Realizar 1 (uma) Olimpíada de Matemática com os alunos do 6º e 7º anos de escolaridade
ABR
NOV
Prof.
Avaliação realizada
Olimpíada realizada/ Olimpíada prevista x 100
500,00
PDE
Ministrar aulas semanalmente, utilizando softwares com construção de gráficos e tabelas com os alunos de 6º e 7º anos de escolaridade.
AGO
JUN
Prof.
Avaliação realizada
Aulas ministradas/ aulas previstas x 100
600,00
PDE
ANEXO F - PLANO DE SUPORTE ESTRATÉGICO – PANO DE AÇÃO DESDOBRAMENTO DAS METAS EM PLANO DE AÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DELTA OBJETIVO ESTRATÉGICO: Elevar o desempenho acadêmico dos alunos. LÍDER DO OBJETIVO: ESTRATÉGIA: Aumentar a taxa de aprovação nas disciplinas críticas (Língua Portuguesa e Matemática) dos alunos do 6º e 7º anos de escolaridade. META: Aumentar a taxa de aprovação de 60% para 85% em Língua Portuguesa dos alunos do 6º e 7º anos de escolaridade em 1 ano. INDICADOR DA META: Nº de alunos do 6º e 7º anos de escolaridade aprovados em Língua Portuguesa/nº de alunos do 6º e 7º anos de escolaridade previstos x 100 GERENTE DO PLANO DE AÇÃO: INÍCIO: abril de 2008 REVISÃO: bimestral TÉRMINO: dezembro de 2009
Nº AÇÃO PERÍODO RESPONSÁVEL
RESULTADO ESPERADO
INDICADOR
CUSTO QUEM
FINANCIA INÍCIO TÉRMINO CAPITAL CUSTEIO
6 Implementar mensalmente aulas de reforço mensalmente em Língua Portuguesa para os alunos de 6º e 7º anos de escolaridade com baixo desempenho
AGO
DEZ
Prof.
Aulas Realizadas
Aulas ministradas x 100 Aulas a serem ministradas
500,00
PDE
Implementar semanalmente atividades literárias AGO
DEZ
Prof.
Recuperação paralela realizada
Aulas ministradas x 100 Aulas a serem ministradas
1.500,00
500,00
PDE
Realizar 1 mensalmente atividades diferenciadas
com os alunos de 6º e 7º anos de escolaridade
(soletrando, quebra-língua, desafios).
AGO
DEZ
Prof.
Recuperação paralela realizada
Aulas ministradas x 100 Aulas a serem ministradas
500,00
500,00
PDE
Realizar mensalmente atividades de construção de textos a partir de editores de texto e editores de apresentação (softwares) com os alunos do 6º e 7º anos de escolaridade.
ABR
NOV
Prof.
Atividades realizadas
Aulas ministradas x 100 Aulas a serem ministradas
ANEXO F - PLANO DE SUPORTE ESTRATÉGICO – PANO DE AÇÃO DESDOBRAMENTO DAS METAS EM PLANO DE AÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DELTA OBJETIVO ESTRATÉGICO: Elevar o desempenho acadêmico dos alunos. LÍDER DO OBJETIVO: ESTRATÉGIA: Promover a capacitação dos professores das disciplinas críticas (Língua Portuguesa e Matemática) das turmas de 6º e 7º anos de escolaridade. META: Promover a capacitação de todos os professores de Língua Portuguesa das turmas de 6º e 7º anos de escolaridade em 1 ano INDICADOR DA META: Nº de professores de Língua Portuguesa da unidade escolar / nº de professores de Língua Portuguesa capacitados x 100 GERENTE DO PLANO DE AÇÃO: INÍCIO: abril de 2008 REVISÃO: bimestral TÉRMINO: dezembro de 2009
Nº AÇÃO PERÍODO
RESPONSÁVEL RESULTADO ESPERADO
INDICADOR
CUSTO QUEM
FINANCIA INÍCIO TÉRMINO CAPITAL CUSTEIO
7 Realizar reunião mensal para discutir as dificuldades dos professores de língua Portuguesa e propor soluções mediante estudos de reflexões.
ABR
DEZ
Prof.
Avaliações Realizadas
Reuniões realizadas/ reuniões previstas x 100
PDE
Capacitar 12 (doze) professores de Língua Portuguesa do 2º segmento com base nos PCNs e na Proposta Pedagógica da SME/DC.
AGO
DEZ
Prof.
Relatórios preenchidos
Capacitações realizadas/ capacitações previstas x 100
1.000,00
PDE
ANEXO F - PLANO DE SUPORTE ESTRATÉGICO – PANO DE AÇÃO DESDOBRAMENTO DAS METAS EM PLANO DE AÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DELTA OBJETIVO ESTRATÉGICO: Elevar o desempenho acadêmico dos alunos. LÍDER DO OBJETIVO: ESTRATÉGIA: Promover a capacitação dos professores das disciplinas críticas (Língua Portuguesa e Matemática) das turmas de 6º e 7º anos de escolaridade. META: Promover a capacitação de todos os professores de Matemática das turmas de 6º e 7º anos de escolaridade em 1 ano INDICADOR DA META: Nº de professores de Matemática da unidade escolar / nº de professores de Matemática capacitados x 100 GERENTE DO PLANO DE AÇÃO: INÍCIO: abril de 2008 REVISÃO: bimestral TÉRMINO: dezembro de 2009
Nº AÇÃO PERÍODO
RESPONSÁVEL RESULTADO ESPERADO
INDICADOR
CUSTO QUEM
FINANCIA INÍCIO TÉRMINO CAPITAL CUSTEIO
8 Realizar 1 (uma) reunião mensal para discutir as dificuldades dos professores de Matemática e propor soluções, mediante estudos de reflexões acerca da sua prática pedagógica.
ABR
DEZ
Prof.
Reunião realizada
Realizadas x 100 A realizar
PDE
Capacitar 12 professores de Língua Portuguesa do 2º segmento com base nos PCNs e na Proposta Pedagógica da SME/DC.
AGO
DEZ
Prof.
Avaliação realizada
Capacitações realizadas/ capacitações previstas x 100
1.000,00
PDE
ANEXO F - PLANO DE SUPORTE ESTRATÉGICO – PANO DE AÇÃO DESDOBRAMENTO DAS METAS EM PLANO DE AÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DELTA OBJETIVO ESTRATÉGICO: Envolver a comunidade escolar em atividades significativas de aprendizagem, fortalecendo a integração escola-comunidade. LÍDER DO OBJETIVO: ESTRATÉGIA: Promover encontros direcionados aos pais dos alunos com baixo desempenho. META: Realizar um encontro bimestral de pais de alunos com baixo desempenho em Língua Portuguesa nos 6º e 7º anos de escolaridade. INDICADOR DA META: Nº de encontros realizados bimestralmente / nº de encontros a serem realizados x 100 GERENTE DO PLANO DE AÇÃO: INÍCIO: abril de 2008 REVISÃO: bimestral TÉRMINO: dezembro de 2009
Nº AÇÃO PERÍODO
RESPONSÁVEL RESULTADO ESPERADO
INDICADOR
CUSTO QUEM
FINANCIA INÍCIO TÉRMINO CAPITAL CUSTEIO
9 Elaborar 1 (um) cronograma de reuniões bimestrais para os pais de alunos com baixo desempenho em Língua Portuguesa nos 6º e 7º anos de escolaridade.
ABR
DEZ
Prof.
1 (um) Cronograma elaborado
Cronograma elaborado / cronograma previsto x 100
PDE
Realizar 1 (um) encontro bimestral com pais de alunos com dificuldades em Língua Portuguesa.
ABR
DEZ
Prof.
1 (um) encontro realizado
Realizadas x 100 A realizar
PDE
ANEXO F - PLANO DE SUPORTE ESTRATÉGICO – PANO DE AÇÃO DESDOBRAMENTO DAS METAS EM PLANO DE AÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DELTA OBJETIVO ESTRATÉGICO: Envolver a comunidade escolar em atividades significativas de aprendizagem, fortalecendo a integração escola-comunidade. LÍDER DO OBJETIVO: ESTRATÉGIA: Promover encontros direcionados aos pais dos alunos com baixo desempenho. META: Realizar um encontro bimestral de pais de alunos com baixo desempenho em Língua Portuguesa nos 6º e 7º anos de escolaridade. INDICADOR DA META: Nº de encontros realizados bimestralmente / nº de encontros a serem realizados x 100 GERENTE DO PLANO DE AÇÃO: INÍCIO: abril de 2008 REVISÃO: bimestral TÉRMINO: novembro de 2009
Nº AÇÃO PERÍODO
RESPONSÁVEL RESULTADO ESPERADO
INDICADOR
CUSTO QUEM
FINANCIA INÍCIO TÉRMINO CAPITAL CUSTEIO
10 Elaborar 1 (um) cronograma de encontros bimestrais para os pais de alunos com baixo desempenho em Matemática nos 6º e 7º anos de escolaridade.
OUT
OUT
Prof.
Palestra realizada
Cronograma elaborado / cronograma previsto x 100
PDE
Realizar 1 (um) encontro bimestral com pais de alunos com dificuldades em Matemática.
ABR
NOV
Prof.
Palestra realizada
Encontro elaborado / encontro previsto x 100
PDE
ANEXO F - PLANO DE SUPORTE ESTRATÉGICO – PANO DE AÇÃO DESDOBRAMENTO DAS METAS EM PLANO DE AÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DELTA OBJETIVO ESTRATÉGICO: Envolver a comunidade escolar em atividades significativas de aprendizagem, fortalecendo a integração escola-comunidade. LÍDER DO OBJETIVO: ESTRATÉGIA: Promover ações diversas envolvendo setores escolares. META: Realizar u2 (dois) encontros voltados à cidadania durante o ano. INDICADOR DA META: Nº de encontros realizados bimestralmente / nº de encontros a serem realizados x 100 GERENTE DO PLANO DE AÇÃO: INÍCIO: abril de 2008 REVISÃO: bimestral TÉRMINO: novembro de 2009
Nº AÇÃO PERÍODO
RESPONSÁVEL RESULTADO ESPERADO
INDICADOR
CUSTO QUEM
FINANCIA INÍCIO TÉRMINO CAPITAL CUSTEIO
11 Promover 1 (um) um cinema na escola com a participação da comunidade utilizando sala de vídeo (TV, DVD, retroprojetor).
AGO
NOV
Prof.
Cinema realizado
Atividades realizadas / atividades previstas x 100
500,00
PDE
Realizar 1 (um) encontro bimestral com pais de alunos com dificuldades em Matemática.
AGO
NOV
Prof.
Atividades esportivas realizadas
Realizadas x 100 A realizar
500,00
500,00
PDE
ANEXO F - PLANO DE SUPORTE ESTRATÉGICO – PANO DE AÇÃO DESDOBRAMENTO DAS METAS EM PLANO DE AÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DELTA OBJETIVO ESTRATÉGICO: Envolver a comunidade escolar em atividades significativas de aprendizagem, fortalecendo a integração escola-comunidade. LÍDER DO OBJETIVO: ESTRATÉGIA: Promover ações sociais diversas envolvendo todos os setores escolares. META: Realizar 2 (dois) encontros direcionados á comunidade com enfoque em qualidade de vida em 1 (um) ano. INDICADOR DA META: Nº de encontros realizados bimestralmente / nº de encontros a serem realizados x 100 GERENTE DO PLANO DE AÇÃO: INÍCIO: abril de 2008 REVISÃO: bimestral TÉRMINO: novembro de 2009
Nº AÇÃO PERÍODO
RESPONSÁVEL RESULTADO ESPERADO
INDICADOR
CUSTO QUEM
FINANCIA INÍCIO TÉRMINO CAPITAL CUSTEIO
12 Realizar 1 (uma) oficina de reaproveitamento de alimentos.
AGO
NOV
Prof.
1 (uma) oficina realizada
Realizada x 100 A realizar
200,00
PDE
Oferecer 1 (uma) oficina de material reciclado.
AGO
NOV
Prof.
1 (uma) oficina realizada
Realizada x 100 A realizar
500,00 200,00
PDE
ANEXO G - PLANILHA: PLANO DE AÇÕES FINANCIÁVEIS (PAF) /CONSELHO ESCOLAR - PDE / 2010
SALDO PDE/ 2008 CAPITAL: R$ 4,59 CUSTEIO: R$ 4,59
ESCOLA MUNICIPAL DELTA Item Categoria Descrição Documento Previsto Executado Saldo a reprogramar
Tipo Número Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio
1 1.1 ADQUIRIR APOSTILAS, 30KITS
LIVROS E 100 TEXTOS PARA
REVISÃO DOS CONTEÚDOS DE LÍNGUA
PORTUGUÊSA E MATEMÁTICA
0,00
1.000,00
1.000,00
2 1.11 CONTRATAR PROFISSIONAL PARA
REALIZAR UMA OFICINA PEDAGÓGICA DE
LÍNGUA PORTUGUESA E
MATEMÁTICA SEMESTRALMENTE
0,00 700,00 700,00
3 1.11 CONTRATAR PROFISSIONAL PARA
CAPACITAR 24 PROFESSORES DE LÍNGUA
PORTUGUESA E MATEMÁTICA
0,00 1.200,00 1.200,00
4 2.1 ADQUIRIR 15 VÍDEOS PARA
REVISÃO DOS CONTEÚDOS DE LÍNGUA
PORTUGUESA E MATEMÁTICA P/
REALIZAR ATIVIDADE COM TEMA
VIAJANDO NA LEITURA
600,00 0,00 600,00
5 1.16 REALIZAR 4 AULAS-PASSEIO A MUSEUS,
TEATROS E BIBLIOTECAS PARA INCENTIVAR
AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA PORTUGUESA E
MATEMÁTICA
0,00 3.000,00 1.750,0
0
1, 250,00 +
616,00 =
1.866,00 Item 21
6 2.1 ADQUIRIR 10 FALUTAS, 6 VIOLÕES
P/REALIZAR PROJETO INTERDISCIPLINAR 1.000,00 0,00 955,00 45,00 Item 11
7 1.1 ADQUIRIR 50 GIBIS, 30 REVISTAS PARA
REALIZAR UMA FEIRA LITERÁRIA NA SALA
DE LEITURA
0,00 500,00 500,00
8 2.2 ADQUIRIR 2 RÁDIOS E 10 MICROFONES PARA
REALIZAR ATIVIDADAES INTERDISCIPLINAR 800,00 0,00 800,00
ANEXO G - PLANILHA: PLANO DE AÇÕES FINANCIÁVEIS (PAF) /CONSELHO ESCOLAR - PDE / 2010
SALDO PDE/ 2008 CAPITAL: R$ 4,59 CUSTEIO: R$ 4,59
ESCOLA MUNICIPAL DELTA Item Categoria Descrição Documento Previsto Executado Saldo a reprogramar
Tipo Número Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio
9 1.1 ADQUIRIR 24 JOGOS DE TABULEIROS, 10
BOLAS E OUTROS MATERIAIS PARA
REALIZAR UMA GINCANA DE JOGOS
MATEMÁTICOS
0,00 1.500,00 1.500,00
10 1.3 ADQUIRIR 10 BOLAS P/REALIZAR JOGOS
0,00
600,00
600,00
11 2.2 ADQUIRIR 1 HOME THEATER, 1
PROJETOR DE IMAGEM, 1 FILMADORA
P/REALIZAR DEZ ATIVIDADES
AUDIOVISUAIS NO AUDITÓRIO
2.950,00 0,0 2.950,00
+ 45,00
+ 471,00
=
3.466,00
Itens 6 e 23
12 1.2 AQUIRIR 6 KITS DE SOLVENTES,
ALGODÃO, 5 KITS DE LÂMINAS PARA
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS
0,00 1.000,00 1.000,00
13 1.1 ADQUIRIR 6 JOGOS DE RACIOCÍNIO
LÓGICO E 5 FANTASIAS DE ÉPOCA PARA
IMPLANTAR SISTEMA DE
RECUPERAÇÃO PARALELA
0,00 1.250,00 1.250,00
14 1.14 REALIZAR SERVIÇOS DE XEROGRAFIA
UTILIZANDO 2000 TEXTOS DE
EXERCÍCIOS VARIADOS DE PORTUGUÊS
E MATEMÁTICA P/MINISTRAR 3 AULAS
MENSALMENTE DE RECUPERAÇÃO
PARALELA
0,00 1.000,00 1.000,00
15 1.1 ADQUIRIR 100 REVISTAS VARIADAS, 100
REVISTAS EM QUADRINHOS, 200 CS
PARA PRODUÇÕES DE AUTORIA DOS
ALUNOS NA RÁDIO-ESCOLA, 100 DVDS
P/IMPLEMENTAR MENSALMENTE
ATIVIDADES DE LEITURA E ESCRITA
0,00 2.500,00 2.500,00
ANEXO G - PLANILHA: PLANO DE AÇÕES FINANCIÁVEIS (PAF) /CONSELHO ESCOLAR - PDE / 2010
SALDO PDE/ 2008 CAPITAL: R$ 4,59 CUSTEIO: R$ 4,59
ESCOLA MUNICIPAL DELTA
Item Categoria Descrição Documento Previsto Executado Saldo a reprogramar
Tipo Número Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio
16 2.1 ADQUIRIR 100 DICIONÁRIOS PARA
REALIZAR ATIVIDADES
RELACIONADAS À NOVA ORTOGRAFIA.
ATENÇÃO! DICIONÁRIOS PARA USO
DOS ALUNOS DEVEM SER ADQUIRIDOS
COM RECURSOS DE CUSTEIO
600,00 0,00 600,00
17 1.1 ADQUIRIR 5 SOFTWARES DE LÍNGUA
PORTUGUESA E 4 DE MATEMÁTICA
PARA OS ALUNOS NO LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
0,00 250,00 250,00
18 1.14 REALIZAR SERVIÇOS XEROGRAFIA 6
KITS DE TEXTOS COM ATIVIDADES DE
LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA
0,00
500,00
500,00
19 1.17 CONFECCIONAR FANTASIAS PARA
TEATRO PARA ATIVIDADES DE
LÍNGUA PORTUGUESA E
MATEMÁTICA
0,00 250,00 250,00
20 1.11 CONTRATAR PROFISSIONAL PARA
REALIZAR ENCONTRO PALESTRANTE
PARA FALAR DA IMPORTÂNCIA DA
SINALIZAÇÃO DE SURDOS
0,00 500,00 500,00
ANEXO G - PLANILHA: PLANO DE AÇÕES FINANCIÁVEIS (PAF) /CONSELHO ESCOLAR - PDE / 2010
SALDO PDE/ 2008 CAPITAL: R$ 4,59 CUSTEIO: R$ 4,59
ESCOLA MUNICIPAL DELTA
Item Categoria Descrição Documento Previsto Executado Saldo a reprogramar
Tipo Número Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio
21 1.13 ADQUIRIR MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO:
PLACAS E OUTROS INSTRUMENTOS
PARA DISTRIBUIÇÃO NOS ESPAÇOS DA
ESCOLA
0,00 800,00 184,00 616,00
22 1.13 PREPARAR A REDE ELÉTRICA DO
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO
PROINFO PARA ATIVIDADES DE
LEITURAS E ESCRITA DOS ALUNOS
SURDOS DA ESCOLA
0,00 2.000,00 1.421,60 578,40
23 3 ADQUIRIR CADEIRAS ESPECÍFICAS
PARA LABORATÓRIO DO PROINFO 2.000,00 0,00 1.529,00 471,00 Item 11
TOTAL
7.950,00
18.550,00
2.484,00
3.855,60
5.466,00
14.694,40
ANEXO H – TERMO DE CONSENTIMENTO
Eu:...............................................................................................................................,Identidade
nº:.......................,órgão:.......................................,data de emissão:.............:...................,declaro
consentimento de gravação da entrevista, por mim dada junto à pesquisa de campo com a
mestranda Marlene dos Prazeres Rosa, da Universidade Estácio de Sá – RJ, na oportunidade
afirmo estar ciente dos objetivos da referida pesquisa, bem como do total anonimato da citada
entrevista.
Data: Duque de Caxias,... de dezembro 2010.
Nome do (a) entrevistado (a): ......................................................................................................
Assinatura do (a) entrevistado (a): ...............................................................................................
Endereço para que os pesquisados possam retirar as dúvidas:
Nome Universidade Estácio de Sá / UNESA - RJ
CNPJ 34.075.739/0001-84
Nacional
Endereço Rua do Riachuelo 27, 6º andar
Bairro Arcos da Lapa
Cidade Rio de Janeiro - RJ
Código Postal 21230010
Fax (21) 3231-6135
Email [email protected]
Nome (mestranda) Marlene dos Prazeres Rosa
Matrícula na UNESA
200903000027
Telefone (21)33275181/98895224
Email [email protected]