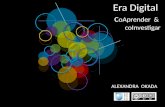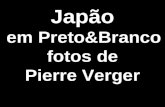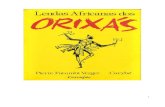UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO UEMA CENTRO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS EXATAS E ... · 2015. 9....
Transcript of UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO UEMA CENTRO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS EXATAS E ... · 2015. 9....
-
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA
CENTRO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS – CECEN
DEPARTAMNETO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA
CURSO DE HISTÓRIA LICENCIATURA
INGRID JANNE BELFORT MENDES
NAÇÕES, IDENTIDADES ÉTNICAS E ESPAÇOS DE RESISTÊNCIA ESCRAVA EM
DOCUMENTOS HISTÓRICOS DO MARANHÃO. SÉCULOS XVIII E XIX.
São Luís
2014
-
INGRID JANNE BELFORT MENDES
NAÇÕES, IDENTIDADES ÉTNICAS E ESPAÇOS DE RESISTÊNCIA ESCRAVA EM
DOCUMENTOS HISTÓRICOS DO MARANHÃO. SÉCULOS XVIII E XIX.
Monografia apresentada ao Curso de História Licenciatura
da Universidade Estadual do Maranhão, para obtenção de
Grau em História Licenciatura.
Orientadora: Prof.ª Drª Tatiana Raquel Reis Silva
São Luís
2014
-
Mendes, Ingrid Janne Belfort.
Nações, identidades étnicas e espaços de resistência escrava em
documentos históricos do Maranhão séculos XVIII e XIX / Ingrid Janne
Belfort Mendes – São Luís, 2014
73f
Monografia (Graduação) – Curso de História, Universidade Estadual do
Maranhão, 2014.
Orientadora: Prof(a). Dra. Tatiana Raquel Reis Silva.
1.Diáspora africana. 2.Grupos identitários. 3.Religiosidades. 4.Maranhão.
I.Título
CDU: 94(812.1)
-
NAÇÕES, IDENTIDADES ÉTNICAS E ESPAÇOS DE RESISTÊNCIA ESCRAVA EM
DOCUMENTOS HISTÓRICOS DO MARANHÃO. SÉCULOS XVIII E XIX.
INGRID JANNE BELFORT MENDES
Monografia apresentada ao Curso de História da Universidade Estadual do Maranhão, para a
obtenção do Título de Licenciatura em História.
Aprovada em ___/____/___
BANCA EXAMINADORA
Profª Drª Tatiana Raquel Reis Silva
1° EXAMINADOR (A)
2° EXAMINADOR (A)
-
Agradecimentos
Primeiramente à Deus, por nunca me abandonar quando acreditei que não havia mais
saídas.
Aos meus pais, Pedro Francisco por me mostrar qual caminho eu não devo seguir e
pelas conversas e principalmente à minha mãe, Sônia Maria meu porto seguro, minha melhor
amiga, se eu cheguei até aqui foi por você mãe.
Ao meu irmão mais velho Francisco que sempre está ao meu lado em todos os
momentos da minha vida.
Aos meus familiares, tios (as), primos (as), sobrinhos (as).
À minha madrinha Providência, que sempre foi um anjo em minha vida!
À Tia Elisa, a mulher mais alegre que conheço, agradeço pelo apoio que sempre deu
para a minha família. Seus conselhos são de ouro!
Ao professor Nielson Rosa Bezerra, por me confiar seu projeto de pesquisa e pelos
conselhos ao longo dos anos, tu és um amigo valioso! Muito obrigada!
À minha orientadora de projeto de iniciação científica e da monografia Tatiana Raquel
Reis Silva, muito obrigada pela paciência, obrigada pela orientação, pelos ensinamentos, pela
confiança, pelos puxões de orelha quando mereci, pelos livros emprestados, sua ajuda foi
fundamental para a construção desse trabalho, MUITO OBRIGADA MESMO!
Ao professor Reinaldo Barroso, pela ajuda nas referências bibliográficas e
documentais.
Aos professores da UEMA, pelos ensinamentos passados ao longo desses quatro anos
de estudos, vocês são sensacionais.
Aos integrantes do grupo NEÁFRICA.
Aos órgãos FAPEMA e UEMA, por financiarem por dois anos o projeto de iniciação
científica na qual participei como bolsista pesquisadora.
À Gráfica e Editora SEGRAF, pela colaboração das impressões realizadas ao longo
desta obra.
Aos meus amigos (a) de longa data que me ajudaram direta e indiretamente na
construção desta obra e aos meus amigos da UEMA, mas principalmente à Josena, por estar
sempre comigo, pelas conversas, pela parceria nos estudos, pelo incentivo. Descobrir uma
amiga-irmã, esses anos na graduação não seriam os mesmos sem a sua companhia.
-
Peço desculpas às pessoas que não mencionei aqui diretamente, são poucas linhas para
falar de todos que me ajudaram na construção deste texto, mas saibam que sou muito
agradecida por tudo.
-
RESUMO
A escravidão representou mudanças sociais, políticas e econômicas na história da
humanidade, fato este que modificou a vida dos sujeitos escravizados e o cotidiano dos
lugares onde o tráfico de escravos africanos era vigente. Este trabalho tem por objetivo
oferecer uma breve análise da serialização de informações e fontes históricas através dos
documentos disponíveis no Arquivo Público do Estado do Maranhão (APEM). Com isso,
também, intenciona identificar as procedências dos sujeitos escravizados que aportaram no
Maranhão, utilizando como documentação os passaportes emitidos a escravos e forros durante
os séculos XVIII e XIX e analisar os espaços de sociabilidades religiosas através das Cartas
de Compromissos das Irmandades de Nossa Senhora do Rosário de Santa Efigênia, ambas
com altares na Igreja de Nossa Senhora do Rosário de São Luís e do Bom Jesus da Cana
Verde com altar na Igreja de Nossa Senhora das Mercês também da capital e de a análise do
Livro número 09 de Registro de Óbitos da Freguesia de Nossa Senhora da Vitória (1825 –
1835), na tentativa de identificar as procedências africanas que se mantiveram na província
maranhense.
Palavras-chaves: Diáspora africana – Grupos identitários – Religiosidade – Séculos XVIII e
XIX – Maranhão
-
ABSTRACT
Slavery represented social, political and economic changes in the history of humanity, fact
that modified the lives of slaved people and the quotidian of places where the slave’s traffic
was present. This work has the objective of offering a brief analyses of the information series
and historical fonts through the available documents at the Public Archive of the State of
Maranhão (PASM). Besides, this work intends to identify the origin of slaved subjects that
apported in Maranhão, making use of passports emitted to slaves and freed slaves during the
XVIII and XIX centuries and analyse the spaces of religious sociability through the Letters of
Commitment of the Nossa Senhora do Rosário of Santa Efigência Fraternity, both with altars
in the Church of Nossa Senhora do Rosário at São Luís and of Bom Jesus da Cana Verde with
an altar in the Church of Nossa Senhora das Mercês also from the capital, and of analyzing
the Book number 09 of Deaths Register from the Parish of Nossa Senhora da Vitória (1825-
1835), in the attempt of identifying the Africans origins that kept presence in Maranhão’s
province.
Key-words: African Diaspora – Identity groups – Religiousness – XVIII and XIX Centuries -
Maranhão
-
SUMÁRIO
Agradecimentos ........................................................................................................05
Resumo .....................................................................................................................07
Abstract .....................................................................................................................08
Introdução..................................................................................................................10
1 CAPÍTULO 1 – ESCRAVIDÃO NA ÁFRICA E O TRÁFICO
TRANSATLÂNTICO ............................................................................................14
1.1 Escravidão e os africanos no Maranhão ..................................................17
2 CAPÍTULO 2 – NAÇÕES E IDENTIDADES ÉTNICAS NO CONTEXTO
ESCRAVISTA ........................................................................................................24
2.1 Nações, Identidades étnicas e escravidão no Maranhão: o passaporte
como fonte documental............................................................................28
3 CAPÍTULO 3 - IDENTIDADES ÉTNICAS E ESPAÇOS DE RESISTÊNCIAS:
o papel das irmandades negras ..........................................................................42
3.1 Instituições negras no Maranhão: as Irmandades de Nossa Senhora do
Rosário dos Pretos, de Santa Efigênia e do Bom Jesus da Cana
Verde..............................................................................................................48
3.2 Análises documentais sobre as Irmandades negras do Maranhão: a
utilização do Livro de Óbitos da Freguesia de Nossa Senhora da Vitória de
São Luís.........................................................................................................54
Considerações Finais .................................................................................................. 64
Referências ................................................................................................................. .. 66
Anexos ......................................................................................................................... 71
-
10
INTRODUÇÃO
A escravidão constituiu uma forma de exploração cuja característica principal
era a retirada de privilégios, tornando o sujeito escravizado uma propriedade. Iniciada
no Mundo Antigo, logo nas primeiras sociedades, a escravidão não fazia distinção de
cor ou raça, a pessoa tornava-se escravo através das dívidas, guerras e diferenças
religiosas. Naquela conjuntura, eram bens móveis que poderiam ser vendidos ou
trocados a qualquer momento e tornar-se-iam livres quando cumprisse ou pagasse a sua
dívida, já que a escravidão era de ordem extremamente econômica.
Estes registros demonstram que a escravidão não fora uma exclusividade do
continente africano, tanto na Europa quanto no Oriente identificamos a presença escrava
já em época antigas. Na África as dinâmicas escravistas se diferenciavam
completamente daquela que será observada a partir do Tráfico Transatlântico no século
XVI, os escravos poderiam ser de grupos étnicos derrotados por guerras, disputas
territoriais, exploração da terra entre outros aspectos. Assim, as sociedades africanas
que a priori se caracterizavam pela existência da população cativa, se tornaram a partir
de então, sociedades escravistas.
O comércio Atlântico de escravos deu origem a migração forçada mais
contundente de toda a história da humanidade. Isso representa hoje um componente
fundamental para a compreensão da história das sociedades americanas e das relações
entre elas e a África. Este comércio acarretou transformações culturais e transposições
demográficas que marcaram a vida de ambos os lados do Atlântico. Assim, o tema do
Tráfico e Comércio Atlântico de Escravos Africanos tem se tornado uma chave
fundamental para o aprofundamento das reflexões sobre as dinâmicas Atlânticas do
ponto de vista econômico, político e cultural; ferramenta essencial para uma melhor
visão da formação da sociedade moderna ocidental.
Como forma de tentar melhor compreender este processo, a historiografia
brasileira por algum tempo se baseou nas grandes rotas Atlânticas para pensar o
comércio de escravos africanos. Os melhores exemplos dessas rotas foram às
explicações construídas através das relações diretas entre a África Ocidental e a Bahia,
onde o tabaco produzido nas fazendas do recôncavo baiano constituiu a principal
mercadoria utilizada na aquisição de escravos na Costa da Mina.
Da mesma forma, a aguardente foi consagrada como a principal mercadoria de
troca por escravos na grande rota do Atlântico Sul, sobretudo aquela que ligava os
-
11
portos de Luanda e do Rio de Janeiro1. Durante os séculos XVIII e XIX, o Rio de
Janeiro foi não apenas uma cidade escravista, mas a principal porta de entrada de
escravos africanos no Brasil2. Estas análises muito contribuíram para obtermos maiores
informações sobre as trocas que ocorriam nos dois lados do Atlântico. Todavia, nos
últimos anos a historiografia brasileira tem buscado novas chaves de interpretação sobre
a diáspora africana e as “rotas minoritárias” têm oferecido uma alternativa de reflexão
sobre o tema3.
Como forma de melhor compreender essas trocas, pesquisas sobre o comércio de
escravos africanos têm se tornado peças fundamentais para o aprofundamento das
reflexões sobre algumas das dinâmicas que se estabeleceram nos dois lados do
Atlântico. Partindo de uma perspectiva política, econômica e cultural estes trabalhos
ajudam a entender os mais diversos aspectos que marcaram a vivência destes sujeitos no
“Novo Mundo”. Temas como agricultura, culinária, religião, língua, música, artes e
arquitetura, também ganham destaque em meio a essas análises.
As identidades das pessoas escravizadas que saíram do continente africano e
chegaram a diferentes regiões do Brasil foram ressignificadas através da dinâmica do
Tráfico Transatlântico de Escravos. Desta forma, o estudo das rotas comerciais
Atlânticas e as identidades dos escravizados que trabalhavam no Maranhão setecentista,
oitocentista e novecentista estão diretamente relacionados.
Neste sentido, podemos destacar o papel que os Estados do Norte do Brasil
possuíram na dinâmica do Tráfico Transatlântico de Escravos, Estados estes que são o
Maranhão e o Estado do Pará, que a partir de Rafael Chambouleyron (2005), com a
ideia de um Atlântico Equatorial. No caso, o objetivo desse conceito é caracterizar uma
relação Atlântica que desse sentindo ao Maranhão e ao Pará entre os séculos XVIII e
XIX, que pertencem ao recorte temporal que este autor utiliza para análise. O objetivo
central de Chambouleyron é insistir que as conquistas de Portugal na América possuem
espaços completamente distintos nas maneiras como se formavam e organizavam a
1 Sobre este tema ver: Pierre Verger. Fluxo e refluxo do tráfico de escravos entre o golfo do Benin e a Bahia de Todos os Santos dos séculos XVIII e XIX. São Paulo: Corrupio, 1987; Manolo Florentino.
Em costas negras: uma história do tráfico de escravos entre a África e o Rio de Janeiro. São Paulo:
Companhia das Letras, 1997; Luís Felipe de Alencastro. O Trato dos Viventes: formação do Brasil no
Atlântico Sul, séculos XVI e XVII. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 2 BEZERRA, Nielson Rosa. Escravidão, Farinha e Tráfico Atlântico: um novo olhar sobre as Relações
entre o Rio de Janeiro e Benguela (1790 -1830). Programa Nacional de Apoio á Pesquisa. Fundação
Biblioteca Nacional. 2010. 3 Mariza de Carvalho (org.). Rotas atlânticas da diáspora africana: entre a Baía do Benim e o Rio de
Janeiro. Niterói. EdUFF. 2007.
-
12
sociedade e economia dos dois locais. O autor expõe também que as cidades de São
Luís e Belém detiveram relações comerciais diretas com Lisboa, vários locais do
Atlântico (no caso os arquipélagos de Açores, Madeira e Cabo Verde) e o próprio
continente africano, por isso, a importância de um estudo específico sobre esses lugares,
separando-os da historiografia geral brasileira4.
A partir desses apontamentos de Chambouleyron que esta pesquisa busca
compreender as dinâmicas do Tráfico Transatlântico de Escravos na província
maranhense entre os séculos XVIII e XIX, focando nas relações de “nação” e
identidades desses sujeitos escravizados e os aspectos de sociabilidade e economia,
utilizando como documentação base, primeiramente, os passaportes emitidos para
escravos e forros e, em seguida, a documentação referente às irmandades negras no
Maranhão oitocentista.
Com isso o primeiro capítulo é construído na tentativa de explanação sobre
como se decorreu o processo de escravidão primeiramente no continente africano
explanado as principais características e as rotas do Tráfico Transaarianos para o
Tráfico Transatlântico de africanos escravizados. Depois a análise segue em relação ao
tráfico no Brasil, utilizando-se de um contexto geral para depois falar das
especificidades da escravidão maranhense, apresentando dados e análises dos principais
autores que discutem a temática.
O segundo capítulo já se inicia a análise documental dos passaportes que se
encontram no setor de avulsos e no Repertório da História da Escravidão do Maranhão
disponível para consultas no Arquivo Público do Estado do Maranhão – APEM. É
pensado qual é o papel desses documentos na identificação desse sujeito escravizado e
forro que transitava dentro e fora da província maranhense durante os séculos XVIII e
XIX. E também é feito os levantamentos bibliográficos sobre as discussões do que é
“nação” no Brasil nessa época e o que esse eixo tem de importante para a compreensão
desse sujeito na sociedade escravista vigente na época.
Por fim, o último capítulo busca a compreensão social dos escravos e forros
nessa sociedade a partir de suas participações nas instituições religiosas denominadas de
Irmandades. È usada às cartas de compromissos das Irmandades de Nossa Senhora do
Rosário da Capital e a da Irmandade de Santa Efigênia, ambas possuem altar na Igreja
4 Entrevista de Rafael Chambouleyron, professor da Universidade Federal do Pará, sobre o tema “Escravidão”, concedida a Revista Outros Tempos. Volume 6, número 8, dezembro de 2009 - Dossiê
Escravidão. Págs 163-165.
-
13
de Nossa Senhora do Rosário de São Luís e da Irmandade de Bom Jesus da Cana Verde
que possuía seu altar alugado na Igreja de Nossa Senhora das Mercês, também na
capital. Para compreender o funcionamento dessas instituições na sociedade maranhense
do século XVIII e XIX foram utilizados os Registros de Óbitos da Freguesia de Nossa
Senhora da Vitória que fazem partem da documentação da Arquidiocese do Estado do
Maranhão que se encontram disponíveis para pesquisa no Arquivo Público do Estado do
Maranhão – APEM, documentos estes usados para a identificação de quais nações
pertenciam às pessoas que se congregavam nas Irmandades negras maranhenses
oitocentistas.
-
14
CAPÍTULO 1
A ESCRAVIDÃO NA ÁFRICA E O TRÁFICO TRANSATLÂNTICO
Em África a escravidão começou no século XV e durou até o século XX,
inicialmente o comércio era feito internamente, especialmente no Mediterrâneo Antigo,
onde os muçulmanos eram responsáveis pelas rotas do tráfico. Logo nos primeiros anos,
de 1400 e 1600, uma das áreas mais importantes do tráfico interno partia da fronteira sul
do deserto do Saara, passando pelas praias do Mar Vermelho até a Costa Oriental
africana. Outra rota ia da Arábia Saudita até o Chifre da África, mais especificamente na
chamada região de Abissínia, que compreende atualmente a Etiópia. De acordo com
Alberto da Costa e Silva (2012), antes das investidas portuguesas, a influência europeia
no continente era baixa em comparação ao islamismo.
A presença política europeia na África era, portanto, muito
limitada. Discreta. Não se comparava á do islame, que, desde o século IX, atravessara o deserto e se fora lentamente
derramando pelo Sael e a Savana. Nos começos do século XI,
um mansa ou soberano do Mali fazia peregrinação a Meca. Nos Duzentos, Tombucu e Jenné tornaram-se importantes centros de
saber islâmico, seus passos sendo seguidos, mais tarde, pelos
burgos amuralhados dos hauças. No início do século XIX, das
savanas do Senegal ao planalto do Adamaua, as instituições políticas aspiravam a ajustar-se ao modelo muçulmano, e as
elites liam o árabe e estudavam o Alcorão, ainda quando as
massas continuassem fiéis ás crenças tradicionais. Em muitos lugares, muito antes do primeiro pregador muçulmano,
chegavam do Egito, da Líbia, do Marrocos ou do Siel
islamizado o turbante, a sela com estribo, com certos modos de vida e até mesmo volumes do Alcorão, com o prestígio de
objeto mágico. (COSTA e SILVA, 2012, p. 57)
A penetração europeia no continente se dá a partir de 1415, com a conquista de
Ceuta, já em 1441 iniciou-se a deportação de africanos para Lisboa, marcando o
prelúdio da imigração forçada destes sujeitos: o tráfico negreiro, que duraria até a época
moderna. Avalia-se que entre os anos de 1450 até 1500, Portugal exportou por ano entre
setecentos e novecentos escravos africanos para as Américas. Segundo Soares (2005)
com a tomada de Ceuta, Portugal conquistou uma importante praça comercial,
estabelecendo um contato regular com o mundo muçulmano, cujas caravanas mapearam
por terra as cidades que os portugueses iriam atingir por mar. Neste momento, a Rota
Transatlântica de Escravos tornou-se mais importante do que a Rota Transaariana,
anteriormente efetivada através do Saara, modificando totalmente as dinâmicas de
-
15
efetivação do tráfico a partir do oceano Atlântico. Costa e Silva (2012) descreve a
mudança significativa que houve na rota do tráfico.
Os mercados transatlânticos se foram paulatinamente tornando
mais importantes do que os antigos empórios transaarianos. A
vinculação floresta-savana-Sael-deserto-Mediterrâneo foi parcialmente substituída pela ligação savana-floresta-praia, ou a
ela, estendendo-se até o Mar Oceano, se somou. (COSTA E
SILVA, 2012, p. 57)
As rotas Atlânticas passaram a atender a lógicas bem específicas, Luis Nicolau
Parés (2007, p.42), ao realizar uma importante análise das áreas geográficas de
povoamentos e ciclos do tráfico em África, traz uma descrição da rota do tráfico feita
por Portugal a partir da metade do século XVI, cuja formação se desdobrava em “três
ciclos: o ciclo da Guiné, durante a segunda metade do século XVI; o ciclo da Angola e
do Congo, no século XVII; e o ciclo da Costa da Mina, durante os três primeiros quartos
do século XVIII”.
Ainda sobre o processo histórico de constituição e expansão da escravidão no
continente africano, Paul Lovejoy (2002) aponta para a reconfiguração de um “modo de
produção escravista” especialmente após a chegada dos europeus. Esse processo, que já
havia sido iniciado desde a dominação muçulmana, com a chegada europeia sofreu
mudanças significativas afetando a organização da vida social das regiões que passou a
vivenciar mais diretamente essa realidade. No tocante a este “modo de produção
escravista”, o autor destacar que:
Um “modo de produção escravista” existia quando a estrutura
social e econômica de uma determinada sociedade incluía um sistema integrado de escravização, tráfico de escravos e
utilização interna dos cativos. Os escravos tinham que ser
empregados na produção [...] Essa transformação geralmente
significava que os escravos eram utilizados na agricultura e/ou na mineração, mas também podia se referir a sua utilização no
transporte como carregadores, capatazes e remadores de canoa.
(LOVEJOY, 2002, p. 40)
Com a implementação deste “modo de produção escravista” ocorreu um
processo de reconfiguração das rotas do tráfico, os muçulmanos perderam espaços e os
europeus iniciaram a jornada no continente africano. Não obstante, vale ressaltar que,
ainda segundo Lovejoy (2002, p.45) os africanos tinham uma efetiva participação nas
transformações que ocorriam na sociedade em que viviam, pois estavam conectados
-
16
desde o seu interior até o litoral por muitas possibilidades de interação que tinham
acesso através do complexo Atlântico.
Dentre as principais áreas que passaram a ganhar destaque neste momento,
pode-se destacar: “primeiramente, a região Congo-Angola, que se manteve até o XIX;
em segundo, a Costa dos Escravos ou Golfo do Benim, cuja movimentação ocorreu
entre os séculos XVII e XIX; em terceiro, a área denominada de Costa do Ouro, do
século XVIII até os anos de 1800; e por fim, a Baía do Biafra, que se iniciou no ano de
1700 e prolongou-se por mais um século” (LOVEJOY, 2002, p.50).
O chamado “Novo Mundo” constituiu o principal destino de africanos ao longo
de toda a vigência do Tráfico Transatlântico, sendo as Américas o principal receptáculo
dessa mão de obra escrava. Como assinala Reinaldo Barroso (2013):
[...] A primeira e mais forte imagética de propagação da
diáspora pelo Atlântico foi o tráfico de escravos, através do
oceano cruzaram embarcações, intituladas durante o século XIX de tumbeiros, que carregavam uma quantidade variada de
escravos africanos para o chamado “Novo Mundo” onde iriam
sustentar o sistema de exploração colonial instituído pelas
metrópoles europeias. (BARROSO JÚNIOR 2013, p. 89)
Nas palavras de Costa e Silva (2012, p.54), houve uma forte vinculação das
costas africanas com as costas americanas, permitindo assim que a dinâmica do tráfico
acontecesse. Com isso o tráfico possibilitou o estabelecimento, desde o século XVII,
mas, sobretudo a partir do século XVIII, de fortes vínculos entre certos pontos do litoral
africano e as costas Atlânticas das Américas. O comércio de braços humanos não
aproximou apenas as praias, mas se estendeu até o interior do sertão africano.
O Brasil, sem dúvida, foi o local que mais recebeu africanos, “entre os séculos
XVI e XIX, 40% dos quase dez milhões de africanos importados pelas Américas
desembarcaram nos portos brasileiros” (CURTIN apud FLORENTINO, 1997, p.23.).
Dessa forma, o século XVII conheceu o desenvolvimento do tráfico de escravos entre o
Brasil e a África abrindo portas para escravos de vários locais do continente africano,
adentrar na colônia portuguesa nas Américas (BEZERRA, 2010, p.08.). O tráfico além
de ser um “comércio de almas” pode ser tratado, segundo Manolo Florentino (1997 p.
24), em três grandes eixos: como variável do cálculo econômico da empresa escravista
colonial, enquanto fluxo demográfico e como negócio.
A expansão europeia pelo Oceano Atlântico a partir do século
XV transformou-se num cenário de migrações intercontinentais
-
17
ao gerir o contato entre diferentes culturas e povos, dentre as
quais se destacam os europeus, os africanos e os nativos deste
imenso território [...] Afinal, para além dos múltiplos negócios que lhes forjaram um sentido econômico, importa não esquecer
que os envolvidos nesse processo vivenciaram trocas culturais,
conflitos, esperanças e angústias a partir do modo como foi dada a sua inserção no mesmo. (PEREIRA, 2013, p. 53)
Assim, a entrada dos africanos no continente americano foi possível a partir do
tráfico Atlântico que se tornou um dos maiores empreendimentos comerciais e culturais
que marcaram a formação do mundo moderno, caracterizado como um sistema
econômico mundial. O comércio entre a África e o Brasil além de bens de consumo
envolvia seres humanos, o que representou um intenso processo de transformações
culturais e transposições demográficas ao longo dos séculos XVIII e XIX,
especialmente, entre os países que vivenciaram essa realidade mais diretamente.
1.1 A escravidão e os africanos no Maranhão
No Maranhão a introdução do africano escravizado aconteceu em grande
quantidade a partir de 1755, com a fundação da Companhia de Comércio Grão-Pará e
Maranhão pelo Sebastião José de Carvalho e Melo o Marquês de Pombal, então
ministro do Rei de Portugal D. João I. A criação da companhia de comércio foi uma
tentativa de reorganização da administração do império português na parte do norte da
colônia portuguesa, num anseio de levantar a indústria e comércio no Maranhão e no
Grão-Pará. A entrada dos africanos na região se deu a partir da necessidade de
utilização destes no trabalho do cultivo de arroz e algodão.
A ascensão da comercialização de produtos nas terras do Norte aconteceria com
a entrada maciça e autorizada de africanos escravizados. Anteriormente, o comércio
havia sido controlado pelos jesuítas e a mão de obra explorada era a indígena, mas tal
prática fora cerceada com a “política indianista do período, materializada por meio da
declaração de liberdade dos índios e da supressão do poder temporal dos religiosos em
6 e 7 de junho de 1755 e, em especial do Diretório dos Índios de 1757” (RAYMUNDO,
2005, p. 02.). Por isso a utilização do africano escravizado para o trabalho braçal foi de
comum acordo entre fazendeiros e colonos. Letícia de Oliveira Raymundo (2005)
assinala que:
Neste momento começou a se configurar uma nova fase na
gestão metropolitana o Estado do Maranhão Grão-Pará, o qual passou a constituir em 1751 o Estado Grão-Pará e Maranhão,
-
18
governado desde sua criação até 1759 por Francisco Xavier de
Mendonça Furtado, meio irmão de Sebastião José. Tal Estado,
há tempos, era palco de uma acirrada disputa entre colonos e religiosos, sobretudo, jesuítas pelo controle da população
indígena, base da mão de obra local. Enquanto a economia
missionária prosperava, em grande parte pelo poder temporal que estes exerciam sobre os índios e as isenções dos direitos de
alfândega que possuíam, os colonos constantemente se
queixavam da falta de acesso á mão de obra. Em meados do
século XVIII a Coroa buscou reverter esta dinâmica econômica em benefício do reino, bem como ampliá-la, inserindo-a no
sistema do tráfico africano, e consequentemente, no sistema
mercantil do Atlântico Sul. (RAYMUNDO, 2005, p. 02)
De acordo com a autora, o comércio realizado pelos padres jesuítas era
prejudicial para a economia da província maranhense e a única forma de mudança seria
a modificação do sistema econômico e também daqueles que administravam, por isso o
incentivo e o apelo feitos pelos colonos ao governador da província para a
implementação de um novo sistema de controle econômico. Para estes, o comércio
praticado pelos eclesiásticos representava um entrave a ser superado, pois além de não
pagar pela utilização do trabalho indígena, eles estavam isentos das tarifas
alfandegárias, prejudicando assim a arrecadação dos cofres públicos (RAYMUNDO,
2005, p. 05).
Sobre a questão da ausência de mão de obra para o trabalho nos campos
maranhenses, Regina Faria (2012) aponta que naquela conjuntura a não utilização
maciça do escravo no Maranhão era vista como causadora da lentidão no processo de
colonização das terras da província e consequentemente, dos processos econômicos e
das plantações e, portanto, atrasava o crescimento agroexportador da época. Estes, entre
outros problemas, estavam logo expostos na capital da província maranhense.
[...] São Luís era uma cidade pequena e pobre, com pouco mais
de mil habitantes, residindo em rústicas casas, uma de madeira,
cobertas com folhas de palmeiras e outras de taipa ou de adobe,
com coberturas de telhas-vãs. A Vila de Tapuitapera, futura Alcântara e segundo núcleo populacional da capitania, tinha tão
somente quatrocentas pessoas. Nessa época, predominava a
escravidão indígena em suas diferentes formas, apesar da vigorosa oposição dos jesuítas. Mas havia também escravos
africanos, embora ainda minoritário. (FARIA, 2012, p. 62)
Outro autor que analisa a entrada de escravos africanos na província maranhense
é Rafael Chambouleyron (2005), uma das justificativas utilizadas pelo autor é da
prosperidade econômica que o Estado do Brasil vivia em função da introdução dos
-
19
escravos africanos como mão de obra braçal, por isso houve o pedido urgente e o forte
desejo dos colonos para o envio destes.
Em inúmeros textos seiscentistas escritos do e sobre o Estado
do Maranhão, a imagem de que o Estado do Brasil só havia
prosperado graças ao uso de africanos torna-se um argumento fundamental para defender o urgente envio de escravos da
África para a região, situação que também se projetou ao longo
de todo o século XVIII, como demonstrou Dauril Alden. [...] Nada mais natural, então, que em épocas de crise se recorresse
ao tráfico de africanos como alternativa para a falta de
trabalhadores indígenas. (CHAMBOULEYRON, 2006, p. 02-
04)
Chambouleyron também usa palavras do Vigário-geral do Maranhão, na época o
padre Domingos Antunes Tomás, que legitimava a entrada dos africanos na Província.
A Igreja Católica, assim como os letrados coloniais, teve uma parcela de contribuição
importante neste processo. Segundo o autor, para entender a constituição de uma
incipiente rota escrava, torna-se fundamental considerar elementos específicos da
formação da sociedade colonial no Estado do Maranhão.
[...] Em primeiro lugar, o impacto das epidemias de varíola sobre os trabalhadores indígenas, que ensejou uma 'corrida' aos
africanos, principalmente na década de 1690. Em segundo
lugar, a delicada situação financeira da Fazenda real, que viu no comércio de africanos uma importante alternativa para
viabilizar a reprodução do domínio militar português na região.
E, em terceiro lugar, a experiência da Companhia de Comércio
do Maranhão, de 1682, instituída para enviar escravos africanos ao Estado, em face de uma lei geral de liberdade indígena
publicada em 1680, e cujo fim esteve determinado pela
chamada "revolta de Beckman", em 1684-1685. Dois eixos caracterizaram os diversos empreendimentos para o envio de
africanos ao Estado do Maranhão e Pará. Por um lado, as
iniciativas partiram fundamentalmente da Corte. Diversamente
de outras partes, a Coroa teve um papel crucial para definir, estabelecer e organizar as rotas do tráfico. Por outro lado, o
tráfico negreiro para a região amazônica efetivou-se a partir de
uma rota muito específica. Em vez de Atlântico sul, deveríamos falar antes de Atlântico equatorial. A ligação central aqui se
fazia entre o Estado do Maranhão, a Guiné e a Mina.
(CHAMBOULEYRON, 2006, p. 03)
Neste último caso, podemos citar o comércio estabelecido entre o Maranhão e a
Costa da Guiné iniciado após a falência da Companhia de Comércio Grão Pará e
Maranhão (1774), um espaço importante de trocas comerciais, que também pode nos dá
pista acerca da relação entre o Brasil e o continente africano, para além daquelas
-
20
análises que focam nas áreas consagradas pela historiografia brasileira. Sobre o tema e o
forte interesse em relação aos escravos da etnia Cacheu, Barroso Júnior (2013)
acrescenta que:
[...] Posterior a falência da Companhia de Comércio, surgiu um
contrato particular denominado de Comércio de Cacheu,
novamente, sacramentando a relação entre a costa da Alta-
Guiné e a capitania do Maranhão. O acordo era legitimo e a entrada de escravos da região africana era real. Além disso,
destaco os anseios dos administradores do Estado do Maranhão
e Piauí, o meio-norte da América Portuguesa, pelo escravo de Cacheu, porto da Alta-Guiné. (BARROSO, 2013. p.93)
Após todos os motivos, desejos e pedidos, houve a entrada maciça de africanos
no Maranhão, iniciando assim o forte comércio do qual o escravo foi peça chave. Ao
longo dos anos o contingente populacional de africanos aumentou visivelmente,
chegando ao ponto em que a população cativa ultrapassou os brancos e livres do Estado.
De acordo com Mota (2013, p. 82), no início do século XVIII aproximadamente um
terço da população do país era constituída de escravos. No Maranhão, correspondia a
mais da metade da população.
Regina Faria (2012) também fala sobre a grande quantidade populacional de
escravos no Maranhão e de como a sua funcionalidade para o trabalho ajudou no
aceleramento econômico da época.
A aceleração do crescimento econômico, proporcionada pela agroexportação, atraiu a imigração portuguesa espontânea,
gerou a entrada maciça de africanos escravizados e a vinda de
açorianos, ocasionando um significativo aumento populacional. Um levantamento feito em 1778, no governo de Joaquim de
Melo e Póvoas, indica que o Maranhão havia então 47.410
habitantes. Em São Luís, ao final desse século, havia uma
população de 6.000 habitantes [...] Se no início do século, os escravos chegaram a corresponder a 55,3% dos habitantes da
província e a 77,7% das pessoas ocupadas em trabalhos
agrícolas, o censo de 1872 indicou que eram, então, 20,8% dos habitantes e apenas 29,6% dos trabalhadores na agricultura.
(FARIA, 2012, p. 62)
O gráfico abaixo nos ajuda a explicitar melhor o contingente da população de
homens livres e escravos que habitavam a província maranhense no ano de 1821.
-
21
TABELA 1- População Livre e Escrava no Maranhão 1821
HOMENS MULHERES TOTAL
LIVRES 68.359
Brancos 12.647 11.347 23.994
Índios 5.118 4.569 9.687
Mulatos 13.419 11.874 25.111
Eclesiásticos - - 259
ESCRAVOS 84.534
Mulatos 3.706 2.874 6.580
Pretos 42.980 34.974 77.954
TOTAL 152.893
(FONTE: Lago 1822, Mapa 3 apud FARIA, 2012, p. 26)
Essa porcentagem populacional de africanos no Maranhão só não foi maior pelo
fato da travessia ser extremamente difícil, as péssimas condições do transporte
ocasionavam inúmeras mortes, aproximadamente 40% dos negros escravizados
pereciam durante o deslocamento até o litoral, outros 10% ou 20%, morriam antes do
desembarque. Além disso, existiam também os naufrágios, sabe-se que dos 43 navios
que transportavam escravos para a Companhia de Grão-Pará e Maranhão, durante a
segunda metade do século XVIII, nada menos que catorze (32,6%) naufragaram
(MOTA, 2013, p. 82).
Não obstante a essas questões, a província se tornava cada vez mais rica após a
formação da Companhia de Comércio Grão-Pará e Maranhão e a entrada maciça de
africanos no Estado. Como parte da política de incremento da agricultura colonial
desenvolvida pelo Marquês de Pombal, ocorreu o redirecionamento da estrutura
administrativa, assegurando o financiamento e escoamento da produção, e facilitando
aos grandes produtores o acesso a terra, criando a infraestrutura necessária para que
esses governantes imprimissem um novo ritmo a economia da região, cujos efeitos não
tardaram a aparecer (FARIA, 2005, p. 231).
Com efetivação do trabalho escravo, a província maranhense viveu uma época
de prosperidade e riqueza, a sujeição ao trabalho escravo rendeu ao Maranhão uma vida
melhor do que aquela que era antes da concretização da Companhia de Comércio Grão-
Pará e Maranhão, no caso com a chegada dos escravos as fazendas conseguia cumprir
sua cota de plantação e assim suprir mercados, principalmente o mercado exterior, por
-
22
exemplo, o maior exportador de algodão para a Inglaterra era as Treze Colônias da
América, mas com a Guerra de Secessão (1861 – 1865) houve o enfraquecimento desse
mercado, justamente na época do auge do mercado maranhense de algodão, que acabou
tornando o novo exportador de algodão para a coroa inglesa.
O tráfico de escravos também movimentou os portos maranhenses, pois aqui
acabou tornando-se ponto de rota dos navios tumbeiros cheios de escravos africanos e
as praças da capital da província lotadas de escravos, pois estas serviam como ponto de
venda de escravos para os senhores de escravos da província. Esses fatos podem ser
percebidos em documentação como os vistos de saúde, pesquisado pelo Reinaldo
Barroso, que faz um levantamento sobre a entrada de africanos na província
maranhense.
No Maranhão o africano escravizado foi utilizado principalmente no trabalho
das fazendas para cultivo de arroz e de algodão, em áreas próximas aos rios, mas isso
não quer dizer que era inexistente a convivência e a presença destes na vida urbana da
capital.
Desde então, e ao longo do século XIX, o mundo do trabalho,
na área Norte da província do Maranhão, formada pelas ribeiras dos rios Itapecuru e Mearim, o litoral e a baixada ocidental,
ficou definido basicamente em torno de duas atividades: a
grande lavoura de exportação escravista (algodão e arroz) e o comércio importador e exportador; permeado, porém pelo
tráfico de escravos, pela economia informal e por outras
atividades, como: ofícios, serviços domésticos, comércio ambulante, as quais, também, envolviam um relativo
contingente de trabalhadores escravos. (PEREIRA, 2005, p.
182)
Josenildo Pereira (2005, p.183) utilizando-se de Gayoso, explica que a
necessidade de demonstrar opulência e desfrutar de alto prestígio social, exigia que uma
grande parcela da elite maranhense fosse possuidora de numerosa escravaria, ainda que,
para tanto, se endividasse junto aos vendedores de escravos. Como se pode notar, este
comportamento indica o quanto estava presente no imaginário desta elite econômica os
resíduos da mentalidade senhorial do Ocidente Medieval caracterizada, em grande parte,
pelo desejo de ser servido e reverenciado por uma larga clientela.
Essa ideia de prestígio social e econômico não era só compartilhada por brancos
ricos ou pobres, no Maranhão do século XVIII e XIX, ex-escravos também seguiam a
lógica de compra e venda de sujeitos escravizados, como foi percebido na descrição de
um registro de óbito da escrava Dionízia “[...] Faleceu de catarro a inocente Dionízia,
-
23
filha natural de Vitória preta mandinga, escrava de Raimundo José preto forro da
nação de Cacheu.” (APEM, Registro de Óbitos da Freguesia de Nossa Senhora da
Vitória, Livro 09, 1826), aqui fica clara a participação de escravos alforriados nas
dinâmicas do Tráfico de Escravos.
Dessa forma, podemos observar que interesses econômicos e de prestigio social
se intercambiavam em meio às dinâmicas escravistas vigentes no Estado do Maranhão
ao longo do século XIX. Tendo em vista a funcionalidade da escravização na colônia, os
africanos escravizados exerciam atividades exploratórias para manter a estabilidade
econômica do Estado e os status dos donos de escravos.
Pelo fato do escravo africano a partir do inicio de sua sujeição perder a sua
autonomia e direito de sua vida, foram voltados para o fortalecimento da empresa
escravocrata. No pensamento da época, eram estes os mais bem dotados para o trabalho
braçal, predispostos as atividades nas lavouras.
[...] Suas elites afirmavam ser esta a única mão-de-obra com
que podiam contar. E, tendo seu olhar direcionado por um etnocentrismo pautado na cultura europeia, viam esses africanos
apenas como trabalhadores escravizados, aliás, os únicos que
consideravam capazes de suportar os rigores do trabalho agrícola em regiões de clima quente e insalubre, em razão da
proximidade do Equador, e de uma vegetação difícil de ser
domada. Essa representação era, contudo, apanágio das elites do Maranhão. A pele negra, atribuída ao castigo ancestral de Cam
e aos “humores” da terra africana, era vista como um sinal de
que os filhos da África estavam predestinados a viver em
condições inóspitas e a suportar os piores flagelos. Essa forma de representar/explicar a condição escrava a que eram
submetidos os africanos, adquire, nas descomposturas
cotidianas muito comuns no Maranhão, estatuto verdadeiramente sagrada no vaticínio: “Quando Deus os fez
negros, não foi por boa coisa!”. (MOTA, 2013, p. 83)
Ao serem arrancados de seus lugares de origem, transportados do interior da
África pelos rios e pelas rotas terrestres, agrupados nos portos de embarque e depois da
travessia do Atlântico, reagrupados nos plantéis, no sítio, nas casas em que trabalhavam
(SOUZA apud PEREIRA, 2013. p. 60), os escravos tiveram que buscar novas formas de
convivência e de apreensão da realidade em que passaram a viver. Foram muitas as
estratégias de sobrevivências utilizadas no mundo do cativeiro. Tanto no Maranhão
como em outras então províncias, é possível identificar este processo.
-
24
CAPÍTULO 2
NAÇÕES E IDENTIDADES ÉTNICAS NO CONTEXTO ESCRAVISTA
A reconfiguração das identidades étnicas no “Novo Mundo” constituiu uma
realidade importante que permeou o longo processo de transferência dos africanos a
partir do Atlântico. De fato a definição das novas identidades que foram formadas e
transformadas no Brasil são reminiscências das “nações” que existiram e existem no
continente africano:
Na África, sempre houve nações, como definidas por Renan: povos unidos pelo sentimento de origem, pela língua, pela
história, pelas crenças, pelo desejo de viver em comum e por
igual vontade de destino. E sempre houve nações que se
cristalizaram em estados. Basta lembrar Gana, construída pelos soninquês, e o Mali, com seu núcleo mandinga. O preconceito
teima, entretanto, em chamar tribos ás nações africanas, sem ter
em conta a realidade de que não são tribos grupos humanos de mais de sessenta milhões de pessoas, como os hauças (COSTA
E SILVA, 2012, p. 58)
De acordo com Parés (2007) a diversidade de identidades coletivas existentes no
continente africano estava sujeita a transformações históricas, devido a diversos fatores,
tais como alianças matrimoniais, guerras, migrações, agregações de linhagens escravas,
apropriação de cultos religiosos estrangeiros ou mudanças políticas. Em muitos casos,
as denominações de certos grupos eram criadas por povos vizinhos ou poderes externos,
sendo apropriadas pelos membros dos grupos assim designados (PARÉS, 2007, p. 23).
No entanto, as formas de interpretação do termo, que passaram a ser utilizadas nos
séculos XVII e XVIII e XIX, estavam baseadas por novos critérios, como área de
exportação - portos, língua, religião, músicas dentre outros aspectos.
Ao lado de nomes como país ou reino, o termo “nação” era
utilizado, naquele período, pelos traficantes de escravos,
missionários e oficiais administrativos das feitorias europeias das Costa da Mina, para designar os diversos grupos
populacionais autóctones. O termo “nação” pelos ingleses,
franceses, holandeses e portugueses no contexto da África ocidental, estava determinado pelo senso de identidade coletiva
que prevalecia nos estados monárquicos europeus dessa época,
e que se projetava em suas empresas comerciais e administrativas na Costa da Mina. (PARÉS, 2007, p. 23)
As definições dos sujeitos escravizados e alforriados, em vários documentos da
época colonial e imperial brasileiro, apresentam um léxico de termos e conceitos
-
25
bastante diversos. Os africanos são descritos na documentação aqui utilizadas, neste
caso os passaportes, por nomes de “nação”, “gentio” e “raça”, são essas as
denominações mais recorrentes e encontradas para identificar o sujeito escravizado ou
já liberto que habitava forçadamente fora da África.
A palavra gentio está associada ás gentes, indicando povos que, á diferença dos cristãos e judeus, seguem a chamada lei natural.
Já a palavra nação diz respeito “á gente de um paiz ou região,
que tem língua, leis e governo a parte”. O termo é aplicado ainda à raça, casta e espécie. Nesse sentido diz respeito a povos
que podem ser gentios, ou não, mas cujo reconhecimento se dá
pelo uso partilhado de um território, uma tradição ou uma
língua em comum. O termo gentio usado para designar os povos almejados pela catequese missionária. Já o termo nação se
aplica a qualquer povo, infiel ou cristão, com o qual o Estado
português se relaciona. Por fim, uma observação sobre o período de utilização dos dois termos. Enquanto “nação” tem
utilização constante ao longo do tempo, desde o século XV até
o XIX, “gentio” é aplicado á universos de amplitude variável,
caindo em desuso ainda no século XVIII. A documentação permite ainda observar que, á diferença de angola e mina, que
podem ser gentios ou nações, guiné é sempre um gentio.
(SOARES, 2000 p. 103)
Porém, segundo Renato da Silveira (2008), estas interpretações são
extremamente vagas além de serem problemáticas, pois os termos “nação” e “gentio”
acabam sendo utilizados como sinônimos. Para o autor, “nação” implica em uma
particularidade e “gentio” em uma universalidade. “Gentio” constitui um substantivo
mais genérico que não delimita uma população determinada, o caso contrário de
“nação”, que delimita grupos restritos.
Dentre as acepções aqui expostas a mais utilizada nas documentações é o termo
“nação”. A palavra adentrou o cotidiano colonial e imperial e principalmente, passou a
servir como definidor social da população escrava. No século XVII, todo o africano que
habitava o solo brasileiro passou a ser pensado, e definido, em termo de “nação”.
Tanto os governadores, quanto a sociedade colonial como um
todo separavam e identificavam os africanos a partir de suas “nações”. A existência de diversas “nações” com qualidades e
especificidades diferentes eram mantidas e divulgadas pelos
administradores locais, pelos agentes do tráfico com grande recorrência e retomado pelos moradores da América
portuguesa, incluindo aqueles do meio norte. (BARROSO
JÚNIOR, 2013, p. 97)
-
26
No entanto, as “nações” identificadas nessas documentações não devem ser
tomadas como as verdadeiras procedências dessas pessoas que vieram para o Brasil, em
grande parte elas se referem aos portos de origem aos locais onde o africano foi
comprado e exportado. Uma forma de se deduzir ou teorizar sobre a verdadeira origem
destes indivíduos é quando estes, em condição de escravidão, conseguem a liberdade e
nas escritas de outros documentos, como por exemplo, testamentos ou inventários,
contam sua história de origem.
Pode-se dizer que a discussão sobre “nação” no Brasil é recente, vem a partir do
ano de 1974 quando o livro de Roger Bastide, “Les Amériques noires”, chegou ao país
em sua versão traduzida ao português (SILVEIRA, 2008, p. 245). Neste livro Bastide
tenta entender como ocorre á vinda das nações da África Negra para os países das
Américas. Outra obra importante neste processo foi a “África e africanos na formação
do mundo atlântico (1400-1800)” de John Thornton, publicado em 1992, que traz uma
reinterpretação das “nações” africanas vindas para o Novo Mundo, incluindo um caráter
inovador às dinâmicas realizadas pelos africanos em relação ao Tráfico Transatlântico
de Escravos.
Os anos 90 do século do XX foram marcados por um intenso debate sobre
“nação”, culminando com a produção de obras importantes para a historiografia
brasileira, dentre os quais podemos destacar: “Viver e Morrer no meio dos seus: nações
e comunidades africanas na Bahia do século XIX” de Maria Inês Côrtes de Oliveira;
“Jeje: repensando nações e transnacionalismos” de Lorand Matory; “Minha nação:
identidades escravas no fim do Brasil Colonial” de Mary Karasch; o verbete intitulado
“Nação”, do Dicionário do Brasil Colonial de Ronaldo Vainfas; e “Devotos da cor” de
Mariza de Carvalho Soares. Já nos anos 2000, temos: “Reis negros no Brasil escravista”
de Maria de Mello Souza; “No labirinto das nações” organizado por Flavio Gomes,
Carlos Eugênio e Juliana Barreto Farias; e “A formação do Candomblé” de Luis
Nicolau Parés (SILVEIRA, 2008, p. 246).
Silveira (2008) realizou uma análise detalhada de cada de uma dessas obras, o
que nos ajuda a melhor compreender o campo de debate referente ás definições e usos
do termo “nação”. Maria Inês Cortes Oliveira, por exemplo, a partir de uma vasta
documentação como os testamentos, os censos, títulos de residência, registros de
batismos e policiais, apresenta ricas informações sobre a vida dos africanos. Oliveira
também analisa a formação de novas famílias, sem sangue e sem parentesco que se
formaram a partir de vivência no mundo do cativeiro, famílias por afinidade de língua,
-
27
cultura ou religião. Esses aspectos são bastante visíveis nas construções e formações de
irmandades negras no Brasil durante o século XVIII e XIX, e que será estudado no
capítulo seguinte.
Mariana de Mello e Sousa (2002) aborda a problemática das “nações” africanas
usando com fonte documental os registros de procedências e as rotas do tráfico
exercidas pelos traficantes e feitas forçadamente pelos africanos escravizados. Já Marize
de Carvalho Soares(2000) aponta para a necessidade de um estudo detalhado sobre os
termos “gentios” e “nação”, pois em grande parte da documentação eles acabam sendo
substituído indiscriminadamente. Ronaldo Vainfas (2000) e Luís Carlos Villata (1997)
trabalham sobre a questão da linguística na sociedade colonial e imperial brasileira.
A utilização das línguas africanas sem dúvida serviu como forma de resistências
utilizada pelos sujeitos escravizados no Brasil, por isso uma das estratégias utilizadas
pelos colonizadores europeus foi á separação dos grupos étnicos que falavam a mesma
língua. Mas, segundo Villata (1997) as modificações linguísticas foram ressignificadas,
pois a adaptação a essas novas línguas resultavam em novas formas de comunicação.
“Contudo, foi à língua – a possibilidade de os africanos se comunicarem e de se
entenderem – o que levou, no Brasil, á absorção dessas denominações como formas de
auto-inscrição e á consequente criação de novas comunidades ou sentimentos de
presença coletivos” (PARÉS, 2007, p. 29).
Para Mary Karash (2000) as línguas africanas foram utilizadas como um idioma
comum no Brasil, ocorrendo assim uma variação linguística que se difere de região para
região, segundo ela, os africanos que foram enviados para as áreas rurais do país eram
oriundos da África Central e estes, no século XIX, estabeleceram uma língua geral
baseada no quimbundo-umbundo-quicongo. Assim pode-se conclui que cada área
especifica do país pode ter tido uma língua africana dominante por certa época, um bom
exemplo são as cidades do Rio de Janeiro e Salvador.
Ainda pensando no termo “nação”, para Nicolau Parés (2007) os europeus, em
contato com o continente africano, encontraram um forte sentimento de identidade
coletiva o que acabou por sedimentar as “nações” que aqui aportaram, entretanto,
Silveira adverte que as “nações” que predominavam em África pode ser algo
completamente diferente das “nações” que existiram no Brasil. Esse fato aconteceu por
causa da modificação populacional de africanos no território nacional, essa mistura de
povos fez com que houvesse uma adaptação forçada á nova cultura, e isso teve como
-
28
resultado segundo Silveira, o desaparecimento das nações no Brasil no final do século
XIX e início do XX, em alguns casos devido aos casamentos mistos e a miscigenação.
Pensando na diferenciação de africanos na província maranhense é possível
identificar as formas de identificação e as nações aqui existentes durante os séculos
XVII, XVIII e XIX. Nestas análises a documentação utilizada foram os passaportes,
especialmente aqueles que se referem ao sujeito escravo ou liberto. Entre os séculos
XVII até o inicio do XIX, qualquer pessoa, não importa se era branco português, índio,
africano alforriado ou escravo, que quisesse realizar viagens dentro e fora da província
de habitação, tinha que ter como documento de identificação um passaporte, daí a sua
importância como fonte documental da época5.
2.1 Nações, identidades étnicas e escravidão no Maranhão: o passaporte como
fonte documental.
Dentre a documentação pesquisada foi possível identificar dois tipos de
passaportes, os de conteúdo mais geral e sem aprofundamento e aqueles que continham
informações completas e mais específicas de seu portador, ambos se encontram no
Repertório de Documentos para a História de Escravos do Maranhão e localizados no
setor de avulsos do Arquivo Público do Estado do Maranhão.
Estes dois modelos de passaportes possuem funcionalidades diferentes: o
primeiro muito mais como um simples documento de identificação e o segundo como
um verdadeiro registro da pessoa, contendo o nome, local de nascença ou naturalidade,
destino e justificativa para viagem. No caso do passaporte de um escravo, acrescentava-
se outras informações: se o sujeito estava em condição de cativo ou liberto, a
identificação do dono se era solteiro ou casado, a ocupação, idade, altura, formato do
rosto, estilo do cabelo, cor dos olhos, formato do nariz e dos lábios e cor. No caso dos
homens era descrito se possuíam barba ou não e se eram letrados.
Outro detalhe importante é que se o sujeito escravizado tivesse uma
característica específica (uma cicatriz, uma tatuagem ou alguma deficiência) esta
também era descrita no texto, assim caso essa pessoa tentasse fugir durante sua viagem
estas descrições ajudariam no processo de busca. Outro detalhe que consta os carimbos
5O passaporte pode ser comparado aos nossos dias com a nossa carteira de identidade, pois neste
documento era cheio de informações detalhadas sobre o seu portador.
-
29
dos portos pelo qual o dono do passaporte passou, e a quantidade de dias que a pessoa
está liberada para circular fora de seu local de habitação. Para exemplo será usado
quatro modelos de passaportes emitidos para uma mulher e homem libertos e para dois
escravos africanos, na província Maranhense. Vamos exemplificar, utilizando fotos dos
modelos de passaportes emitidos a um sujeito escravizado ou liberto e para um branco
português.
Modelo de passaporte emitido a um escravo (1843)
(PASSAPORTE 1087, SECRETÁRIA DE POLÍCIA DO MARANHÃO) 6
6 Secretária de polícia/ chefeatura de polícia passaportes (1843-1891). Setor de avulsos pertencente ao
Arquivo Público do Estado do Maranhão (APEM).
-
30
Esse é a foto de um passaporte do setor de avulsos, emitido para um escravo
chamado Antônio natural da África, “nação” Angola, podemos observar o estado de
conservação do papel, o próprio estilo do papel, as poucas informações sobre ele, a
validade do passaporte, suas descrições pessoais e seu senhor.
Modelo de Passaporte emitido a um Português (1870)
(PASSAPORTE 16, CONSULADO DE PORTUGAL NO MARANHÃO)
-
31
Esse é modelo de um passaporte do setor de avulsos emitido a um português por
nome de Antônio Nunes de Almeida, filho de Antônio Nunes de Almeida, natural do
Vale do Paraíso, sua profissão era de cirurgião, que seguiu viagem desacompanhado
para a cidade de Lisboa com duração de dois meses. O passaporte segue com as mesmas
informações que se é pedido no passaporte de um escravo ou forro, porém um trecho
deste passaporte deve ser destacado, que se trata do diferenciamento do tratamento feito
ao branco e ao sujeito escravizado ou forro o trecho diz que:
Rogo por tanto as autoridades tanto civis como militares, a quem esse passaporte for apresentado, não ponham embaraço
algum ao portador, antes lhe prestem todo o auxilio e favor de
que possa necessitar para seguir sua viagem, visto que provou ser o próprio e não ter impedimento algum. (PASSAPORTE 16,
CONSULADO DE PORTUGAL NO MARANHÃO)
Esse trecho não consta nos passaportes do setor de avulsos emitidos para os
escravos ou forros e não há nada parecido com esse trecho na documentação deles,
outro ponto a ser percebido vem ser a qualidade do material e a sua montagem, possuí
uma boa qualidade, metades de suas informações são impressas e possuí selos
comprovando a sua veridicidade.
Os trechos destacados a seguir são da documentação analisada e que apresentam
dados importantes sobre a vivência escrava no Maranhão do século XIX, especialmente,
as formas de identificação e os grupos de maior recorrência.
Escrava: Margarida. Preta liberta, profissional de serviço
doméstico, idade 14 anos, natural desta cidade, matriculada na ___ geral deste município em 31/ 06/ 1842, sendo termo de
ordem da matrícula – 1958 e 13 da relação número 239,
aparentada por Joaquim Manoel da Cunha, escrava do
negociante Bittencourt e irmão para seguir viagem para qualquer província deste império com escala pelo Maranhão e
Rio de Janeiro, a entregar a ordem de seus ditos serviços que
ministrarão estas celas quanto da taxa sobre escravos no corrente escravo 1978 a 1879, teres pago a direito de ___ como
contas conhecimento___ 102 datas de hoje da ___ sua província
entre cidades e ____ ____. Seu visto consta ter passado pelo Maranhão e pelo Pará.
Órgão Expedidor: Secretária de Polícia do Maranhão
Data: 05/06/1879 Validade: ___
Assinatura: não sabe escrever (PASSAPORTE [-], SECRETÁRIA DE POLÍCIA DO
MARANHÃO)
-
32
As informações sobre Margarida são curiosas, pois em sua descrição ela é
tratada como preta livre e escrava ao mesmo tempo e em seu próprio passaporte é
apontada a negociação entre seus donos. Outro dado que chamou a atenção se refere á
liberação concedida para que ela circulasse toda província sem data de limite ou
validade para se manter fora do local de habitação. Como, ou melhor, por que, uma
escrava de apenas catorze anos recebeu a permissão para fazer circulação livre por todo
o reino? O seu registro não mostra se ela completou a viagem até o Rio de Janeiro como
é descrito, pois os carimbos dos vistos acabam no Pará.
Preto forro: Paulo
Naturalidade: África, nação de Angola, solteiro, profissão
negociante Destino: Comarca de Guimarães desta província, aguardado por Antônio Firmino Morães. Validade: 04 meses
Dados: Passaporte n° 447 Idade: 38 anos Estatura: Alta
Rosto: Comprido; Cabelos: Carapinhos; Olhos: Grandes; Nariz e boca: Regulares; Cor: Preta; Barba: Pouca; Assinatura: Não
sabe escrever; Data: 08/03/1843
Órgão Expedidor: Secretária de Polícia Do Maranhão (PASSAPORTE 447, SECRETÁRIA DE POLÍCIA DO
MARANHÃO)
Esse é o modelo de passaporte mais comum que era emitido a um ex-escravo na
província, contém todas as informações básicas sobre ele. Aqui mostra qual “nação” ele
pertencia segundo os relatos do documento, porém, não consta em quais portos ele
passou e se cumpriu a meta de viagem. Os passaportes mostram que muitos escravos
exerciam trabalhos urbanos e de ganho, trabalhos que homens e mulheres brancos livres
e pobres também desenvolviam. O caso do Preto forro Paulo é um deles, ele poderia já
ser negociante antes de sua alforria, o que teria ajudada na compra de sua liberdade. Em
geral, o acesso a liberdade poderia ocorrer de duas formas: por consentimento de seu
antigo senhor ou pode ter juntado dinheiro, o fato de ser descrito como solteiro também
poderia ter ajudado neste processo. Sobre a sua nacionalidade esta pode ter se
modificado ou não, muitos escravos quando saíam dessa sujeição mudavam o nome de
batismo ou só o nome da “nação”.
Escrava: Antônia
Natural da Nação de Angola, África. Dono: Brigadeiro Manoel
de Sousa Pinto Magalhães Destino: Para a fazenda denominada – Santa ___ distrito de Viana, leva em sua companhia o
pretinho João, idade de 07 anos, por consentimento do seu
senhor. Validade: 20 dias. Maranhão: 07/06/1843 Dados:
Passaporte n° 1087; Idade: 60 anos; Estatura: Baixa; Rosto: Comprido; Cabelos Carapinhos; Olhos: Pretos; Nariz e boca:
-
33
Regulares; Cor: Preta; Barba: Não possui Assinatura: Não sabe
assinar
Órgão Expedidor: Secretária de Polícia do Maranhão (PASSAPORTE 1087, SECRETÁRIA DE POLÍCIA DO
MARANHÃO)
A escrava Antônia, já de idade avançada, fazia uma viagem para o interior da
província, obteve permissão de poucos dias para realizar seu transporte e ainda
autorização do seu dono para levar consigo mais uma criança, podemos supor que possa
ser seu filho ou seu neto, ou algum menino que está resolveu tomar de conta. Pode-se
concluir também que esta pode ser uma escrava de ganho ou de uso doméstico, pois de
acordo com as transcrições só a este tipo de escravo era permitido realizar viagens
desacompanhadas.
Escravo: João
Dono: José Frazão da Costa Natural: África Profissão: Serviço Destino: Maranhão no Vapor Paraná Afiançado por ___ e
apresentou os competentes documentos
Data: 14/05/1858 Dados: Passaporte n° 7090; Idade: 50 anos; Altura: Regular Rosto: Comprido; Cabelos: Carapinhos; Olhos:
Pretos; Nariz e boca: Regular; Cor: Preta; Barba: Pouca
Assinatura: Não sabe escrever Órgão Expedidor: Secretária de Polícia do Pará
(PASSAPORTE 7090, SECRETÁRIA DE POLÍCIA DO
PARÁ)
O passaporte de João, descrito apenas como natural da África, não traz maiores
informações sobre a “nação” que pertencia e já apresenta poucos dados do motivo para
viajar, sabe-se que ele é vivia no Pará e fez viagem para o Maranhão. Pode-se inferir
que é um escravo de ganho e que estava viajando a negócio por ordens de seu senhor.
No seu passaporte também não contém os vistos que nos ajudam a fazer o mapeamento
de suas viagens.
O segundo modelo de passaporte utilizado na pesquisa são os do Repertório de
Documentos para História de Escravos no Maranhão, volume I (1770 - 1830), o livro de
número trinta e nove (1786 - 1811) e o livro de número quarenta (1821 – 1833), nesses
livros a descrição sobre o escravo muda, pois este foca no dono dos cativos e vem com
descrição mínima sobre eles. Aqui só são indicados quantos escravos estão em
companhia do seu senhor, o gênero, se são adultos ou crianças, a cor da pele e “nação”.
Quando se tem pessoas em condição de alforria vêm descrito com quem eles estão
viajando e o destino da viagem e, se seguirão somente por terra, por mar ou pelos dois
-
34
meios. Abaixo tem-se um exemplo de como era feito os passaportes para o livro de
registro.
“Em 25 de Fevereiro de 1876, se passou por esta secretária
Antonio Medeiros que levava em sua companhia quatro
moleques da nação de Angola chamados Francisco, João, José e
Pedro, seguindo viagem para o Pará na Galeria ____ do mestre Manoel Francisco”. (LIVRO N° 39, PASSAPORTE 30, FL. 02)
As descrições realizadas nesses passaportes são simples e objetivas, quando o
escravo é africano este é apresentado junto com o nome e idade. Em outros casos,
existem registros em que consta somente a quantidade de escravos transportados sem
maiores informações: “Passaporte passado [...] ao Doutor Narciso José de Almeida
Guatimosim para a Bahia [...] levando [...] 12 escravos.” (LIVRO N° 40,
PASSAPORTE 259, FL. 128v) 7.
Os passaportes transcritos também serviram como instrumento para
compreendermos a dinâmica da mudança identitária e para análises quantitativas de
homens e mulheres, sua faixa etária, destino, naturalidade, designação de cor, quantos
viajavam sozinhos e acompanhados, dentre outros. Ao final, as transcrições de
duzentos e setenta e um passaportes, entre os anos de 1750 a 1886, permitiram o
mapeamento de quinhentas e quatro pessoas, sendo que trezentos e oitenta e oito eram
homens, cento e oito mulheres e oito que apareceram sem identificação.
A partir do conjunto analisado somente cento e treze passaportes divulgaram a
faixa etária destes indivíduos, as idades variavam entre nove a sessenta anos para os
homens, e de catorze a seis anos entre as mulheres. Dentre os passaportes transcritos
apenas trinta e dois descreviam a idade dos homens e somente quatro a das mulheres,
havendo casos em essa idade não era mencionada, cerca de setenta e sete.
Sem dúvida estes casos apresentados nos ajudam a sanar algumas lacunas
ligadas a população escrava no contexto maranhense, contribuindo para uma maior
percepção das suas vivências e identidades de “nação”. Um fator que dificultou a
análise mais detalhada destes documentos se refere ao estado em que estes se
encontram, pois o material utilizado para fazer o passaporte de uma pessoa em condição
de escravo era de qualidade inferior ao de um branco, o que tem contribuído para que,
com o passar do tempo, metade deste material tenha sido perdido.
7 Repertório de documentos para História de Escravos no Maranhão, volume I (1770-1830). Disponível
no Arquivo Publico do Estado do Maranhão.
-
35
Porém, através das análises conjunturais propostas obtiveram um resultado
satisfatório, pois a maioria dos passaportes continha informações substanciais, que nos
foram úteis no sentido de estabelecer novas considerações sobre esta temática,
disponibilizando dados que não aparecem em outras documentações. Para uma melhor
apresentação dos resultados encontrados nos passaportes optou-se pelos gráficos que
melhor retratam os dados colhidos, cada gráfico se refere a uma problemática em
específico, vejamos:
Tabela 1
Identificação dos Homens encontrados nos passaportes (1756-1886)
Designação Quantidade %
Homens escravos 331 87.79%
Pretos forros 27 7.16%
Crioulo forro 3 0.79%
Mulatos forros 2 0.53%
Negros forros 1 0.26%
Pardos forros 1 0.26%
Boçais 3 0.79%
Ladinos 1 0.26%
Cafuso forro 1 0.26%
Não identificados 7 1.85%
Total 377 100%
Fonte: Arquivo Público do Estado do Maranhão. Passaporte de Escravos (1756-1886)
Tabela 2
Identificação das Mulheres encontradas nos passaportes (1756 – 1886)
Designação Quantidade %
Mulheres escravas 89 66.41%
Pretas forras 15 11.20%
Crioulas Forras 17 12.68%
Mulatas Forras 2 1.50%
Preta Boçal 1 0.74%
Outras 3 2.23%
Não Identificados 7 5.22%
Total 134 100%
Fonte: Arquivo Público do Estado do Maranhão. Passaporte de Escravos (1756-1886)
-
36
Devido ao recorte temporal estabelecido para a análise documental, pode-se
perceber nas informações encontradas nos passaportes transcritos uma a maior
circulação da população cativa na província maranhense, isso aconteceu, pois em sua
grande maioria viajavam acompanhando seus senhores. Outro fator observado é a
predominância da condição de escravos, para os homens e mulheres, tanto de origem
africana como nascidos no Brasil.
Tabela 3
Naturalidade (1756-1886)
Local Quantidade %
Maranhão 21 4.16%
África 9 1.78%
Angola 16 3.17%
Lisboa 2 0.39%
Outros Lugares 10 1.98%
Não identificados 446 88.49%
Total 504 100%
Fonte: Arquivo Público do Estado do Maranhão. Passaporte de Escravos (1756-1886)
No gráfico de número 3, podemos observar que a maioria dos sujeitos
escravizados nasceu no Maranhão, além daqueles pertencentes ao continente africano,
especialmente, Angola. Os números apontam para uma conexão entre Angola e
Maranhão, mas vale destacar que o local de origem, indicado nos passaportes, pode não
ser a verdadeira procedência desse escravo, uma vez que em geral os dados fazem
referência aos portos de saída e não necessariamente aos locais de nascimento. Todavia
há uma quantidade significativa de escravos sem a naturalidade reportada. Estes dados
se aproximam daqueles apresentados por Mota (2013):
A grande maioria dos escravos levados para o Maranhão
provinha dos rios da Guiné, embarcados em Cacheu (44%), Bissau (43%) e Angola (12%). Ao lado dos escravos Mina,
Angola, Benguela, Congo e Cabinda, apareceram
especificadamente, sete etnias da Guiné: Mandinga, Papel, Bijagó, Fula, Balanta, Cassange e Nalu. Os Mandingas são de
longe os mais freqüentementes mencionados, juntos com os
escravos denominados Angola. (ASSUNÇÃO apud MOTA,
2013, p. 180)
-
37
Com isso, vamos observar as informar extraídas da tabela de número.
Tabela 4
Designação de cor (1756-1886)
Classificação Quantidade %
Pretos 73 14.48%
Mulatos 19 3.76%
Pardos 15 2.97%
Crioulos 17 3.37%
Outros 6 1.19%
Não identificados 374 74.20%
Total 504 100%
Fonte: Arquivo Público do Estado do Maranhão. Passaporte de Escravos (1756-1886)
No gráfico sobre a designação de cor existe uma grande quantidade de pretos
(como eram descriminados nos passaportes) presentes no Maranhão, embora muitos
destes não tenham sidos identificados. Devemos lembrar que não constam aqui sujeitos
escravizados que são mantidos em cativeiros nas fazendas ou que já viviam em
quilombos, podemos então especular que a quantidade de escravos na província pode
ser bem maior do que esta descrita.
Tabela 5
Destino (1756-1886)
Local Quantidade %
Pará 120 23.80%
Rio de Janeiro 74 14.68%
Europa 63 12.50%
Maranhão 49 9.72%
Nordeste 110 21.82%
África 9 1.78%
Qualquer lugar da
província
9 1.78%
Não identificados 70 13.88%
Total 504 100%
Fonte: Arquivo Público do Estado do Maranhão. Passaporte de Escravos (1756-1886)
-
38
Sobre o destino, a maioria viajava para o Pará, ou seja, a transição Pará-
Maranhão era frequente devido a Companhia de Comercio Grão-Pará e Maranhão que
estavam em pleno funcionamento no período escolhido para análise, o que garantia uma
intensa comercialização entre os dois locais. Muitos comerciantes e donos de escravos
mantinham negócios e propriedades nas duas províncias, ambas constituíam
importantes centros comerciais na época.
Tabela 6
Viajavam acompanhados (1756-1886)
Sexo Quantidade %
Homens 302 59.92 %
Mulheres 62 12.30 %
Não identificados 140 27.77 %
Total 504 100 %
Fonte: Arquivo Público do Estado do Maranhão. Passaporte de Escravos (1756-1886)
Tabela 6.1
Viajavam Sozinhos (1756-1886)
Sexo Quantidade %
Homens 67 13.29%
Mulheres 24 4.76 %
Não identificados 413 81.94%
Total 504 100%
Fonte: Arquivo Público do Estado do Maranhão. Passaporte de Escravos (1756-1886)
No tocante as informações contidas nos gráficos referentes às viagens (gráficos 6
e 6.1), é perceptível a predominância dos homens viajando acompanhados ou sozinhos,
especialmente para os locais que foram destacados na tabela 5. Todavia ainda existe
uma ausência de informações sobre as identificações de ambos os sexos, o que nos
impossibilita de aprofundar as análises acerca dos elementos que ditavam essas lógicas.
-
39
Tabela 7
Situação dos Escravos (as) encontrados nos passaportes (1756-1886)
Designação Quantidade %
Homens Escravos com trabalho
definido
7 1.38%
Mulheres Escravas com trabalho
definido
2 0.39%
Homens Escravos com trabalho não
definido
324 64.28%
Mulheres escravas com trabalho não
definido
82 16.26%
Não identificados 89 17.65
Total 504 100%
Fonte: Arquivo Público do Estado do Maranhão. Passaporte de Escravos (1756-1886)
A tabela 7 demonstra que em geral os escravos realizavam atividades que
geravam renda, no entanto, em sua maioria não é especificada o tipo de prática
desenvolvida, o que nos impossibilita de tecer maiores considerações sobre esta
realidade. De fato carecemos de dados que possam nos ajudar a melhor analisar a
movimentação econômica que estes escravos realizavam na época pesquisada.
Tabela 7.1
Trabalhos realizados por homens escravos (1756-1886)
Trabalho Quantidade %
Sapateiro 1 0.20%
Profissão? 2 0.39%
Lavoura 1 0.20%
Negociante 2 0.40%
Empregado 1 0.20%
Não Identificados 497 98.61%
Total 504 100% Fonte: Arquivo Público do Estado do Maranhão. Passaporte de Escravos (1756-1886)
Nesse gráfico sobre o trabalho realizado por homens escravos além da atividade
de negociante, sapateiro, do trabalho na lavoura ou empregado, aparece na
documentação a descrição “profissão”, o que nos dificulta em identificar o tipo de
prática desenvolvida. Seria importante entender se ele trabalhava no campo ou na
cidade e, principalmente, qual trabalho seria esse que o fazia viajar.
-
40
Tabela 7.2
Trabalho Realizado por mulheres escravas (1756-1886)
Trabalho Quantidade %
Profissional do serviço
doméstco
1 0.20%
Roceira 1 0.20%
Não Identificados 502 99.60%
Total 504 100% Fonte: Arquivo Público do Estado do Maranhão. Passaporte de Escravos (1756-1886)
Em relação as mulheres somente duas profissões foram citadas na
documentação: a de doméstica e a de roceira, aqui ficou muito limitado e pouco descrito
as profissões que estas realizavam, sendo que aquelas não identificadas chega a metada
de toda a população descrita e encontrada nos passaportes.
Tabela 8
Homens e Mulheres Forros que trabalhavam (1756-1886)
Designação Quantidade %
Homens libertos com
trabalho
8 1,58%
Mulheres libertas com
trabalho
8 1.58%
Homens libertos com
trabalho não definido
31 6.15%
Mulheres Libertas com
trabalho não definido
30 5.95%
Não identificados 427 84.72 %
Total 504 100%
Fonte: Arquivo Público do Estado do Maranhão. Passaporte de Escravos (1756-1886)
A situação também não é diferente para os homens e mulheres que alcançaram a
liberdade, só conseguimos nos aproximar de uma estimativa para os libertos que
possuíam identificação nos passaportes.
-
41
Tabela 8.1
Trabalhos realizados por Homens Forros (1756-1886)
Trabalho Quantidade %
Negociante 1 0.20%
Oficial de Pedreiro 2 0.40%
Doméstico 3 0.60%
Criado 2 0.40%
Não Identificados 496 98.41%
Total 504 100% Fonte: Arquivo Público do Estado do Maranhão. Passaporte de Escravos (1756-1886)
Em relação aos homens livres cuja pratica desenvolvia era descrita nos
passaportes, foi possivel identificar uma maior citação para o uso doméstico, cerca de
0.60%. Esses escravos encontravam-se em viagem a serviço, geralmente acompanhando
seus patrões.
Tabela 8.1.2
Trabalhos realizados por Mulheres Forras (1756-1886)
Trabalho Quantidade Designação
Criadas 08 1.60%
Não Identificados 496 98.41%
Total 504 100% Fonte: Arquivo Público do Estado do Maranhão. Passaporte de Escravos (1756-1886)
A única citação em relação aos trabalhos feitos por mulheres forras é a de criada.
Nas viagens realizadas é descrito a presença de crianças. Dessa forma pode-se concluir
que os serviços desempenhados eram o de cuidar dos filhos dos senhores.
Frente ao que foi acima exposto e após o levantamento significativo destes
dados sentimos a necessidade de melhor compreender o cotidiano destes sujeitos,
mergulhar na vivência de homens e mulheres que estiveram sob o julgo da escravidão.
Neste sentido, na segunda etapa da pesquisa buscamos compreender os espaços
religiosos de sociabilidade dos africanos escravizados e libertos, e as estratégias de
sobrevivência que eles lançaram mão. Para tanto acrescentamos às nossas fontes de
investigação os documentos referentes às Irmandades Negras e o papel que elas tiveram
como importantes centros de interação e socialização.
Essas instituições emergiram no decorrer de todo o regime colonial, não apenas
no Brasil, mas em outras colônias europeias e ganharam força ao longo dos anos,
sobrevivendo mesmo com o fim deste sistema. Tendo como base o poder de
representatividade de muitas dessas confrarias e irmandades, vários estudiosos
-
42
procuraram melhor compreendê-las. De acordo com Elikia M’Bokolo (2009), no livro
África Negra, a organização dessas instituições garantiu um grau considerável de
integração dos africanos no “Novo Mundo” e se destacaram como estratégias de
sobrevivência frente à sociedade escravista que os oprimia. Na maioria das vezes,
funcionando como sociedade de ajuda mútua, elas constituíram um meio de articulação
entre os africanos das mais diversas nações e grupos étnicos.
Inicialmente essas confrarias funcionavam a partir de um caráter étnico,
aceitando somente escravos de origem “jeje”, “angola” e ou “mina”. Todavia, ao longo
dos anos foram ganhando caráter misto e aceitando todas as “nações” sem restrições.
Segundo John Thorthon (2004), essas instituições serviram como importantes laços de
solidariedade, proporcionando apoio moral, reforço cultural e familiaridade entre os
grupos. No contexto brasileiro, podemos destacar alguns trabalhos que buscaram
compreender o papel das Irmandades e Confrarias negras, como “Devotos da cor:
Identidade étnica, religiosidade e escravidão no Rio de Janeiro, século XVIII” de
Mariza de Carvalho Soares (2002), a “Morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta
popular no Brasil, século XIX” de João José Reis (1991), e os “Escravos e Libertos nas
Irmandades do Rosário: devoção e sociabilidade em Minas Gerais – séculos XVIII e
XIX” de Célia Maria Borges (2005). Trabalho este que iremos analisar no próximo
capítulo, estabelecendo chaves de interpretação para a realidade maranhense.
-
43
CAPÍTULO 3
IDENTIDADES ÉTNICAS E ESPAÇOS DE RESISTÊNCIA: o papel das
Irmandades Negras.
Neste capítulo o material utilizado foram os documentos referentes às
Irmandades negras que existiram no Maranhão, entre os séculos XVIII e XIX. Frente a
atuação dessas instituições religiosas podemos percebê-las como espaços de resistência
em que escravos e libertos buscaram se inserir. Mas antes, destas análises, se faz
necessário desenvolvermos um apurado dos estudos sobre as Irmandades no Brasil.
Iniciamos com o trabalho de Anderson José Machado de Oliveira (2013), que no
artigo “As irmandades dos homens de cor na América Portuguesa: á guisa de um
balanço historiográfico”, tem como intenção mostrar os estudos sobre as Irmandades
de homens de cor na América Portuguesa e também a participação destes em
instituições frequentadas por homens brancos.
De acordo com o autor, a primeira a realizar estudos sobre as Irmandades de
homens de cor foi Julita Scarano (1973) que ao analisar a Irmandade de Nossa Se