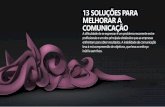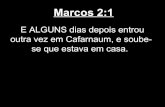002
-
Upload
luis-fernando-costa -
Category
Documents
-
view
215 -
download
1
description
Transcript of 002

III Simpósio Nacional de História Cultural Florianópolis, 18 a 22 de setembro de 2006
12
Experiência, Memória e Utopia em “O povo Brasileiro” de
Darcy Ribeiro
Adelia Maria Miglievich Ribeiro 1
Elejo como alvo de atenção "O Povo Brasileiro" (1995) que, para seu autor,
Darcy Ribeiro, se constituiu no desafio maior a que se propôs incansavelmente por
trinta anos na busca de respostas à questão: “Por que o Brasil ainda não deu certo?”
(Ibid.:13. Os negritos são meus). Foi como homem movido por ideologias visando a
redirecionar as trilhas do desenvolvimento do país que Darcy se aventurava a elaborar
sua “teoria do Brasil” e defender a “utopia” ou, como chegou a dizer em referência ao
livro: “gesto meu na nova luta por um Brasil decente”( Ibid.:17) . Seu entendimento da
vocação da Antropologia era de que cabia a esta "elaborar uma teoria sobre o humano e
sobre as variantes do humano e melhorar o discurso dos homens sobre os homens"
(1987: 6). Buscava, assim, uma “teoria da história alternativa”, onde pudessem ser
explicados os povos orientais, os povos árabes e, também, os latino-americanos, nestes,
os brasileiros 2.
“Além de antropólogo, sou homem de fé e de partido. Faço política e faço ciência movido por razões éticas e por um fundo patriotismo. Não procure, aqui, análises isentas. Este é um livro que quer ser participante, que aspira influir sobre as pessoas, que aspira ajudar o Brasil a encontrar-se a si mesmo”.( Ibid.: 17)
Darcy rejeita as explicações que negligenciam a especificidade latino-americana
e ainda mais aquela que fez convergir as matrizes tupi, lusa e afro. Na percepção de um
erro de diagnóstico vislumbra o equívoco de se pleitear para o Brasil um projeto de
desenvolvimento comum ao experimentado pelos países modernos ocidentais. Insiste
nas possibilidades de autonomização de um povo sem deixar de reconhecê-lo em sua
história secular de experiências de interpenetração de formas coetâneas de dominação
1 Doutora em Sociologia (UFRJ); Professora CGCS e PPGPS/CCH/UENF; Coordenadora do Núcleo de Estudos em Teoria Social (NETS/UENF). 2 Não pretendo uma análise exaustiva de sua obra, embora a veja como indispensável. Tal emprendimento implica o reexame de suas obras clássicas que compõem seus "Estudos de Antropologia da Civilização", nos quais estão contidos: 1) "O processo civilizatório"; 2) "As Américas e a Civilização"; 3) "O dilema da América Latina" ; 4) "Os brasileiros – teoria do Brasil"; 5) "Os índios e a civilização" .

III Simpósio Nacional de História Cultural Florianópolis, 18 a 22 de setembro de 2006
13
de classes. Não “idealiza” o Brasil, ainda que não negue a esperança em nossa
competência para a “reinvenção”.
Nicolau Sevcenko em “Literatura como Missão (2003), relembra em “Triste Fim
de Policarpo Quaresma” de Lima Barreto que nada ganhamos em nosso “bovarismo”,
isto é, em nosso auto-engano, concebendo-nos como o outro ao invés de nós próprios.
Postular a criação da Europa no Brasil implicava o afastamento do Brasil real por um
imaginário. Joaquim Nabuco, em “Minha Formação”, datado de 1895, assinala “O
sentimento em nós é brasileiro, a imaginação é européia”. Não se nega aqui o elemento
positivo na definição de metas a serem atingidas mas tal propósito carece de uma sólida
base crítica que torne o projeto viável e não uma fantasia completamente nefasta a
ratificar num pseudo-cosmopolitismo a alienação que recusa o desenvolvimento da
consciência crítica e da inteligência capaz de imaginar alternativas.
Trazemos, pois, ao debate Boaventura de Sousa Santos que, em “O norte, o sul e
a utopia” contido em seu livro “Pela mão de Alice. O social e o político na pós-
modernidade” ( 2005)3 melhor tematiza o sentido que entendemos em Darcy como
“possibilidades” que tornam sua busca das origens do Brasil um projeto político que
nasce da análise de experiências trazidas à memória de seu narrador mas que não se
confundem com uma utopia longínqua mas com o enfrentamento de desafios que,
“quaisquer que eles sejam, nascem sempre das perplexidades” ( Santos, 2005: 322).
Tratar os desafios com realismo que não significa resignação é o que Santos propõe ao
instigar o leitor a abandonar as promessas do modelo único de modernidade
eurocêntrica pelas possibilidades incrustadas em nosso presente, mediante a observação
de nossas “carências” que nos obrigam a enxergar o que nos falta bem como pelo
exercício de dar visibilidade às emergências que, embora não poucas vezes raras, são
concretas e passíveis de multiplicação. Olhar-nos é um exercício que nos aponta para
experiências eventualmente mais bem-sucedidas que outras tantas verificadas nos
chamados países centrais.
“O futuro prometido pela modernidade não tem, de fato, futuro. Descrê dele, vencida pelos desafios, a maioria dos povos da periferia do sistema mundial, porque em nome dela negligenciaram ou recusaram outros futuros, quiçá menos brilhantes e mais próximos do seu passado, mas que ao menos asseguravam a subsistência comunitária e uma relação equilibrada com a natureza que agora se deparam tão precárias” (p. 322).
3 O tema é reelaborado pelo autor em “Não disparem contra o utopista” em “A Crítica da Razão Indolente: contra o desperdício da experiência. São Paulo: Cortez, 2002.

III Simpósio Nacional de História Cultural Florianópolis, 18 a 22 de setembro de 2006
14
A “volta às origens” delineia-se, assim, como um projeto político. Buscar
reconstituir o Brasil e os brasileiros, sua gestação como povo, admitindo a confluência,
o entrechoque e o caldeamento do invasor português com “índios silvícolas e
campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos” (Ribeiro,
1995:19) é o primeiro passo para a superação da “impotência” de nossa sociedade: “Nós
brasileiros somos um povo em ser, impedidos de sê-lo”.
Em “Identidades Inconclusas no Brasil do século XX – fundamentos de um
lugar-comum”, Stella Bresciani (2004) toma o mesmo livro de Darcy Ribeiro e
reconhece a marca comum em nossa produção intelectual contida na persistente
indagação sobre nossa identidade que, mais uma vez, é apresentada como inacabada.
Para a autora, “a noção de carência ocupa posição central no lugar-comum das idéias
fora do lugar”, identificando nesta o eterno descompasso entre “idéias” e “realidade”. A
autora acusa o pensamento social brasileiro de “circular”, onde a importação das idéias
é tida como um defeito mas ao buscar compreende-lo o repetimos com nossas “nossas
recorrentes voltas às origens, em busca da identidade nacional, sempre vinculadas a
projetos políticos, como se nenhum desse conta de realizar-se” (Ibid.: 425).
Em suma, tratar-se-ia da busca de um acerto de contas com nossos pais
fundadores pelo não cumprimento de uma missão impossível que assim o é dado seu
caráter utópico. “ (...) seria um novo acerto de contas de impossível resolução, já que
repudiamos nossos pais efetivos e fantasiamos um pai engrandecido (uma idealização
do estrangeiro), dele sempre fazendo modelo a ser imitado?” ( Ibid.: 426).
De fato, alerta-nos Boaventura de Sousa Santos, “apesar de algumas idéias
utópicas serem eventualmente realizadas, não é da natureza da utopia ser realizada (...) a
utopia é a metáfora de uma hipercarência formulada ao nível que não pode ser
satisfeita” (Santos: 323). Ao mesmo tempo, a utopia é a exploração de novas
possibilidades e vontades humanas, por via da oposição da imaginação à existência que,
por si só, não contém todas as possibilidades do real. Também, pois, é real o desejo e a
luta da humanidade por algo muito melhor do que o visível. Nesse sentido, a utopia é
duplamente relativa. Chama atenção para “o que não existe como (contra)parte
integrante, mas silenciada, do que existe”, é contemporânea no que tem de
extratemporânea. Resulta de novas combinações e manifesta-se em escalas a contar do
que já existe.

III Simpósio Nacional de História Cultural Florianópolis, 18 a 22 de setembro de 2006
15
“O que é importante nela não é o que se diz sobre futuro, mas a arqueologia virtual do presente que a torna possível. Paradoxalmente, o que é importante nela é o que não é utópico. As duas condições de possibilidade de utopia são uma nova epistemologia e uma nova psicologia. Enquanto nova epistemologia, a utopia recusa o fechamento do horizonte de expectativas e de possibilidades e cria alternativas; enquanto nova psicologia, a utopia recusa a subjetividade do conformismo e cria a vontade de lutar por alternativas” ( Ibid.: 324)
Uma compreensão profunda da realidade é assim essencial ao exercício da
utopia, condição para que a radicalidade da imaginação não colida com a realidade mas
a exalte no que ainda tem de oculto. Santos propõe uma “arqueologia virtual” visto que
“só interessa escavar sobre o que não foi feito e por que não foi feito e, porque não foi
feito, ou seja, porque é que as alternativas deixaram de o ser” ( Id. Ibid.).
Constatando a dificuldade de se defender ou propor hoje a utopia em seu sentido
clássico – ainda que o pensamento utópico tenha sido uma constante da cultura
ocidental, se não mesmo de outras culturas – proclama a “heterotopia”: “Em vez da
invenção de um lugar totalmente outro, deslocação radical dentro de um mesmo lugar”
(p. 325), a ousadia de ver o mundo do ângulo menos usual: das margens, da periferia,
das fronteiras, dos países do sul do Equador; da perspectiva das vítimas e dos
oprimidos, atentando para os silêncios e silenciamentos, para as tradições suprimidas,
para as experiências subalternas. Neste trabalho, defendo “O Povo Brasileiro” como
exercício de “heterotopia”, não como negação da realidade mas como sua radicalização,
como aposta no que não se vê a partir do que se vê.
Darcy diagnostica nossos “males de origem” mas também às nossas
virtualidades. Seu discurso é apaixonado, uma vez já tendo assumido sua fé na ciência
que faz, sensível às nossas mazelas. Se recorre a mitos identitários, estes não são uma
“manifestação pré-científica (...) deslocada da modernidade” mas um complexo racional
e afetivo que, como diz Seixas (2004: 55), informa ações de reconhecimento social e
político, que leva, pois, à ação.
“O grande desafio que o Brasil enfrenta é alcançar a necessária lucidez para concatenar essa energias e orientá-las politicamente, com clara consciência dois riscos de retrocessos e das possibilidades de liberação que elas ensejam. O povo brasileiro pagou, historicamente, um preço terrivelmente alto em lutas das mais cruentas de que se tem registro na história, sem conseguir sair, através delas, da situação de dependência e opressão em que vive e peleja. Nessas lutas, índios foram dizimados e negros foram chacinados aos milhões, sempre vencidos e integrados nos plantéis de

III Simpósio Nacional de História Cultural Florianópolis, 18 a 22 de setembro de 2006
16
escravos. O povo inteiro, de vastas regiões, às centenas de milhares, foi também sangrado em contra-revoluções sem conseguir jamais, senão episodicamente, conquistar o comando de seu destino para reorientar o curso da história” ( Ibid.: 26).
Bresciani e Naxara (2004: 9) entendem que a narrativa de um intelectual, na
consulta às suas fontes e na construção de seu olhar é “memória voluntária” construída
como estratégia de luta política na afirmação positiva de identidade daqueles que se
percebem e são percebidos como excluídos. Seixas (2004: 42) entende que a memória
torna o subjugado protagonista, em grande medida, de sua história, ainda que na
condição de dominado. Ao contar sua história, o narrador faz-se poderoso porque capaz
de geri-la – diria eu, digeri-la - e controlá-la. A memória, portanto, constrói o real,
muito mais do que o resgata. É a própria realidade que se forma na (e pela) memória: “o
tempo perdido e reencontrado não se refere apenas ao passado, mas também ao futuro,
ou melhor, como observou G. Poulet, à capacidade há tanto tempo esquecida de ‘ter fé
em um futuro’” ( Ibid.: 51).
Interrompendo a linha evolutiva prévia das populações indígenas brasileiras, ao
subjugá-las, recrutando seus remanescentes como mão-de-obra servil de uma nova
sociedade integrada numa etapa mais elevada da "evolução sociocultural", tivemos não
a “assimilação étnica” mas sua “integração”. O segundo caso que se dá por
incorporação ou "atualização histórica" supõe a perda da autonomia étnica dos núcleos
engajados, implica dominação e transfiguração. Na usurpação da identidade étnica passa
a existir a nova etnia - "nacional" - as bases sobre as quais se edificaria daí em diante a
sociedade brasileira. O diagnóstico é a experiência rememorada de suas mazelas que
não ocultam as possibilidades:
“Nessa confluência, que se dá sob a regência dos portugueses, matrizes raciais díspares, tradições culturais distintas, formações sociais defasadas se enfrentam e se fundem para dar lugar a um povo novo (Ribeiro, 1970), num novo modelo de estruturação societária. Novo porque surge como uma etnia nacional, diferenciada culturalmente de suas matrizes formadoras, fortemente mestiçada, dinamizada por uma cultura sincrética e singularizada pela redefinição de traços culturais delas oriundos. Também novo porque se vê a si mesmo e é visto como uma gente nova, um novo gênero humano diferente de quantos existam. Povo novo, ainda, porque é um novo modelo de estruturação societária, que inaugura uma forma singular de organização sócio-econômica, fundada num tipo renovado de escravismo e numa servidão continuada ao mercado mundial. Novo, inclusive, pela inverossímel alegria e espantosa vontade de alegria, num povo tão sacrificado, que alenta e comove todos os brasileiros”( Ribeiro, 1995: 19).

III Simpósio Nacional de História Cultural Florianópolis, 18 a 22 de setembro de 2006
17
A noção de "povo novo" nasce na maioria dos países da América Latina
resultado dos processos de "desindianização" do índio, de "desafricanização" do negro e
de "deseuropereização" do europeu ( Ibid. :20). Um país de mestiços, os quais não são
iguais a seus ascendentes de uma ou outra etnia. Um "gênero humano novo" que é fruto
do "atroz processo de fazimento do nosso povo", dos índios e dos africanos mortos, dos
mamelucos, caboclos e mulatos que, sem identidade, plasmaram a identidade do
brasileiro.
Mediante o conceito de "transfiguração étnica" definido como "o processo de
formação e transformação das etnias, do isolamento à integração, com todas as suas
consequências de mutação cultural e social e de redefinição do ethos tribal" (Ibid.:28),
Darcy explica o "povo brasileiro" como "etnia nacional", “diferenciada de suas matrizes
formadoras, fortemente mestiçadas, dinamizada por uma cultura sincrética e
singularizada pela redefinição de traços culturais delas oriundos” ( Ibid.: 19).
"O brasilíndio como o afro-brasileiro existiam numa terra de ninguém, etnicamente falando, e é a partir dessa carência essencial, para livrar-se da ninguendade de não-índios, não-europeus e não-negros, que eles se vêem forçados a criar a sua própria identidade étnica: a brasileira" (Ibid.: 131).
Segundo Darcy Ribeiro, a instituição social que possibilitou a formação do
"povo brasileiro" foi o "cunhadismo", antiga prática indígena para incorporar estranhos
à sua comunidade. Consistia em lhes dar uma moça índia como esposa. Assim que o
homem estranho a tribo a assumisse deixava de sê-lo e estabelecia-se, automaticamente,
mil laços que o aparentavam a todos os membros do grupo. Isso se alcançava graças ao
sistema de parentesco classificatório dos índios, que relaciona, uns com os outros, todos
os membros de um povo.
"Como cada europeu posto na costa podia fazer muitíssimos desses casamentos, a instituição funcionava como uma forma vasta e eficaz de recrutamento de mão-de-obra para os trabalhos pesados (...). A função do cunhadismo na sua nova inserção civilizatória foi fazer surgir numerosa camada de gente mestiça que efetivamente ocupou o Brasil. (...) Sem a prática do cunhadismo, era impraticável a criação do Brasil" (Ribeiro, 1995:83).

III Simpósio Nacional de História Cultural Florianópolis, 18 a 22 de setembro de 2006
18
Um povo que se reconhece novo porque diferente de suas matrizes originais
ou porque rejeitado por suas etnias fundantes. O "mameluco" acaba por não se
reconhecer na mãe índia que lhe deu a luz mas também o mulato não é reconhecido
como igual por seu pai branco. Os "brasilíndios" chamados "mamelucos" pelos jesuítas
espanhóis expandiram, contudo, o domínio português na constituição do Brasil,
castigando as gentes de sangue materno. Designação surgida entre os jesuítas espanhóis,
o termo originalmente se referia a uma casta de escravos que os árabes tomavam de seus
pais para criar e adestrar em suas "casas-criatórios", onde cresciam os "mamelucos"
quando se revelassem talentosos no exercício do mando e da soberania islâmica sobre o
povo de que foram tirados" (Ibid.: 108).
Esta célula cultura neobrasileira, diferenciada e autônoma em seu processo
de desenvolvimento pode ser notada a partir de meados do século XVI, associada a um
modo de produção - a plantação açucareira - cujas características fundamentais são a
extensão latifundiária do domínio; a monocultura intensiva; a grande concentração local
de mão-de-obra e a diversificação interna em especializações remarcadas; o alto custo
relativo do investimento financeiro; a destinação externa da produção; a dependência da
importação da força de trabalho escravo que onerava 70% os resultados da exportação;
o caráter racional e planejado do empreendimento que exigia, além do preenchimento
de condições técnico-agrícolas e industriais de produção, uma administração comercial
adequada às condições de comercialização, procedimentos financeiros e questões fiscais
(Ibid.: 285).
Darcy Ribeiro, ao estudar a pluralidade dos modos de ser brasileiro - dos
sertanejos nordestinos, dos caboclos da Amazônia, dos crioulos do litoral, dos caipiras
do sudeste e do centro do país, dos gaúchos das campanhas sulinas, dos ítalo-brasileiros,
dos teuto-brasileiros - desenha um povo que, a despeito das especificidades adaptativas
regionais e da miscigenação, vê-se como tal e, ainda mais atualmente, nos modos
citadinos de ser brasileiro, expressos nos elementos uniformizadores de uma sociedade
urbano-industrial capturada pelos meios de comunicação de massa. Não nega que esta
uniformidade cultural ou unidade nacional isente o "povo brasileiro" de disparidades,
contradições e antagonismos que neste subjazem visto que os processo de unificação
política foram continuados e violentos assim como foi a repressão a toda tendência
separatista no Brasil. Afirma Darcy:

III Simpósio Nacional de História Cultural Florianópolis, 18 a 22 de setembro de 2006
19
"Nunca houve, aqui, um povo livre, regendo seu destino na busca de sua própria prosperidade. O que houve e o que há é uma massa de trabalhadores explorada, humilhada e ofendida por uma minoria dominante, espantosamente eficaz na formulação e manutenção de seu próprio projeto de prosperidade, sempre pronta a esmagar qualquer ameaça de reforma da ordem social vigente" (Ibid.: 446).
O ressentimento faz-se presente na narrativa de “O Povo Brasileiro”. Em
“Ressentimento e Ufanismo: sensibilidades do Sul profundo” (2004), Pesavento
instrumentaliza-nos a pensar a reincidência do ressentimento como face oculta do
ufanismo no trabalho de construção da memória, ambos vetores de sensibilidade, a qual
atribui significado ao real, molda comportamentos e pauta ações. O ressentimento é a
postura sensível que se agudiza quando em confronto com o ufanismo. Darcy não
escapa desta ambigüidade moderna, o que Pesavento cuidou de chamar de “espécie de
‘amargura provinciana’, sentimento que coabita e se confronta com a aludida auto-
imagem positiva” ( Ibid.: 230): “a saudade da aldeia e a vontade louca de ser
metrópole” ( Ibid.:235).
Em “O Povo Brasileiro”, evidencia-se que o trabalho de construção do Estado
pelas elites brasileiras do século XIX, iniciado com a vinda da burocracia administrativa
metropolitana de Lisboa para o Rio de Janeiro e consolidado no processo de conciliação
dos interesses das elites provinciais com os do governo central jamais se confundiu com
a gestação do "povo brasileiro". A nação inexistia como "plebiscito cotidiano", como
corpo de cidadãos ou como sentimento coletivo. Estávamos marcados pelo "não-ser",
pela "ninguendade".
O poder do senhor de engenho, de dentro do seu domínio, se estendia à
sociedade inteira. Situado nessa posição dominadora, usufruía de uma autoridade que a
própria nobreza jamais tivera no reino. Diante dele se curvavam não apenas os braços
da lavoura mas os submissos clero e a administração do colonizador. Elites integradas
num sistema único que regia a ordem econômica, política, religiosa e moral,
conformando uma oligarquia. Frente a esta, apenas se igualava a camada parasitária de
armadores e comerciantes exportadores de açúcar e importadores de escravos - que era
também quem financiava os senhores de engenho. Não havia vácuo a sugerir
antagonismos. Nenhuma disputa era mais relevante do que a complementariedade de
seus interesses nos empreendimentos lucrativos. Uma cúpula homogênea congregava
interesses internos e externos, excluindo um "não-povo" que se denominou brasileiro.

III Simpósio Nacional de História Cultural Florianópolis, 18 a 22 de setembro de 2006
20
O ressentimento diz respeito à sensação generalizada de que “algo não deu
certo”, expressa a auto-percepção de uma exclusão (Pesavento, 2004: 235). Superar o
ressentimento é ultrapassar a experiência mesma de “derrota”. Tal superação não se dá
pelo ufanismo que alimenta a utopia, ao criar modelos de referências imaginários.
Darcy, pois, revela uma outra face – mais próxima a “heterotopia” da qual nos falava
Boaventura de Sousa Santos.
Efetivamente, lembramos menos para conhecer do que para agir. A memória,
como descreve Seixas, tem um destino prático: realiza a síntese do passado e do
presente visando ao futuro, contrai os momentos do passado para deles “se servir” e
para que isso se manifeste em ações interessadas (2004: 53-4). Darcy Ribeiro narrou a
história de um povo, através de sua “teoria do Brasil”, reviu o “processo civilizatório”,
fazendo-nos “caber” na história, objetivou tornar-nos co-autores de nossas frustrações e
esperanças. Dosou nosso ressentimento e nossa vitalidade para a mudança. Optou por
trabalhar na “política do possível”, se utilizarmos uma expressão de Boaventura de
Sousa Santos. Não quer a utopia mas a “heterotopia”, de onde a memória pode ser
reelaborada visto carregar um atributo fortemente ético que incide sobre as condutas
dos indivíduos e dos grupos sociais interferindo apenas indiretamente em suas ações e
objetivos - sem fixá-los ou calculá-las previamente – atuando, contudo, no sentido
essencialmente ético de induzir condutas, de interferir na (im)possibilidade mesma das
ações.
Nossa auto-transformação não se permite guiar pelos "manuais das civilizações"
do "Velho Mundo". Afirma Darcy: “Nosso passado, não tendo sido o alheio, nosso
presente não era necessariamente o passado deles, nem nosso futuro num futuro
comum” (Ibid.: 13).
Referências Bibliográficas BRESCIANI, Stella & Naxara, Márcia. “Apresentação”. In: ______. (ORG.). Memória e (res)sentimento. Indagações sobre uma questão sensível. Campinas: Edunicamp, 2004. BRESCIANI, Stella. “Identidades inconclusas no Brasil do século XX. Fundamentos de um lugar-comum”. In: ______ & Naxara, Márcia (ORG.), Op. Cit.. PESAVENTO, Sandra Jatahy. “Ressentimento e ufanismo: sensibilidades do sul profundo”. In: BRESCIANI, Stella & Naxara, Márcia (ORG.), Op. Cit..

III Simpósio Nacional de História Cultural Florianópolis, 18 a 22 de setembro de 2006
21
RIBEIRO, Darcy. Os brasileiros. 1. Teoria do Brasil. Estudos de antropologia da civilização. Petrópolis: Vozes, 1978 ______. Os índios e a civilização. A integração das populações indígenas no Brasil moderno. São Paulo: Cia. das Letras, 1996.
______. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1995. ______. O processo civilizatório. Etapas da evolução sociocultural. São Paulo: Cia. das Letras, 1998. SANTOS, Boaventura de Sousa. A Crítica da Razão Indolente: contra o desperdício da experiência. São Paulo: Cortez, 2002. ______. Pela mão de Alice. O social e o político na pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 2002. SECCENKO, Nicolau. Literatura como missão. Tensões sociais e criação na primeira república. São Paulo: Cia das Letras, 2003.
SEIXAS, Jacy Alves de. “Percursos de memórias em terras de história: problemáticas atuais”. In: BRESCIANI, Stella & Naxara, Márcia (ORG.), Op. Cit..