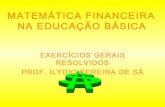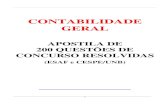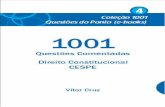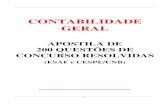1 INTRODUÇÃO · Web viewaconselha que estas dúvidas sejam todas resolvidas e eliminadas antes...
-
Upload
truongtruc -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of 1 INTRODUÇÃO · Web viewaconselha que estas dúvidas sejam todas resolvidas e eliminadas antes...

1 INTRODUÇÃOO trabalho de conclusão de curso que se está a apresentar é fruto de indagações acadêmicas e divergências doutrinárias verificadas ao longo do curso de Direito. Toda a polêmica que envolve as condições da ação na forma como estão insculpidas no Código de Processo Civil (CPC) instigou o aprofundamento do estudo acerca do assunto, sem, contudo, se ter pretensão alguma de exaurir o tema, eis que se trata de uma questão densa, onde existem entendimentos divergentes na doutrina e na jurisprudência. Dessa forma, busca-se analisar as condições da ação sob dois enfoques: o primeiro na visão de Enrico Tullio Liebman, processualista italiano que desenvolveu a teoria eclética da ação, sendo que muitas de suas ideias estão retratadas no CPC; o segundo no olhar da doutrina moderna, a qual apresenta um ponto de vista diverso acerca das condições da ação no ordenamento processual civil. Diante da problemática que se estabelece quanto às condições da ação, se são requisitos de existência de uma ação processual ou se se confundem com o mérito da causa, procura-se aclarar alguns conceitos prévios que auxiliam no entendimento do assunto. Assim, inicia-se no primeiro capítulo com a explanação sobre direito subjetivo, pretensão e ação, fenômenos que estão divididos em dois planos: o do direito material e o do direito processual. Tal capítulo propõe-se a esclarecer como se inicia uma relação processual e, principalmente, a identificar os motivos pelos quais existe a ação processual, analisando se pode haver condições para que haja prestação jurisdicional. No segundo capítulo, busca-se explicar as condições da ação, o mérito e a coisa julgada, com o intuito de visualizar o que dispõe o CPC e o que entende a doutrina e a jurisprudência atual. Para tanto, elucidar-se-á a inteligência acerca das condições da ação, isto é, a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade para agir e o interesse de agir, bem como a carência de ação à luz da teoria eclética da ação de Liebman e, por conseguinte, do CPC, consignando as críticas apontadas pela doutrina moderna. Após, desenvolver-se-á algumas noções acerca de sentença, coisa julgada e mérito, verificando o provimento que extingue o processo por carência de ação na forma do artigo (art.)
267, VI do CPC, de modo que se possa visualizar as consequências decorrentes de dois entendimentos: os que incluem as condições da ação fora do mérito e os que incluem as condições da ação como se mérito fossem. Por fim, serão feitas as críticas concernentes à teoria eclética da ação, apontando algumas implicações que se têm ao tratar as condições da ação fora do mérito.
2 DIREITO SUBJETIVO, PRETENSÃO E AÇÃO

O presente capítulo busca esclarecer alguns conceitos e dar subsídios para a melhor compreensão e elucidação do tema proposto no trabalho, isto é, se as condições da ação se confundem ou não com o mérito da causa. Essas ponderações são de fundamental importância, pois fazem a separação dos planos do direito material e do direito processual. Com tal distinção, torna-se possível averiguar a natureza jurídica da ação (tanto ação de direito material, quanto ação de direito processual), sem se ter, contudo, a pretensão de exaurir o tema, eis que passivo de diversos entendimentos.
2.1 PLANO DO DIREITO MATERIAL
Passemos a explicar o plano do direito material, no qual estão contidos três temas a serem abordados: a) direito subjetivo material; b) pretensão de direito material; c) ação de direito material. 2.1.1 Direito subjetivo material Para iniciarmos a discorrer sobre este assunto, é preciso que partamos da noção de fato jurídico. O que não pertence ao mundo do direito não tem relevância para o nosso estudo. Dessa forma, temos como ponto de partida o direito objetivo, a norma. Em citação a Von Tuhr, Ovídio Araújo Baptista da Silva diz ser o direito subjetivo “a faculdade reconhecida à pessoa, pela ordem jurídica, em virtude da qual o sujeito exterioriza sua
vontade, dentro de certos limites, para a consecução dos fins que a sua própria escolha determine”. 1 Concluindo, o processualista gaúcho diz: Como se vê dessa definição, o elemento central para a determinação do conceito está na noção de direito subjetivo como poder da vontade do titular, ou seja, na faculdade que a ordem jurídica confere àqueles a quem outorga o direito subjetivo para torná-lo efetivo pelo exercício, ou para defendê-lo contra as eventuais agressões de terceiros, ou ainda para exigir o seu reconhecimento e realização pelos órgãos públicos incumbidos de prestar jurisdição, ou, finalmente, para renunciá-lo. 2 Assim, podemos dizer que quando há a subsunção do fato à norma, nasce para alguém um direito subjetivo. O titular desse direito subjetivo tem um poder facultativo, exerce-o ou não, sem que haja violação da norma legal. Nascendo um direito para alguém, surge um dever a outrem. Logo, existindo um direito subjetivo, há a titularidade de um poder conferido pela ordem jurídica, o que concede a esse titular a exigibilidade. 2.1.2 Pretensão de direito material Suponhamos a seguinte situação: alguém é titular de um crédito ainda não vencido. Vejase

que ao estar na posição de credor, tal indivíduo dotado está de direito subjetivo, qual seja o de receber a quantia referente ao seu crédito. Portanto, de forma inerente ao seu direito subjetivo surge a exigibilidade. Como tal crédito pende de um termo, não se pode exigi-lo. Entretanto, no momento em que ocorrer o vencimento, poder-se-á exigir que o devedor satisfaça o respectivo crédito. Ovídio A. Baptista da Silva faz a seguinte assertiva sobre o referido exemplo: 1 SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de processo civil: processo de conhecimento. 8. ed., rev. e atualizada. Riode Janeiro: Forense, 2008. p. 55, v. 1, tomo 1.2 Ibid., p. 55.
Nesse momento, diz-se que o direito subjetivo – que já existia, embora se mantivesse em estado de latência – adquire dinamismo, ganhando uma nova potência a que se dá o nome de pretensão. Observe-se que a pretensão ainda é uma potência, uma mera potencialidade de que o direito subjetivo se reveste, não implicando a idéia de exercício efetivo da pretensão, de tal modo que, examinando-se o direito subjetivo nesta perspectiva, devemos distinguir os dois momentos que lhe são inerentes, o da pura exigibilidade e o de sua exigência efetiva. 3 Significa dizer que essa potencialidade chamada de pretensão, permite a seu titular exigir o cumprimento da obrigação. Araken de Assis ratifica tal entendimento, dizendo: “quando, porém, o direito, correlacionado ao dever respectivo, estatuído na regra jurídica, se torna exigível, afirma-se que ao direito corresponde uma pretensão, ou seja, o poder de exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa”. 4 No momento em que se exige o cumprimento de um dever jurídico (lato sensu), está se exercendo a pretensão, contudo, ainda não se está agindo, exercendo ação (de direito material). Isso é explicado pelo fato de que ao exigir o cumprimento de certo dever jurídico, depende-se da atitude do obrigado. Por exemplo, ao cobrar o devedor para que satisfaça seu crédito, exercendo a pretensão, o credor depende que ele satisfaça a respectiva obrigação de forma voluntária. No entanto, se a exigência restou infrutífera, isto é, depois de cobrado o devedor não satisfez o crédito, violando o dever jurídico, nasce para o titular da pretensão o direito de agir para a sua realização, o que chamamos de ação de direito material. Destarte, a pretensão está entre o direito subjetivo e a ação de direito material, pois nasce daquele, quando se torna exigível certo dever jurídico, e precede a esta, pois, sendo uma pretensão resistida, possibilita o agir material, ou seja, a exigência que se cumpra o direito. 3 SILVA, op. cit., p. 57.

MIRANDA, [ca. 1980], apud ASSIS, Araken de. Cumulação de ações. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 76.
2.1.3 Ação de direito materialComo vimos, a ação de direito material é o agir do titular do direito para a sua realização.A distinção entre pretensão e ação de direito material está em que a pretensão – enquanto exigência – pressupõe que a realização ainda se dê como resultado de um agir espontâneo do próprio obrigado, prestando, satisfazendo a obrigação. Enquanto exijo, em exercício de pretensão, espero o cumprimento, mediante ato voluntário do obrigado, ainda não ajo para a satisfação, dispensando o ato voluntário de cumprimento. A partir do momento em que o devedor, premido por minha exigência, mesmo assim não cumpre a obrigação, nasce-me a ação. Já agora posso agir para a satisfação, sem contar mais com a ação voluntária do obrigado cumprindo a obrigação. A ação de direito material é, pois, o exercício do próprio direito por ato de seu titular, independentemente de qualquer atividade voluntária do obrigado. 5 A explanação acima não deixa dúvidas. Se efetivada foi a exigência e mesmo assim não se obteve êxito em ver o direito realizado, em razão do não cumprimento voluntário por parte do devedor (lato sensu), surge a possibilidade de agir independentemente da vontade do obrigado. Nesse sentido, cabe fazer referência ao art. 75 do Código Civil de 1916 (sem correspondente no Código Civil vigente), o qual rezava que “a todo o direito corresponde uma ação, que o assegura”. Acerca do referido artigo, assevera o processualista Ovídio: Quando o Código Civil anterior, em seu art. 75, declarava que a todo direito (pretensão) corresponde uma ação que o assegura – capaz de torná-lo realizado –, fazia afirmação correta, porque estava no plano do direito material, a falar da ação de direito material.6 O Estado, todavia, proibiu a ação de forma privada, a autotutela. Isso significa que, utilizando-se do exemplo exposto anteriormente, se efetuada foi a cobrança de um crédito (exercendo-se a pretensão), e o devedor não o satisfez voluntariamente (pretensão resistida), 5 SILVA, op. cit., p. 60. 6 Ibid., p. 66.
surgindo, dessa forma, a ação de direito material, o credor não poderá se utilizar das próprias forças para que o devedor cumpra a sua obrigação. Diante do monopólio estatal da jurisdição, o meio concedido para o exercício do direito material foi a ação de direito processual, onde se postula ao Estado-juiz que exerça a pretensão de seu titular. Resumindo, como há proibição de que se imponha pessoalmente que outrem cumpra certa obrigação, o titular da ação material deve se utilizar do processo, formulando um pedido ao Estado para que, através de seus órgãos (juiz), aja por ele coativamente. A ação material é

exercida através da ação processual, em razão da proibição da autotutela, salvo nos casos previstos em lei (que, neste caso, será exercida extrajudicialmente). Acerca disso, Araken de Assis faz a seguinte reflexão: O exercício privado da ação provocaria tumulto social, um progressivo desfazimento dos laços da vida em sociedade, a negação da paz e do império da justiça. Por isso, o Estado moderno proíbe-o, em geral, criminalizando-o como exercício arbitrário das próprias razões, e avocando, por decorrência, o monopólio da distribuição da justiça. 7 Ainda nessa esteira de ensinamentos, cabe citar a importante observação feita pelo professor Ovídio: Não se deve confundir a ação de direito material com a “ação” processual, bem como não se deve supor que todos os pedidos de tutela jurídica dirigidos ao juiz (“ação” processual) envolvam uma ação de direito material. Assim como pode ocorrer exercício de ação de direito material fora da jurisdição, embora isso seja raro no direito moderno, igualmente pode suceder que o titular da pretensão de direito material (direito exigível) valha-se da jurisdição, formulando um pedido ao juiz, para simples exercício (processualizado) de sua pretensão, e não para que o Estado realize, através da ação de direito material, o seu direito. Neste caso, teríamos “ação” sem ação, ou seja, estaríamos em presença de uma “ação” processual, enquanto pedido de tutela jurisdicional, sem ação. 8 7 ASSIS, Araken de. Cumulação de ações. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 79. 8 SILVA, op. cit., p. 61-62.
Seguindo esse entendimento, chega-se à conclusão que a ação de direito processual não substituiu a ação de direito material. O que temos é uma duplicação de ações: uma dirigida contra o obrigado e outra endereçada contra o Estado. A realização coativa do direito, com absoluta prescindência da vontade ou da colaboração do obrigado, que se consegue através da jurisdição, é rigorosamente a mesma ação de direito material, ou seja, o mesmo agir para a realização inerente a todo direito, com a única diferença de que, proibida a autotutela privada, a efetivação do direito dá-se através da ação dos órgãos estatais. Portanto, longe de haver supressão, ou substituição da ação de direito material, o que em verdade ocorreu foi uma duplicação de ações: uma dirigida contra o obrigado, outra endereçada contra o Estado, para que este, uma vez “certificada a existência do direito, o realize coativamente, praticando a mesma atividade que fora impedido seu titular”. 9 Isso posto, encerramos o estudo do plano do direito material, sobre o qual teceremos maiores comentários quando tratarmos das condições da ação e do mérito da causa oportunamente.
2.2 PLANO DO DIREITO PROCESSUAL
O plano do direito processual, assim como o plano do direito material, divide-se em três tópicos: a) direito subjetivo à tutela jurídica; b) pretensão à tutela jurídica; c) ação processual. 2.2.1 Direito subjetivo à tutela jurídica Algumas consequências decorrem da proibição por parte do Estado de que o titular de uma ação material a exerça privadamente. Avocando para si a jurisdição, o Estado passou a ter o

poder-dever de realizar o direito material. 9 SILVA, op. cit., p. 63.
Para tanto, necessário foi que se concedesse a todos os cidadãos o direito de agir através do Estado. Tal direito é chamado de direito de acesso aos tribunais, o qual está previsto no art. 5º, XXXV da Constituição Federal de 198810 com a seguinte redação: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Quanto ao referido texto constitucional, o professor Ovídio faz a seguinte crítica: Quando, porém, a Constituição, ou algum outro texto de direito público, afirma, querendo referir-se à garantia de acesso ao Poder Judiciário, que a lei assegura a todos o direito de serem ouvidos pelos tribunais, “em caso de lesão ou ameaça de lesão do direito”, está a fazer afirmação incorreta: o direito de ser ouvido pelos tribunais é assegurado a todos indistintamente, tanto aos que tenham quanto aos que não tenham sofrido qualquer violação ou ameaça a seus direitos; e até mesmo àqueles que, não tendo direito algum, exijam que o Estado lhes preste tutela jurisdicional, ainda que seja para que o juiz os declare sem direito. 11 Assim, este direito subjetivo à jurisdição imbuído está de pretensão, ou seja, uma vez proibida a autotutela, surge o direito de exigir que o Estado tutele a efetivação de certo direito.
2.2.2 Pretensão à tutela jurídica
A esse poder exigir a prestação jurisdicional que nasce com o direito subjetivo à tutela jurídica, dá-se o nome de pretensão à tutela jurídica. Com o monopólio da jurisdição, onde o Estado tomou para si o poder-dever de realizar o direito material em razão da proibição da autotutela, aos cidadãos surgiu o direito subjetivo de serem tutelados pelo Estado. Dessa forma, para que possam, através deste, realizar o seu direito é preciso que ajam. A esse agir se dá o nome de ação processual. Conforme vimos no item 2.1.212, a pretensão é dotada de exigibilidade. No plano do direito processual, também assim o é, com a seguinte diferença: 10 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de1988. São Paulo: Saraiva, 2005.11 SILVA, op. cit., p. 66-67.12 Ver página 10.
Há, todavia, uma distinção entre o que acontece no plano do direito material e aquilo que ocorre no processo. O exercício da pretensão, como simples exigência, não bastaria perante o direito processual, tal como poderia bastar no campo do direito material. O exercício da pretensão de tutela jurídica seria insuficiente. A quem pretenda obter tutela jurisdicional não basta exigir e esperar que o juiz sozinho aja por ele, tal como poderia ocorrer no plano do direito material com o exercício da pretensão. O direito processual exige mais: exige que o titular da pretensão de tutela jurídica formule sua exigência e, ao mesmo tempo, através do juiz, também ele efetivamente aja no sentido de obtê-la. 13

Isso ocorre pelo fato de que o Estado não pode agir sozinho, sem a iniciativa daquele que não conseguiu realizar o seu direito exercendo a sua pretensão. Se assim fosse, estaríamos ignorando a existência da ação de direito material, bastando o exercício da pretensão para que se iniciasse a atividade jurisdicional. Podemos verificar o disposto no parágrafo anterior na combinação dos artigos 2º e 262 do Código de Processo Civil14, os quais tratam do princípio da inércia, dizendo, respectivamente, que “nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a requerer, nos casos e forma legais”; e que “o processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial”. Nesse sentido, temos o entendimento de Araken de Assis: Definida a pretensão como um meio tendente a um fim, ou seja, à prestação [...], se aceita normalmente a idéia correlata de que a prestação devida, no caso, compete ao Estado, e consiste na prestação jurisdicional, a que se obrigou ao monopolizar a distribuição da justiça. Não bastará, contudo, que alguém detenha a pretensão à tutela jurídica – e, na verdade, todos os cidadãos a têm, porque o direito de acesso à justiça figura dentre as garantias inextirpáveis do texto constitucional – para que se resolva a lide, ou seja, efetive-se a ação material. É preciso que o titular da pretensão exerça-a efetivamente, aja enfim, propondo a demanda, que corporifica a ação processual. 15 Desse modo, temos que a pretensão à tutela jurídica é um poder inerente ao direito subjetivo à tutela jurídica, e que tal poder deve ser exercido através de um instrumento, o qual chamamos de ação processual. 13 SILVA, op. cit., p. 67.14 BRASIL. Código de Processo Civil. Lei N. 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil.São Paulo: Saraiva, 2007.15 ASSIS, op. cit., p. 84.
2.2.3 Ação processual
Fábio Gomes diz ser a ação (de direito processual) “o exercício do direito subjetivo público perante o Estado, com o objetivo de que este preste a tutela jurisdicional”. 16 Esse exercício, conforme já vimos, dá-se por iniciativa da parte (art. 262 do CPC) e será considerado proposto pela simples distribuição da petição inicial ou pelo despacho judicial desta (art. 263, 1ª parte do CPC). Assim, ao distribuir uma petição inicial, está se exigindo que o Estado aja, prestando a jurisdição, o que será efetivado através de uma sentença de mérito. Exercendo-se a pretensão à tutela jurídica, o Estado passa a ser devedor da jurisdição. Pondera Araken de Assis acerca do assunto que a ação se considera proposta, reza o art. 263 do CPC, “tanto que a petição inicial seja despachada pelo juiz, ou simplesmente distribuída,

onde houver mais de uma vara”. Ora, despachando a inicial “o juiz presta jurisdição”. 17 Ainda, o referido autor faz o seguinte ensinamento sobre a ação processual, a qual chama de demanda: A demanda estabelece a relação processual, que tem por sujeito ativo o autor, ou demandante, e por passivo o Estado. Desde que citado, o réu ostenta a posição de pólo do verso da relação, porque ela se oferece em ângulo: dois sujeitos ativos (autor e réu) e um passivo (Estado). O demandado possui idêntico direito e pretensão à tutela jurídica. Ele, porém, não age, porque não foi dele a iniciativa de propor a demanda, e, sim reage à demanda ajuizada. Esta afirmativa se respalda no art. 267, § 4.º, ao proibir a desistência da demanda senão com o assentimento do réu, que deseja do Estado a tutela de improcedência. 18 No mesmo sentido, aduz o professor Ovídio: 16 SILVA, Ovídio A. Baptista da; GOMES, Fábio. Teoria geral do processo civil. 2. ed. rev. e atual. São Paulo:Editora Revista dos Tribunais, 2000. p. 132.17 ASSIS, Araken de. Manual da execução. 12. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2009. p. 117.18 Id. Cumulação de ações. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 85.
Aquele que exerce a “ação” processual age; a parte adversa contra quem a “ação” é exercida defende-se, reage à ação do autor. Aquele que não age apenas reage à ação do autor. Ambos, porém, tanto o autor que age quanto o réu que se defende, têm igual pretensão de tutela jurídica e, portanto, idêntico direito de obter uma sentença de mérito. 19 Analisando as citações, inferimos que tanto autor quanto réu têm pretensão à tutela jurídica. Ademais, o Estado, através do juiz, ao verificar o que está sendo postulado em juízo deverá proferir uma sentença de mérito, julgando procedente a ação, caso o autor seja titular do direito material alegado, ou improcedente, caso não resida no autor o direito que diz ser titular. Podemos ver que em nenhum momento se pode impor condições aos cidadãos para que busquem a tutela estatal, pois, como já dissemos diversas vezes, é dever do Estado prestá-la face à proibição da tutela privada. A jurisdição será prestada sempre que haja provocação do Estado, através da ação processual, para que se profira uma sentença, independentemente se o autor tem ou não o direito que alega ter. Nesse sentido, assevera o professor Araken de Assis acerca do questionamento feito por Pontes de Miranda: [...] “que diferença existe entre o que não tem direito e crê tê-lo, o que não tem direito e sabe não tê-lo e o que tem direito e exerce a ação não crendo tê-lo?” Nenhuma diferença ou relevância, do ponto de vista processual, surgem dessas situações peculiares ao início da relação processual, no momento em que reina a incerteza acerca da ação material, deduzida pelo autor no processo, e espancadas somente através da

sentença. 20 Disso, concluímos que procedência e improcedência dizem respeito ao plano do direito processual, especificamente no que tange à sentença. Não há se falar em direito procedente ou improcedente, eis que estaríamos afrontando o plano do direito material, ou seja, falar-se-ia em direito existente ou inexistente. 19 SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de processo civil: processo de conhecimento. 8. ed., rev. e atualizada. Riode Janeiro: Forense, 2008. p. 68.20 MIRANDA, [ca. 1980], apud ASSIS, 2002. p. 83.
19 3 CONDIÇÕES DA AÇÃO, MÉRITO E COISA JULGADA
O presente capítulo visa analisar as chamadas condições da ação, da maneira como estão dispostas no Código de Processo Civil, verificando as consequências da ausência de tais condições. Outrossim, ao fazer essa avaliação, verificar-se-á, também, se as condições da ação são elementos ínsitos ao surgimento de uma ação processual, de modo a viabilizar a análise do mérito processual somente quando presentes ou, de forma contrária, se as condições da ação tratam do próprio mérito do processo. Com tais ponderações, possível será concluir se a aplicação do art. 267, VI do CPC implica uma sentença terminativa, fazendo coisa julgada formal, ou se resulta em uma sentença definitiva, ensejando a coisa julgada material. Apresentado esse panorama, buscar-se-á fazer uma análise crítica do disposto no codex processual, com intuito de vislumbrar a forma como é tratado tal assunto na doutrina e na jurisprudência pátria, bem como de buscar alternativas para a adequação da problemática que se estabelece ao se aplicar o art. 267, VI do CPC.
3.1 DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Para que possamos falar sobre as condições da ação, imperioso que se faça uma análise sobre a teoria eclética da ação, cujo maior expoente foi o processualista italiano Enrico Tullio Liebman. A presente teoria teve grande aceitação no direito processual civil brasileiro, especialmente pela influência que seu autor exerceu sobre os processualistas pátrios, dentre os quais podemos destacar Alfredo Buzaid, que foi seu aluno e idealizador do anteprojeto da Lei N. 5.869 de 1973 – Código de Processo Civil brasileiro – onde retratadas estão as ideias liebmanianas. Cabe salientar que de forma alguma se está a desmerecer as demais teorias (e seus

respectivos autores) que trataram sobre a ação – dentre as quais, podemos destacar a teoria
civilista, tendo como destaques Savigny, Windscheid e Muther; teoria do direito concreto de ação, de Adolf Wach; teoria da ação como direito potestativo, de Giuseppe Chiovenda e Calamandrei; teoria do direito abstrato de agir, de Degenkolb, Plosz, Alfredo Rocco, Ugo Rocco e Francesco Carnelutti. Ocorre que o mote deste trabalho é, conforme já dito, de se verificar as condições da ação e os desdobramentos de sua aplicação, sendo que se fôssemos abordar todo o histórico e as discussões decorrentes do estudo da ação, fugiríamos ao propósito desta monografia. Além disso, não temos o intuito de esmiuçar a teoria eclética da ação, mas sim o objetivo de traçar um paralelo entre a aplicação das condições da ação no âmbito do Código de Processo Civil e a aplicação no âmbito doutrinário e jurisprudencial atual. Assim, passemos ao estudo da teoria eclética da ação, verificando o entendimento da mesma sobre cada uma das condições da ação e sobre a carência de ação, bem como suas consequências na visão do processualista italiano, sem deixarmos de enfocar, também, os outros dois pontos principais daquela teoria, quais sejam o conceito de jurisdição e de mérito, fazendose as críticas cabíveis ao seu entendimento. Primeiramente, vejamos o que Enrico Tullio Liebman entende por jurisdição: Entendo por jurisdição a atividade do poder judiciário, destinada a realizar a justiça mediante a aplicação do direito objetivo às relações humanas intersubjetivas, no processo de cognição somente a sentença que decide a lide tem plenamente a natureza de ato jurisdicional, no sentido próprio e restrito. Todas as outras decisões têm caráter preparatório e auxiliar: não só as que conhecem dos pressupostos processuais, como também as que conhecem das condições da ação e que, portanto, verificam se a lide tem os requisitos para poder ser decidida. 21 Na sequência, o processualista italiano conceitua a ação da seguinte forma: A ação, como direito de provocar o exercício da jurisdição, significa o direito de provocar o julgamento do pedido, a decisão da lide. É abstrata, porque tendo por conteúdo o julgamento do pedido inclui ambas as hipóteses em que este for julgado procedente ou improcedente, mas é subjetiva determinada, porque é condicionada à existência dos requisitos definidos como condições da ação. A possibilidade de requerer 21 LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sobre o processo civil brasileiro. Araras: Bestbook, 2001. p. 109.
dos órgãos jurisdicionais uma decisão, seja qual for, mesmo uma decisão que recuse julgar o pedido, não é um direito subjetivo, porque compete a todos, em qualquer circunstância, e constitui, por assim dizer, o ar que vive a ordem jurídica constituída. É um direito subjetivo, e propriamente o direito de ação, aquele que, nas condições indicadas, compete a uma pessoa, que pretende obter do poder judiciário a aplicação do direito a um conflito de interesses. Mas entre essas condições não se inclui a

procedência da pretensão do autor, porque a ação não é o direito de ver acolhido e sim, mais simplesmente, de ver julgado o pedido formulado. Que ele seja acolhido ou rejeitado é assunto que cabe ao juiz decidir como resultado de seu conhecimento da lide, e que se resolve de conformidade com o direito aplicável à espécie. Do ponto de vista processual, a ação é o direito ao julgamento do pedido, não a determinado resultado favorável do processo. 22 Das duas citações transcritas acima, extrai-se a conclusão de que o direito de ação corresponde-se com o direito à jurisdição, pois no momento em que se exerce o direito de ação (processual), provoca-se a tutela jurisdicional. Assim, se não foi exercido o direito de ação, também não poderá ter havido jurisdição. Sem ação, não há jurisdição. Liebman23, todavia, afirma que são necessários determinados requisitos para a existência da ação, os quais denomina de condições da ação, que, por conseguinte, são condicionantes à prestação da tutela jurisdicional. Nesse sentido, refere o autor: As condições da ação [...] são os requisitos de existência da ação, devendo por isso ser objeto de investigação no processo, preliminarmente ao exame do mérito (ainda que implicitamente, como costuma ocorrer). Só se estiverem presentes essas condições é que se pode considerar existente a ação, surgindo para o juiz a necessidade de julgar sobre o pedido [domanda] para acolhê-lo ou rejeitá-lo. Elas podem, por isso, ser definidas também como condições de admissibilidade do julgamento do pedido, ou seja, como condições essenciais para o exercício da função jurisdicional com referência à situação concreta [concreta fattispecie] deduzida em juízo. 24 No que tange ao mérito, Liebman o identifica com o conceito de lide, aduzindo que julgar a lide e julgar o mérito são expressões sinônimas. Ainda, assevera que “o pedido do autor é o 22 LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sobre o processo civil brasileiro. Araras: Bestbook, 2001. p. 110-111.23 Id. Manual de direito processual civil. Tradução e notas de Cândido R. Dinamarco. 1ª edição brasileira. Rio deJaneiro: Editora Forense, 1984. p. 153.24 Ibid., p. 153.
objeto do processo” 25 (grifo original) e que o conflito de interesses, que se dá entre o pedido feito pelo autor e a contestação, representam a lide, ou seja, o próprio mérito da causa. 26 Lide é, portanto, o conflito efetivo ou virtual de pedidos contraditórios, sobre o qual o juiz é convidado a decidir. Assim modificado, o conceito de lide torna-se perfeitamente aceitável na teoria do processo e exprime satisfatoriamente o que se costuma chamar de mérito da causa. Julgar a lide e julgar o mérito são expressões sinônimas que se referem à decisão do pedido do autor para julgá-lo procedente ou improcedente e, por conseguinte, para conceder ou negar a providência requerida. 27 Ainda, prosseguindo com seu raciocínio, conclui Liebman: O pedido do autor, para merecer a atenção do juiz, deve oferecer alguns requisitos, cuja falta autoriza o juiz a recusar-lhe o conhecimento. As condições da ação, portanto, são

os requisitos que a lide deve possuir para poder ser julgada. Eles dizem respeito às relações entre a lide e o conflito de interesses que a fez surgir, porque a lide só pode ser decidida se for adequada e apropriada àquele conflito. 28 A essa autorização concedida ao juiz para recusar o conhecimento do pedido do autor, Liebman faz a seguinte justificativa: A atividade do juiz para instruir e examinar a controvérsia submetida a julgamento será tanto mais eficiente quanto menos sua atenção e sua serenidade forem desviadas pela necessidade de resolver as dúvidas que podem ser levantadas a respeito da regularidade e validade do próprio processo. Por outro lado, o princípio da economia processual aconselha que estas dúvidas sejam todas resolvidas e eliminadas antes que se passe a examinar o mérito, para evitar o perigo de gastar tempo e trabalho num processo que poderá depois resultar invalidamente instaurado, inutilizando-se assim os atos porventura já realizados. Razões várias tornam, pois, conveniente assegurar, tanto quanto possível, que não se dê início ao conhecimento do mérito da controvérsia, senão depois de abrir e desembaraçar o caminho por meio da depuração, do saneamento do processo [...]. 29 25 LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sobre o processo civil brasileiro. Araras: Bestbook, 2001. p. 100.26 Ibid., p. 102.27 Ibid., p. 103.28 Ibid., p. 105.29 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução e notas de Cândido R. Dinamarco. 1ªedição brasileira. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. p. 82.
Veja-se que, ao condicionar o surgimento da ação processual e da prestação jurisdicional, Liebman situa as condições da ação como uma espécie de filtro, isto é, caso não estejam presentes tais condições no momento da propositura da ação, dispendioso e antieconômico seria mover toda a máquina judiciária para proferir uma decisão que não alcançasse o mérito. Isso justifica a afirmação de que somente a sentença que analisa o mérito tem caráter jurisdicional, enquanto as demais têm caráter preparatório e auxiliar. Dessa forma, na ausência das condições da ação, ou seja, havendo carência de ação, todos os atos desenvolvidos pelo Estado-juiz não seriam jurisdicionais. E mais, sequer teria havido ação processual! Assim, analisemos uma a uma as chamadas condições da ação, as quais estão dispostas no Código de Processo Civil pela combinação dos artigos 3º 30; 267, inciso VI 31; 295, incisos II e III e parágrafo único, inciso III 32. São elas: a) a possibilidade jurídica (do pedido); b) a legitimidade das partes ou legitimidade para agir e; c) o interesse processual ou interesse de agir. Fábio Gomes as situa da seguinte forma: Das três condições da ação, uma é de ordem objetiva e duas referem-se aos sujeitos. Quanto à primeira – a possibilidade jurídica do pedido –, visa retirar da ação o

conteúdo genérico, pois deverá sempre referir-se a um pressuposto de fato que obtenha correspondência na lei. As outras duas, de ordem subjetiva, conferem a ação ao verdadeiro titular do direito em face do sujeito passivo (legitimação ativa e passiva), na hipótese de ter o primeiro necessidade (interesse) da tutela postulada, ou seja, caso o sujeito passivo haja violado ou ameace violar algum direito do autor. 33 Por serem requisitos de existência da ação, à luz da teoria de Liebman, as condições da ação devem ser verificadas preliminarmente, isto é, antes de se analisar o meritum causae. 30 “Art. 3.º Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade”. “Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: [...] VI – quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual”. 32 “Art. 295. A petição inicial será indeferida: [...] II – quando a parte for manifestamente ilegítima; III -quando o autor carecer de interesse processual. [...] Parágrafo único. Considera-se inepta a petição inicial quando: III – o pedido for juridicamente impossível”. 33 SILVA, Ovídio A. Baptista da; GOMES, Fábio. Teoria geral do processo civil. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. p. 116.
Essa assertiva retratada está no art. 301, X do CPC34, o qual reza que, na contestação, deve-se alegar, antes de discutir o mérito, a ausência de qualquer uma das condições da ação. Galeno Lacerda faz a seguinte exposição: Diante do pedido, há que raciocinar no condicional, com juízos hipotéticos. Se verídicos os fatos narrados, existe lei que ampare a pretensão? estaria o autor realmente interessado? seria êle titular do direito que pretende, e o réu sujeito passivo da eventual relação? 35 Seria este, portanto, o questionamento a ser feito pelo juiz ao se deparar com a petição inicial. Para tanto, teria o magistrado que encarar como verdadeiras as alegações postas pelo autor, observando que o seu raciocínio deva se dar no plano hipotético, verificando se aquilo que está exposto na peça inaugural do processo dá condições para que se possa apreciar o mérito, sem, contudo, examinar o próprio mérito. As perguntas se fazem na hipótese, no pressuposto, de verazes as declarações de fato. Concede-se ao autor um máximo de credibilidade, para verificar-se, não se tem direito a sentença favorável, mas se não o desamparam questões prejudiciais, que tornariam inane e vã a prova do alegado. Trata-se, pois, rigorosamente, de investigar preliminares, com total despreocupação do resultado da sentença, no que concerne à posterior apreciação dos fatos. Quer ganhe ou perca, afinal, a demanda, deve o autor satisfazer os requisitos que o habilitem a agir, sem os quais inútil seria o trabalho processual. 36 Passemos, então, à análise de cada uma das condições da ação. 34 “Art. 301. Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar: [...] X – carência de ação”. 35 LACERDA, Galeno. Despacho Saneador. 3. edição. Porto Alegre: Fabris, 1990. p. 78.

36 Ibid., p. 78-79.
3.1.1 Da possibilidade jurídica
Liebman entende por possibilidade jurídica “a possibilidade para o juiz, na ordem jurídica à qual pertence, de pronunciar a espécie de decisão pedida pelo autor”. 37 Ainda, diz ser um requisito da ação que “é representado pela admissibilidade em abstrato do provimento pedido, isto é, pelo fato de incluir-se este entre aqueles que a autoridade judiciária pode emitir, não sendo expressamente proibido”. 38 Conclui dizendo que “quaisquer que sejam as circunstâncias do caso concreto, não pode ser apreciado pelo mérito um pedido com vistas a um provimento que o juiz não possa pronunciar”. 39 No entender de Fábio Gomes, a possibilidade jurídica do pedido “consiste na previsibilidade, pelo direito objetivo, da pretensão exarada pelo autor. Em outras palavras, o pedido formulado deve obter correspondência, in abstracto, na lei”. 40 Cabe ressaltar que Liebman, na terceira edição de sua obra Manuale di diritto processuale civile, não mais utilizou a possibilidade jurídica do pedido como uma das condições da ação. Nesse sentido, Cândido Rangel Dinamarco, comentando em nota o referido Manuale que traduziu, explica: Sucede que, tendo entrado em vigor na Itália, no ano de 1970, a lei que instituiu o divórcio (lei n.º 898, de 1.12.70), na 3.ª edição de seu Manuale o autor sentiu-se desencorajado de continuar a incluir a possibilidade jurídica entre as condições da ação (afinal, esse era o principal exemplo de impossibilidade jurídica da demanda); e nisso tudo vê-se até certa ironia das coisas, pois no mesmo ano de 1973, em que vinha a lume o novo Código de Processo Civil brasileiro, consagrando legislativamente a teoria de Liebman com as suas três condições, surgia também o novo posicionamento do próprio pai da idéia, renunciando a uma delas [...]. 41 37 LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sobre o processo civil brasileiro. Araras: Bestbook, 2001. p. 106.38 Id. Manual de direito processual civil. Tradução e notas de Cândido R. Dinamarco. 1ª edição brasileira. Rio deJaneiro: Editora Forense, 1984. p. 161.39 Ibid., p. 161.40 SILVA; GOMES, op.cit., p. 113.41 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução e notas de Cândido R. Dinamarco. 1ªedição brasileira. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. p. 160-161.
Ainda nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni assevera: Na 3.ª edição de seu Manuale di diritto processuale civile, Liebman abandonou a categoria da “impossibilidade jurídica do pedido”. A partir daí, ao tratar do interesse de agir, passou a dizer que “seria uma inutilidade [faltaria interesse de agir] proceder ao

exame do pedido para conceder ou negar provimento postulado” quando o provimento “não pudesse ser proferido, porque não admitido por lei” (Manual..., cit. V.1, p. 155). Como está claro, Liebman inseriu a idéia da impossibilidade jurídica do pedido na ausência de interesse de agir. 42 Assim, a partir da entrada em vigor, na Itália, da lei que instituiu o divórcio, o doutrinador italiano não mais considerou a possibilidade jurídica como uma das condições da ação, porém, manteve seu posicionamento quanto à legitimidade das partes e ao interesse de agir, sendo que este último aglutinou o que entendia Liebman por possibilidade jurídica.
3.1.2 Da legitimidade para agir
No que concerne à legitimidade ad causam, conceitua Liebman: [...] legitimação (ou legitimidade ad causam) é a pertinência subjetiva da lide nas pessoas do autor e do réu, isto é, o reconhecimento do autor e do réu, por parte da ordem jurídica, como sendo as pessoas facultadas respectivamente a pedir e contestar a providência que é objeto da demanda. Toda vez que surge um conflito de interesses, a lei não reconhece a qualquer um o poder de dirigir-se ao juiz para que intervenha e imponha o império da lei. Aquele a quem a lei atribui esse poder e aquele em face de quem o pedido pode ser feito é que são as pessoas legítimas. 43 Além disso, assevera o seguinte: 42 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil: teoria geral do processo. São Paulo: Editora Revista dosTribunais, 2006. p. 169, nota de rodapé n. 55, v.1.43 LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sobre o processo civil brasileiro. Araras: Bestbook, 2001. p. 107-108.
A legitimação para agir é, pois, em resumo, a pertinência subjetiva da ação, isto é, a identidade entre quem a propôs e aquele que, relativamente à lesão de um direito próprio (que afirma existente), poderá pretender para si o provimento de tutela jurisdicional pedido com referência àquele que foi chamado em juízo. 44 Dessa forma, será parte legítima ativa o titular do direito de ação que sofreu lesão ou ameaça ao seu direito e, em contrapartida, o legitimado passivo será o lesante. Melhor explicando a legitimação ativa e passiva, ensina Liebman: Também quanto à ação, prevalece o elementar princípio segundo o qual apenas o seu titular pode exercê-la; e, tratando-se de direito a ser exercido necessariamente com referência a uma parte contrária, também esta deve ser precisamente a pessoa que, para os fins do provimento pedido, aparece como titular de um interesse oposto, ou seja, aquele cuja esfera jurídica deverá produzir efeitos o provimento pedido. 45 Nesse sentido, cabe citarmos o art. 6.º do CPC46, o qual reza que “ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei”. Diante disso, concluímos que ao tratar da legitimidade das partes, Liebman se refere somente à legitimação ordinária. A segunda parte do mencionado artigo trata da legitimação extraordinária, que são os casos de substituição processual. 47 [...] o direito de agir em juízo é realmente atribuído para a tutela dos próprios direitos e

interesses legítimos e isso significa que não pertenceria a quem postulasse tutela para 44 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução e notas de Cândido R. Dinamarco. 1ªedição brasileira. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. p. 159.45 Ibid., p. 157.46 BRASIL. Código de Processo Civil. Lei N. 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil.São Paulo: Saraiva, 2007.Apelação Cível. Ação Coletiva de Consumo. Serviço de Telefonia Móvel. Promoção “Tarifa Zero”. Prática Abusiva. Configuração. Danos Morais. Reconhecimento. 1. Estando o pedido veiculado na ação coletiva amparado em diversas regras e princípios estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, ou seja, nos direitos inerentes à tutela do consumidor, erigidos a fundamentais pela Constituição Federal de 1988 (art. 5º, XXXII), não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido por suposta ausência de norma da ANATEL. 2. Inexistência de interesse jurídico específico e direto da ANATEL a ensejar sua participação no feito, pelo que vai mantida a decisão que indeferiu a formação do litisconsórcio passivo. 3. Legitimidade ativa do Ministério Público para figurar na demanda reconhecida para a defesa de interesses individuais homogêneos, conforme sistemática estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor. Legitimação extraordinária, da defesa de direito alheio em nome próprio (art. 6º do CPC), devidamente autorizada por lei (grifo nosso). (Apelação Cível N. 70028186120, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 08/07/2009). Disponível em: < http://tj.rs.gov.br/site_php/jprud2/index.php>. Acesso em: 31 out. 2009.
direitos alheios. Eis uma primeira indicação que serve para individualizar a pessoa que, caso por caso, pode efetivamente agir em juízo: é o que se chama legitimação para 48 agir. Ainda, o processualista italiano esclarece:Coisa completamente diferente da legitimação passiva é a legitimação para contestar, isto é, para defender-se, da qual dispõe o réu pelo simples fato de ter sido chamado a juízo (e ele poderá eventualmente alegar, se for o caso, inclusive a sua falta de legitimação passiva, ou seja, a sua condição de pessoa estranha à controvérsia que constitui objeto do processo). 49 Frente a tal elucidação, cabe fazermos uma crítica ao art. 3.º do CPC50, o qual dispõe que “para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade”. Conforme se viu, mesmo não sendo parte legítima, poderá o sujeito passivo da relação processual se defender, inclusive alegando ilegitimidade para figurar no pólo passivo da demanda.

3.1.3 Do interesse de agir
No que concerne ao interesse de agir, Enrico Tullio Liebman faz as seguintes ponderações: Interesse processual, ou interesse de agir existe, quando há para o autor a utilidade e necessidade de conseguir o recebimento de seu pedido, para obter, por esse meio, a satisfação do interesse (material) que ficou insatisfeito pela atitude de outra pessoa. É, pois, um interesse de segundo grau, porque consiste no interesse de propor o pedido, tal como foi proposto, para a tutela do interesse que encontrou resistência em outra pessoa, ou que, pelo menos, está ameaçado de encontrar essa resistência. Por isso, brota 48 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução e notas de Cândido R. Dinamarco. 1ªedição brasileira. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. p. 150.49 Ibid., p. 159.50 BRASIL. Código de Processo Civil. Lei N. 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil.São Paulo: Saraiva, 2007.
diretamente do conflito de interesses surgido entre as partes, quando uma delas procura vencer a resistência encontrada, apresentando ao juiz um pedido adequado. A existência do conflito de interesses fora do processo é a situação de fato que faz nascer no autor interesse de pedir ao juiz uma providência capaz de resolvê-lo. Se não existe o conflito ou se o pedido do autor não é adequado para resolvê-lo, o juiz deve recusar o exame do pedido como inútil, antieconômico e dispersivo. 51 Ainda, aduz Liebman: Em conclusão, o interesse de agir é representado pela relação entre situação antijurídica denunciada e o provimento que se pede para debelá-la mediante a aplicação do direito; deve essa relação consistir na utilidade do provimento, como meio para proporcionar ao interesse lesado a proteção concedida pelo direito. Desaparecidas as ações típicas, vinculadas a cada uma das relações jurídicas substanciais, ele é o elemento característico da ação, o elemento com base no qual a ordem jurídica mede a aptidão da situação jurídica [fattispecie] deduzida em juízo, a colocar-se como objeto da atividade jurisdicional e verifica se o pedido se conforma aos objetivos do direito, sendo merecedor de exame. 52 Em outras palavras, interesse de agir é a necessidade de se utilizar da tutela jurisdicional para a solução da questão posta em juízo. Há o interesse de agir quando se faz necessária a atuação do Poder Judiciário e/ou quando se tem a adequação da medida pleiteada. 53 [...] como o direito de agir é concedido para a tutela de um direito ou interesse legítimo, é claro que existe apenas quando há necessidade dessa tutela, ou seja, quando o direito ou interesse legítimo não foi satisfeito como era devido, ou quando foi contestado, reduzido à incerteza ou gravemente ameaçado. Individualiza-se, com isso, a situação objetiva que justifica a propositura de uma ação: é o que se chama interesse de agir. 54 51 LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sobre o processo civil brasileiro. Araras: Bestbook, 2001. p. 106. 52 Id. Manual de direito processual civil. Tradução e notas de Cândido R. Dinamarco. 1ª edição brasileira. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. p. 155-156.

Ação Cautelar de Exibição de Documentos. Interesse de Agir. Ausência de comprovação do interesse de agir em relação à necessidade do ajuizamento da ação (grifo nosso), inclusive no que diz respeito a pedido administrativo feito à parte demandada. Precedentes da corte. Sentença confirmada, no caso em concreto. Negaram Provimento Ao Apelo. Unânime. (Apelação Cível N. 70031457583, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 07/10/2009). Disponível em: <http://tj.rs.gov.br/site_php/jprud2/index.php>. Acesso em: 31 out. 2009. 54 LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sobre o processo civil brasileiro. Araras: Bestbook, 2001. p. 150.
Explica Liebman que o interesse de agir, elemento material do direito de ação, não se confunde com o interesse substancial, pois aquele é um interesse processual, de natureza secundária, que visa à instrumentalização deste. O interesse de agir é o elemento material do direito de ação e consiste no interesse em obter o provimento solicitado. Ele se distingue do interesse substancial, para cuja proteção se intenta a ação, da mesma maneira como se distinguem os dois direitos correspondentes: o substancial que se afirma pertencer ao autor e o processual que se exerce para a tutela do primeiro. Interesse de agir é, por isso, um interesse processual, secundário e instrumental com relação ao interesse substancial primário; tem por objeto o provimento que se pede ao juiz como meio para obter a satisfação de um interesse primário lesado pelo comportamento da parte contrária, ou, mais genericamente, pela situação de fato objetivamente existente. O interesse de agir decorre da necessidade de obter através do processo a proteção do interesse substancial; pressupõe, por isso, a assertiva de lesão desse interesse e a aptidão do provimento pedido a protegê-lo e satisfazê-lo. 55 Concluímos, de todo o exposto, que as condições da ação, como elementos de existência da ação, são apenas um indicativo de que o pedido merece exame; já o mérito diz respeito à procedência ou improcedência da ação, sendo que aquelas estão fora deste. 3.1.4 Da carência de ação Vejamos a explicação do doutrinador da teoria eclética: Quando, em determinado caso, faltam as condições da ação ou mesmo uma delas (interesse e legitimação para agir) 56, dizemos que ocorre carência de ação, devendo o juiz negar o julgamento de mérito e então declarar inadmissível o pedido [...]. 57 55 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução e notas de Cândido R. Dinamarco. 1ªedição brasileira. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. p. 154-155.56 Veja-se que aqui Liebman já não mais entendia a possibilidade jurídica como uma das condições da ação. 57 LIEBMAN, op. cit., p. 151.
Prossegue Liebman da seguinte forma:A ausência de apenas uma delas já induz carência de ação, podendo ser declarada, mesmo de ofício, em qualquer grau do processo. Por outro lado, é suficiente que as condições da ação, eventualmente inexistentes no momento da propositura desta,

sobrevenham no curso do processo e estejam presentes no momento em que a causa é decidida. 58 A carência de ação, portanto, impede a análise do mérito, implicando na extinção do processo. Em nossa lei processual civil, a carência de ação está retratada no art. 301, X59 do CPC. Da redação daquele dispositivo, combinado com o art. 267, VI60 do mesmo ordenamento, conclui-se que quando há carência de ação não há análise de mérito, devendo o sujeito passivo da relação processual apontar esse fato em sede preliminar de defesa e o juiz extinguir o processo, sendo que poderá o magistrado proceder tal ato de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. Neste caso, se o réu não suscitar a ausência de condições da ação na primeira oportunidade que lhe coube falar nos autos, sofrerá sanções processuais (pagamento das custas de retardamento61). 62 58 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução e notas de Cândido R. Dinamarco. 1ªedição brasileira. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. p. 154.59 “Art. 301. Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar: [...] X – carência de ação”.60 “Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: [...] VI – quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual”. 61 “Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: [...] § 3.º O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante nos ns. IV, V e VI; todavia, o réu que a não alegar, na primeira oportunidade em que lhe caiba falar nos autos, responderá pelas custas de retardamento”. 62 Apelação Cível. Responsabilidade Civil. Vício Rebiditório. Dano Patrimonial e Moral. Agravo Retido. Ilegitimidade Passiva. O requerido é parte ilegítima para a ação de vício redibitório referente ao apartamento comercializado com a autora, onde o réu apenas figurou como procurador dos titulares na escritura pública, ostentando, também, a condição de sócio-gerente da pessoa jurídica que recebeu em dação e pagamento o imóvel transferido posteriormente à autora. Em se tratando de responsabilidade pelo vício oculto, deve responder o titular, no caso a empresa, que não se confunde com a pessoa física de seu sócio-gerente. Ilegitimidade Passiva. Condição da Ação. Matéria de Ordem Pública. Conhecimento de Ofício. Em se tratando a legitimidade para a causa condição

da ação, portanto matéria de ordem pública, possível o conhecimento de ofício pelo julgador em qualquer momento e grau de jurisdição. Inteligência do § 3º, do art. 267, do CPC (grifo nosso). Agravo Retido. Pressuposto para Recorrer. Reiteração. Não Conhecimento. É condição para recorrer o decaimento de pretensão deduzida. Não tendo o réu em momento algum alegado a ilegitimidade passiva, não pode formular agravo retido referente a questão não submetida ao juízo deduzindo razões diretamente a via recursal. Agravo retido não conhecido, embora reiterado. Custas de Retardamento. Não tendo o réu alegado a ilegitimidade passiva no primeiro momento que se manifestou nos autos, arcará com as custas de retardamento a teor da parte final do § 3º, art. 267 do CPC, que
Ainda, pela sistemática do codex processual, sendo o processo extinto por carência de ação, portanto sem resolução de mérito, poderá o autor intentar novamente a ação, conforme dispõe o art. 268, caput 63 do ordenamento em análise. Diante dessa possibilidade deferida, façamos o seguinte exercício de raciocínio: suponhamos que alguém ajuíze uma ação exigindo o reembolso de uma quantia em dinheiro que fora emprestada para jogo ou aposta, o que conhecemos por dívida de jogo, prática essa vedada por lei (art. 815 do Código Civil) 64; citado, o réu invoca o art. 267, VI do CPC em sede de preliminar de contestação, aduzindo a impossibilidade jurídica do pedido; o juiz acolhe a preliminar e extingue o processo sem resolução do mérito. Descontente, novamente o autor intenta a ação, com os mesmos pedidos e fundamentos. Por óbvio, o desfecho dessa ação será o mesmo. Suponhamos agora que o sujeito “A” deve determinado numerário para o sujeito “B”. Este viaja para outro país, onde permanecerá por tempo indeterminado. Diante de tal situação, “A” ajuíza uma ação de cobrança contra “C”, irmão de “B”; em defesa, “C” alega ser parte ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda, pois não é o verdadeiro devedor, requerendo a extinção do processo por carência de ação, o que foi acolhido. Não satisfeito, “A” entra com nova ação, agora contra “D”, pai de “B”; o trâmite se dá da mesma forma, sendo o processo extinto sem resolução do mérito. Por fim, imaginemos que “X” toma emprestado um montante em dinheiro de “Y”, o qual lhe devia soma de igual valor, referente a outro negócio jurídico que realizaram. Inadimplida a

dívida com “X”, este ajuíza ação de cobrança contra “Y”que alega estar o credor em poder de quantia suficiente para a compensação do crédito, sendo desnecessária, portanto, uma condenação judicial determinando que pague o numerário devido. Diante da falta de interesse de agir, extingue-se o processo sem resolver o mérito. Dos três exemplos supracitados, podemos verificar a impropriedade do art. 268, caput do CPC, senão vejamos. se estima na terça parte do valor total das custas processuais (grifo nosso). Agravo Retido Não Conhecido.Ilegitimidade Reconhecida e Processo Extinto Ex Officio. Apelação Prejudicada. (Apelação Cível N. 70016019937,Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 27/09/2006).Disponível em: <http://tj.rs.gov.br/site_php/jprud2/index.php>. Acesso em: 31 out. 2009.63 “Art. 268. Salvo o disposto no art. 267, V, a extinção do processo não obsta a que o autor intente de novo a ação.A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honoráriosde advogado”.64 “Art. 815. Não se pode exigir reembolso do que se emprestou para jogo ou aposta, no ato de apostar ou jogar”.
No primeiro exemplo, mesmo que o autor ajuíze reiteradas ações sob o mesmo fundamento, o reembolso de dinheiro oriundo de dívida de jogo, o resultado será sempre negativo, pois tal hipótese é vedada por lei, havendo, dessa forma, impossibilidade jurídica do pedido. No segundo exemplo, enquanto a demanda não recair sobre o verdadeiro devedor, todas as demais tentativas de cobrança terão o mesmo resultado, isto é, se o credor não cobrar do próprio devedor, todas as demais pessoas serão partes ilegítimas para figurarem no pólo passivo da ação de cobrança. No último exemplo, de nada adiantaria o credor intentar novamente a ação alegando que o devedor não o pagara, visto que já estava na posse na quantia devida, bastando compensar o crédito. De todo o exposto, se o demandante, utilizando-se do art. 268, caput do CPC, quando extinto o processo por carência de ação, propor novamente a mesma ação, isto é, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, o resultado será sempre o mesmo: extinção do processo sem resolução do mérito por carência de ação. O resultado só será diverso quando o autor fizer um pedido juridicamente possível, contra

o titular do direito contraposto e quando tiver necessidade que o Poder Judiciário aja para que veja o seu direito realizado, ou seja, quando os elementos da ação forem alterados. Porém, quando isso ocorrer, a ação proposta não será mais a mesma intentada anteriormente, será uma nova ação, diferente daquela primeira. Em síntese, enquanto não preenchidas as condições da ação, o resultado do processo, quando aplicado o art. 267, VI do CPC, será sempre o mesmo. Isso retrata que a redação do art. 268, caput do referido ordenamento é no mínimo incoerente.
3.2 SENTENÇA E COISA JULGADA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Passemos ao estudo da sentença e da coisa julgada no âmbito do Código de Processo Civil, conceituando, ao olhar da doutrina, a sentença terminativa e a coisa julgada formal, bem como a sentença definitiva e a coisa julgada material.
De forma alguma buscamos entrar nas discussões e polêmicas infindáveis que decorrem do estudo do tema em tela. Pelo contrário, temos a intenção de analisar a disposição do CPC quanto a este ponto, verificando, posteriormente, as consequências que se têm ao enquadrar as condições da ação como requisitos de existência da ação e ao situá-las como se mérito fossem. Dessa forma, devemos partir do conceito de sentença exarado pelo CPC, que dispõe em seu art. 162, § 1.º que “sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei”. Assim, sentença é o provimento do juiz que extingue o processo sem resolução (art. 267) 65 ou com resolução (art. 269) 66 de mérito. Chamamos de sentença terminativa a que resolve o processo nos moldes do art. 267, e de sentença definitiva a que resolve o processo conforme o art. 269. Humberto Theodoro Júnior faz a seguinte classificação: As terminativas “põem fim ao processo, sem lhe resolverem, entretanto, o mérito” (casos de extinção do processo previstos no art. 267). Após elas, subsiste ainda o direito de ação, isto é, o direito de instaurar outro processo sobre a mesma lide, já que esta não chegou a ser apreciada67. Definitivas são as sentenças “que decidem o mérito da causa, no todo ou em parte”, e, por isso, extinguem o próprio direito de ação. 68 Diante dessa explicação, podemos dizer que quando proferida uma sentença terminativa, extinguindo o processo sem resolução do mérito, por algum dos motivos do art. 267 do CPC, salvo “quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada”

(hipótese do inciso V), poderá o autor intentar novamente a ação, nos moldes do art. 268, caput do mesmo ordenamento. Por outro lado, a sentença definitiva, a qual resolve o mérito nos termos do art. 269, impossibilita a utilização do art. 268, caput. 65 “Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: [...]”. 66 “Art. 269. Haverá resolução de mérito: [...]”. 67 Veja-se que aqui o autor utiliza a palavra lide para designar o mérito, conforme a terminologia do Código de Processo Civil, o que se pode verificar no item n. 6 da exposição de motivos do referido código, que diz: “o projeto só usa a palavra “lide” para designar o mérito da causa”. 68 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil – teoria geral do processo civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 267, v. 1.
Ocorrendo a preclusão, ou seja, quando em razão do decurso do prazo se perdeu o poder de impugnar a decisão proferida, no caso a sentença, dizemos que ocorre a coisa julgada. No entender de Fredie Didier Jr., “a coisa julgada é a imutabilidade da norma jurídica individualizada contida na parte dispositiva de uma decisão judicial”. 69 Sem entrarmos no mérito se a coisa julgada é um efeito ou uma qualidade da sentença, apontamos o art. 467 do CPC70, que dispõe: “denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário”. Embora o codex tenha definido apenas a coisa julgada material, há também a figura da coisa julgada formal: A coisa julgada formal é a imutabilidade da decisão judicial dentro do processo em que foi proferida, porquanto não possa mais ser impugnada por recurso – seja pelo esgotamento das vias recursais, seja pelo decurso do prazo do recurso cabível. Trata-se de fenômeno endoprocessual, decorrente da irrecorribilidade da decisão judicial. Revela-se, em verdade, como uma espécie de preclusão [...]. Seria a preclusão máxima dentro de um processo jurisdicional. Também chamada de “trânsito em julgado”. 71 Explica-se a coisa julgada material, além do conceito estabelecido pelo código processual, da seguinte forma: A coisa julgada material é a indiscutibilidade da decisão judicial no processo em que foi produzida e em qualquer outro. Imutabilidade que se opera dentro e fora do processo. A decisão judicial (em seu dispositivo) cristaliza-se, tornando-se inalterável. Trata-se de fenômeno com eficácia endo/extraprocessual. 72 69 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 4. ed. rev. ampl. e atual.Salvador: JusPodivm, 2009. p. 408, v. 2. 70 BRASIL. Código de Processo Civil. Lei N. 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2007.

71 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 4. ed. rev. ampl. e atual.Salvador: JusPodivm, 2009. p. 409, v.2. 72 Ibid., p. 408-409.
Podemos dizer que a sentença terminativa faz somente a coisa julgada formal, pois oriunda de um processo onde não se discutiu o mérito, podendo, assim, ser intentada novamente a ação (art. 268, caput do CPC). De outra banda, a sentença definitiva enseja a coisa julgada material, pois nela se enfrentou o mérito, impossibilitando a sua discussão inclusive em outro processo. Sendo a coisa julgada formal a imutabilidade da decisão dentro do processo, podemos concluir que ela é um primeiro passo para se alcançar a coisa julgada material, pois esta decorre daquela, no sentido de tornar inalterável a decisão dentro do processo somado ao fato de tornar a decisão inalterável em qualquer outro processo. Nesse sentido, temos a seguinte explicação: A coisa julgada formal é pressuposto da coisa julgada material. Enquanto a primeira torna imutável dentro do processo o ato processual sentença, pondo-a com isso ao abrigo dos recursos definitivamente preclusos, a coisa julgada material torna imutáveis os efeitos produzidos por ela e lançados fora do processo. É a imutabilidade da sentença, no mesmo processo ou em qualquer outro, entre as mesmas partes. Em virtude dela, nem o juiz pode voltar a julgar, nem as partes a litigar, nem o legislador a regular diferentemente a relação jurídica. 73 Partindo das noções básicas de sentença e coisa julgada que apresentamos, examinemos as consequências que se têm quando se extingue o processo sem resolução do mérito por carência de ação e, contrariamente, quando se entende que as condições da ação estão no plano do direito material, extinguindo-se o processo com resolução do mérito.
3.2.1 Da sentença e da coisa julgada quanto às condições da ação
Com base na teoria eclética e no Código de Processo Civil, as condições da ação não fazem parte do mérito. CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 23. edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 327.
37 Assim sendo, quando houver carência de ação (art. 301, X do CPC), resultando na extinção do processo sem resolução do mérito, por incidência do art. 267, VI do CPC, estaremos

diante de uma sentença terminativa. Logo, caso não haja recurso, ter-se-á a coisa julgada formal, podendo o autor da ação extinta se utilizar do caput do art. 268, intentando novamente a ação. De outra banda, para aqueles que entendem que as condições da ação estão no plano do direito material e que, portanto, ao serem verificadas, analisa-se o próprio mérito, não havendo espaço para a carência de ação (art. 301, X combinado com art. 267, VI, ambos do CPC), a sentença que enfrentar as questões atinentes à possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual será uma sentença de mérito. Em assim sendo, tal provimento será uma sentença definitiva, produzindo, quando efetivada a preclusão, coisa julgada material. Expliquemos melhor o entendimento de que as condições da ação se encontram no plano do direito material e que, por conseguinte, tratam do mérito. Primeiramente, imperioso que se entenda o que é mérito. Mérito, conforme exposto no item n. 6 da exposição de motivos do Código de Processo Civil, é sinônimo de lide74, sendo que esta foi conceituada por Liebman como “o conflito efetivo ou virtual de pedidos contraditórios, sobre o qual o juiz é convidado a decidir”. 75 Entendemos, todavia, pela própria sistemática do código processual, que mérito tem um sentido mais amplo do que somente os pedidos contrapostos apresentados ao julgamento do juiz. O art. 282 do CPC76 está situado na seção que trata dos requisitos da petição inicial. De seus sete incisos, podemos dizer que apenas os de números II, III e IV compõem a ação, não retirando a imprescindibilidade dos demais. Estes três incisos dizem respeito, respectivamente, às partes, à causa de pedir e ao pedido, que são denominamos de elementos da ação. 77 Nesse sentido, segue lição de Luiz Guilherme Marinoni: 74 Exposição de motivos do código de processo civil, item n. 6: O projeto só usa a palavra “lide” para designar omérito da causa.75 LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sobre o processo civil brasileiro. Araras: Bestbook, 2001. p. 103.76 “Art. 282. A petição inicial indicará: I -o juiz ou tribunal, a que é dirigida; II -os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu; III -o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV -o pedido, com as suas especificações; V -o valor da causa; VI -as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII -o requerimento para a citação do réu”. 77 “Art. 301. Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar: [...] § 2.º Uma ação é idêntica a outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”.

O art. 301, § 2.º, ao apontar o problema das ações idênticas, frisa que “uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. Portanto, de todos os requisitos do art. 282 (da petição inicial), compõem a ação apenas os mencionados nos incisos II, III e IV, isto é, as partes (autor e réu), os fatos e fundamentos jurídicos do pedido (a causa de pedir) e o pedido. 78 Ora, se tais pontos são requisitos da petição inicial e, a partir da proposição da ação o juiz tem o dever de prestar a jurisdição (art. 263, 1ª parte do CPC) 79, proferindo uma sentença de mérito, sendo que os elementos da ação são as partes, a causa de pedir e o pedido, concluímos que os elementos da ação são o próprio meritum causae, sobre os quais deverá o juiz proferir uma sentença de procedência ou de improcedência. Diante disso, impõe-se que visualizemos as condições da ação: possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das partes e interesse de agir. Tais condições retratam os elementos da ação, pois a possibilidade jurídica se liga ao pedido; a legitimidade se liga às partes e; o interesse de agir se liga à causa de pedir. Consequentemente, por retratarem os elementos da ação, as condições da ação estão situadas no plano do direito material e, uma vez que o juiz tenha que examinar o pedido para analisá-las, sujeitas estão a uma sentença de mérito. Por fim, temos que as condições da ação estão inseridas no próprio mérito que deverá ser julgado pelo juiz. Ratificando esse entendimento, utilizemo-nos da lição de Fredie Didier Jr.: Se (a) o objeto litigioso do processo se compõe da relação jurídica substancial deduzida; (b) esta relação jurídica tem por elementos os sujeitos, o objeto e o fato jurídico; (c) o objeto da relação jurídica se processualiza com o pedido, que é o efeito jurídico pretendido que se retira do fato jurídico alegado; (d) a legitimidade ordinária, ao menos no âmbito da tutela individual, constata-se a partir da relação jurídica material; (e) a possibilidade jurídica a ser investigada é a do pedido, que para muitos é o próprio mérito da causa, fica difícil, então, defender que a análise das mencionadas condições da ação não é uma análise de mérito (da relação jurídica substancial deduzida). 80 78 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil: teoria geral do processo. São Paulo: Editora Revista dosTribunais, 2006. p. 171-172, v.1.79 “Art. 263. Considera-se proposta a ação, tanto que a petição inicial seja despachada pelo juiz, ou simplesmentedistribuída, onde houver mais de uma vara. A propositura da ação, todavia, só produz, quanto ao réu, os efeitosmencionados no art. 219 depois que for validamente citado”.80 DIDIER JR., Fredie. Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de admissibilidade do processo.São Paulo: Saraiva, 2005. p. 213.

Definido o que é mérito e que as condições da ação se confundem com ele, ratificamos o entendimento de que o provimento que julga questões atinentes às condições da ação se trata de sentença definitiva, a qual, quando fulminada pela preclusão, ensejará a coisa julgada material, não permitindo que se discutam novamente as questões já decididas (ou seja, inaplicável o art. 268, caput do CPC), por força do art. 46881 combinado com o art. 47182, ambos do CPC.
3.3 CRÍTICA À TEORIA ECLÉTICA
Frente a toda a conceituação acerca das condições e da carência de ação até aqui vista, à luz da teoria eclética de Enrico Tullio Liebman (e, por conseguinte, do Código de Processo Civil), das noções de sentença e coisa julgada, bem como do entendimento que temos quanto às condições da ação e o mérito, capazes estamos para partir ao enfoque crítico. A primeira observação que podemos tecer é que ao situar as condições da ação fora do mérito, ou seja, entre ele e o pedido posto na demanda; ao afirmar que julgar a lide e julgar o mérito são expressões sinônimas; ao dizer que somente a sentença que decide a lide tem plenamente a natureza de ato jurisdicional e que todas as outras decisões têm caráter preparatório e auxiliar, Liebman está a defender que a decisão que extingue o processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 267, VI combinado com o art. 301, X, ambos do CPC não é um ato jurisdicional, e mais, havendo carência de ação sequer existiu ação. Por esse entendimento, teríamos uma manifestação do órgão do Poder Judiciário sem ser, contudo, um ato jurisdicional, bem como a existência de um processo sem a existência da ação processual! Para ilustrar o equívoco que transcende à inteligência do que defende a teoria eclética, trazemos à baila o julgado da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso 81 “Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas”. 82 “Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo: I -se, tratandose de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II -nos demais casos prescritos em lei”.
Especial 269, oriundo do Estado do Rio Grande do Sul83, o qual se explica nas palavras de Araken de Assis84:

[...] existem demandas que, repelidas no nascedouro pelo órgão jurisdicional, em seguida julgadas no Tribunal e, na seqüência, submetidas ao rigoroso crivo da mais alta Corte, têm por objeto controvérsia a respeito da fantástica “carência” de ação. Constitui exemplo dos mais expressivos a ação declaratória da existência de relação avoenga, proposta pelos filhos de suposto filho natural do réu, que o juiz de primeiro grau estimou impossível: o Tribunal de segundo grau proveu a apelação por maioria de votos; através de embargos infringentes, também em julgamento majoritário, o Tribunal acabou por restaurar a sentença de carência; finalmente, a 3.ª Turma do STJ proveu o recurso especial, igualmente por maioria, estimando admissível a ação. Como explicar esses pronunciamentos e a longa tramitação do processo se o STJ porventura mantivesse o juízo de carência? Indubitavelmente, no exemplo narrado existiu processo e, instituída a relação processual, houve ação, que é o direito de provocá-lo. 85 No entender de Fábio Gomes, haveria “a redução do campo da atividade jurisdicional” 86. Prosseguindo no mesmo sentido, conjectura o doutrinador: Para aceitar-se a posição de LIEBMAN ter-se-ia que criar uma atividade estatal de natureza diversa das três existentes (executiva, legislativa e judiciária), para enquadrar aquela exercida pelo juiz ao decidir sobre as condições da ação; ou, o que é pior, atribuir a um funcionário ou agente qualquer a competência para o exame destas condições. 87 Em outras palavras, por não ser jurisdicional a decisão que trata sobre as condições da ação, isto é, por não se enquadrar como uma atividade do Poder Judiciário, e tampouco do Executivo e Legislativo, teríamos que inventar um quarto órgão estatal apenas para resolver as questões atinentes às condições da ação, o que beira ao absurdo. Uma segunda crítica se impõe quando concluímos que, para Liebman, a ação se corresponde com a jurisdição, e que para existir ação processual são necessárias as condições da 83 3.ª T. do STJ, REsp. 269-RS, 03.04.1990, Rel. Min. Waldemar Zveiter, RJSTJ 4(40)231.84 ASSIS, Araken de. Manual da execução. 12. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2009. p. 11785 Ainda nessa senda, Embargos Infringentes N. 70021324306, 4.º Grupo Cível, TJRS.86 SILVA, Ovídio A. Baptista da; GOMES, Fábio. Teoria geral do processo civil. 2. ed. rev. e atual. São Paulo:Revista dos Tribunais, 2000. p. 118.GOMES, Fábio. Comentários ao código de processo civil: do processo de conhecimento, arts. 243 a 269. Coordenação de SILVA, Ovídio A. Baptista da. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. p. 282, v. 3.
ação. Para aceitarmos tal assertiva teríamos que afirmar que, ao extinguir o processo por carência de ação, existiu processo sem ação material. Perante essa compreensão, inferimos que Liebman confundiu ação processual com pretensão à tutela jurídica, senão vejamos. Conforme explicamos no primeiro Capítulo88, a ação processual decorre da vedação da

autotutela por parte do Estado, isto é, da proibição que o titular da ação material aja pelas próprias razões. Por conta disso, o Estado passou a ter o dever de realizar o direito através da prestação da tutela jurisdicional. Em assim sendo, a todos os cidadãos foi concedido o direito à jurisdição, o que chamamos de direito de acesso à justiça, direito fundamental previsto no art. 5º, XXXV da Constituição Federal. Nesse sentido, explica Ovídio A. Baptista da Silva: A doutrina confunde, quando trata do conceito de “ação” processual, o “direito subjetivo de acesso aos tribunais” com o exercício efetivo e concreto deste direito, através da “ação”. Ora, o “direito de acesso aos tribunais” ainda não é ação, mas simples estado de quem tem direito subjetivo e que tanto pode estar num texto de direito privado, como estava no art. 75 do Código Civil anterior, quanto em algum preceito constitucional (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal); ou até mesmo não estar expresso em qualquer regra jurídica escrita, porque o direito de ser ouvido pelos tribunais é princípio imanente e insuprível em toda e qualquer comunidade estatal. 89 Frente a esse dever de prestar a jurisdição a quem a busca, não poderá o Estado condicionar o direito de ação. Logo, Liebman ao imputar a possibilidade jurídica, a legitimidade de parte e o interesse de agir como condições para a existência da ação processual, o fez de forma equivocada, pois, como vimos, a jurisdição será prestada a partir do momento que for proposta a ação (art. 263 do CPC). Assim, a prestação jurisdicional não se confunde com a ação processual, pois esta é uma consequência daquela. Ademais, entendemos que o próprio termo condições da ação é impróprio, pois a ação não pode ser condicionada. 88 Ver página 8 e seguintes.89 SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de processo civil: processo de conhecimento. 8. ed., rev. e atualizada. Riode Janeiro: Forense, 2008. p. 78, v. 1, tomo 1.
Além disso, temos que as condições da ação elencadas no art. 267, VI do CPC estão no plano do direito material e que, portanto, tratam do próprio mérito da causa posta em juízo, senão vejamos. Para que possa analisar as condições da ação, terá o juiz que, obrigatoriamente, verificar se o pedido é juridicamente possível; se será sobre as partes postas na relação processual que a sentença surtirá efeitos, isto é, se o pedido se relaciona com quem está pedindo e contra quem se está pedindo; se há a necessidade de se utilizar da ação processual em análise para que satisfaça o direito. Consequentemente, ao fazer essa verificação, estará o juiz analisando o próprio mérito da

causa, pois é impossível que se faça uma análise das condições da ação em um plano totalmente hipotético, abstrato. Caso não sejam averiguadas as condições da ação juntamente com os elementos da ação, não poderá o magistrado valorar se o pedido é possível, se se amolda diante de quem pede e em face de quem se pede, bem como se indispensável é que se utilize do Judiciário para que este realize o direito. Destarte, ao se investigar as condições da ação, está-se a fazê-lo dentro do meritum causae, pois tratam de questões pertinentes ao direito material. Se fôssemos considerar que as condições da ação são elementos sem os quais não existe a ação e, portanto, somente quando preenchidas teríamos prestação jurisdicional, e que ao analisálas se faria em um plano hipotético, bastaria o autor da ação, quando ciente de que é carente de ação, mentir na petição inicial para que obtivesse uma sentença de procedência ou improcedência. Como exemplo disso, tomemos a ação de usucapião: suponhamos que o autor da ação invoca o art. 1.242, caput do Código Civil90, alegando estar na posse de um bem imóvel por sete anos, de forma contínua e inconteste, com justo título e boa-fé; ao analisar a petição inicial, o juiz extingue o processo sem resolução de mérito face à carência de ação, pois não há possibilidade jurídica do pedido, eis que o referido artigo exige a posse do bem por no mínimo dez anos. Agora, imaginemos que, diante dos mesmos fatos, sabedor da impossibilidade jurídica, o autor aduz na petição inicial ser possuidor do bem imóvel por onze anos; porém, durante a 90 “Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos”.
instrução probatória restou constatado que o autor possuía o bem há apenas sete anos, vindo a ser julgada improcedente a ação. Veja-se que quanto à questão de fundo, os requisitos para usucapir o bem imóvel, não há diferença alguma nos dois exemplos, pois ambos atingem o mérito da questão. Em ambos os casos o autor tem o mesmo tempo de posse do bem, porém, no primeiro exemplo, de acordo com a sistemática do Código de Processo Civil, o juiz não analisará o mérito, sendo que, ao extinguir o processo por força do art. 267, VI, poderá o autor intentar novamente a ação. No segundo

exemplo, diante da tentativa do autor de ludibriar o juiz quanto ao tempo de posse do bem, obterá uma sentença de mérito, pois na triagem feita para analisar o preenchimento das condições da ação ao início do processo obteve-se êxito. Sendo assim, podemos concluir que em ambos os casos existiu ação processual, houve prestação jurisdicional e houve análise de mérito. Ocorre que, a impropriedade das condições da ação leva o juiz a negar o provimento da tutela jurisdicional quando entender haver carência de ação, pois deixará de apreciar o mérito (de acordo com o entendimento do código processual). A terceira e última crítica que apontamos tange à questão recursal. Haverá consequências divergentes na decisão do recurso de apelação quando se entender que as condições da ação não fazem parte do mérito e, dessa forma, possível é que se extinga um processo sem resolver o mérito, face à carência de ação, implicando sentença terminativa. Vejamos: O art. 515 do CPC dispõe que “a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”. A Lei N. 10.352 de 2001 acrescentou o § 3.º ao referido artigo, o qual concede o efeito translativo à apelação. Reza tal dispositivo: “nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal pode julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento”. Assim, o parágrafo mencionado não se aplica às sentenças definitivas, ou seja, aquelas proferidas nos moldes do art. 269 do CPC, pois enfrentam o mérito. A discórdia se dá na apelação de sentença que extingue o processo por carência de ação, na forma do art. 267, VI do CPC. Para os que entendem que se trata de sentença terminativa, se preenchidos os requisitos do art. 515, § 3.º do CPC, isto é, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em
condições de imediato julgamento, poderá o tribunal, discordando que tenha faltado alguma condição da ação, reformar a sentença e julgar o mérito. Ausente, porém, pelo menos um dos requisitos apontados naquele parágrafo, ou seja, se a causa não versar exclusivamente questão de direito e não estiver em condições de imediato julgamento, não poderá o tribunal julgar o mérito caso tenha entendimento diverso do juízo a quo.

Diante dessa situação, teria o órgão ad quem que devolver o processo ao juiz singular para que julgasse o mérito, senão haveria o risco de supressão de um grau de jurisdição. Nesse sentido, temos o apontamento de José Carlos Barbosa Moreira: [...] é mister que, aos olhos do órgão ad quem, não exista (ou já não subsista) o impedimento visto pelo órgão a quo ao exame do mérito, nem qualquer outro, conhecível de ofício ou alegado e rejeitado, mas não precluso [...]. [...] é necessário que, estando em condições de fazê-lo, o órgão ad quem conclua que a apelação deve ser conhecida e, no mérito, provida para o fim de reformar-se a sentença. Normalmente, decisão desse teor acarretaria a remessa dos autos à instância inferior, para que ali, não havendo outro obstáculo, se julgasse oportunamente o mérito. Satisfeitos, contudo, os requisitos do art. 515, § 3º, o tribunal prosseguirá em sua atividade cognitiva, compondo ele próprio a lide. Para isso, além dos pressupostos acima enumerados, precisam concorrer os dois a que alude a parte final do dispositivo, a saber: [...] que a causa verse questão exclusivamente de direito; [...] que ela esteja “em condições de imediato julgamento”. 91 Teríamos, por conseguinte, duas possibilidades para uma mesma sentença. Isso não ocorreria caso o codex processual não enquadrasse as condições da ação fora do mérito, pois ao se reconhecer que elas fazem parte dele, caberia ao tribunal reformar ou não a sentença, de forma que houvesse o provimento ou não do recurso de apelação. 91 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao código de processo civil, lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973: arts. 476/565. 11ª edição revista e atualizada (inclusive de acordo com o novo Código Civil). Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 430, v. V.
3.4 DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PARA FINS DE ADEQUAÇÃO
De tudo que analisamos até aqui, concluímos que as condições da ação, da forma como estão dispostas no Código de Processo Civil, principalmente pela combinação dos artigos 267, VI e 301, X, não tratam de questões de direito processual, eis que estão no plano do direito material, pois com o mérito se confundem. Diante disso, partilhamos do entendimento que propõe a supressão dos referidos artigos do ordenamento processual civil, através da revogação. Nesse sentido, defende Fábio Gomes que “a forma mais simplificada de atingir o objetivo proposto, nos parece, consistiria na supressão, através da revogação, do inc. VI do art. 267 e inc. X do art. 301, ambos do Código de Processo Civil”. 92 Ainda nessa linha, Eduardo de Avelar Lamy assevera que “por versarem sobre o mérito, numa análise de lege ferenda, [...] as condições da ação não precisariam sequer constar do Código de Processo Civil, dado que serão avaliadas de qualquer forma quando da resolução do

mérito”. 93 Para fins de adequação legislativa, portanto, a supressão dos referidos dispositivos seria uma medida plausível a ser tratada no anteprojeto de reforma do Código de Processo Civil que está por vir em nosso país. 92 GOMES, Fábio. Insubsistência das condições da ação. In: Direito & Justiça. Revista da faculdade de direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, vol. 7, ano V, 1983. Direção Prof. Luiz Antônio de Assis Brasil. Porto Alegre: Livraria Editora Acadêmica Ltda. p. 23. LAMY, Eduardo de Avelar. Condições da ação na perspectiva dos direitos fundamentais. In: Revista de processo, ano 34. n. 173. jul. / 2009. Coordenadora Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 123-124.
4 CONCLUSÃO
Apresentado o estudo realizado para a elaboração desta monografia, passaremos a expor as considerações finais acerca das condições da ação e do mérito da causa, em especial, as questões controvertidas que exaram ao tema. Verificamos que há dois entendimentos quanto à localização das condições da ação, de maneira que podem estar dentro ou fora do meritum causae. Por conseguinte, haverá consequências díspares na avaliação desse diapasão. Vejamos. Primeiramente, temos a inteligência dos ensinamentos de Enrico Tullio Liebman sobre a sua teoria eclética da ação, que situa as condições da ação fora do mérito (posição adotada pelo Código de Processo Civil). Para os seguidores dessa doutrina, as condições da ação são requisitos de existência da ação processual, de modo que só haverá ação quando preenchidos tais requisitos preliminares e, assim sendo, só haverá jurisdição quando efetivamente tiver existido ação processual. Melhor explicando, quando houver carência de ação, isto é, quando faltar uma ou mais das condições da ação, não terá havido ação e, portanto, os atos realizados pelo Estado-juiz não serão jurisdicionais. Mesmo não sendo um ato jurisdicional, o juiz, diante da hipótese do art. 301, X do CPC, proferirá uma sentença, a qual não será resolutiva de mérito, nos moldes do art. 267, VI do mesmo ordenamento jurídico, sendo, dessa forma, uma sentença meramente terminativa, o que permite que se proponha, com a superveniência da coisa julgada formal, novamente a ação, nos moldes do art. 268 daquele codex. De forma avessa, temos a compreensão da doutrina moderna, que situa as condições da ação dentro do mérito da causa. Perante esse entendimento, a ação processual não pode ser

condicionada, uma vez que é um direito subjetivo público, pertencente a todo e qualquer cidadão, pois deriva da proibição da autotutela por parte do Estado, independentemente de haver interesse de agir, ser o pedido juridicamente possível e as partes serem legítimas. Dessa forma, a ação se divide em dois planos, material e processual, sendo que surgirá o direito de ação material quando o titular de uma pretensão não puder exercer o seu direito em razão da resistência de outrem; para que possa ver realizado seu direito, terá que agir formulando um pedido endereçado contra o
Estado, através da ação processual, exigindo que ele preste a tutela jurisdicional para que se realize o direito postulado. Frente à ação processual, conforme dispõe o art. 263 do CPC, terá o juiz que prestar jurisdição proferindo uma sentença de mérito. Para tanto, obrigatório que analise o pedido, o qual se encontra no plano do direito material, devendo analisar, conjuntivamente, os elementos da ação, os quais retratam as condições da ação que, dessa forma, também estão no plano do direito material, confundindo-se com o mérito. Sendo as condições da ação o próprio mérito da causa, a sentença que tratar sobre carência de ação será definitiva, pois resolutiva de mérito, nos moldes do art. 269 do CPC, fazendo com que haja, após o trânsito em julgado, coisa julgada material, fato que impossibilita a rediscussão da lide, nos moldes dos artigos 468 e 471 daquele ordenamento. Assim, uma vez ajuizada qualquer ação processual, haverá prestação da tutela jurisdicional, sendo que a sentença que tratar sobre as condições da ação tratará do mérito. Em razão disso, expletivos são os artigos 267, VI e 301, X do Código de Processo Civil, pois são dispositivos que tratam de questões pertinentes ao direito material. Ante todo o exposto, encerramos o presente trabalho de conclusão, onde buscamos confrontar os dois entendimentos que tratam sobre o binômio condições da ação e mérito da causa. Não tivemos, contudo, o objetivo de exaurir o tema, pois inserido em terreno arenoso no universo jurídico, onde derivam diversas conclusões. Tivemos sim, a intenção de promover o desenvolvimento acadêmico, através da pesquisa realizada.
REFERÊNCIAS
ASSIS, Araken de. Cumulação de ações. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

______. Manual da execução. 12. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: informação e documentação -artigo em publicação periódica científica impressa -apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2003a. ______. NBR 6023: informação e documentação -referências -apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002a. ______. NBR 6024: informação e documentação – numeração progressiva das seções de um documento escrito – apresentação Rio de Janeiro: ABNT, 2003b. ______. NBR 6027: informação e documentação -sumário -apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2003c. ______. NBR 6028: informação e documentação -resumo -apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2003d. ______. NBR 10520: informação e documentação -citações em documentos apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002b. ______.NBR 12225: informação e documentação -lombada -apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. ______. NBR 14724: informação e documentação -trabalhos acadêmicos apresentação. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2005a. BRASIL. Código Civil. Lei N. 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3071.htm>. Acesso em: 31 out. 2009.
BRASIL. Código Civil. Lei N. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3071.htm>. Acesso em: 31 out. 2009. ______. Código de Processo Civil. Lei N. 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2007. ______. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. ______. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Pesquisa de Jurisprudência. Disponível em: <http://tj.rs.gov.br/site_php/jprud2/index.php>. Acesso em: 31 out. 2009. CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 23. edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa

julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2009, v. 2. DIDIER JR., Fredie. Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de admissibilidade do processo. São Paulo: Saraiva, 2005. GOMES, Fábio. Comentários ao código de processo civil: do processo de conhecimento, arts. 243 a 269. Coordenação de SILVA, Ovídio A. Baptista da. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. p. 282, v. 3. ______. Insubsistência das condições da ação. In: Direito & Justiça. Revista da faculdade de direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, vol. 7, ano V, 1983. Direção Prof. Luiz Antônio de Assis Brasil. Porto Alegre: Livraria Editora Acadêmica Ltda. LACERDA, Galeno. Despacho Saneador. 3. edição. Porto Alegre: Fabris, 1990. LAMY, Eduardo de Avelar. Condições da ação na perspectiva dos direitos fundamentais. In: Revista de processo, ano 34. n. 173. jul. / 2009. Coordenadora Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: Revista dos Tribunais.
LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sobre o processo civil brasileiro. Araras: Bestbook, 2001. ______. Manual de direito processual civil. Tradução e notas de Cândido R. Dinamarco. 1ª edição brasileira. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil: teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 169, nota de rodapé n. 55, v.1. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao código de processo civil, lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973: arts. 476/565. 11ª edição revista e atualizada (inclusive de acordo com o novo Código Civil). Rio de Janeiro: Forense, 2003, v. V. SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de processo civil: processo de conhecimento. 8. ed., rev. e atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 2008, v. 1, tomo 1. SILVA, Ovídio A. Baptista da; GOMES, Fábio. Teoria geral do processo civil. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil – teoria geral do processo civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2008, v. 1.