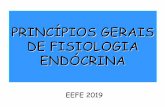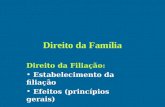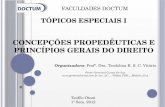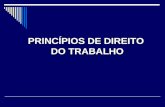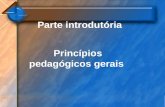1 Princípios Gerais de Direito
-
Upload
roberto-dias -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
description
Transcript of 1 Princípios Gerais de Direito

1 PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO – CONCEITO E APLICAÇÃO
Em primeiro lugar, faz-se necessário entender o que é princípio jurídico. Um sistema legislativo é constituído basicamente por um conjunto de normas, dotadas de coercibilidade, pelas quais é disciplinada a vida em sociedade. Tais normas podem ser de duas espécies, princípios ou regras.
As regras são normas de aplicação direta (incidem diretamente sobre o caso concreto), possuem uma abstração reduzida (são mais concretas, específicas), como por exemplo, uma regra de trânsito que determina como limite de velocidade 60 quilômetros por hora e prevê aplicação de multa em caso de descumprimento. Esse é, portanto, exemplo de norma jurídica da espécie regra.
Os princípios, diferentemente, são normas com um grau de abstração relativamente elevado, mais abertas, carentes de uma definição direta de aplicabilidade, motivo pelo qual se exige uma mediação do aplicador da norma no sentido de estabelecer o adequado sentido do princípio para o caso concreto.
Há, por exemplo, o princípio da isonomia, ou igualdade, pelo qual os iguais devem ser tratados de forma igualitária, e os desiguais de forma desigual, na medida de sua desigualdade. Com efeito, na aplicação desse princípio em relação a pessoas em situação ou condição desigual, caberá ao aplicador da norma determinar qual é a medida da desigualdade a ser aplicada, de forma a trazê-las ao equilíbrio pretendido pelo legislador.
Sobre princípios, Miguel Reale (1999, p. 306) ensina:
“A nosso ver, princípios gerais do direito são enunciações normativas de valor genérico, que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, quer para a sua aplicação e integração, que para a elaboração de novas normas.”
Quanto à aplicabilidade dos princípios de direito, Walter Claudius Rothenburg (ROTHENBURG, 2003, p. 18) afirma:
“(…) não quer isso dizer, todavia, que os princípios são inteiramente sempre genéricos e imprecisos; ao contrário, possuem um significado determinado, passível de um satisfatório grau de concretização por intermédio das operações de aplicação desses preceitos jurídicos nucleares às situações de fato, assim que os princípios sejam determináveis em concreto”.
Vale mencionar, ainda, brilhante ensino de Paulo Bonavides (2002, p. 251-2), escorado em Robert Alexy, referente a conflito entre princípios, segundo o qual, quando princípios de direito são aplicados a casos concretos, caso ocorra colisão entre dois princípios, a solução consiste em diminuir-se a eficácia de um princípio e elevar-se a eficácia do outro, segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, pendendo-se em favor do princípio de maior peso ou valor para aquele caso, vale dizer, considerando-se suas circunstâncias peculiares.
Consoante Orlando Gomes (2007, p. 23) há seis princípios que regem as relações contratuais, quais sejam: (i) princípio da autonomia da vontade; (ii) princípio do

consensualismo; (iii) princípio da força obrigatória dos contratos; (iv) princípio da boa-fé objetiva; (v) princípio do equilíbrio econômico do contrato. (vi) princípio da função social do contrato.
O princípio da boa-fé objetiva, tema desta obra, será nos próximos capítulos objeto central deste estudo.
2 PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
2.1 Conceito
Um princípio geral de direito que tem gerado dúvidas tanto aos novos como aos antigos operadores do direito é o princípio da boa-fé objetiva.
Esse princípio, embora já viesse sendo aplicado antes da vigência do Código Civil de 2002, que trouxe previsão expressa do mesmo, passou a receber maior atenção dos operadores do direito após tal advento.
Vale lembrar que o princípio da boa-fé estava previsto no revogado Código Comercial de 1850 (art. 131), mas, praticamente não teve aplicação efetiva pelos julgadores até pouco antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, no qual há também previsão expressa do princípio.
O presente estudo terá por escopo aplicação do princípio da boa-fé objetiva conforme está previsto no novo Código Civil nos artigos 113, 422 e 187, com predomínio desses dois primeiros, pois são aqueles que mais se aplicam aos contratos interempresariais – contratos entre pessoas jurídicas de direito privado (sociedades empresárias).
Em primeiro lugar, é necessário que se diferencie boa-fé objetiva de boa-fé subjetiva.
Miguel Reale, em A Boa-fé no Código Civil (2003, p. 3-4), registrou que “a boa-fé apresenta dupla faceta, a boa-fé objetiva e a subjetiva”. A subjetiva, relativa ao sujeito, indivíduo, “corresponde, fundamentalmente, a uma atitude psicológica, isto é, uma decisão da vontade, denotando convencimento individual da parte de obrar em conformidade com o direito”; é aplicável especialmente no direito das coisas – fala-se, por exemplo, em “possuidor de boa-fé” (Gomes, 2007, p. 43).
Esse eminente jurista, no mesmo estudo (Reale, 2003, p. 4), definiu boa-fé objetiva in verbis:
“A boa-fé objetiva apresenta-se como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse arquétipo, obrando como obraria uma pessoa honesta, proba e leal. Tal conduta impõe diretrizes ao agir no tráfico negocial, devendo-se ter em conta, como lembra Judith Martins Costa, ‘a consideração para com os interesses do alter, visto como membro do conjunto social que é juridicamente tutelado’. Desse ponto de vista, podemos afirmar que a boa-fé objetiva, é assim entendida como noção sinônima de ‘honestidade pública’.”
Nelson Rosenvald (2009, p. 458) conceitua:

“Há que salientar que existem duas acepções de boa-fé, uma subjetiva e outra objetiva. O princípio da boa-fé objetiva – circunscrito ao campo do direito das obrigações – é o objeto de nosso enfoque. Compreende ele um modelo de conduta social, verdadeiro standard jurídico ou regra de conduta, caracterizado por uma atuação de acordo com determinados padrões sociais de lisura, honestidade e correção de modo a não frustrar a legítima confiança da outra parte. [...]
Esse dado distintivo é crucial: a boa-fé objetiva é examinada externamente, vale dizer que a aferição se dirige à correção da conduta do indivíduo, pouco importando a sua convicção. De fato, o princípio da boa-fé encontra a sua justificação no interesse coletivo de que as pessoas pautem seu agir pela cooperação e lealdade, incentivando-se o sentimento de justiça social, com repressão a todas as condutas que importem em desvio aos sedimentados parâmetros de honestidade e retidão.
Por isso, a boa-fé objetiva é fonte de obrigações, impondo comportamentos aos contratantes, segundo as regras de correção, na conformidade do agir do homem comum daquele meio social.”
Nancy Andrighi (Ministra do Superior Tribunal de Justiça), fazendo uso da definição dada por Miguel Reale, refere-se ao princípio da boa-fé objetiva da seguinte forma:
“Quanto à boa-fé objetiva, esta se apresenta como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse arquétipo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal.” (STJ, 3ª T., REsp 783.404-GO, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 28.06.2007, DJU 13.08.2007).
Observa-se, inicialmente, que é pacífico entre esses juristas a subdivisão de boa-fé em objetiva e subjetiva – sendo que esta diz respeito a aspectos pessoais, psicológicos, intrínsecos à pessoa, vale dizer que é o contrário de má-fé, a ausência de intenção dolosa.
Alguns doutrinadores, dentre os quais está Ruy Rosado de Aguiar Júnior sustentam, também, que boa-fé subjetiva está relacionada com a teoria da aparência, que atua “para proteção do terceiro que confia na aparência de uma posição jurídica criada, direta ou indiretamente, pela contraparte.” (AGUIAR, 2004, p. 244)
Quanto ao princípio da boa-fé objetiva – aplicável preponderantemente sobre os contratos –, de forma singela, este pode ser definido como um dever de corresponder com lealdade à necessária confiança da outra parte contratante, de ver de observar um padrão de conduta íntegro, honesto, que se espera de todo aquele que está inserido ao meio social no qual o negócio jurídico se realiza. Esse dever de conduta, boa-fé, é inerente aos contratos, vale dizer, independe de previsão contratual.
O Professor Paulo Dóron Rehder de Araújo[3] ensina em suas aulas, que, analogicamente “pode-se dizer que a boa-fé objetiva está para os contratos assim como o fair play está para o esporte.
Fair play, com efeito, significa “jogo limpo”, jogo leal, que vai além de respeitar as regras, abrangendo a noção de coleguismo e respeito para com os outros jogadores.

Semelhantemente, para que haja segurança nas relações contratuais, há determinado padrão de conduta que se espera dos contratantes em geral, padrão esse – a ser verificado e mensurado pelo julgador – que, se violado fere o princípio da boa-fé objetiva, sujeitando a relação à intervenção judicial.
2.2 Aplicação do princípio da boa-fé objetiva em contratos interempresariais
A aplicação do princípio da boa-fé objetiva, por tratar-se de uma norma jurídica aberta, vale dizer, com um grau de abstração relativamente elevado, que não exige incisivamente um comportamento específico, depende de um esforço maior do julgador para encontrar, por meios de juízo de razoabilidade e proporcionalidade, a medida adequada da aplicação da norma ao caso concreto.
O julgador deverá analisar as circunstâncias peculiares da relação contratual, referentes às partes e ao negócio jurídico, e deverá também analisar o conjunto de normas aplicáveis ao caso, para, então, estabelecer um modelo objetivo de conduta que deveria ser observado pelos contratantes, e, confrontando esse modelo objetivo de conduta com a conduta praticada pelas partes, verificar se houve ou não violação ao princípio da boa-fé objetiva.
Isso, em princípio, pode gerar certa preocupação nos operadores do direito, uma vez que parece dar elevado grau de discricionariedade aos magistrados em suas decisões. No entanto, vale lembrar que a decisão do juízo de primeiro grau está sujeita a reapreciação pelo juízo de segundo grau, a deste pelas instâncias superiores. Além disso, o fato de haver maior discricionariedade não dispensa o juízo de fundamentar consistentemente sua decisão, conforme a previsão constitucional (CF, art. 93, inc. IX), pelo contrário, exigirá mais consistência para justificar os critérios utilizados para se estabelecer um modelo objetivo de conduta.
Efetivamente quanto à aplicação da boa-fé objetiva, os juristas têm se debruçado sobre essa questão para prestar um auxílio, tão necessário, para o estabelecimento de critérios de aplicação do princípio.
Consoante Orlando Gomes (2007, p. 44), in verbis:
“Por se tratar de princípio amplo, carente de concretização para ser aplicado no caso concreto, procurou-se sistematizar os diferentes papéis da boa-fé no campo contratual. A mais difundida é uma classificação tripartite das funções do princípio da boa-fé” (função interpretativa, função supletiva e função corretiva).
Compartilha do mesmo entendimento Sílvio de Salvo Venosa (2005, p. 410), para o qual:
“Desse modo, pelo prisma do vigente Código, há três funções nítidas no conceito de boa-fé objetiva: função interpretativa (art. 113); função de controle dos limites do exercício de um direito (art. 187); e função de integração do negócio jurídico” (art. 422).
Nesse mesmo sentido manifestou o Conselho da Justiça Federal na I Jornada de Direito Civil[4], enunciado 26, in verbis:

“26 - Art. 422: a cláusula geral contida no art. 422 do novo Código Civil impõe ao juiz interpretar e, quando necessário, suprir e corrigir o contrato segundo a boa-fé objetiva, entendida como a exigência de comportamento leal dos contratantes.”
Alguns dos principais doutrinadores, dentre os quais, Venosa (2005, p. 410), Orlado Gomes (2007, p. 45), Nelson Nery (2005, p. 381-2), são pacíficos no sentido de entender que o princípio da boa-fé objetiva aplica-se nas fases pré e pós-contratual, ou seja, é aplicável na fase de negociação, assim como após o término da relação contratual (boa-fé post pactum finitum). O referido Conselho da Justiça Federal manifestou o mesmo entendimento pelo enunciado 25 da I Jornada de Direito Civil[ 5] .
Referindo-se a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, Miguel Reale em A Boa-fé no Código Civil (2003, p. 4-5), proporcionou um ensinamento que merece destaque:
“Concebida desse modo, a boa-fé exige que a conduta individual ou coletiva – quer em Juízo, quer fora dele – seja examinada no conjunto concreto das circunstâncias de cada caso.
Exige, outrossim, que a exegese das leis e dos contratos não seja feita in abstrato, mas sim in concreto. Isto é, em função de sua função social.
Com isto quero dizer que a adoção da boa-fé como condição matriz do comportamento humano, põe a exigência de uma “hermenêutica jurídica estrutural”, a qual se distingue pelo exame da totalidade das normas pertinentes a determinada matéria.
Nada mais incompatível com a idéia de boa-fé do que a interpretação atômica das regras jurídicas, ou seja, destacadas de seu contexto. Com o advento, em suma, do pressuposto geral da boa-fé na estrutura do ordenamento jurídico, adquire maior força e alcance do antigo ensinamento de Portalis de que as disposições legais devem ser interpretadas umas pelas outras.
O que se impõe, em verdade, no Direito, é captar a realidade factual por inteiro, o que deve corresponder ao complexo normativo em vigor, tanto o estabelecido pelo legislador como o emergente do encontro das vontades dos contratantes.
É que está em jogo o princípio de confiança nos elaboradores das leis e das avenças, e de confiança no firme propósito de seus destinatários no sentido de adimplir, sem tergiversações e delongas, aquilo que foi promulgado ou pactuado.”
Ou seja, afirmando de maneira simplista o que Miguel Reale ensina brilhantemente, considerando-se boa-fé objetiva como princípio de direito, um artigo de lei “pinçado” de seu contexto legal nunca pode ser aplicado isoladamente ao caso concreto, assim como as cláusulas contratuais também não podem ser consideradas de forma isolada, isto é, sem ser lavado em conta o contexto contratual e fático.
É importante frisar que o dever o princípio da boa-fé, em sua função integrativa, ou supletiva (art. 422 do CC), é fonte de deveres anexos, os quais não são as obrigações centrais (a “alma do negócio”), mas são exigíveis (apesar de não escritos) e essenciais para o fiel cumprimento das avenças e para ser evitado que um contratante leve vantagem em detrimento do outro.

Sobre tais deveres, Orlando Gomes (2007, p. 44-5) esclarece:
“Em função supletiva, a boa-fé atua criando deveres anexos (também chamados laterais, secundários ou instrumentais). Além dos deveres principais, que constituem o núcleo da relação contratual, há deveres não expressos cuja finalidade é assegurar o perfeito cumprimento da prestação e a plena satisfação dos interesses envolvidos no contrato. Dentre estes, destacam-se os deveres de informação, sigilo, custódia, colaboração e proteção à pessoa e ao patrimônio da contraparte.”
Nesse sentido também já se posicionou o Conselho da Justiça Federal pelo enunciado 24 da I Jornada de Direito Civil[6]:
“24 - Art. 422: Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no CC 422, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa.”
Através da doutrina e da jurisprudência (inclusive a estrangeira) no que diz respeito à forma de aplicação do princípio da boa-fé objetiva, algumas teorias foram criadas, pelas quais a boa-fé objetiva pode ser efetivamente aplicada como fundamento de uma decisão judicial, dentre as quais se destacam: (i) proibição do venire contra factum proprium, a qual visa impedir que a pessoa tenha comportamentos contraditórios, aceitando certa posição jurídica quando lhe convém, e negando tal posição para levar alguma vantagem; (ii) surrectio e supressio, que consistem, respectivamente, na aquisição ou na perda de um direito, pelo transcurso do tempo, direito o qual, pelo seu não uso, gerou na outra parte a confiança de que não seria exercido; (iii) tu quote, pela qual se proíbe o aproveitamento de posição jurídica indevidamente obtida; (iv) duty to mitigate the loss, pela qual o credor deve evitar o agravamento do próprio prejuízo (no sentido de permitir danos maiores, podendo evitá-los, no intuito de obter futuro ressarcimento; (v) deveres anexos, ou deveres secundários de conduta (acessórios à obrigação principal do contrato), tais quais deveres de proteção, esclarecimentos, lealdade etc.
O objetivo principal do presente estudo é examinar de maneira consideravelmente minuciosa a forma pela qual o Tribunal de Justiça de São Paulo vem aplicando a boa-fé objetiva em suas decisões. Esse é, pois, o motivo pelo qual se evitou o aprofundamento nas questões doutrinárias. Com efeito, buscou-se estabelecer os conceitos necessários a servirem de base para o acompanhamento do restante do estudo.
Em suma, pode-se dizer que, por ser o princípio da boa-fé objetiva uma cláusula geral (ou, cláusula aberta), o legislador concedeu ao magistrado maior discricionariedade quando da aplicação de tal dispositivo. Sendo definido basicamente como um dever de lealdade entre os contratantes, assim como modelo objetivo de conduta a ser observado, devendo agir como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal, cabe ao julgador definir em cada caso qual deverá ser o padrão de conduta a ser admitido como boa-fé.
No entanto, discricionariedade não significa falta de padrões, ou “carta branca” para julgar conforme queira. Entendemos que, conforme a previsão constitucional que determina ao magistrado fundamentar suas decisões (CF. art. 93, IX), que a aplicação do princípio em questão deve ser fundamentada, com a exposição dos critérios pelos quais baseia para definir boa-fé objetiva no caso concreto.