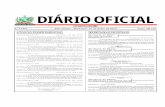18020-33908-1-PB
description
Transcript of 18020-33908-1-PB
-
o estado da psicolingstica no Brasil
(ltima parte)
I PSICOLOGIA COGNITIVA E J PSICOLINGmSTICA ...
LEONOR SCLIAR CABRAL
10. Cursos relacionados a distrbios da comunicao lingstica.
A quarta parte deste trabalho dedicada inteiramente patologia da linguagem, ver-sando sobre a contribuio de foniatras, otorrinolaringologistas, fonoaudilogos e psi-clogos brasileiros ao desenvolvimento do tema. No final, so apresentados os progra-mas de lingstica nos cursos de fonoaudiologia. Por estes dados, pode-se aquilatar o surgimento da interdisciplina num dos setores mais importantes da psicolingstica: o dos distrbios da comunicao.
9.4 Foniatria
Em 1968, uma equipe formada por Ginsburg, Bonilha, Van Kolck, Lane, Guedes, Schwartzmann, Mielzynska, Fackas e Sampaio realizou uma pesquisa em 20 sujeitos epilti~os, 20 normais e 25 ao acaso, cl!,jos resultados foram apresentados na comunicao Estudo psicolgico paralelo e estudos neurolgicos e fonitri-cos (34)~ Os suj~itos eram alunos da stima e oitava srie~.com a idade de 13 a 14 anos. Os mtodos foram divididos em trs partes. A primeira parte constou de provas psicolgicas (Rorschach, Bey, Luchins, PMK, Raven, sendo Rorschach e Bey, individuais). Foi tambm aplicado exame neurolgico. A segunda parte cons-tituiu estudo psicolgico paralelo, neurolgico e fonitrico, de crianas de 8 anos (80 sujeitos), segunda srie de um colgio particular, de NSE mdio superior: WISC, entrevista com professor, teste sociomtrico, cubos de Knox, prancha de Sequin, estudo de vocabulrio, de definio de palavras e contar estrias, Rorschach, CAT, desenho livre, teste da rvore, figura humana (Machover), desen-volvimento motor (Uncoln-Ozeretzki), lateralidade (Zazzo), Bender gestltico visomotor, Benton (reteno visual), imagem corporal (Head), figuras encaixadas
Arq. bras. Psic., Rio de Janeiro, 31 (1): 135-154, jan./mar. 1979
-
de Witki.n, estilo perceptivo, Village de Arthur, EEG, exame foriitrico clnico e audiomtrico. A terceira parte foi constituda de exame das caractersticas neu-rolgicas eletroencefalgicas de dois grupos de crianas classificadas por meio do TMP. No resumo da comunicao no constam apreciaes sobre as concluses a que chegou a equipe.
Spinelli (63) defendeu a tese de doutoramento Estudo da motricidade e da memria auditiva em distrbios especficos de desenvolvimento da fala, na PUCSP, sob a orientao de Martins. Foram estudados 173 sujeitos integrantes do grupo normal e 16 com distrbios especficos de desenvolvimento da fala, na faixa etria dos 5 aos 7 anos e 11 meses. Estes ltimos sujeitos eram portadores de disfunes cerebrais mnimas por fatores lesionais ou genticos. Foram aplicadas quatro provas, duas de motricidade e duas de memria auditiva, e organizados trs grupos etrios: dos 5 aos 6, dos 6 aos 7 e dos 7 aos 8 anos, bem como trs grupos de NSE, conforme a escala de Hutchinson: baixo, mdio e alto. As provas eram as seguintes: imitao de movimentos isolados dos rgos articulatrios; imitao de seqncias de movimentos dos rgos articulatrios; repetio de sries de slabas; repetio de sries de dgitos.
As concluses a que chega Spinelli so que as diferenas quanto ao sexo no so significativas; quanto idade, as crianas de 5 anos se mostram piores na repetio de dgitos; quanto ao NSE, as crianas do nvel socioeconmico baixo repetem pior as slabas. No teste de motricidade, o grupo patolgico se mostra o pior. Na memria para slabas, o grupo do nvel socioeconmico alto se mostra o melhor. Na memria para dgitos, o grupo de 6 anos o melhor (veja comunicao no item 9.3).
Tabith Jr. (65) no artigo A foniatria no processo de reabilitao se prope definir a terminologia referente foniatria e ao fonoaudilogo, bem como delimi-tar-lhe os campos de atuao. Foniatra, conforme o autor, o profissional de formao mdia que, dentro da equipe fonitrica, deve fornecer subsdios fisiopa-tolgicos que expliquem ou levem suposio diagnstica da patologia da comuni-cao. Fonoaudilogo o profissional que cuida da reabilitao do paciente por-tador de distrbio de comunicao. Segundo o autor, estes ltimos profissionais tambm participam da equipe diagnstica, quando preparados para a tarefa (por exemplo, exames tcnicos que permitem o diagnstico das deficincias auditivas), embora o diagnstico etiolgico deva ser realizado por profissional mdico, ou seja, o otologista. A seguir, o autor traa os quadros patolgicos, do seguinte modo:
1. Disacusia - correlao com aquisio normal da linguagem e conseqente necessidade de diagnstico o mais precoce (peep-show, audiometria psicogalv-nica, ERA, E-Co-Ge e, em fase experimental, o mtodo de Sterrit aplicvel em crianas com 24 horas de vida). O atendimento com aparelhagem no Derdic tem comeado em crianas mesmo com um ano de idade, embora em Denver j se usem aparelhos em crianas a partir dos 3 meses.
136 A.B.P.1/79
-
2. Retardatrios - so os pacientes que foram diagnosticados tardiamente, oferecendo maiores problemas reabilitao. 3. Hipoacsticos - com disacusias leves ou moderadas podem freqentar a escola normal paralela a tratamento de aperfeioamento da comunicao. 4. Retardado mental - maturao lenta, capacidade de aprendizagem reduzida e ajustamento social inadequado associado com funo intelectual rebaixada; com problemas de comunicao correlatos que podem ser: retardos de linguagem mais ou menos grave, distrbios articulatrios, distrbios da voz, distrbios do ritmo da fala, distrbios de audio. Tambm neste caso de suma importncia o diagns-tico precoce, seja pelas suas conseqncias de ordem profiltica ou preventiva. . 5. Paraltico cerebral - e suas ocorrncias na rea de comunicao: retardo na aquisio da fala, distrbios de articulao, distrbios de voz, distrbios de audi-o. A reabilitao do paraltico cerebral inclui o estabelecimento de um sistema eficaz de comunicao, a reeducao psicossocial e a reeducao motora e foni-trica.
A seguir, Tabith Jr. tece algumas consideraes sobre os quadros principal-mente fonitricos, ou seja, aquelas patologias em que o problema bsico o da comunicao, como a dislexia especfica de evoluo (dificuldades no aprendizado da leitura e escrita, em geral de carter gentico e caracterizadas por uma srie de problemas perceptuais e motores que indicam a existncia de disfuno cerebral mnima), ou como as disfasias congnitas (quadro de retardo de linguagem, ou dificuldade em lidar com os smbolos da linguagem, conseqentes a comprome-timento das reas cerebrais ligadas linguagem, situadas no hemisfrio dominante (disfasias de reepo e/ou expresso).
Tabith Jr., Pellicciotti e Jacob (66) publicaram o artigo Sistematizao do atendimento precoce de crianas portadoras de leses congnitas do lbio e palato, no qual relatam as reas mais comumente afetadas em tais casos como sendo: retardos na aquisio da fala, determinados principalmente pelas variveis depen-dentes; distrbios articulatrios (funo velofarngica), alteraes das estruturas oro faciais e dentrias, alteraes funcionais dos rgos fonoarticulatrios, distr-bios da audio e patologias intercorrentes; distrbios da voz e distrbios audi-tivos. Os autores enfatizam a propenso que a criana com fissura palatina tem de adquirir problemas auditivos tais como disacusias do tipo condutivo, por alterao no mecanismo ~a trompa de Eustquio. A aquisio da linguagem tambm se v afetada pelo feedback acstico-articulatrio comprometido. Os autores recomen-dam uma srie de exerccios ldicos para contornar tal problema.
Tabith Jr. e Rodrigues (67) publicaram o artigo Aspectos do diagnstico fonitrico na paralisia cerebral (comunicao apresentada ao 1. o Congresso Peruano de Patologia da Linguagem e ao 11 Congresso de Audio e Ling':!agem), no qual definem paralisia cerebral como o quadro caracterizado fundamental-mente por uma srie de alteraes motoras, seqelas de uma agresso enceflica. A taxinomia dos distrbios de comunicao no paraltico cerebral obedece ao
Psicoling (stica no Brasil 137
-
seguinte quadro: retardos de linguagem, decorrentes da interao de fatores como problemas de audio (disacusias e hipoacusias), nvel intelectual (com maior severidade na hemiplegia dupla e diplegia), percepo e concentrao (dis-trbios visomotores mais comuns nos espsticos), falha de audibilizao e visuali-zao encontrveis, bem como dispersividade e distrbios de ateno; aspectos psicosocioemocionais; envolvimento dos centros da linguagem no sistema nervoso central, com sintomas semelhantes aos encontrados nas afasias.
Os distrbios na produo dos sons da fala so devidos principalmente a trs fatores: dificuldades na produo dos movimentos necessrios s funes vegetati-vas pelos rgos tambm utilizados na fonoarticulao; feedback ttil cinestsico alterado; envolvimento das reas motoras do sistema nervoso central ligadas aos rgos fonoarticulatrios (configurao de quadro de dispraxia oral). Os distrbios vocais so freqentes (alteraes na musculatura fonotria e na respirao, bem como distrbios de aprendizado de leitura e escrita.
Os autores passam a relatar o procedimento em exame fonitrico realizado em 17 pacientes (8 de tipo espastico, 5 de tipo atetide, 3 de tipo misto e um de tipoatxico, com variao etria desde 2 anos e 6 meses at 14 anos e 6 meses. Dez pacientes'apresentavam nvel intelectual normal, 3 apresentavam retardo men-tal severo, 3 leve e um no pde ser avaliado neste aspecto. Os pacientes foram testados quanto recepo (cumprimento de ordens verbais de complexidade crescente e conversao informal) e quanto produo em emisses provocadas por estmlos de gravuras e descrio das mesmas. Atentou-se para os aspectos sintticos, lexicais e fonmicos, bem como para os relativos voz (intensidade, altura e timbre). A audio foi testada clinicamente por meio de reaes da criana a sons verbais de intensidade varivel e aos sons do diapaso. As funes especficas (de viso e audio) foram testadas, a primeira quanto discriminabi-lidade de figuras geomtricas, reteno de figura e sntese visual de letras dispostas desordenadamente; a segunda quanto discriminabilidade de diferenas e do trao fontico em pares mnimos. A memria auditiva foi testada pela capacidade de reteno de dgitos, slabas e vocbulos e anlise e sntese de slabas. Foi, afinal, feito o exame dos aspectos morfolgicos e funcionais dos rgos fonoarticula-trios, bem como testada a comunicao escrita.
Em virtude de haverem sido encontrados aspectos bastante variados nos pacientes, os autores sugerem, nas concluses, que se procurem obter dados sobre todas as funes importantes para a aquisio do processo normal da comuni-cao, a fim de que se possam montar programas teraputicos adequados para atender complexidade das alteraes encontradas.
No III Congresso Brasileiro de Terapia da Palavra, Scheuer, Lapa e Spina (60) apresentaram a comunicao Fissuras /bio-palatinas, aspectos foni-tricos, em que analisam detalhes de ordem cirrgica, quais sejam, a seqenciali-zao da cirurgia e cuidados a serem tomados para evitar seqelas prejudiciais articulao dos sons da fala. Primeira cirurgia: fechamento do lbio superior, com vistas a restaurar a musculatura orbicular. Objetivo: boa alimentao e movimen-138 A.B.P.1/79
-
tos de suco, bem como mobilidade dos lbios para a execuo dos fonemas que se realizam bilabiais Ibl e Ipi, com cuidados especiais para evitar retrao cicatri-cial, encurtamento do freio e bridas superiores. Em relao ao palato duro, os autores preconizam a cirurgia do anterior e depois a do posterior, devendo todas as cirurgias serem executadas at os 24 meses. A cirurgia do palato mole estaria condicionada a outros fatores, quais sejam, mobilidade e comprimento do palato mole, presena ou no de fstulas, fibrose, espessura, fissura e existncia de movi-mento da parede posterior da faringe. Os autores recomendam o uso de aparelhos ortopdicos, de tratamento ortodntico, bem como cuidado todo especial em relao a comprometimentos de ordem otolgica e audiolgica. O foniatra deve ser chamado a fazer avaliao e a terapia deve ser precoce (deve comear dos 20 aos 24 meses). Conforme se observa, os autores so partidrios do trabalho inte-grado de uma equipe composta de pediatra, cirurgio plstico, ortodentista, pro-tesista, otorrino, audiologista, foniatra, psiclogo e, em casos de assistncia hospi-talar, de assistncia social e enfermagem especializada.
Ribas, Petrelli e Bezerril (56) apresentaram o trabalho Arquiloglossia rela-cionada com a terapia da palavra, no qual informam que 0,2 a 0,3 entre 1.000 so portadores de tal distrbio. Para fins de cirurgia feita uma avaliao no s no que diz respeito aos aspectos fisiolgicos digestivos como tambm funo de articulao dos sons da fala. A tcnica cirrgica adotada da dupla pinagem.
Uma equipe do Servio do Prof. Paiva, setor de Foniatria da Onica ORL do Hospital das Clnicas da FMUSP, integrada por Genshiro, Minitti e Butagan (32), apresentou Contribuio semiologia [onitrica das fissuras lbio-palatinas, em que divulgam a estrutura do servio, constitudo de pediatras, cirurgio plstico, odontlogo, otorrlnolaringlogo, foniatra, fonoaudilogo, psicopedagogo, neu-rlogo_ Os exames obedecem ao seguinte critrio: anamnese, exame objetivo e exame da fala e anlise dos sons da fala na palavra. Estes ltimos exames incluem gravao, audiometria, fotodocumentao e radiografia. A classificao das fissu-ras a adotada na O nica de Cirurgia Plstica do Hospital das Onicas (Servio do Prof. Spina).
Lessa, Moraes, Genshiro e Abramovich (40) apresentaram a comunicao Desenvolvimento da reeducao do fissurado em nossa clnica (Clnica Otorrinola-ringolgica do Hospital das Clnicas da FMUSP), relato acerca dos pacientes aten-didos por uma equipe constituda de cirurgio plstico, foniatra, fonoaudilogo, otorrinolaringologista, neurlogo, psiclogo, ortodentista e pediatra.
Moraes, Lessa, Abramovich e Genshiro (51) em Nossa conduta na reeduca-o das dislalias apresentam como feita a seleo dos portadores de tal distrbio: so excludos os portadores de alteraes orgnicas dos rgos fonoarticulatrios, os portadores de leses neurolgicas, os com deficincia mental grave ou os com hipoacusia. As sesses so bissemanais de 40 minutos cada, com treino auditivo para desenvolver memria e ateno, preparao da musculatura fonoarticulatria, exerCcios imitativos em frente ao espelho, onomatopias, apoio voclico da reali-zao do fonema, uso do fonema na slaba, estmulo por meio de figuras,
Psicoling{stica no Brasil 139
-
desenhos, etc., induo de frases com estmulos auditivos e uso de outras ativi-dades da linguagem.
Abramovich (1) apresentou a comunicao Sistematizao do exame neu-rolgico do grupo de foniatria. A seqncia que a pesquisadora indica : anarnnese e exame neurolgico, acompanhado de exames complementares: EEG, LCR, mapeamento, RX do crnio, etc. Recomenda os seguintes exames pra crianas portadoras de retardos, hipoacusias, desvios de aquisio: exame neurolgico evolutivo; praxias; gnosias; ateno s funes da linguagem tanto na emisso quanto na percepo. Para os adultos portadores de disartria ou alteraes de ritmo, recomenda observao dos componentes motores da palavra e praxia dos rgos fonadores. Para os afsicos recomenda completar o exame neurolgico com exames sobre: a) percepo tanto dos smbolos auditivos quanto visuais; b) emis-so: automtica, repetio, espontnea, resposta a perguntas, significativa, deno-minao; c) praxias: practognosia, construtiva, bucolinguofacial; d) exame da escrita em todas as suas formas, quer na recepo, quer na emisso; e) clculo; f) gnosias; g) ritmo; h) memria; i) fluncia.
9.5 Deficiente mental e linguagem
Amorim (5) apresentou A comunicao oral dos deficientes mentais, apoiando-se em Binet: cada criana compreende e elabora, de diferentes maneiras, as impres-ses objetivas do ambiente. Apresenta uma taxinomia referente ao uso da comuni-cao oral, conforme suas observaes em 50 sujeitos normais da instituio Nosso Ninho Therezinha Maria Auxiliadora: descritivo, observador, afetivo, erudito, po-tico. Em relao aos deficientes mentais, o autor observa que a maioria do tipo descritivo havendo, s vezes, o observador, porm com reaes imprevistas e ins-tveis; o tipo afetivo muito comum nas crianas mongolides e nos deficientes mentais com instabilidade psicomotora; a criana potica encontrvel em cir-cunstncias romnticas e humorsticas. No se encontram crianas do tipo erudito nem do irnico. O autor recomenda, em relao aos deficientes mentais, desen-volver a facilidade de exprimir o pensamento, fazendo-o repetir o mesmo assunto em circunstncias variadas e no insistir na descrio.
9.6 Psiquiatria infantil e terapia da palavra
Mettel (47) apresentou a comunicao Emprego de tcnicas operantes no tra-tamento de criana esquizofrnica; e Mettel e Costa (48) apresentaram Condicio-namento operante no tratamento de criana autista.
Rezende (54) apresentou o trabalho A psiquiatria infantil na terapia da palavra, no qual define psiquiatria infantil como sendo o estudo dos fatores essen-
140 A.B.P.l/79
-
ciais na avaliao das desordens da conduta da criana (adotando o conceito de conduta de Gesell), como conjunto de reaes da criana - reflexas, voluntrias, espontneas ou aprendidas - havendo quatro tipos de conduta: motora, adap-tativa, de linguagem e pessoal-social. Segundo o autor, o desenvolvimento da linguagem depende de uma perfeita integrao entre a equipe neurolgica e o ambiente. Se houver o distrbio de um destes elementos ou dos dois, haver, em conseqncia, o transtorno instrumental, como chamada a perturbao da lin-guagem na criana. As causas so denominadas de orgnicas, psicgenas e mistas. No primeiro grupo, o autor situa o retardo simples de maturao do sistema nervoso; a disfuno cerebral mnima e leses corticais ou subcorticais; no segundo grupo, ele situa as neuroses infantis e as psicoses (autismo infantil), bem como as causas psicgenas por falta de estimulao adequada; no terceiro grupo, a oligofrenia (causa intelctual) e o surdo-mudo (causa sensorial).
O autor manifesta sua opinio sobre em que casos a ao do psiquiatra se faz necessria: nos casos em que se associam problemas de ordem afetiva primitivos e secundrios (quando a etiologia de base orgnica, como por exemplo nas disfa-sias, disartrias e dislexias); quando a causa psicgena (neuroses ou psicoses infantiS); na oligofre.nia; na espasmofemia ou na gagueira. No considera necessria a interveno do psiquiatra quando a causa de ordem perifrica. O psiquiatra age psicoterapicamente para diminuir a ansiedade e ajudar na resoluo dos conflitos.
Silveira Martins, Day, Piltcher, Verssimo e Gutteres (62) apresentaram a comunicao Nossa experincia com trs casos de crianas autistas, na qual rela-tam os resultados de avaliao em trs crianas. Os casos apresentavam as seguintes caractersticas: perturbaes desde o primeiro ano de vida; dficit de comunicao e de relacionamento interpessoal e dficit cognitivo e perceptivo. Sintomas dos casos mencionados: dificuldade de socializao, em forma de auto-isolamento; falta de reao a estmulos externos, com alheamento quando em situao de relacionamento, sem dficit sensorial; resistncia a novas aprendizagens, ausncia da conscincia de perigo e descaso pelo que pudesse acontecer; hipercinesia e movimentos estereotipados em dois casos e apatia na menina; grande resistncia fsica geral com tendncias a resfriados e problemas de aparato respiratrio; evi-tam encarar o olhar, principalmente quando se lhes dirige a palavra; tendncia rotina; interesse obsessivo por detalhes de objetos ou de situaes sem preocupo com o todo; giram objetos na mo, continuadamente, sem objetivo, preferindo objetos redondos; atitude exploratria com funo perceptiva realizada pelo canal olfativo e gustativo, num dos casos; grande resistncia ao contato corporal; utili-zao de rudos corporais proprioceptivos, sem objetivo; um dos casos apresentava ausncia de linguagem e os outros dois linguagem pobre em vocabulrio, em comunicaO efetiva e apresentando desconhecimento da significao conforme o que se espera na idade, deficincia de estrutura lingstica, dislalias, ecolalias, falta de estruturao das pessoas do discurso.
Foi utilizado na reeducao o enfoque pluridimensional, harmonizando as escolas que preconizam atitudes que levam induo de aspectos regressivos na
Psicoling{stica no Brasil 141
-
criana para restabelecer situaes gratificadoras relativas s etapas de desenvol-vimento e as que utilizam tcnicas educacionais de nvel perceptual e cognitivo e de nvel motor (Skinner e Pfeiffer, La unay , Kanner, Furneaux). Conseguiram-se melhoras na conduta: baixo nvel de exigncias; contato corporal, no momento, admitido pelos casos; utilizao de objeto intermedirio; limitao de estmulos; passagem de atitudes exploratrias aprendizagem dirigida; busca de oportuni-dade de feedback; no-solicitao de fala, mas provocao de sua necessidade. Foram assinalados aspectos julgados pela equipe como determinantes nas mudan-as significativas da criana: quando a criana com carncia afetiva encontra satis-fao na atitude afetuosa do reeducado r; introduo de sistema de trabalho com tcnicas de feedback intensas: gradao das atividades que partem do cho para a cadeira e para a mesa; utilizao da prpria criana como personagem numa est-ria contada (role play).
9.7 Deficiente auditivo
Colito (24), em sua comunicao O treinamento auditivo, desenvolve sugestes sobre a estimulao auditiva, partindo do pressuposto de que a maioria dos defi-cientes de audio apresenta resduos que podem e devem ser utilizados. A fase ideal para tal trabalho, segundo a autora, a pr-escolar - quanto mais prxima da idade de aquisio da linguagem, melhor. A autora cita, em especial, o mtodo de Perdoncini, ou acstico puro. Ressalta a importncia do uso de amplificadores de boa qualidade.
Com relao ao uso de aparelhos, a autora recomenda a seguinte ordem: treinamento em aparelho individual de mesa; aparelhagem coletiva; treinamento na escola, com prteses auditivas individuais; uso permanente de prtese. O tra-balho inicial sem amplificao compreende o treinamento rtmico, a fim de que a criana aprenda a bater seguindo ritmos determinados; a execuo de movimentos rtmicos com todo o corpo; o uso de instrumentos de percusso, seguindo ritmos e a tomada de contacto com o mundo sonoro; fala-se ao ouvido das crianas de pouca idade, tomando-as ao colo, para que percebam as impresses tteis; utiliza-se o piano para a percepo dos sons por meio das vibraes tteis. O treinamento com aparelho individual comea com a audio passiva, com a finalidade de fazer a criana perceber que pode ouvir, seguida de ateno auditiva, na qual se acos-tuma a criana a dar uma resposta de acordo com o que percebe, identificando as diferenas entre som e silncio, sons prolongados e interrompidos, sons de instru-mentos, apitos diversos, vozes de animais, contagem de batidas ou apitos, acompa-nhamento de ritmo com movimentos e marchas corporais, marcao de compasso, execuo de movimentos corporais at danar. Usa-se tambm o piano. A identi-ficao da voz obedece ao critrio de distino entre som e silncio e percepo das diferenas rtmicas entre palavras, bem como reconhecimento de sons de animais. Para desenvolvimento da linguagem oral, a autora segue o livro Posso
142 A.B.P.1/79
-
Falar, com tre~namento de discrinnao de palavras grupadas por fonemas. O fonema com que inicia Ipi, utilizando o espelho e o tato como auxiliares da audio. Recomenda os aparelhos com vibrado r ttil para crianas com surdez profunda. Prossegue o treino at que a criana se libere da leitura labial dos fones e do vibrador. Segue-se a aprendizagem dos outros fonemas, com anotaes dos progressos em fichas. Veja, da mesma autora (25), Da reeducao auditiva lin-guagem.
Lamar (38) analisa em Audiometria objetiva, os exames que vm sendo aplicados para detectar os nveis de audiO de um paciente, independente de sua colaborao - desde o PGSR, tcnica em desuso, at o ERA (Audiometria de Resposta Evocada ou Audiometria Corti cal) , baseado nos estmulos que so enviados pela cclea cortex sob a forma de potenciais, captveis por eletrodos colocados no couro c~beludo. O equipamento consiste de. audimetro, progra-mador, inscritor e computador, bem como o pr-amplificador. Outro exame o eletrococleograma (E-Co-Ge), baseado na obteno dos potenciais formados na ooclea. A autora recomenda acoplar os dois ltimos exames. Finalmente cita a pesquisa do reflexo estapdico, baseada no fato de que o msculo do estribo entra em contrao quando submetido a estmulos sonoros de grande intensidade. Para tal, usa-se o impedandmetro, aparelho acstico no qual, desde que equilibrada a presso do ouvido mdio com do ouvido externo, se no houver patologia no ouvido mdio, observa-se uma reflexo da agulha de balance para a direita, ao se entir um som de intensidade elevada.
Veja Butugan, Genshiro, Minitti e Paiva (14) A nossa experincia com a eletrococleograflll.
Sobre o mesmo assunto, mas detendo-se mais no reflexo estapdico, Cruz (26) apresentou uma comunicao intitulada O reflexo estapdico como meio ae avaliao da audio em crianas, versando sobre pesquisa em 50 ouvidos absolutamente normais, a partir da qual o autor conclui que o linar do reflexo estapediano aparece em mdia com 75 a 80db acima do linar (mais exatamente 76 a 82db). Em virtude do uso da anestesia em crianas, o autor tambm estudou os nveis da induo anestsica a partir dos quais se verificam as modificaes e a abolio do reflexo em cada freqncia, ou seja, aproximadamente ao atingir-se 15% da dose de induo.
Monteiro de Paula (49), em sua comunicao Audiometria Infantil, desen-volve consideraes sobre as tcnicas subjetivas de audiometria: tcnicas de condi-cionamento baseadas em jogos de encaixe, peep-show e os dispositivos Suzuki & Ogiba. O teste logoaudiomtrico pela autora baseia-se em repetio de frases, dis-slabos e monosslabos, bem como em testes de produo e recepo baseados m
. estmulos de imagens visuais. Goldberg(36) publicou as concluses de uma pesquisa realizada mediante
convnio entre o DERDIC e o CIEE de So Paulo, sob o ttulo Levantamento de oportunidades ocupacionais e escolares para deficientes auditivos. Colaborou uma equipe constituda de: Baptista, que supervisionou o trabalho; Campos e Rodri-
Psicoling(stica no Brasil 143
-
gues, que colheram os dados; Pimentel, que realizou o trabalho estatstico; Lemos, que elaborou uma tabela de nveis de comunicao para caracterizao diferencial do deficiente auditivo; Spinelli, que elaborou os dados relativos a contraindicaes mdicas ao exerccio profissional do deficiente auditivo. A pesquisa durou dois anos, ao trmino da qual foram classificadas as profisses indicadas para o defi-ciente auditivo (veja igualmente o artigo Os deficientes de audio-comunicao e os benefcios da Lei n. o 5.692, de Doria (28).
Rodrigues (58), no artigo A criana com deficincia auditiva: fundamen-tao e tempo adequado para a indicao de aparelhos de amplificao sonora sugere a correlao ~ntre as fases em que se opera a aquisio da linguagem por uma criana normal e o que ocorre num deficiente auditivo. O quadro obedece taxinomia conhecida na litera.tura. O autor reala que a diferenciao comearia do sexto ao nono ms, em virtude de o deficiente auditivo no possuir feedback, ou seja, a funo ldica decorrente do prazer em ouvir os prprios sons deixaria de exercer-se, bem como o exerccio do aparelho fonoarticulatrio. Tal diferena se agrava a partir de ento, pois falta ao deficiente audit.ivo a exposio aos modelos de lngua. Recomenda ento o autor o diagnstico o mais precoce possvel, bem como o uso de amplificadores. Assim mesmo, o deficiente auditivo ainda levaria desvantagem em relao criana normal.
Ao congresso do Peru, Bueno, Pereira e Modenese (13) apresentaram uma experincia em dramatizao em ginsio especializado para deficientes auditivos, na qual relatam como conseguiram com esta tcnica melhorar sensivelmente a comunicao oral em alunos de primeira, segunda, terceira e quarta sries, nas idades de 14 a 21 anos. Os alunos escolhiam o tema da estria, elaboravam os dilogos (cujas estruturas eram transpostas pelo professor no quadro-negro), elegiam os personagens, ensaiavam, sendo, ao final, feita a apresentao. Os ensaios obedeciam a objetivos teraputicos e de dramatizao. A experincia foi depois estendida aos alunos menores.
Cervellini, Oliveira e Hulle (20), apresentaram a comunicao Um programa de orientao profissional integrado no curriculo de uma escola para deficientes auditivos; Vasconcelos e Ribeiro (69) apresentaram Deficincia auditiva em crian-as de idade precoce, descrio de um programa de atendimento clinico.
Albernaz (3), em seu artigo Perspectivas no desenvolvimento da cirurgia otolgica, apresenta as tcnicas mais avanadas no setor, muitas delas ainda em carter experimental. Entre outros, cita House como pioneiro na cirurgia de acesso ao meato acstico interno atravs da fossa mdia, como reintrodutor da cirurgia translabirntica para o ngulo ponto-cerebelar e tambm como o inspirador da implantao de electrdios na escala timpnica da cc1ea para casos de surdez total por ausncia de clulas ciliadas. Conclui o articulista afirmando que, em futuro prximo, as designaes surdez de conduo e surdez neuro-sensorial tero que ser abolidas. Falar-se-, ento, de disacusia da orelha mdia, disacusia das clulas ciliadas, disacusia da estria vascular, disacusia do gnglio espiral e assim por diante.
144 A.B.P.l/79
-
Pacheco e Momensohn (53), no artigo o atendimento de criana com defi-cincia auditiva relatam como se procede avaliao da funo auditiva em crian-as com menoS de 7 anos na Clnica de Otorrinolaringologia da Santa Casa de So Paulo.
Aplica-se, primeiro, o screening test (reaes da criana a estmulos sonoros com instrumentos musicais, percusso, estalidos, etc.) para verificao do reflexo oocleo-palpebral e do reflexo de localizao. A seguir, passa-se audiometria condicionada, empregando-se a tcnica peep-show modificada (j que utilizam apenas a estimulao auditiva) para verificao do limiar tonal; o terceiro passo o ERA (Audiometria de Respostas Evocadas), aplicvel para crianas portadoras de deficincia mental e/ou leses neurolgicas associadas a perdas de audio e tam-bm em crianas com idade inferior a trs anos. O ERA, genericamente; o registro das respostas eletroencefalogrficas, elicitadas por uma estimulao audi-tiva. A impedanciometria a quarta possibilidade de avaliao (consiste na me~da de oposio oferecida pelo sistema tmpano-ossicular passagem da energia sonora, permitindo o diagnstico diferencial entre hipoacusias condutivas e disacusias neuro-sensoriais, bem como a pesquisa de adaptao. Este ltimo exame ainda est sujeito a resultados mais acurados quanto ao efeito dos sedativos como inibidores do reflexo do msculo do estribo. A seguir, as autoras discorrem sobre o esclarecimento feito junto aos pais, o treinamento auditivo e o encaminhamento da criana escola e acompanhamento. Quanto ao encaminhamento escola, as autoras preconizam trs possibilidades: classe especial em escola especial para crianas portadoras de deficincia mental, paralisia cerebral e outros problemas neurolgicos e psicolgicos associados deficincia auditiva, classe especial em escola normal para crianas portadoras apenas de deficincia auditiva e encami-nhadas cl nica aps terem atingido a idade escolar; classes normais em escola normal para crianas pequenas cujo diagnstico de deficrencia auditiva foi feito precocemente e que esto com treinamento auditivo.
Vilela e Cervellini, psiclogas do Derdic, relatam no artigo Exame psicol-gico em deficientes auditivos como feito o estudo psicolgico na clnica onde trabalham. Inclui: entrevista com os familiares (para o histrico do caso; para fins de avaliao da capacidade intelectual so aplicados os testes Merrill-Palmer, idade dos 18 meses aos 6 anos; escala Wechsler de inteligncia para crianas (WISC) dos 5 aos 16 anos; escala de realiza~o Grace Arthur (idade dos 4-6 aos 15 anos); desenho da figura humana de F. Goodenough (dos 3 aos 13 anos); escala de execuo internacional l..eiter (idade dos 3 aos 12 anos); escala de maturidade mental Colmbia (idade 3-6 aos 14 anos); teste de matrizes progressivas de Raven; teste de inteligncia no verbal - INV; teste de inteligncia para adultos - elA; escala de inteligncia no -verbal SON (3 a 7 anos). Para avaliao das aptides especficas so aplicadas as seguintes tcnicas: prova grfica de organizao percep-tiva (Pr-Bender); teste motor de estruturao visual (Bender); teste de reteno visual (Benton); teste de eficincia motora (Ozeretzki); coordenao visomanual (Sguin); memria viso-auditiva (Knox) e roteiro Poppovic (j mencionado no Psicoling(stica no Brasil 145
-
item sobre as dificuldades de leitura); inventrio ilustrado de interesse (Geist). Para levantamento sobre a personalidade, so aplicadas as seguintes tcnicas: Rorschach, Wartegg, Pfister, desenhos e Sceno-Teste. As autoras ressaltam no final do trabalho a importncia das concluses dos vrios especialistas para, em con-junto, poderem colaborar mais eficazmente no acompanhamento do deficiente auditivo.
Sobre diagnstico ot oI gi co , consulte-se o teste de Lopes Filho (41) e o minucioso artigo do mesmo autor Mtodo objetivo no diagnstico otolgico (42).
Spinelli (64), no artigo o atendimento clnico e o atendimento escolar do deficiente auditivo, apresenta as opinies convergentes e divergentes sobre o assun-to. Em relao ao diagnstico precoce e atendimento desde baixas idades, so duas as correntes, basicamente: a que considera suficientes os programas de adaptao do aparelho auditivo e um treinamento superficial dos pais e os que advogam um programa de estimulao auditiva intensa (o autor menciona, neste sentido, Pollack). Quanto ao tipo de treinamento, h os partidrios do unisensorial (per-doncini e Pollack) e os que defendem o treinamento multisensorial (Sanders). Quanto utilizao dos mtodos gestuais e orais, para os primeiros o objetivo a atingir a obteno de um sistema eficiente de comunicao, embora limitado a uma comunidade restrita, enquanto os segundos visam o ajustamento comuni-dade em geral. O autor tambm apresenta os tipos de escolarizao, assunto que j foi tratado no artigo de Pacheco e Momensohn (53). Ao posicionar a orientao do Derdic em face destas controvrsias, o autor a define como partidria da orientao preconizada por Pollack. A orientao escolar est sujeita a variveis de ordem independente e dependente. Conclui o autor com o seguinte: diagnstico o mais precoce possvel da deficincia auditiva; amplificao individual o mais cedo possvel; adaptao por pessoas competentes do aparelho de amplificao que deve ser, de preferncia, binaural; programas de treinamento auditivo com a cooperao da me; escolarizao o mais cedo possvel em escola de ouvintes.
Corb, Prondini, Cervellini e Bacarin (22) publicaram a comunicao apre-sentada ao congresso do Peru Atendimento escolar precoce do deficiente auditivo, na qual relatam as experincias colhidas no Derdic desde o incio do programa, em 1967. O atendimento feito a partir dos dois anos e meio em crianas com perda auditiva de moderada para severa e sem outros comprometimentos aparentes. As crianas so atendidas em nvel de jardim maternal, jardim da inrancia, pr-pri-mrio e ensino de primeiro grau (primeira a oitava sries). O trabalho se baseia em trs pressupostos: o aproveitamento dos restos auditivos; a aquisio da linguagem no deficiente auditivo percorreria os caminhos normais, conforme preconizam os adeptos do inatismo lingstico ( dado realce ao enfoque chomskiano); a base morfofuncional da linguagem num sistema integrado, no qual se incluem as fun-es perceptivo-motoras. Aps tentar algumas tcnicas, optou-se pela orientao preconizada por Fry, Wethnall e Pollack acoplada aos princpios advogados pela psicolingstica quanto s fases de aquisio (McNeill, Menyuk, Jakobson, l..ee,
146 A.B.P.1/79
-
Brown). A nfase dada ao treinamento auditivo da linguagem, obedecendo . gradao sugerida pela psicolingstica.
Diniz (27) apresentou a comunicao Nivel de oralismo alcanado por de!i-dentes de audio na Escola para Surdos Epheta, na qual se aplica o mtodo oral e o mtodo verbo-tonal. O relato versa sobre o acompanhamento de quatro casos: o primeiro, um hipoacsio bilateral, treinado pela tcnica Suvag e usando prtese auditiva a partir dos 12 anos de idade. Atualmente, com 15 anos, o jovem cursa a quinta srie. A segunda paciente apresenta anacusia bilateral, est com 19 anos e cursa o terceiro normal. Iniciou o tratamento Suvag aos 14 anos e 3 anos depois colocou prtese. O terceiro e quarto casos so, respectivamente, de leso central e de anacusia bilateral.
Martinez, Kuhl e Soares (45) apresentaram a comunicao Aplicao do mtodo oral na educao do deficiente auditivo na qual proclamam a vantagem do desenvolvimento da linguagem por meio de mtodos multidirecionais.
9.8 Gagueira, bradilalia, outras perturbaes da voz
Adrados (2) publica A criana gaga, artigo no qual tece consideraes sobre as teorias que explicariam o fenmeno da gagueira. Menciona Kopp e o teste Ozeretzky e apresenta a taxinomia de Grnspun, na qual a gagueira poder ser decorrente de traumas de nascimento, de epilepsias, ou, conforme Travis, de pro-blemas relativos dominncia cerebral. Conclui afirmando que o problema quase sempre de ordem afetiva, citando na bibliografia Bloch (Problemas da voz e da fala).
Ottoni (52) publica Estudos da supresso do comportamento verbal da gagueira, e conclui que a tcnica do delineamento da fala se mostrou inadequada para suprimir a gagueira.
Rezende (55) apresenta a comunicao Enfoque psicolgico da gagueira, na qual discorre sobre as duas principais tendncias tericas na determinao da gnese da gagueira: as genognicas e as psicognicas, as primeiras apoiando-se nas caractersticas biolgicas distintas do gago e as segunas explicando a gagueira como uma psiconeurose. A autora detm-se mais pormenorizada mente na teoria de Wyatt, inspirada na psicologia gentica, na psicologia da linguagem e na psico-logia psicoanaltica. A teoria de Wyatt conhecida como teoria da crise do desen-volvimento. Baseia-se a autora nas hipteses de que a aquisio da linguagem, embora dependa da maturao do organismo, essencialmente um processo de aprendizagem no qual a figura da me ou de sua substituta o modelo principal (iniciao interpessoa, feedback e identificao recproca); o sucesso na apren-dizagem depende da relao afetiva ininterrupta associada interao verbal; a aprendizagem passa por estgios do menos diferenciado para o mais diferenciado, podendo ocorrer na passagem de um para outro uma crise de aprendizagem; a
PsicolingU fstica no Brasil 147
-
internalizao da linguagem permite distanciar-se espaCial e temporalmente de m>do satisfatrio da figura materna (passagem da forma dualista de intercomuni-cao para a pluralista); importante a relao me-fllho nas fases de mudana de estgio: distrbios podem acarretar repetio compulsiva, fixao de estgio e ativao da hostilidade; o distrbio na interao verbal me-filho pode tambm levar regresso (sintomas iniciais da gagueira). Das dimenses dos sentimentos das arianas gagas investigadas, duas apresentaram significncia; ansiedade da dis-tncia e desvalorizao da me. Tais concluses decorreram da aplicao de testes p-ojetivos denominados Testes de Relacionamento Me-filho (MCR).
Amaral(4) apresentou a comunicao Gagueira segundo Luper e Mulder, na qual discute um caso em que foram aplicadas as tcnicas preconizadas por esses autores. Estas tcnicas evoluem desde a ausncia de envolvimento direto com a aiana at a terapia direta,.com nfase na gagueira. A autora apresenta um quadro a-onolgico em ~ue analisa as caractersticas dos vrios tipos de gagueira.
Saboya (59) discorreu sobre Bradi/alia, um enfoque teraputico. Define o termo, tambm conhecido como bradifasia, bradiglossia e bradiartria, como a pronncia de palavras de forma vagarosa, montona e salteada. Conforme !Den-dona a autora, "alguns consideram sua etiologia associada a uma leso cerebral. A a;ruiao recomendada por Saboya baseia-se nos exames fonoarticulatrio (Eisenson), de percepo auditiva, anlise vocal, verificao das freqncias pr-xicas articulatrias, sonorizadas ou no, auto-anlise vocal, autojulgamento sobre vrios aspectos relacionados com a emisso. A autora sugere colocar os objetivos a serem alcanados em termos matemticos, baseados na freqncia atingida pelas pessoas que coabitam com o paciente. Levam-se em considerao o tnus labial, lingual e palatal; a respirao; as diadocincinesias faciais e intra.orais e a emisso de palavras isoladas.
9.9 Paralisia cerebral
Carvalho, Nastarski e Chutorianski (18) apresentaram uma comunicao sobre Desenhos projetivos de crianas com paralisia cerebral, na qual assinalam que os desenhos denotam depresso crnica. No ano seguinte, Carvalho, Chutorianski e Mibielli (17) apresentaram Comparao de crianas normais e paralticas cerebrais, pelo teste do desenho, concluses de pesquisa em 68 crianas, das quais 34 eram paralticas e 34 eram normais. Mostraram-se significantes os seguintes aspectos por parte da criana paraltica: desenho de casa sem solo, figura humana sem p, traos pouco definitrios da figura humana; casa sem janela; rvore sem folhas; pouco uso da cor amarela; figura humana sem cintura e sem roupa.
Maia (43) apresentou a comunicao Dificuldade na elaborao de corpus de crianas paraltico-cerebrais num estudo lingstico. A autora apresenta a classifi-cao dos paralticos-cerebrais em espstico, atetide e atxico, embora haja outras classificaes possveis. A autora reala a influncia da varivel socioecon-
148 A.B.P.l/79
-
mica na performance dos pacientes. Mencione-se, igualmente, sua tese de mestrado sobre o assunto.
Sob o ttulo Premissas necessrias ao Estudo do comportamento fontico-fonolgico de crianas paraltico-cerebrais de tipo espstico, Maia (44) desenvolve mais ou menos as mesmas consideraes j apontadas en sua comunicao acima mencionada.
9.10 Psicomotricidilde e exerccios de preveno associados s perturbaes da linguagem
Bonilha (11) publica o artigo Os primeiros exerccios psicomotores para a criana atrasada, enquanto van Koeck (37) publica Tcnicas de exame de psicomotricidade.
Frankenthal (31), no trabalho Psicomotricidilde na escola, apia-se em Pes-talozi e Froebel para indicar exerccios em que a criana possa desenvolver sua atividade criadora (pincis, barro, fantoches, ritmos). A autora menciona as expe-rincias colhidas na sala que criou especialmente com o fito de prevenir deficin-cias em leitura e escrita, chamada sala de movimentos (Escola Israelita Brasileira Eliezer Steinbarc), onde a criana exercita o seu corpo e as coordenaes motoras fmas. O material empregado consiste num jogo de Kephart; dois tringulos, dois quadrados, dois retngulos e dois crculos grandes, pintados no "Cho, uns sepa-rados e outros com interseco; um quadro-negro, dois rolos de 1 ,20m cada; trs {X"anchas em cadeiras para rastejar; bichinhos de feltro para abotoar e desabotoar; bate-estaca; bota de madeira para dar laos; umjogo de pau e quatro jogos toc-tac. As crianas atuam de ps descalos e so acompanhadas mediante fichrio sobre psicomotricidade.
Mencionemos a comunicao de Giannerini (33), Logopedia-ortopedia fun-cional dos maxilares, na qual a autora conceitua e historia a deglutio atpica, aps o que expe a seqncia dos exerccios indicados para a recuperao de pacientes.
Vejam-se, igualmente, as comunicao de Fleury (30) sobre o assunto. Sobre a recuperao fonatria do laringectomizado, citam-se as comuni-
caes de Caraciki e Hygino (16) que adaptaram para o portugus o folheto de Waldrop, diretor do Speech and Hearing Rehabilitation St. Luke's Hospital. Nota-se que os autores muitas vezes no levaram em conta a estrutura do portugus, como por exemplo no exerccio de vogal mais consoante em que entram consoan-'tes que nunca figuram nesta posio na lngua portuguesa. H tambm estruturas que lembram o 'ingls, do tipo "como foi voc? "
Tabith Jr., Salomo, 'Cordeiro, Del Papa e Guimares (68) publicaram o artigo Reabilitao vocal do paciente laringectomizado: resultados obtidos no Hos-pital do Servidor Pblico Estadual Francisco Morato de Oliveira, no qual historiam as observaes sobre voz esofgica, que vem a ser o desenvolvimento de um ativador areo vicariante em substituio s vias areas normais desviadas para o
PsicolingUfstica no Brasil 149
-
traquestoma e de um vibrador vicariante a neoglote - para vibrar em lugar das cordas vocais. O artigo relata os resultados obtidos em 18 pacientes entre 37 a 68 anos, com a idade mdia de 55 anos, do HSPEFMO. A reabilitao foi iniciada assim que as incises do pescoo estavam totalmente cicatrizadas, com treinos de 45' uma ou duas vezes por semana. A reabilitao teve incio com exerccios para que o paciente "tomasse ar" e, ao solt-lo, produzisse sons (s vezes foram neces-srios artifcios, como o uso da gua carbonatada). Depois que o paciente era capaz de emitir sons mais longos, teve incio o treino _da realizao das vogais, seguido da de slaba, de vocbulos cada vez mais extensos e assim por diante. Dos 18 pacientes, 8 desenvolveram uma boa voz (intensidade e inteligibilidade boas); 2 desenvolveram uma voz regular (voz intelegvel, porm de intensidade baixa) e 8 apresentaram resultados maus.
Consulte-se, igualmente, Cleto, Genshiro, Paiva e Minitti (21), Reeducao do laringectomizado. Os exerccios recomendados apresentam boa gradao. Observe-se, no entanto, a incluso do (m) em posio fmal, coisa que no ocorre na lngua portuguesa, a no ser como alofone condicionado por consoante bilabial seguinte.
Braz (12), no artigo A importncia da estereognosia bucal na terapia da fala, tece consideraes sobre exerccios de movimentao da lngua com peas tridi-rrensionais e bidimencionais realizados em dois pacientes, a fim de melhorar o controle proprioceptivo dos movimentos fonoarticulatrios e corrigir alteraes na realizao de certos sons como os vibrantes.
Meireles (46), em A capacidade totalizadora e os distrbios de apren-dizagem, relata a gradao dos exerccios que emprega (desde a articulao dos vocides) para levar os alunos com problemas a enunciados mais complexos.
Campos, Genshiro e Minitti (15) discorreram sobre importncia da ressonn-cia no tratamento. Iniciam definindo disfonias: alteraes da voz de etiologias mltiplas como o abuso vocal, mau uso das cavidades de ressonncia ou deficin-cias respiratrias, sem apresentar leso orgnica visvel. Os exerccios indicados so de relaxamento total ou parcial, treino respiratrio, ressonncia e vocalizao, e leitura salmodiada e normal.
10. Cursos relacionados a distrbios da comunicao lingstica
Em 1955, Azzi coordenou o curso Desenvolvimento da linguagem, distrbios da linguagem, dentro da disciplina da psicologia educacional, um dos primeiros de que temos notcia.
Moraes vem coordenando cursos de extenso universitria, sob os auspcios da PUCSP, a respeito da pedagogia teraputica.
de elogiar a importncia cada vez maior conferida ao papel que os conhe-cimentos lingsticos podem desempenhar na formao do profissional que lida com os distrbios da comunicao. Para exemplo, mencionaremos dois programas
150 A.B.P.l/19
-
de ensino da lingstica em estabelecimentos que vm formando fonoaudi610gos em So Paulo: o vinculado ao Centro de Educao da PUCSP e o vinculado Escola Paulista de Medicina.
O primeiro dos cursos mencionados teve incio em 1962, funcionando, ento, na Faculdade de Filosofia, Cincias e Letras de So Bento. Passou por vrios aprimoramentos, desde o incio em que durava um ano at agora, em que ministrado em quatro anos. O ensino da lingstica, no incio, era constitudo apenas de fontica acstica e articulatria, a cargo de Giusti. Posteriormente, Blikstein passou a ministrar a disciplina. Com Lemos, o ensino da lin!stica foi oonsideravelmente ampliado. Na poca em que coligimos os dados, era ministrado por Centola (teoria lingstica I e 11, 2 semestres, com 3 aulas semanais), Favero (fonologia, morfossintaxe e semntica do portugus, 2 semestres com 3 aulas sema-nais) e Azevedo (fontica acstica e articulatria, um semestre, 3 aulas semanais).
Referncias bibliogrficas
l. Abramovich, Irene. Sistematizao do exame neurolgico do grupo de foniatria. 111 Congresso de Terapia da Palavra, Curitiba, 1974. 2. Adrados, Isabel. A criana gaga Arquivos Brasileiros de Pdcotcnica, Rio, Fundao Getulio VaIgas, 20 (4): 88-94,1968. 3. Albernaz, Pedro Luiz M. Perspectivas no desenvolvimento da cirurgia otolgica. Atuali-zao em Otologia e Foniatria, So Paulo, 1 (2): 51-4, 1973. 4. Amaral, Helena M. C. Gagueira segundo Luper e Mulder. 11 Simpsio Brasileiro de Terapia da Palavra. Rio, 1972. 5. Amorim, Antonio. A comunicao oral dos deficientes mentais. 11 Simp. Bras. de Ter. da Pal., Rio, 1972. 6. Azevedo, Maria do Amparo B. Curso de fontica acstica e articuiatria. Centro de ; Educao, PUC, So Paulo (Programa de 1974). 7. Azzi, Enzo. Desenvolvimento da linguagem, distrbios da linguagem. Curso proferido na PUC, So Paulo, 1955. 8. Baleeiro, Eduardo de M.; Ganana, Maurcio M. & Albernaz, Pedro Lus M. Retinose pigmentar e surdez. Atual. em Otol. Foniatr., So Paulo, 2 (1): 15-20, 1974. 9. Blikstein, Izidoro. Fontica acstica e articulatria. Curso proferido na Faculdade de Filosofia, Cincias e Letras de So Bento, So Paulo, 1967. 10. Bloch, Pedro. Perturbaes da voz, problemas da voz e da faia. Rio, Letras e Artes, 1963. 11. Bonilha, Lcia C. Os primeiros exerccios psicomotores para a criana atrasada. Revista de hicologia Normal e Patolgica, So Paulo, 9: 197-223, jan./jun., 1963. 12. Braz, Helena. A importncia da estereognosia bucal na terapia da fala. Atual em Otol. e Fon. cit., p. 7-10. 13. Bueno, Jos Geraldo S.; Pereira, Maria Cristina da C. & Modenese, Martha Elosa. Uma experincia em dramatizao em ginsio especializado para deficientes auditivos. Atual. em. Otol. e Fon., So Paulo, cit., p. 21-6. 14. Butugan, Ossamu; Genshiro, Armando A; Minitu, Aroldo Paiva, Lamartine J. A nossa experlincia com a eletrococleografia. III Congresso de Terapia da Palavra, Curitiba, 1974. 15. Campos, Maria Izabel M.; Genshiro, Armando A. & Minitti, Aroldo, Importncia da reasonncia no tratamento. III Congr. de Ter. da Pal., Curitiba, 1974.
Psico/ingfstica no Brasil 151
-
16. Caraciki, Abigail M. & Hygino, Vinicios, Sua nova voz. 11 Simp. Bras. de Ter. da Pal., Rio, 1972. 17. Carvallio, Oreste; Chutorianski, Daniel & Mibielli, Marco A. N. Comparao de crianas normais e paralticas cerebrais pelo teste do desenho. Resumos, So Paulo, Sociedade Brasilei-ra para o Progresso da Cincia, 25: 389, 1973. 18. Carvalho, Oreste; Nastarski, Marco Antonio & Chutorianski, Daniel. Desenhos proje-tivos de crianas com paralisia cerebral. Resumos, So Paulo, Soco Bras. para o Progr. da Cinc., 24: 491, 1972. 19. Centola, Rita de Cssia. Curso~ de teoria lingstica I e 11. Centro de Educao, PUC, So Paulo (Programa de 1974). 20. ,CerVellini, Alvair, P.; Oliveira, Jarbas B. de & Hulle, Lygia T. Um programa de orienta-o profissional integrado no cu"fculo de uma escola para deficientes auditivos. 11 Con-gresso de Audio e Linguagem e I Congresso Peruano de Patologia da Linguagem, Lima, 1973. 21. Cleto, Maria Lcia S.; Genshiro, Armando A.; Paiva, Lamartine J. & Minitti, Aroldo. Reeducao do laringectomizado. III Congr. Bras. de Ter. da PaI., Curitiba, 1974. 22. Corb, Ivani J.; Prondini, Maria Luza c.; Cervellini, Nadir da Glria H. & Bacarin, Sonia Maria F. Atendimento escolar precoce do deficiente auditivo. Atual. em Otol e Fon., So Paulo, 1 (3): 153-60, 1973. 23. Costa, Cleide G.; Braz, Helena A.; Mehzer, Maria Cssia S.; Jacob, Vera S. & Spinelli, Vera P. Programas de terapitl de linguagem oral em critlnas portadoras de DCM. 11 Congr. de Aud. e Lingu. e I Congr. Per. de Patol. da Lingu., Lima, 1973. 24. Couto, Alpia. O treinamento auditivo. 11 Simp. Bras. de Ter. da PaI., Rio, 1972. 25. . Da reeducao auditiva linguagem. III Congr. de Ter. da PaI., Curitiba, 1974. 26. Cruz, Augusto C. de. O reflexo estapdico como meio de avaliao da audio em crianas. 11 Simp. Bras. de Ter. da Pal., Rio, 1972. 27. Diniz, Cyrene R. Nvel de oralismo alcanado por deficientes de audio na Escola para Sursos Epheta. III Congresso Brasileiro de Terapia da Palavra, Curitiba, 1974. 28. Doria, Ana R. de F. Os deficientes de audiocomunicao e os benefcios da Lei 5.692. Educao, Braslia, 3 (10): 12-6, 1973. 29. Fvero, Leonor L. Curso de fonologia, morfossintaxe e semntica do portugus I e 11. Centro de Educao, PUC, So Paulo. (programa de 197,4). 30. Fleury, Jos Luiz R. de S. Hbitos de deglutio anormal. III Congresso Brasileiro de Terapia da Palavra, Curitiba, 1974. 31. Frankenthal, Liuba Psicomotricidade na escola. 11 Simpsio Brasileiro de Terapia da Palavra, Rio, 1972. 32. Genshiro, Armando A.; Minitti, Aroldo & Butagan, Ossamu. Contribuio semiolo-gitz fonitrica das fissuras lbio-palatinas. III Congresso Brasileiro de Terapia da Palavra, Curi-tiba, 1974. 33. Giannerini, Maria J. S. Eogopedia-ortopeditl funcional dos maxilares. 11 Simpsio Brasi-leiro de Terapia da Palavra, Rio, 1972. 34. Ginsburg, Aniela; Bonillia, Lcia C.; van Kolck, Theo; T_ane, Silvia M.; Guedes, Maria do Carmo; Schwartzmann, Jos S.; Mie1zynska, J.; Fackas, M. & Sampaio, O. Estudo psicol-gico paralelo a estudos neurolgicos e fonitricos. Resumos, So Paulo, Sociedade Brasileira para o Progresso da Cinci, 20: 232-33, 1968. 35. Giusti, Emlio. Curso de fontica acstica e articulatria So Paulo, Faculdade de Filosofia, Cincias e Letras de So Bento, 1962. 36. Goldberg, Maria Amlia A. Levantamento de oportunidades ocupacionais e escolares para deficientes auditivos. Cadernos de Pesquisas, So Paulo, Fundao Carlos Chagas, 3 Mar. 1972. 37. Kolck, Odette L. van .. Tcnicas de exame da psicomotricidade. Revista de Psicologitl Normal e Patolgica, So Paulo, 28: 51-4, 61-70, 1966/1967. 38. Lamar, A. Audiometritz objetiva. II Simpsio Brasileiro da Terapia da Palavra, Rio, 1972. 39. Lemos, Cludia G. Curso de lingstica geral. So Paulo, Faculdade de Filosofia, Cin-cias e Letras de So Bento, So Paulo, 1968.
152 A.B.P.l/79
-
40. Lessa, Letcia de M.; Genshiro, Armando A.; Moraes, Maria Adelaide & Abramovich, Irene. Desenv.olvimento da reeducao do fissurado em nossa clinica. III Congresso Brasileiro de Terapia da Palavra, Curitiba, 1974. 41. Lopes Filho, Otaclio C. Contribuio ao estudo clnico da impedncia acstica. lJSP, So Paulo, 1972. Tese de doutoramento. 42. . Mtodo objetivo no diagnstico otolgico. Atualizao em Otologia e remia trio, 1 (2): 113-26,1973. 43. Maia, Suzana M. Dificuldade na elaborao de Corpus de crianas paraltico-cerebrais num estudo lingstico. Resumos, So Paulo, Sociedade Brasileira para o Progresso da Cincia, 25: 560, 1973. 44. '. Premissas necessrias ao estudo do comportamento fontico-fonolgico de crianas paraltico-cerebrais de tipo espstico. Resumos, So Paulo, Sociedade Brasileira para Progressos da Cincia, 26: 605, 1974. 45. Martinez, Zulmira O.; Kuh~ Maria Ins & Soares, Maria Clara F. Aplicao do mdodo oral na educao do deficiente auditivo. III Congresso Brasileiro de Terapia da Palavra, Curitiba, 1974. 46. Meireles, Iracema. A capacidade totalizaljora e os distrbios de aprendizagem. III Con-gresso Brasileiro de Terapia da Pala .. i-a, Curitiba, 1974. 47. Mette~ Thereza, P. de L. Emprego de tcnicas operantes no tratamento de crianas esquizofrnicas. Resumos, So Paulo, Sociedade Brasileira para o Progresso da Cincia, 23: 264, 1971. 48. ; Costa, Clia Maria L. da. Condicionamento operante no tratamento da cri-ana autista. Resumos cit., p. 164. 49. Monteiro de Paula, M. N. Audiometria infantil. 11 Simpsio Brasileiro de Terapia da Palavra, Rio, 1972. 50. Moraes, Genny G. de - Cursos de pedagogia teraputica. PUC, So Paulo (programa de 1974). 51. Moraes, Maria Adelaide de; Lessa, Letcia de M.; Genshiro, Armando A. & Abramovich, !rene. Nossa conduta na reeducao das dislalias. III Congresso Brasileiro de Terapia da Pala-vra, Curitiba, 1974. 52: Ottoni, Thais M. Estudo da supresso do comportamento verbal da gagueira. Arquivos Brasileiros de Psicologia Aplicada, Rio, Fundao Getulio Vargas, 24 (3): 107-24, 1972. 53. Pacheco, Ieda C. & Momensohn, Tereza M. O atendimento da criana com deficincia auditiva, atualizao em Otologia e Foniatria, So Paulo, I, (2): 55-64, 1973. 54. Rezende, Vicente de P. A psiQuiatria infantil na terapia da palavra. 11 Simpsio Brasi-leiro de Terapia da Palavra, Rio, 1972. 55. Rezende, Glria M. Enfoque psicolgico da gagueira. 11 Simpsio Brasileiro de Terapia da Palavra, Rio, 1972. 56. Ribas, Constantino M.; Petrell~ Eros & Bezerril, Raul. Arquiloglossia relacionada com a terapia da palavra. III Congresso Brasileiro de Terapia da Palavra, Curitiba, 1974. 57. Rochette, Claude. Curso de fontica experimental. Derdic, So Paulo, 1974. 58. Rodrigues, Evaldo J. B. A criana com deficincia auditiva: Fundamentao e tempo adequado para a 'indicao de apareiho de amplificao sonora. Atualizao em Otologia e Foniatria, So Paulo, 1 (1): 11-4, 1973. 59. Saboya, Beatriz de A. R. Bradilalia. 11 Simpsio Brasileiro de Terapia da Palavra, Rio, 1972. 60. Scheuer, Cludia I.; Lapa Fernando de S. & Spina, Victor. Fissuras Ibio-palatinas, aspectos fonitricos. III Congresso Brasileiro de Terapia da Palavra, Curitiba, 1974. 61. Scliar-Cabra~ Leonor. Cursos de lingstica I, 11, IlI, IV, Curso de fonoaudiologia. Escola Paulista de Medicina, So Paulo (programa de 1975). 62. Silveira Martins, Nair; Piltcher, Dora B.; Day Lea P.; Verissimo, Vera Elisabeth & Gu-terres, Joo Francisco. Nossa experincia com trs casos de crianas autistas. 111 Congresso Bra-sileiro de Terapia da Palavra, Curitiba, 1974. 63. Spinell~ Mauro. Estudo da motricidade e da memria auditiva em distrbios especl-ficos de desenvolvimento da fala. PUC, So Paulo, 1973. 129 p. Tese de doutoramento. 64. Ib. O atendimento clnico e o atendimento escolar no deficiente auditivo. Atualizaiio em Otologia e Foniatria, So Paulo, 1 (3): 127-34, 1973.
Psicolingfstica no Brasil 153
-
65. Tabith, Jr., Alfredo. A foniatria no processo de reabilitao. Atualizao em Ot%gia e F0/1iatria, So Paulo, 1 (I): 31-40,1973. 66. Tabith Jr., Alfredo; Pellicciotti, Thais H. F. & Jacob, Vania S. Sistematizao do atendimento precoce de crianas portadoras de leses congnitas do lbio e palato. Atuali-zao em ato/agia e Foniatria, So Paulo, 1 (2): 107-12, 1973. 67. Tabith Jr., Alfredo & Rodrigues. Evaldo 1. B. Aspectos do diagnstico fonitrico na paralisia cerebral. Atualizao em Ot%gia e Foniatria, So Paulo, 1 (3): 161-69, 1973. 68. Tabith Jr., Alfredo; Salomo, Llia; Cordeiro, Ana Maria V.; Del Papa, Maria Terezinha B. & Guimares, Maria Tereza N. Reabilitao vocal do paciente laringectomizado: resultados obtidos no Hospital do Servidor Pblico Estadual Francisco Morato de Oliveira. Atualizao em Ot%giaeFoniatria, 1(1): 1-10,1973. 69. Vasconcelos, Anna Maria S. & Ribeiro, Maria Ceclia B. L. Deficincia auditiva em a-ianas de idade precoce, descrio de um programa de atendimento c/(nico. 11 Congresso de Audio e Linguagem e I Congresso Peruano de Patologia da Linguagem, Lima. 1973.
Viaje pelo mundo sem pagar Cr$ 22 nill. O Correio da Unesco leva voc.
Saiba tudo sobre a vida nos pases amigos. Conhea o pensamento dos grandes filsofos. Fique por dentro de assuntos de interesse mundial. Assine O Cor-reio da Unesco e receba
mensalmente, em sua casa, uma revista com-pleta' abordando temas
de importncia funda-mental, narrados numa
linguagem sim~les e objetiva. O Correio lazer
e fonte de consultaj>ara pessoas de qualquer idade.
So onze nmeros por ano. A assinatura anual custa Cr$ 150,00. Es-creva para Caixa Postal 9.052, Rio de Janeiro. Mande cheque pagvel no Rio ou Vale Postal, em nome da Fundao Getulio Vargas.
154 A.B.P.l/79