2003 08 - Arquitextos 039 - Novas Fronteiras e Novos Pactos
-
Upload
patricia-cruz -
Category
Documents
-
view
133 -
download
21
description
Transcript of 2003 08 - Arquitextos 039 - Novas Fronteiras e Novos Pactos
-
agost
| Autor | Assunto | Nmeros | Textos especiais | Pgina principal | Vitruvius |
Novas fronteiras e novos pactos para o patrimnio cultural (1)Cecilia Rodrigues dos Santos
Ceclia Rodrigues dos Santos arquiteta, doutoranda, professora da Faculdade de Arquitetura na Universidade Presbiteriana Mackenzie e consultora para a rea de patrimnio cultural, crtica de arquitetura e co-autora de "Le Corbusier e o Brasil"
O Tejo mais belo do que o rio que corre pela minha aldeia, Mas o Tejo no mais belo que o rio que corre pela minha aldeia Porque o Tejo no o rio que corre pela minha aldeia. Fernando Pessoa
A palavra patrimnio est historicamente associada ou noo do sagrado, ou noo de herana, de memria do indivduo, de bens de famlia. A idia de um patrimnio comum a um grupo social, definidor de sua identidade e enquanto tal merecedor de proteo, nasce no final do sculo XVIII, com a viso moderna de histria e de cidade (2).
Se esse patrimnio, que de todos, deve ser preservado, preciso estabelecer seus limites fsicos e conceituais, as regras e as leis para que isto acontea: foi a idia de nao que veio garantir o estatuto ideolgico (do patrimnio), e foi o Estado nacional que veio assegurar, atravs de prticas especficas, a sua preservao (...). A noo de patrimnio se inseriu no projeto mais amplo de construo de uma identidade nacional, e passou a servir ao processo de consolidao dos estados-nao modernos (3).
No Brasil, a promulgao do Decreto-Lei no 25, de 30 de novembro de 1937, organizou a proteo do patrimnio histrico e artstico nacional e instituiu o instrumento do tombamento. A inscrio, em um dos quatro livros do tombo, de bens mveis ou imveis cuja conservao de interesse pblico impede legalmente que eles sejam destrudos ou mutilados. O ato do tombamento, prerrogativa do poder Executivo, no implica desapropriao e nem determina o uso, tratando-se sim de uma frmula realista de compromisso entre o direito individual propriedade e a defesa do interesse pblico relativamente preservao de valores culturais (4).
Entretanto, o tombamento apenas uma das formas legais de preservao, que incluem toda e qualquer ao do Estado que vise conservar a memria ou valores culturais (5). Hoje, um dos maiores desafios gesto do patrimnio cultural definir conceitual e legalmente novas formas de acautelamento compatveis com sua abrangncia, cada vez maior, e com o exerccio dos direitos culturais do cidado, reconhecidos no texto da Constituio de 1988, particularmente no Artigo 215: O Estado garantir a todos o pleno exerccio dos direitos culturais e acesso s fontes da cultura nacional (...) e no Artigo 216: O Poder Pblico, com a colaborao da comunidade, promover e proteger o patrimnio cultural brasileiro, por meio de inventrios, registros, vigilncia, tombamento e desapropriao, e de outras formas de acautelamento e preservao.
Durante praticamente um sculo de trabalho e discusses no mbito internacional, e 64 anos no Brasil, o carter simblico do patrimnio vem sendo ampliado. O patrimnio foi deixando de ser simplesmente herdado para ser estudado, discutido, compartilhado e at reivindicado. Ultrapassam-se a monumentalidade, a excepcionalidade e mesmo a materialidade como parmetros de proteo, para abranger o vernacular, o cotidiano, a imaterialidade, porm, sem abrir mo de continuar contemplando a preservao dos objetos de arte e monumentos eleitos ao longo de tantos anos de trabalho como merecedores da especial proteo. Passa-se a valorizar no somente os vestgios de um passado distante, mas tambm a contemporaneidade, os processos, a produo. Nesse contexto, por exemplo, no mais apenas os conjuntos urbanos homogneos, representativos de um determinado perodo histrico, passaram a ser merecedores de proteo ou ateno oficial. O patrimnio cultural, considerado
Fortaleza de Bertioga, situao em 2001. Fonte: Arquitetura Mpanorama histrico a partir do Porto de Santos, Victor Hugo MImprensa Oficial do Estado de So Paulo, 2003
Fortaleza de So Jos da Ponta Grossa. Foto Ademilde SartoProjeto Fortalezas Multimdia
Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim. Foto Ademilde SartProjeto Fortalezas Multimdia
Pgina 1 de 7Arquitextos - Peridico mensal de textos de arquitetura
29/6/2005http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq039/arq039_02.asp
-
em toda a amplitude e complexidade, comea a se impor como um dos principais componentes no processo de planejamento e ordenao da dinmica de crescimento das cidades e como um dos itens estratgicos na afirmao de identidades de grupos e comunidades, transcendendo a idia fundadora da nacionalidade em um contexto de globalizao (6).
O rgo pblico federal ao qual cabe, desde a promulgao do Decreto-Lei no 25, a competncia legal da proteo no Brasil, bem como o trabalho tcnico de inventrio de conhecimento, o estabelecimento de critrios e a execuo de obras de restaurao, o Instituto do Patrimnio Histrico e Artstico Nacional, o Iphan, a mais antiga entidade oficial de preservao de bens culturais na Amrica Latina (7). A gesto do patrimnio tombado e a execuo das polticas culturais foram delegadas, a partir da criao do Instituto, a representaes regionais coordenadas por uma direo central. Desde a sua criao, portanto, o Iphan organizou-se de forma desconcentrada, na tentativa de melhor atender s diferentes regies nas suas especificidades e na variedade das manifestaes culturais.
Em 1970, por iniciativa do ento Ministrio da Educao e Cultura, foi realizado um encontro de secretrios de Estados e Municpios para o estudo da complementao das medidas necessrias defesa do Patrimnio Histrico e Artstico Nacional; a oficializao de um movimento em direo descentralizao. Na ocasio foi assinado o Compromisso de Braslia, que, por um lado, apoiou a poltica de proteo dos monumentos encaminhada pelo rgo federal e, por outro, reconheceu a inadivel necessidade de ao supletiva dos estados e municpios atuao federal no que se refere proteo dos bens culturais de valor nacional e que aos Estados e Municpios tambm compete, com a orientao tcnica do Iphan, a proteo dos bens culturais de valor regional, recomendando a criao de rgos estaduais e municipais adequados proteo, sempre articulados com o Iphan, procurando uniformidade da legislao (8). A Constituio de 1988 veio finalmente afirmar no seu Artigo 30: Compete aos municpios promover a proteo do patrimnio histrico-cultural local, observada a legislao e a ao fiscalizadora federal e estadual.
Essa iniciativa, tal como foi proposta h 30 anos, tinha um carter de abertura conceitual em direo abrangncia na abordagem do patrimnio cultural e no de des-responsabilizao da Unio em relao sua atribuio legal de proteger o patrimnio nacional. Ao se falar de ao supletiva e de articulao com o rgo existente encarregado da gesto do patrimnio, anunciavam-se, por um lado, novas alianas e, por outro, lealdades divididas (9) na construo de um novo equilbrio entre o nacional e o local. As condies para viabilizar esse plano eram no s a reforma e a modernizao administrativa, mas tambm a continuidade e o aprimoramento de um sistema de trabalho que priorizava a produo de conhecimento, bem como a seriedade e a autonomia na conduo das questes tcnicas. As dificuldades para dar seqncia a esse sistema comprometeram ou adiaram o estabelecimento dos novos rgos de preservao, levando o Iphan a um lento processo de desarticulao e desmonte, at conden-lo sua limitada condio burocrtica atual. Tratava-se, naquele momento, antes de tudo, de formao de quadros, da produo e descentralizao de conhecimento.
A abrangncia conceitual na abordagem do patrimnio cultural est relacionada com a retomada da prpria definio antropolgica da cultura como tudo o que caracteriza uma populao humana (10) ou como o conjunto de modos de ser, viver, pensar e falar de uma dada formao social (11), ou ainda como todo conhecimento que uma sociedade tem de si mesma, sobre outras sociedades, sobre o meio material em que vive e sobre sua prpria existncia (12), inclusive as formas de expresso simblica desse conhecimento atravs das idias, da construo de objetos e das prticas rituais e artsticas. Apesar de todas as discusses tericas conduzidas em mbito internacional, somente em 1982 a Unesco conseguiu chegar a um acordo sobre a necessidade de uma definio mais abrangente para a cultura, que passa desde ento a ser referncia: conjunto de caractersticas distintas, espirituais e materiais, intelectuais e afetivas, que caracterizam uma sociedade ou um grupo social (...) engloba, alm das artes e letras, os modos de viver, os direitos fundamentais dos seres humanos, os sistemas de valor, as tradies e as crenas (13).
No Estado de So Paulo, desde 1968, j funcionava o Condephaat Conselho do Patrimnio Histrico, Artstico, Arqueolgico e Turstico do Estado de So Paulo um dos primeiros rgos de preservao estadual. Contou com o apoio tcnico e poltico da diretoria do Iphan em So Paulo que, desde a sua criao, passou a orientar o trabalho do Instituto de forma complementar ao da instncia estadual de preservao. Um exemplo significativo o fato de o Iphan no ter tombado nenhum centro histrico no Estado de So Paulo, situao nica no Brasil, considerando, teoricamente, que essa proteo poderia ser mais eficiente se conduzida pelo rgo estadual, mais prximo do municpio para efetivar
Fortaleza de Santo Antnio de Ratones. Foto Ademilde SartoProjeto Fortalezas Multimdia
Forte de Santana. Foto Ademilde Sartori. Fonte: Projeto FortaMultimdia
Fortaleza de Nossa Senhora da Conceio de Araatuba. FotAdemilde Sartori. Fonte: Projeto Fortalezas Multimdia
Forte de Naufragados. Foto Ademilde Sartori. Fonte: Projeto Multimdia
Pgina 2 de 7Arquitextos - Peridico mensal de textos de arquitetura
29/6/2005http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq039/arq039_02.asp
-
parcerias e gerir o patrimnio protegido das cidades.
Hoje, municpios paulistas como Santos, Campinas, So Jos dos Campos, entre outros, j contam com seus conselhos municipais de patrimnio e respectivas legislaes de proteo. Porm, na maior parte das cidades, a questo do patrimnio cultural no foi compreendida, aceita e nem priorizada. Dentre os 644 municpios do Estado de So Paulo excetuando-se a capital, que conta com um Departamento de Patrimnio Histrico e com o Conselho Municipal de Preservao do Patrimnio Histrico, Cultural e Ambiental da Cidade de So Paulo, Conpresp , apenas 72 possuem bens tombados pelo prprio municpio, somando-se 341 itens de tombamento (14). Ausente da maioria das polticas pblicas de planejamento fsico-territorial e dos planos de gesto municipal, o patrimnio foi sendo tratado como questo de responsabilidade do Estado ou da Unio, divorciado do planejamento das cidades, visto apenas sob o enfoque do desenvolvimento econmico ou simplesmente ignorado. A descontinuidade administrativa dos municpios, a inexistncia de polticas culturais locais, a falta de investimento na formao de tcnicos na rea, a suscetibilidade s presses de grupos da comunidade, o forte jogo de interesses imobilirios, a aceitao generalizada de uma noo de progresso e desenvolvimento associada verticalizao e a instaurao de processos de renovao contnua das cidades sobre elas mesmas so fatores que podem esclarecer o fato de as cidades do interior do Estado de So Paulo estarem cumprindo o mesmo destino da capital, j identificado por Claude Levi-Strauss em 1953: cidades que passam do frescor decrepitude sem conseguirem ser antigas (15).
Para compreender esse processo, deve-se levar em conta a inexistncia de um pensamento urbano no mbito dos rgos de preservao, mesmo que estes tenham se ocupado do tombamento e da gesto de ncleos urbanos desde 1938 e que sempre tenham considerado o monumento tombado inserido em uma rea envoltria maior, protegida como ambincia (16). Por outro lado, existe a predominncia de uma concepo de planejamento urbano que raciocina essencialmente em termos da economicidade dos espaos, priorizando fluxos de trfego, adensamento de tecidos, aproveitamento racional da infra-estrutura urbana, e que renega a um plano secundrio os componentes histricos e estticos do urbanismo ou mesmo nega sua incluso entre os valores urbanos a serem considerados (17). Esses dois fatores concorrentes foram suficientes para que as cidades deixassem de ser vistas como uma questo cultural e passassem a ser parte de um fenmeno que, apesar de no ser s brasileiro, aqui conheceu srias dimenses, sendo definido por Argan (18) como a rejeio da histria pelo pragmatismo.
A negao da histria e da memria em favor de uma suposta modernidade condenou irremediavelmente as malhas urbanas tradicionais, as construes histricas oficiais, os marcos e as referncias das cidades, os conjuntos singelos de casario, a arquitetura vernacular e a arquitetura modernista, os bairros e as sedes rurais, as capelas, os chafarizes, os stios arqueolgicos, as paisagens, as estaes de estrada de ferro, os cinemas, as praas e, com eles, (contando com o crescimento dos meios de comunicao de massa) as festas, as tradies, enfim, a alma das comunidades. Se verdade que a cidade no feita de pedras, mas sim de homens (19), tambm verdade que as lembranas se apiam nas pedras da cidade (20), e no por outra razo que os homens, ao longo dos sculos, tm lhes atribudo valor e trabalhado para que permaneam (ou desapaream) enquanto expresses da memria coletiva, de uma identidade compartilhada.
Tratar a cidade como um tecido vivo, como um organismo histrico em desenvolvimento, como queria Argan (21), significa promover aes de aproximao em relao sua histria e sua vocao, elaborar inventrios locais do patrimnio de interesse histrico, artstico, arqueolgico e paisagstico que possam orientar as polticas urbanas e territoriais e fazer leituras sistemticas dos espaos e qualificar esses espaos atravs do desenho. Sempre tendo como perspectiva: explicitar e valorizar o enraizamento das comunidades; evitar a descontinuidade dos tecidos; manter a lgica de formao e de insero em um territrio e promover o crescimento equilibrado. Em outras palavras: sempre defendendo a qualidade de vida.
Hoje, numa tentativa extrema para recuperar seu patrimnio cultural destrudo, um atrativo a mais para a promissora indstria do turismo, alguns municpios ensaiam a construo de simulacros da prpria histria e da prpria identidade perdidas. Multiplicam-se processos de ressemantizao de estruturas vazias com os novos cones da florescente indstria de cultura de massa, bem como a construo de cenrios s vezes at animados com personagens, mas isolados de qualquer contaminao com a realidade, espaos esvaziados de vida e contedo cultural que, no mximo, poderiam ser identificados como parques temticos, todos iguais entre si. A justificativa sempre a criao de empregos, quando deveria ser o exerccio pleno da cidadania, ou a abertura para o mercado, quando deveria ser a abertura para a sociedade. Alguns exemplos, entre tantos outros, poderiam ser
Ilha e Fortaleza de Anhatomirim. Foto Ademilde Sartori. FonteFortalezas Multimdia
Pgina 3 de 7Arquitextos - Peridico mensal de textos de arquitetura
29/6/2005http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq039/arq039_02.asp
-
citados, como o projeto da prefeitura de So Vicente, em andamento, de construir a vila do sculo XVI, primeira cidade do Brasil, da qual no existe vestgio fsico ou documental, cenrio imaginrio animado por personagens a carter. Ou a proposta surgida em Bertioga, descartada em seguida, de construir uma paraty ao lado do Forte So Joo, monumento do sculo XVII tombado pelo Iphan e pelo Condephaat. Um dos episdios recentes mais significativos desse interesse pela identidade cultural dos municpios foi a disputa entre as cidades de Capivari e Rafard como bero da artista plstica Tarsila do Amaral: a fazenda So Bernardo, em cuja antiga sede do sculo XIX nasceu a artista, ficou fora dos limites de Capivari com a emancipao de Rafard (22).
Mas tambm existem cidades que tentam elaborar inventrios de perdas e inventrios de ganhos, recuperar documentos e testemunhos, reunir acervos, redescobrir saberes e fazeres tradicionais desvalorizados e silenciados durante anos, estabelecer novos pactos para enfrentar os desafios da relativizao ou da porosidade das fronteiras. Estes municpios procuram apoio de instituies e profissionais especializados para garantir a interveno do ponto de vista tcnico e conceitual e da comunidade que d sentido a este trabalho, criando diretrizes para um crescimento mais harmnico, na perspectiva de um desenvolvimento sustentvel.
Na rea de meio ambiente, consenso que um desenvolvimento sustentvel aquele que responde s exigncias do presente sem comprometer a capacidade das geraes futuras de atender s prprias necessidades. Porm, apenas recentemente iniciou-se a discusso do papel da cultura e do patrimnio cultural na construo de sociedades sustentveis. A cultura e sua relao com o desenvolvimento econmico e social s foram objeto de uma conferncia internacional especfica promovida pela Unesco, em 1970. A partir desta data quando tambm teve incio o questionamento geral da eficincia de um modelo de desenvolvimento baseado essencialmente em critrios de rentabilidade econmica e racionalidade tcnica , os fatores de ordem cultural comearam a se afirmar como estratgicos na busca de novos modelos. Em 1982, durante a Conferncia Mundial sobre as Polticas Culturais, a Unesco recomendou oficialmente que as polticas culturais para o desenvolvimento deveriam estar centradas nas foras vivas da cultura: patrimnio, identidade e criatividade (23).
Alguns princpios podem, no entanto, ser considerados como j sedimentados, estando, entre estes, a diversidade cultural como garantia de qualidade de vida no contexto inevitvel da globalizao e a continuidade dos valores do patrimnio como uma das garantias dessa diversidade. Pode-se afirmar que a diversidade cultural, no processo de construo de sociedades sustentveis, implica a adoo de medidas que favoream o reconhecimento da peculiaridade de cada local e que reforcem os vnculos de pertencimento entre o indivduo e seu grupo, entre este e o meio ambiente e a sociedade, satisfazendo as necessidades atuais sem deixar de proteger os recursos humanos, culturais e naturais que garantiro o mesmo direito s geraes futuras (24). E anuncia-se a noo de conservao integrada: adotar a conservao do patrimnio assim como a continuidade de valores culturais no mbito de um processo de mudana, de maneira a que a personalidade cultural seja conservada (25).
Tambm j se tornou consenso que no mais possvel considerar qualquer questo de interesse nacional e internacional seno em termos de globalizao, entendida no apenas como a mundializao do capital, mas tambm como um processo de natureza histrico-cultural que torna as fronteiras tradicionais porosas, que gera novas prticas e relaes entre as comunidades. At mesmo os direitos dos cidados, que incluem os direitos culturais, tendem a se transformar em grandes causas comuns da humanidade, sendo que a cultura passa a ser um dos principais instrumentos de definio, particularizao e mobilizao das comunidades (26). Entretanto, se a globalizao significa a abertura de novas perspectivas para a criao por meio de intercmbios cada vez mais facilitados e acelerados, ela representa tambm uma ameaa real de uniformizao e homogeneizao, de imposio de modelos de consumo, por parte de centros criadores cada vez mais fortes, a centros consumidores passivos cada vez mais numerosos. Como alternativa globalizao com sua possvel ameaa alteridade e diversidade , a aliana global, ou a criao de espaos polticos supra-nacionais onde se reivindicam os direitos e se explicitam os deveres dos cidados, colocada como um dos princpios para uma sociedade sustentvel (27).
Por outro lado, o patrimnio cultural tem encontrado, no mbito das organizaes internacionais, importantes fruns para discusso de critrios e polticas. Em 1972 a Unesco instituiu a Conveno do Patrimnio Mundial, que passou a estudar os parmetros para identificao de um bem cultural ou natural como de interesse universal. Durante seis anos foram intensas as discusses sobre critrios como urgncia, raridade, integridade, autenticidade e universalidade. Prevaleceram principalmente os dois ltimos como condies para determinar se um bem seria
Pgina 4 de 7Arquitextos - Peridico mensal de textos de arquitetura
29/6/2005http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq039/arq039_02.asp
-
merecedor de proteo especial e digno de fazer parte do conjunto de bens materiais e imateriais considerados como aqueles mais representativos das diferentes culturas, integrando a Lista do Patrimnio da Humanidade (28). Alm das discusses conceituais, os encontros internacionais entre representantes dos diversos pases-membro geraram cartas internacionais de doutrina e compromisso, das quais o Brasil signatrio, que tinham como objetivo orientar a gesto desses bens e os trabalhos necessrios sua preservao.
A partir do incio dos anos 90, o conceito de universalidade foi sendo substitudo pelo de representatividade. A lista de bens considerados patrimnio da humanidade passou a contemplar novas categorias de patrimnio cultural (pode-se mesmo dizer: todas as categorias da expresso cultural), sensvel abertura conceitual na rea da cultura e reivindicao dos direitos culturais dos cidados do mundo na sua diferena e especificidade. Porm, mais uma vez, as decises no se fizeram acompanhar de discusses conceituais sobre critrios. A listagem inchou, perdeu os contornos, pretendendo assumir a forma e a dimenso da geografia cultural do planeta. Por outro lado, a inscrio na lista passou a ser considerada uma espcie de reconhecimento e, portanto, um direito a ser reivindicado, ou ento um selo de qualidade, conferindo-lhe importncia para alavancar inclusive operaes econmicas, como a explorao turstica. Ao se lembrar que a Unesco um organismo internacional, composto por Estados que votam pela inscrio dos bens culturais, compreensvel que as decises tenham passado a sofrer crescente ingerncia poltica, em detrimento da argumentao tcnica (29).
Esses fatos somados fizeram com que o trabalho do frum internacional para identificar os bens patrimoniais da humanidade perdesse legitimidade e deixasse de ser o palco privilegiado de debate sobre a idia de patrimnio, no momento mesmo em que se colocam a urgncia e a atualidade desse debate. O Comit do Patrimnio Mundial chegou a suspender por um ano qualquer nova inscrio na Lista de Patrimnio da Humanidade para que fosse possvel recuperar critrios e rever a sua ao nos ltimos anos.
Na verdade, a deciso de se estabelecer uma listagem de bens considerados patrimnio de todos os homens colocou cedo o problema da universalidade dos valores culturais no mbito de atuao do patrimnio. A rediscusso do seu papel hoje, com certeza, dever apontar para o estabelecimento de um grande pacto, o pacto necessrio entre a comunidade onde se situam os bens eleitos, a nao que eles representam, e o interesse de toda humanidade. Portanto, no se deveria mais falar em descentralizao e autonomia na proteo do patrimnio cultural se no se conseguir ultrapassar as fronteiras dos Estados, dos municpios e da prpria federao para situar a questo em um plano internacional, que tambm privilegie a diversidade e defenda o direito diferena. Um plano que de compromisso e responsabilidade de todas as partes, de todas as instncias, considerando-se, em um extremo, a perspectiva de um pacto global e, no outro, a garantia do direito cultural de cada cidado.
Em outras palavras, de todos esses rios maravilhosos o Amazonas maior em volume de gua, o Nilo maior em extenso ou o mais belo Tejo do poeta , fico com o rio que corta a minha aldeia, o rio da minha infncia, consciente de que ele afluente de todos os outros, que se juntam para formar todos os oceanos.
Notas
1 Nota da autora Artigo originalmente publicado na revista So Paulo em Perspectiva, Fundao SEADE, volume 15, n.2 ("Cultura - Vida e Poltica), abr./jun. 2001. Na poca da publicao original desse artigo ainda no havia sido promulgado o Decreto Federal n. 3.551, de agosto de 2000, instituindo o "Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial", o qual, por essa razo, no citado, apesar de termos acompanhado de perto os trabalhos do grupo que conceituou o problema e elaborou a minuta do texto do Decreto. Os dados sobre Patrimnio Cultural no Estado de So Paulo contidos no Guia Cultural, publicao da Fundao SEADE para Secretaria de Estado da Cultura, alguns deles citados neste artigo, acabaram de passar por uma atualizao (concluida em julho de 2003) e em breve sero disponibilizados pelos sites da Secretaria e da Fundao.
2 BABELON, J.-P. e CHASTEL, A. La notion de patrimoine. Paris, Liana Levi, 1994 (1a. ed. Revue de lArt, 49/1980).
3 FONSECA, M.C.L. O patrimnio em processo: trajetria da poltica federal de preservao no Brasil. Rio de Janeiro, UFRJ/Iphan, 1997, p. 54-59.
4 Idem, ibidem, p. 115.
5 CASTRO, S.R. de. O Estado na preservao de bens culturais. Rio de Janeiro, Renovar, 1991.
Pgina 5 de 7Arquitextos - Peridico mensal de textos de arquitetura
29/6/2005http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq039/arq039_02.asp
-
6 FONSECA, M.C.L. Op. cit., p. 72-79
7 MEC. Proteo e revitalizao do patrimnio cultural no Brasil: uma trajetria. Braslia, Secretaria do Patrimnio Histrico e Artstico Nacional/Fundao Pr-Memria, n.31, 1980, p. 25.
8 MEC. Op. cit., p. 139-142.
9 ARANTES, A. A. (org.). Cultura e cidadania. Revista do Patrimnio. Rio de Janeiro, Iphan, n.24, 1996, p. 11.
10 SANTOS, J. L. dos. O que cultura. So Paulo, Brasiliense, 1999.
11 SANTOS, J. L. dos. Op. cit.
12 BOSI, A. Dialtica da colonizao. So Paulo, Cia. das Letras, 1993.
13 Estas idias foram desenvolvidas na Introduo do Guia Cultural do Estado de So Paulo, Fundao Seade e Secretaria da Cultura do Estado, 2001. Ver tambm www.unesco.org.
14 FUNDAO SEADE; SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. Guia Cultural do Estado de So Paulo. So Paulo, Fundao Seade, 2001, Temtico II: 500.
15 LEVI-STRAUSS, C. Tristes tropiques. Paris, Plon, 1985.
16 SANTANNA, M.G. Da cidade-monumento cidade-documento: a trajetria da norma de preservao de reas urbanas no Brasil (1937-1990). Dissertao de Mestrado. Salvador, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia, 1995.
17 ARGAN, G.C. A histria da arte como histria da cidade. So Paulo, Martins Fontes, 1992.
18 ARGAN, G.C. Op. cit.
19 Marcilio Ficino apud ARGAN, G.C. Op. cit., p. 223.
20 BOSI, E. Memria e sociedade. So Paulo, T.A. Queiroz Editor, 1979.
21 BOSI, E. Op. cit.
22 Folha de S.Paulo, 05/06/2000
23 Ver a Introduo do Guia Cultural do Estado de So Paulo, Fundao Seade e Secretaria da Cultura do Estado, 2001. Ver tambm www.unesco.org.
24 MALLIER, J. Patrimoine culturel et dveloppement durable: em quoi sont-ils lis? ICCROM chronique. Roma, Centre International dtudes pour la Conservation et la Restauration des Biens Culturels, n.24, 1997.
25 LAENEN, M. Editorial. ICCROM chronique. Roma, Centre International dtudes pour la Conservation et la Restauration des Biens Culturels, n.24, 1997.
26 ARANTES, A. A. Op. cit.
27 ARANTES, A. A. Op. cit.
28 HALEVY, J.-P. Patrimoine mondial, patrimoine franais. Les cahiers de la ligue urbaine et rurale. Paris, Patrimoine et Cadre de Vie, n.150, 2001. Ver do mesmo autor: HALEVY, J.-P. La crise du patrimoine en France et au Brsil notes pour une confrence, in-folio, 1996.
Pgina 6 de 7Arquitextos - Peridico mensal de textos de arquitetura
29/6/2005http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq039/arq039_02.asp
-
29 HALEVY, J.-P. Op. cit.
30 Outras referncias bibliogrficas do texto: 1. CHOAY, F. Lallgorie du patrimoine. Paris, Seuil, 1992; 2. COELHO, J.T. Dicionrio de poltica cultural. So Paulo, Iluminuras, 1999; 3. LEMOS, C.A.O. O que patrimnio histrico. So Paulo, Brasiliense, 1981 (Coleo Primeiros Passos); 4. SOUZA FILHO, C.F.M. de. Bens culturais e proteo jurdica. Porto Alegre, Unidade Editorial, 1997.
| 039 | 039.01 | 039.02 | 039.03 | Download | Autor | Assunto | Nmeros | Textos especiais | Pgina principal | Vitruvius |
Pgina 7 de 7Arquitextos - Peridico mensal de textos de arquitetura
29/6/2005http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq039/arq039_02.asp








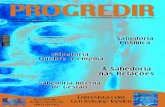

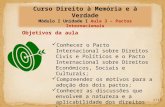
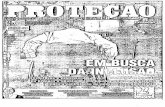
![*UXSR - · PDF file&$'$6752 3rvlomr 3dxor *hudogr 3roh]l 'luhwru h 5hodo}hv frp ,qyhvwlgruhv 5hlqdogr 5lfkwhu 'luhwru 6lhjiulhg .uhxw]ihog 'luhwru](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5a7eed037f8b9a563b8efaaf/uxsr-6752-3rvlomr-3dxor-hudogr-3rohl-luhwru-h-5hodohv-frp-qyhvwlgruhv.jpg)







