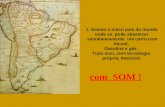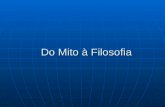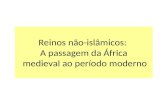A escrita da História no período moderno
-
Upload
helio-smoly -
Category
Documents
-
view
241 -
download
13
Transcript of A escrita da História no período moderno

1
IIIA escrita da História no período moderno: arte ou ciência, verbo ou fonte.
História. Narração feita com arte: descrição cuidadosa, ininterrupta e verdadeira dos fatos mais marcantes e das ações mais célebres. Dicionário de Trévoux, art. “História” (1752).
História é a narração de fatos tidos por verdadeiros, ao contrário da fábula, que é a narração de fátos tidos por falsos. Voltaire. Encyclopédie, art. “História” (1765).
K. Pomian [1984] usa uma imagem sugestiva para mostrar a ambiguidade do estatuto epistemológico da história no período moderno. Ele afirma que, a partir do século XVI, foi possível distinguir dois caminhos diferentes na disciplina: o primeiro levou à narração, criando a história-arte, e o segundo levou à pesquisa, e à história-ciência. Raros foram os historiadores que buscaram um outro caminho entre esses dois extremos. A ruptura fundamental entre os adeptos de um ou outro caminho foi causada pela divergência na percepção do tempo. Para os primeiros, a história do passado subordinava-se ao presente: os fatos eram narrados em ordem cronológica. Para os segundos, o passado era descrito como tal, por meio de uma análise das fontes que permitisse uma reconstituição intelectual.
Até cerca de 1560, os historiadores escreviam principalmente sobre o seu próprio tempo: os anais baseavam-se nas observações do historiador ou nos testemunhos que ele havia coletado; as histórias sobre o passado longínquo consistiam em compilações de historiadores anteriores. A historia era vista mais como arte que como ciência e apresentava-se como uma narração de grandes feitos.
Foi somente em meados do século XVI que a história erigiu-se em disciplina na França. O historiador começou a reconstituir o passado com o auxílio de documentos escritos e não escritos. Essa revolução epistemológica fundou-se, como mostrou A. Momigliano [1983], na distinção entre fontes originais c fontes de segunda mão. Após a grande contribuição dos humanistas, com a critica da Doação de Constantino de Nicolas do Cues e Lorenzo Valla, diferenciamos duas etapas nesse processo do mutação: a segunda metade do século do XVI foi marcada pela ideia de história perfeita (1560-1600) e o fim do século XVII, pelo nascimento da diplomática (1681).
Mas o questionamento das fontes, a explanatio, permaneceu dissociada da escrita da historia, a dispositio: cabia aos historiadores literários a arte da narração, e aos eruditos c antiquários a organização dos fatos elaborando memórias e corpus. Foi somente em breves períodos, particularmente no fim do século XVI, que a erudição associou-se a um relato organizado e os dois caminhos de K. Pomian puderam unir-se.
A historia na França do século XVII: do modelo italiano à historia perfeita
O Renascimento foi um período marcado pela consciência de uma ruptura entre o passado e o presente. O conceito do modernidade recusava o passado recente, o legado medieval, para espelhar-se no modelo de um passado remoto, o da Antiguidade. A redescoberta da Antiguidade levou ao nascimento da historia humanista e da arqueologia e à erudição critica dos juristas e eclesiásticos. A historia humanista floresceu na primeira metade do século XVI. Em 1560, a publicação da obra Recherchcs de la France (Pesquisas da França) de Etienne Pasquier marcou o inicio de Lima nova escrita da historia, a “historia perfeita”.

1
A historia “humanista”: uma arte literária moral e politica
No inicio do século XVI, os humanistas redescobriram os historiadores gregos e latinos. Os historiadores não pretendiam imitá-los escrevendo as histórias da Grécia e de Roma, mas sobretudo escrevendo a historia de seu próprio pais e de sua cidade no período contemporâneo, ou no passado próximo. Maquiavel, por exemplo, escreveu a Histoire de Florence (História de Florença) em 1525. Os historiadores italianos trouxeram para a Europa essa nova historia “patriótica”: o veronense Paolo Emilio foi designado por Luís XII para escrever a historia da monarquia francesa, segundo o modelo de Tito Lívio. Se sua obra De rebus gestis, francorum (1516-1539) retomou amplamente as crónicas medievais, ele destacou a história politica e militar - fazendo de Carlos Magno um verdadeiro general romano - e excluiu os milagres e os episódios legendários. Essa obra foi um imenso sucesso, sendo reeditada oito vezes - sem contar com as traduções feitas em francês.
Floresceu, portanto, uma historia politica voltada as ações dos grandes homens, que não negligenciava a análise moral e psicológica de seus personagens, a moda de Plutarco ou Suetônio. Não havia espaço para a historia da sociedade ou das instituições nessa historia consagrada aos grandes feitos e personalidades. Os historiadores escreviam como homens políticos, servindo-se do passado para provar a exatidão de suas ideias. A historia constituía um vasto poço de exemplos de virtude e sabedoria, onde os homens de Estado poderiam iniciar-se na arte de governar, ao exemplo de Plutarco. Robert Gaguin, tradutor de Cesar, escreveu sobre seu modelo um Compendium de francorum origine et gestis (1495), vasta historia da França que esperava ser útil ao rei.
A historia não estava longe do gênero literário. Seguindo os conselhos de Quintiliano, o historiador tinha total liberdade para dramatizar, multiplicar os discursos fictícios, os detalhes pitorescos, afim de prender a atenção do leitor. Esses autores não deixaram de compilar as crónicas e, se consultavam os arquivos, era sem exercer sobre eles o menor controle critico. Em compensação, utilizavam abundantemente testemunhos e observações pessoais, seguindo o modelo de cronistas como Philippe de Commynes, Jacques Augustin de Thou, um parlamentar que desempenhou um papel politico relevante durante as guerras de religião, escreveu Historia mei temporis (História do meu tempo), publicada de 1604 a 1608. Escrita em latim e fortemente inspirada de Tito Lívio, essa história da França e uma verdadeira obra-prima de lucidez e inteligência.
O interesse suscitado pelos textos antigos levou rapidamente os humanistas a se interessarem pelos monumentos e outros vestígios greco-romanos.
Os “antiquários”
Na Histoire d’Auguste (História de Augusto), o Imperador Gordiano o Jovem era descrito como um belo homem. Ao ler essa obra, Petrarca anotou na margem de seu livro: "Se tivesse sido o caso, ele teria contratado um escultor medíocre." F. Haskell [1995, p. 27] remontou ao Renascimento essa etapa importante do pensamento histórico, em que pensadores como Petrarca confrontavam texto e imagem e atribuíam o mesmo interesse a ambas as fontes. Mas foi uma pratica que não deixou seguidores. Decerto, o humanismo impulsionava os historiadores a se interessarem pelos vestígios da Antiguidade - estatuas, arcos do triunfo e outros monumentos descobertos nas escavações - mas a afluência de manuscritos vindos do Oriente estabeleceu a hegemonia das fontes escritas, relegando as imagens a uma posição escandiria. O estudo dos monumentos foi realizado pelos antiquários (nossos atuais “arqueólogos”) e teve pouca incidência sobre os escritos históricos. Esses estudiosos interessarem-se essencialmente pelas moedas, por razoes materiais - facilidade de circulação e custo reduzido - e cientificas – datação segura. Em seu tratado sobre a moeda

1
romana, De Asse, Guillaume Budé fundou a Numismática. Essa nova disciplina desenvolveu-se na Europa a partir do 1550 c culminou no século XVII com os eruditos E. Spanheim e J. Spon [SCHNAPPER, 1988, p. 119s]. Os numismáticos defendiam a autenticidade dos vestígios materiais contra as fontes escritas, visto que eram muitas vezes adulteradas pelos copistas. As moedas eram a “prova” de que as narrações encontradas nos livros eram verídicas. Sua função era apenas confirmar a autoridade dos documentos impressos. Ademais, um numismático como J. Spon analisava apenas as inscrições das medalhas, seguindo a tradição da transmissão escrita, ignorando praticamente todas as suas imagens: portanto, as medalhas eram consideradas como textos e seu caráter artístico permanecia completamente desconhecido.
A redescoberta da Antiguidade também influenciou a escrita da história de modo mais decisivo, impondo o estudo critico das fontes.
A "historia perfeita "
O desejo de retorno a pureza dos textos antigos levou os humanistas italianos a fundarem uma nova ciência chamada filologia, cujo método era a análise critica dos textos. Tratava-se de encontrar os manuscritos antigos para purga-los dos erros dos copistas da Idade Media. Vale lembrar o celebre exemplo de Lorenzo Valla (1407-1457) que constatou a falsidade da Doação de Constantino. Esse documento fabricado nos ateliês pontificais do século XII afirmava que o Imperador Constantino havia conferido ao Papa Silvestre a possessão de Roma e Itália. Se, num primeiro momento, os defensores do poder pontifical valeram-se dessa obra para confirmar a legitimidade de sua tese no conflito que opunha o papa e o imperador, mais tarde, os protestantes publicariam o estudo de Valla para depreciar o papado. As controvérsias que nasceram com a Reforma desempenharam um papel de extrema importância na critica das fontes: tanto os cat6licos como os protestantes recorriam aos documentos para provar a veracidade de suas convicções, como mostrou a polemica a respeito da Papisa Joana, que teria usurpado o trono pontifical no século IX. Os protestantes valeram-se dos anais medievais para revelar a verdade, mas os católicos conseguiram provar que eles datavam do século XIV, ou seja, de um período posterior ao acontecimento que aqueles pretendiam provar. Como esses conflitos violentos exigiam provas irrefutáveis para convencer o adversário, surgiram novos instrumentos: publicações de fontes - Padres da Igreja, concílios, sínodos, crónicas, vidas dos santos, obras de teólogos - , mas igualmente referencias a documentos originais pelo sistema de notas infra paginais e citações entre aspas. Foi portanto graças ao uso polemico dos documentos que, paradoxalmente, a história erudita pôde evoluir [POMIAN, 1999].
O papel dos juristas
Foi igualmente através das faculdades de direito que os novos métodos da filologia difundiram-se na França. Professores célebres como Jacques Cujas e François Hotman ensinaram ali o mosgallicus, o método francês de interpretação do direito, baseado na filologia e na história. Tratava-se de estudar a evolução das leis no seu contexto hist6rico, atrav6s da pesquisa dos documentos originais e de sua critica. Esse retorno as fontes originais foi aplicado ao direito e logo depois a história. Como mostrou G. Huppert [1972], os historiadores franceses do Renascimento pertenciam a nobreza: eram filhos de advogados, oficiais e magistrados destinados a ocupar os cargos nos tribunais de justiça, em particular nos parlamentos, ou na administração real [KELLEY, 1970]. Educados em colégios humanistas, tom uma formação precoce em línguas clássicas, eles ingressavam nas faculdades de direito de Bruges, Valence, Toulouse, Orléans, onde aprendiam os novos

1
métodos do mos gallicus. Partidários de um poder real forte e contrários aos huguenotes e as pretensões temporais do papado, eles eram movidos por um espirito patri6tico e anti-italiano. Uma paixão comum pela história os unia, uma paixão que despertava o amor pela França e pela ciência.
Discurso do método
Esses juristas aspiravam criar uma “história perfeita”, ou uma “história nova”, segundo a expressão de La Popelinière, em relação aos cronistas medievais e aos antigos. Entre uma série de tratados teóricos publicados, os mais célebres foram os de Jean Boudin e de Henri de La Popelinière.
No seu Methodus ad facilem historiae cognitionem (Método para uma fácil compreensão da história, 1566), Jean Boudin definiu a história como uma ciência humana, distinta tanto da história natural, reservada aos eruditos, como da história sagrada, reservada aos teólogos. A história explica as ações do homem em sociedade”. Desse modo, Bodin abandonou as questões que interessavam aos historiadores medievais - o mito da era dourada, a data do fim do mundo - para explicar racionalmente a formação e a extinção dos Estados ou o desenvolvimento e o declínio das civilizações. Fazer uma história “universal” não era mais analisar o mundo desde suas origens míticas, mas considerar cada civilização ou nação em todos os seus aspectos: económico, social, institucional, religioso, cultural.
Em sua Histoire des histoires, avec l'idee de l'histoire accomplie (História das histórias, com a ideia da história perfeita) (1599), Henri de La Popelinière definiu um novo critério para a disciplina: o historiador deveria explicar os fatos, e não somente preocupar-se em descreve-los. Esse sonho de história universal fundava-se na utilização das fontes: o historiador deveria recusar as lendas e os milagres das crónicas medievais ““nada é mais inconveniente para o historiador que a mentira e a fabula”) e controlar minuciosamente as fontes, seguindo o método rigoroso e imparcial dos fi1ólogos e juristas.
A história nacional
Se Bodin e La Popelinière foram os teóricos da nova história, em 1560, Etienne Pasquier havia aplicado seus métodos nas Recherches de la France (Pesquisas da França), obra-prima da “história perfeita” publicada num contexto de crise para o pais [VIVANTI, 1986]. O ano precedente tinha visto o triunfo da Espanha e a derrota da França contra a Itália, a morte de Henrique II e o inicio da longa regência de Catarina de Médicis, enquanto o cisma religioso dividia cada vez mais os franceses. Para os parlamentares, entre os quais figurava Pasquier, o desafio politico era garantir o poder real em face dos grandes senhores dispostos a firmar um acordo com o rei de Espanha, mas também procurar para o reinado bases mais sólidas que a figura de um soberano.
Como seu título indica, tratava-se de descrever a história do povo francês. Ao recusar relatar a história militar e política tradicional, Pasquier voltou-se à sociedade francesa de modo quase enciclopédico, estudando a história das instituições, da poesia, da língua e da cultura. Podemos considerá-lo um dos "primitivos" da etnografia da França por suas reflexões sobre os costumes, o vestuário ou os antigos provérbios desse país. Sua narrativa também era original: ele não buscava expor um relato contínuo, mas um conjunto de ensaios fundados cada um num cor pus documentário. Em vez de explorar os documentos sem citá-los, como era de costume, ele transpunha longas passagens, transgredindo os preceitos retóricos e seguindo seu próprio princípio: “Dizer somente aquilo que possa provar”. Ele foi o primeiro historiador a realizar um estudo crítico dos autos de Joana d'Ac.

1
Ao abandonar definitivamente as origens troianas dos reis francos, Pasquier começava sua história da França com os gauleses que, segundo ele, haviam sido injustamente depreciados pelos romanos. Pasquier queria provar que a instituição mais importante de seu tempo, o Parlamento, provinha das assembleias dos nobres que desempenharam a função de Conselho real na Gália céltica. Ao longo da história da França, elas haviam impedido o exercício da tirania da autoridade real e da anarquia feudal; dessa forma, Pasquier legitimava a importância do Parlamento na monarquia.
Mas a busca das origens levou Pasquier ao relativismo: como produtos da história, as leis, os costumes e os rituais sofriam mudanças. Tudo era impermanência, “mutação”, dizia ele, que recusava qualquer filosofia da história: a providência não tinha nenhuma função em sua obra (o que lhe valeria o apelido de libertino por parte dos jesuítas). Numa época de crises, esse humanista erasmiano defendeu virtudes historicamente comprovadas: a paz, a unidade nacional, a tolerância religiosa e a cultura. Em todos os aspectos, Étienne Pasquier parecia-se a Montaigne, que vinha do mesmo meio social e com quem mantinha correspondência.
Sua obra teve um enorme sucesso e uma continuação, em particular, com Claude Fauchet na sua obra Antiquités gauloises et françaises (Antiguidades gaulesas e francesas) (1599-1602).
O século XVII: da história literária à história erudita
A ideia de uma decadência da história estava ligada ao Grande século [UOMINI, 1998]. Ela resultou amplamente dos trabalhos de historiadores especializados no século XVI como G. Huppert, para quem o classicismo, excluindo o direito privado e público da história, havia interrompido o trabalho fecundo dos juristas, enquanto a implantação da monarquia absolutista havia reduzido a história da França à glorificação de seus reis. Além disso, o entusiasmo do público da época pelos historiadores literários encobria o trabalho mais obscuro dos eruditos e antiquários que, no silêncio dos monastérios e dos gabinetes, continuavam o estudo das fontes que os juristas haviam começado um século antes. Graças a eles, terminava no século XVII a revolução epistemológica iniciada no Renascimento: podemos datar o nascimento da história como ciência em 1681, com a publicação da Diplomatique (Diplomática) de Mabillon.
A admiração pela história da França
A história da França na Idade Clássica retomou as características principais da história humanista, optando por narrar a biografia de grandes personalidades históricas. A história da monarquia francesa limitou-se a uma sucessão de reis, cujas ações principais eram detalhadas e julgadas moralmente [GROSPERRIN, 1982; TYVAERT, 1975]. Ao historiador atribuiu-se uma tripla missão: política, moral e de diversão, seguindo o modelo de autores anti¬gos, como Plutarco, Cícero ou Tito Lívio.
Uma história a serviço do príncipe
A implantação do Estado monárquico apoiou-se, durante o período moderno, na escrita de uma história oficial: vimos que a pedido de Luís XII, Paul-Émile tivera como missão escrever a nova história da monarquia. A missão do historiógrafo, ou melhor, do escritor subsidiado pelo rei para escrever a história oficial, criada em 1437, teve uma grande importância na primeira metade do século XVII, como aponta O. Ranum [1980]; de fato,

1
nessa fase crucial de implantação do absolutismo, era necessário justificar o fortalecimento do poder real. Entre esses historiadores, podemos citar Scipion Dupleix, historiógrafo de Luís XIII, autor de uma monumental Histoire générale de France (História geral da França) (1621-1628), e, sobretudo, François Eudes de Mézeray, que publicou em 1643 a Histoire de France delmis Pharamond jusqu'à maintenant (História da França desde Faramond até hoje), obra de grande sucesso que foi reeditada regularmente até 1830!
Esses historiógrafos eram os “artesãos da glória” dos reis da França, segundo a fórmula excelente de O. Ranum. Desde a Idade Média, a grandeza dos reis da França estava fundada na ancianidade de sua linhagem. Até o século XVII, a história da França não tinha ficado longe da exposição de genealogias das famílias nobres, seguindo uma série infinda de nascimentos, matrimônios e falecimentos dos reis. O sucesso biológico da realeza era interpretado como um sinal de eleição divina dos reis da França. Os historiadores oficiais reatavam com o mito medieval das origens troianas da monarquia, começando pelo reinado de Faramond. Decerto, eles não estavam convencidos da existência do rei mítico, mas, como o romance podia ultrapassar a realidade, os historiadores alcançaram a verdade da grandeza monárquica francesa através da figura de Faramond. Em 1714, o erudito Nicolas Fréret apresentou à Academia das Inscrições uma crónica denunciando as origens troianas dos reis de França em favor das origens gaulesas. Ele foi preso na Bastilha no mesmo ano. Seria por sua crônica ou por seu jansenismo? Seja como for, seu texto parecia bem subversivo para ser publicado somente em 1796.
Essa história encomiástica não dispensava os elogios mais ditirâmbicos: por criticar o poder real, o abade de Vertot revoltou-se contra a expressão “reis indolentes”para designar os últimos merovíngios. Os historiógrafos traçavam o retrato de “reis modelos” como São Luís ou Henrique IV. Voltaire, historiógrafo de Luís XV, contribuiu para que Luís XIV fosse um modelo de rei erudito. Vimos que, desde o Renascimento, os historiadores “humanistas” mostravam um grande interesse em tirar lições morais e políticas do passado. Para Furetiére, “a história é uma moral reduzida em ação e exemplo. É preciso que os homens vejam na história, como num espelho, a imagem de seus erros”. A história da França teve, portanto, um papel fundamental na educação dos reis: até o início do século XVIII, o ensino da história, denominada “a escola dos príncipes”, era um privilégio dos futuros homens de Estado [CORVETTE, in HALÉVI, 202, p. 111]. Os maiores historiadores escreveram histórias para os futuros reis: Cordemoy escreveu a história da França especialmente para o Grande Delfim de França, a quem foi igualmente dedicado em 1681 o Discours sur l'histoire universelle (Discurso sobre a história universal) de seu preceptor Bossuet.
A arte literária
Essa história oficial, que nos parece uma monótona litania de reinos, teve no século XVII um grande sucesso, como aponta Philippe Ariès [1954], atingindo um público mais vasto que as elites urbanas. Se os pesados infólio, muitas vezes ricamente ilustrados de retratos, como a história de Mézeray, eram inacessíveis ao grande público, havia inúmeros resumos impressos a preços reduzidos em Tróia e vendidos por colportores. Essas histórias eram escritas com o intuito de distrair e agradar o leitor.
Seguindo o modelo humanista, a história era uma arte retórica cujas qualidades literárias estavam acima de tudo: o estilo, mas também a unidade de ação, a arte de captar a atenção do leitor pelo relato de peripécias e anedotas, pela beleza dos discursos dos personagens e pelas reflexões profundas do autor. Essa história "oratória" não dispensava as fontes: o abade de Vertot respondeu a quem lhe trazia as fontes inéditas sobre a história do cerco de Ro¬des que ele estava escrevendo: "Estou irritado com isso, mas meu cerco está feito". O padre Daniel reconheceu a necessidade de citar referências, mas acreditava que o

1
recurso aos originais não era muito útil: “Li um bom número [de manuscritos]. Mas confesso que essa leitura me causou mais desgosto que alegria”. Os textos antigos tratavam de temas particulares, enquanto esses autores escreviam histórias gerais. Eles não voltavam a estudar os mesmos temas, mas tratavam de recompô-los. A história era feita pelos continuadores que aumentavam, resumiam e compilavam as obras de seus predecessores. A história permanecia a mesma, o fundo documentário não era nunca modificado, mas constantemente atualizado. Em 1740, o abade Velly chegou a descrever o rei merovíngio Childerico como um dandy do século XVIII. “Era o homem mais perfeito de seu reinado. Ele tinha uma forte personalidade, muita coragem, mas seu coração derretia facilmente por amor, o que, aliás, causou sua perda.” A história era um “relato dos mesmos fatos, com um estilo e um modo de narrar diferentes”. Assim, Philippe Ariès pôde escrever que havia uma história da França, como havia um Dom Juan ou uma Fedra: ou seja, um tema que cada historiador retomava para criar uma nova versão.
A história galante
Nunca a história romanceada teve tanto sucesso como no período de 1650 a 1750 [FUETER, 1914]. As histórias das revoluções europeias narradas por Antoine de Varillas, ou da crise do mundo cristão narradas pelo padre de Maimbourg seduziam um público interessado pelo universo romanesco. O público culto era igualmente ávido por "histórias secretas", nas quais se pretendia explicar os acontecimentos através das intrigas da vida privada. Um mestre incontestável desse gênero foi o abade de Saint-Réal, autor de Dom Carlos, nouvelle histoire (Dom Carlos, nova história) (1672) onde relatou a inveja de Filipe I I para com Dom Carlos, apaixonado por sua esposa, a rainha Elisabeth. Saint-Réal era um reputado historiador que havia escrito um tratado científico, De l'usage de l'histoire (O uso da história) (1671), no qual afirmava: “Conhecer a história é conhecer os homens e saber julgá-los; estudar a história é analisar as motivações, as opiniões e as paixões dos homens”. Embora se distanciasse da verdade, ele foi comparado a Salústio pela profundidade de suas descrições psicológicas, o que lhe valeu o título de moralista. Portanto, a fronteira entre a história e o romance era muito difusa, como foi o caso de La Calprenède, autor dos romances históricos Cléopâtre, roman fleuve (Cleópatra, romancerio) e Faramond ou l'histoire de France (Faramond ou a história da França), para os quais, afirmando conhecer perfeitamente as fontes, recusou o termo de romance: “Poderíamos considerá-los como histórias que enalteci com algumas invenções”. Seu Faramond era pouco merovíngio, assim como o Childerico do abade Velly era o retrato do jovem Luís XIV: “Os franceses sentiram uma grande alegria em serem governados por um príncipe tão nobre e amável”.
No entanto, a evolução do verdadeiro conhecimento histórico continuou após o Renascimento em muitos centros de pesquisa: no meio eclesiástico, jurídico e antiquário.
O nascimento da história como disciplina
A partir de 1680, a história passou por um período de crise na Europa: o triunfo das ciências exatas e, especialmente, da matemática, desvalorizou as disciplinas baseadas em testemunhos incertos [HAZARD, 1935]. No Discurso sobre o método de Descartes (1637), a história estava fundada na memória e em testemunhos não verificáveis, portanto era desprovida de interesse. As controvérsias religiosas e políticas contribuíram amplamente para seu descrédito. Os espíritos críticos, como Bayle, por exemplo, ressaltaram que se sabia pouco sobre o passado. O Padre Hardouin imputou esse ceticismo aos documentos literários; partindo do estudo da numismática, ele chegou à conclusão de que todos os textos antigos, exceto alguns escritos de Cícero, Virgílio e Plínio o Antigo, provinham de falsários italianos

1
dos séculos XIII e XIV! Quanto ao Padre Daniel van Papebroeck, ele publicou em 1675 o tratado Sur le discernement du fáux e du vrai dans les vieux parchemins (Sobre o discernimento do verdadeiro e do falso nos velhos pergaminhos), provando que todas as epístolas merovíngias eram falsificadas.
O nascimento do método (1680)
Dante do pirronismo histórico, a erudição beneditina reagiu com vigor [BARRET-KRIEGEL, 1988]. De fato, os beneditinos eram os principais conservadores das epístolas medievais; além disso, se ninguém dava importância às fontes narrativas, se não houvesse fonte primária que as confirmasse, que estatuto atribuir às Escrituras Santas? Em resposta ao jesuíta Papebroeck, o padre beneditino Mabillon publicou em 1681 De re diplomatica. Como demonstrou B. Guenée, a história tradicional distinguia os atos autênticos dos apócrifos. Mas “autêntico” significava ser caucionado por uma autoridade, uma instituição ou uma pessoa. Levava-se em conta principalmente a duração e o grau hierárquico do testemunho. Portanto, um texto era estimado em virtude de garantias externas. Para Mabillon, somente a análise “interna” da fonte, ou seja, a observação do suporte, da escrita, da tinta, dos títulos e expressões, da datação, do selo, provava sua autenticidade. Ele estabeleceu o princípio de que a equivalência entre duas fontes garantiria sua autenticidade. A autoridade da fonte substituía a autoridade da tradição. Portanto, o conceito de fonte que conhecemos hoje vem da erudição beneditina [A. MOMIGLIANO].
Todos esses esforços levaram à criação das ciências ditas “auxiliares” como a epigrafia, a numismática, a sigilografia, a paleografia.
Pesquisas e memórias
O segundo objetivo do setor antiquário foi reuniras fontes dispersas em inúmeros arquivos do reino: gabinete do rei, cortes soberanas, mosteiros e cidades. Tal missão não seria realizável sem uma equipe, entre as quais podemos destacar a congregação beneditina de Saint-Maur. Era na matriz de Saint-Germain-des-Près que se organizavam a cópia dos documentos. Os monges espalharam-se por toda a França, recolhendo materiais de depósitos centrais e provinciais. Sua missão foi notável tanto pela amplitude da pesquisa minuciosa, como pela diversidade de fontes reunidas: eclesiásticas, civis e privadas, mas também inscrições, retratos, moedas, brasões, selos, descrições de monumentos. No entanto,
ao privilegiarem os diplomas e as epístolas, as pesquisas dos beneditinos confirmaram a superioridade das fontes escritas e, entre elas, dos documentos públicos em relação aos privados.
Podemos citar o trabalho de Dom Claude Estiennot nos arquivos monásticos de Vexin, Berry, Poitou, Languedoc, Auvergne, Périgord, Gascogne, Provence, compondo 40 volumes infólio de cópias e notas de 1671 a 1684! A quantidade de erros e a desordem dessas coleções não diminuíram a importância desse trabalho arquivístico [NEVEU, 1994]. Foi em virtude dessa impotência que os eruditos foram criticados [GRELL, 1993]. Mas aos colegas que o acusavam de ser apenas um autor de catálogo, ou seja, um antiquário, Jean Mabillon respondia que ele era apenas um historiador priorizando a verdade a partir de documentos [BARRET-KRIEGEL, in GRELL & DUFAYS, p. 85].
Os beneditinos trabalhavam em colaboração com os eruditos laicos, como o historiador Charles du Cange. Os parlamentares ocupavam um lugar de destaque nas pesquisas históricas, pois os arquivos do reino estavam sob sua proteção [FOSSIER, 1987, p. 54-57]. Os eruditos eram membros da Academia das Inscrições e Belas Letras que desde 1701

1
favorecia a pesquisa arqueológica. Eles tinham consciência de fazer parte da República das Letras como aponta Pierre Bayle no seu Dictionnaire Historique et Critique (Dicionário Histórico e Crítico): "Se perguntassem ao historiador: de onde você é? Ele deveria responder: não sou nem francês, nem alemão, nem inglês, nem espanhol. Sou cidadão do mundo, não estou a serviço de nenhum rei, mas somente da verdade". A exigência de objetividade estava fundada, mas seria realizada algum dia?
A partir do século XVII, a história passou a ser uma disciplina erudita, submetida a regras coletivas de controle e verificação que favoreciam a reconstituição do passado, mesmo sem os registros de participantes ou testemunhas oculares. Assim, o ponto de vista do historiador observando o passado emancipou-se completamente das testemunhas oculares. "O passado tornou-se objeto de um conhecimento mediato que, a partir da análise de vestígios, reconstruía as circunstâncias que os haviam produzido" [PODIAM, 1999].
Com o século XVII, o processo de construção do passado - objeto de fé para a Idade Média- transformou-se em objeto de conhecimento.
Século das Luzes ou a impossível reconciliação entre erudição e filosofia
No século XVIII, a história apresentou duas visões divergentes: uma que pretendia estabelecer a verdade dos fatos pela acumulação descritiva, e a outra que operava pela construção intelectual. Voltaire foi o único que tentou conciliar erudição e reflexão, mesmo que tenha permanecido no âmbito da intenção.
Os antiquários e o nascimento da história da arte na França
O século das Luzes conheceu a "fascinação pelo antigo" que culminou com o neoclassicismo a partir de 1750. As escavações arqueológicas, com a redescoberta de Herculanum em 1711, Pompéia em 1748, mas também a viagem à Roma dos aristocratas no âmbito do Grand Tour contribuíram para esse renascimento do passado.
Em 1719, foi publicado o primeiro dos dez volumes da obra L 'Antiquité expliquee et représentée en figures (A Antiguidade explicada e representada por figuras) do beneditino Bemard de Montfaucon. Esse especialista de crítica textual - e fundador da paleografia grega - não muito satisfeito com os trabalhos sobre a Antiguidade, desejava produzir um corpus de material não controverso: “Pelo termo Antiguidade, eu entendo que seja somente aquilo que possa ser visto e representado por imagens, o que não deixa de ser um vasto campo”. Para reunir as 30.000 ilustrações que compunham sua obra, ele viajou por toda a Europa em busca de desenhos, auxiliado por uma rede beneditina. Ele foi o primeiro a reunir em pranchas gravadas todos os testemunhos literários relacionados aos objetos reproduzidos. Embora Montfaucon afirmasse que “as imagens históricas mudas revelavam o que os autores antigos não sabiam”, sua obra não era propriamente falando histórica, visto que a cronologia era raramente respeitada: uma deusa grega podia figurar ao lado de uma simples moeda numa fascinante desordem. Essa publicação alcançou um imenso sucesso, sem dúvida em razão da evidente fascinação de Montfaucon pelas obras antigas que finalmente divulgava ao público.
Mais uma vez Montfaucon foi o primeiro a desenvolver o corpus de fontes figurativas da Idade Média com sua obra Les Monunicnis da Ia Monarchietançaise (Os monumentos da monarquia francesa) publicada entre 1729 e 1732. Ele inspirou-se na coleção de Roger de Gaignières, que reunia milhares de peças sobre a história da França reproduzidas em cores. Montfaucon, como Gagnières, queria oferecer imagens autênticas para a ilustração de obras consagradas à história nacional, do século V ao XV. Ele classificou as imagens por ordem cronológica para facilitar o entendimento da narração. Devido à falta de sucesso, a publicação

1
foi interrompida, mas alguns anos mais tarde o maior medievalista do século XVIII, La Cume de Sainte-Palaye, aplicou suas análises aos monumentos nacionais e inaugurou o gosto “trovador” que se difundiu na França nos últimos anos do Antigo Regime [PUPIL, 1985].
No âmbito da pesquisa iconográfica que estava em plena expansão, a obra do conde de Caylus marcou uma etapa importante: esse antiquário publicou o Recueil des antiquités (Antologia das antiguidades) de 1751 a 1767: enquanto os monumentos eram considerados apenas como complementos e provas da história, sua intenção era mostrar que “as esculturas e pinturas permitiam, tanto quanto os livros, discernir a particularidade de cada nação, seus costumes e sua mentalidade”. A imagem tornava-se um documento único e completo da mesma maneira que o documento impresso.
Mas os historiadores davam pouca importância a essas pesquisas e os antiquários publicavam suas antologias na indiferença. No entanto, Voltaire distinguiu-se da maioria, por ter compreendido a importância das artes plásticas para o estudo de uma época. Ao remeter o estudo das artes e dos artistas para o suplemento de sua obra O século de Luís XIV, ele contribuiu de modo decisivo para determinar a visão dos historiadores posteriores, pois ainda hoje os livros de história política e social reservam o último capítulo para o tema da “Arte, literatura e ciências” [HASKELL, 1955, p. 293].
A história filosófica ou a filosofia da história
No século XVIII, a erudição beneditina dedicou-se ao estudo história das províncias francesas: foram publicadas as obras Histoire générale et particulière de Bourgogne (História geral e Particular de Bourgogne) (1739-1748) de Dom Urbain Plancher e Histoire générale de Languedoc (História geral de Languedoc) (1733-1755) de Dom Vaissete e Dom Devic. Outra missão beneditina considerável foi a obra Gallia Christiana, história eclesiástica da França, cuja publicação começou em 1715.
O método cumulativo e descritivo desses eruditos, eclesiásticos em sua maioria, não podia deixar de exasperar os filósofos em busca de ideias. Os filósofos não pouparam sarcasmos para com esses historiadores que “trabalhavam mais com as mãos que com o cérebro”. Para D'Alembert, “a ciência da história, quando não é auxiliada pela filosofia é o último dos conhecimentos humanos” e no sistema de conhecimentos da Enciclopédia, ele a definiu como uma ciência da memória e não da razão. As críticas severas dos filósofos aos eruditos dissimulava certamente a culpabilidade dos primeiros, como afirma E. Fueter. Não foi sem razão que os filósofos evitaram a história da Idade Média e privilegiaram os séculos XVI e XVII, onde estavam seguros e não precisavam temer um paralelo com a erudição beneditina: Voltaire escreveu a história Medieval da França sob o título prudente Ensaio sobre os costumes, enquanto sua grande obra foi O século de Luís XIV. Ele reatou com a história humanista que encontrava no passado mais recente um terreno privilegiado. Os filósofos também conservaram e didatismo dos historiadores clássicos. A missão historiadora do Século das Luzes parecia muitas vezes um ensaio de pedagogia política. Condillac, nomeado em 1758 preceptor do futuro duque de patina, Fernando de Bourbon, escreveu a Introduction à l’étude de l’histoire (Introdução ao estudo da história), com a intenção de fizer de seu aluno um príncipe letrado. Ele lhe apresentava os “soberanos modelos” como Henrique IV, e os contraexemplos, como Luís XIV [GUERCI, in GRELL & DUFAYS, 1990].
Em compensação, os filósofos inovaram questionando a evolução das sociedades humanas e buscando as leis gerais do desenvolvimento da civilização. Seu objetivo era descrever as etapas do lento progresso moral, intelectual e material da humanidade, apesar das fases de regressão. Podemos citar Turgot, Tableau philosohhique des progrès de l’esprit humain (Quadro filosófico dos sucessivos progressos do espírito humano) (1751), ou

1
Condorcet, Esboço de um quadro histórico dos progressos do espírito humano (1794). A história tornou-se especulação abstrata, arquitetura intelectual, mas se distanciou do estudo do passado humano: conhecemos a expressão inquietante e maravilhosa de Rousseau em seu estudo sobre a origem da desigualdade entre os homens: “Comecemos então por afastar todos os fatos”.
A obra histórica de Voltaire dominou esse campo por sua imensa produção e originalidade. Entretanto, sua carreira de historiador começou de modo clássico, a serviço do rei. Nomeado historiógrafo de Luís XV, ele publicou Poema de Fontenoy (1745). Mas desde 1750, após instalar-se em Berlim ao lado de Frederico II, ele foi afastado dessa tarefa. Mais tarde, ele confessaria que “é bem difícil que o historiógrafo de um príncipe não seja mentiroso” (Dicionário Filosófico). Ele escreveu então suas obras mais significativas: O século de Luís XIV, publicado em Berlim (1751), e Ensaio sobre os costumes (1756-1769).
No artigo "História" que redigiu para a Enciclopédia em 1765, ele declarou: “A história é a narração de fatos tidos por verdadeiros, ao contrário da fábula, que é a narração de fatos tidos por falsos”. Para ele, o critério da narração histórica não estava fundado na arte, mas na legitimidade.
Ele lia os eruditos, mesmo se zombasse dessa leitura, e ia à “casa do inimigo”, ou seja, aos arquivos beneditinos, para consultar as fontes: “E ótimo que haja arquivos sobre tudo para que possamos consultá-los em caso de necessidade”. Original pelo fato de recorrer às fontes, Voltaire também o era pela proposta de ampliar os documentos históricos a todos os campos da atividade humana: registros de comércio, estado civil, entre outros. No entanto, Voltaire era adepto de uma história literária e a favor da vulgarização contra a erudição; as citações das fontes eram curtas e as notas de rodapé raras. Recensear os documentos não era suficiente, eles deviam favorecer uma reflexão sobre a evolução das sociedades. Voltaire opunha à história narrativa dos compiladores dos séculos precedentes, uma história explicativa que demolia o mecanismo das causas. Para ele, o questionamento era consubstancial à abordagem histórica: Quem? Quando? Como? Por quê? Tal era o questionamento ao qual o historiador devia submeter suas fontes.
O principal mérito de Voltaire foi ter ampliado consideravelmente o campo da história: em nível geográfico, ele reconsiderou a origem do mundo, descartando as origens bíblicas e elegendo países como a China e a Índia “que inventaram quase todas as artes, antes que nós mesmos tivéssemos aprendido alguma”. A ampliação foi também conceitual: de uma história feita de grandes acontecimentos políticos e militares, ele passou a uma história estrutural, integrando a economia em seu campo de estudo - ele foi o único, entre Maquiavel e Marx, a introduzir dados econômicos na explicação da evolução histórica -, a demografia, as técnicas, as ciências, as artes e os costumes. Assim, no Século de Luís XIV, ele substituiu o habitual plano cronológico pelo “plano compartimento”, estudando separadamente a história militar, a política econômica de Colbert ou a história da arte.
Os limites de sua obra foram abundantemente ressaltados, principalmente por Henri Duranthon; Voltaire não teve tempo para alcançar seus objetivos [DURANTHON, in LAPLANCHE & GRELL, 1987], permanecendo muitas vezes no nível da história sarcasmo. Foi na Inglaterra que a erudição e a reflexão puderam ser reconciliadas pelo historiador Edward Gibbon, autor da História do declínio e da queda do Império Romano (1776-1788), obra-prima que associava elegância narrativa, profundidade de análise e amplitude de conhecimento.
O passado a serviço do presente
A partir da primeira metade do século XVIII, a ordem estabelecida entrou em crise. O passado deveria explicar o presente, propor soluções à corrupção dos costumes e das

1
instituições. Se nos séculos anteriores, a história era usada para legitimar a monarquia, a partir do Século das Luzes, ela passou a legitimar as oposições. As preocupações políticas não pouparam a história antiga: Montesquieu, em sua obra Considerações sobre as causas da grandeza dos romanos e de sua decadência (1734), retomou a imagem até então positiva do Imperador Augusto: sua tirania era dissimulada sob o falso respeito pelas instituições republicanas. Ele visou igualmente o absolutismo de Luís XIV, enquanto Esparta era erigida em modelo por filósofos-historiadores como Mably [GRELL, 1995].
Os historiadores interessaram-se pelas origens da nação, dividindo-se entre “romanistas” e “germanistas”. Os parlamentares serviram-se da história para defender seus interesses políticos [CARCASSONNE, 1927]. Retomando a tradição inaugurada por Étienne Pasquier, eles queriam provar que o parlamento descendia da curia regis medieval, e que portanto era uma instituição tão antiga quanto a monarquia. O best-seller dessa história-propaganda foram as Lettres historiques sur les fónetions essentielles du Parlement (Cartas históricas sobre as funções essenciais do Parlamento) do advogado jansenista Le Paige, publicadas em 1753. Quem passava a defender a glória do rei eram os particulares. Entre os publicistas “realistas”, podemos citar o abade du Bos e sua Histoire critique de l’établissement de la monarquie dans les Gaules (História crítica do estabelecimento da monarquia na Gália) (1734), Jacob Nicolas Moreau, mas também Voltaire, que escreveu a Histoire du Parlement de Paris (História do Parlamento de Paris) para apoiar o “golpe” do chanceler Maupeou, demolindo as pretensões históricas parlamentares [GEMBICKI, 1979].
Essa utilização política da história levou a um movimento lógico de recusa da história: o abade Sieyès escreveu em sua obra Qu'est-ce que le tiers état? (O que é o Terceiro Estado?): “Não devemos desanimar se não vemos nada na história que possa convir a nossa posição”, anunciando a Revolução e a tábula rasa [POULOT, 1996].
Referência:
CADIOU, François et all., Como se faz a história: historiografia, método e pesquisa, - Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.