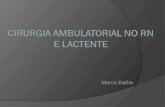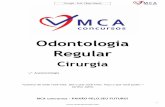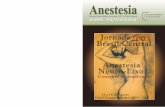Anestesiologia 10 anestesia ambulatorial - med resumos (set-2011)
-
Upload
jucie-vasconcelos -
Category
Education
-
view
5.745 -
download
4
Transcript of Anestesiologia 10 anestesia ambulatorial - med resumos (set-2011)
- 1. Arlindo Ugulino Netto ANESTESIOLOGIA MEDICINA P5 2009.2MED RESUMOS 2011NETTO, Arlindo Ugulino.ANESTESIOLOGIA ANESTESIA AMBULATORIALA anestesia ambulatorial compreende o atendimento a pacientes sob anestesia geral, locorregional oucombinada, com indicao de interveno cirrgica, exames diagnsticos ou procedimentos teraputicos, quepermanecem sob controle mdico at a plena recuperao das funes fsicas e psquicas, tendo alta para casa (em at12 horas) sem pernoite no hospital.Corresponde a 50-60% dos procedimentos cirrgico-anestsicos. Essa evoluo da taxa de incidncia deanestesias em contextos ambulatoriais se deve, principalmente, diminuio do efeito invasivo das cirurgias. Temposatrs, as grandes cirurgias eram realizadas na vigncia de poucos mtodos de antissepsia aliado aos atos cirrgicosextensos e pouco programados. Nos dias atuais, as cirurgias esto ocorrendo em planos de inciso cada vez menores.A anestesia ambulatorial j recebeu outras denominaes, como anestesia para pacientes externos, anestesiade curta durao e anestesia para pacientes de curta permanncia hospitalar. No entanto, o termo anestesiaambulatorial mais simples e j est universalmente consagrado, alm do que os procedimentos ambulatoriais no sorealizados exclusivamente em hospitais.Assim, de acordo com este conceito, muitas intervenes cirrgicas e exames diagnsticos podem serenquadrados no regime ambulatorial. A grande evoluo da anestesiologia no que diz respeito s tcnicas, aosanestsicos, aos frmacos adjuvantes, monitorizao adequada e eficiente, permitindo a conduo do ato anestsicocom segurana, faz com que este no seja um fator limitante para cirurgias, exames diagnsticos ou procedimentosteraputicos em regime ambulatorial.O atendimento ambulatorial, entretanto, apresenta caractersticas prprias e exige o estabelecimento de umaconduta criteriosa na seleo dos pacientes, dos procedimentos, dos frmacos e tcnicas anestsicas e do fluxogramada unidade ambulatorial, alm de critrios rgidos de alta, possibilitando, assim, um melhor aproveitamento de todas assuas vantagens.EVOLUO A evoluo da anestesia em cirurgia ambulatorial ocorreu na vigncia de uma maior segurana nas tcnicasutilizadas (sejam cirrgicas, sejam anestsicas), novos frmacos adjuvantes e novos mtodos de monitorizaoadequados e eficientes. Como exemplo prtico da evoluo dos mtodos anestsicos, temos procedimentos anestsico-cirrgicos queenvolvem o plexo braquial. No incio das cirurgias de plexo braquial, por exemplo, os procedimentos anestsicos erammuito invasivos: utilizavam, por exemplo, agulhas de raquianestesia de ferro (romba) para introduzir o anestsico naregio do plexo braquial. Esta agulha romba gerava leses nervosas axonais, de modo que os pacientes queixavam-sede dores e formigamento dos membros superiores. Ao longo dos anos, a agulha foi diminuindo seu grau de invaso, demodo que seu dimetro era cada vez menor, apresentando, mesmo assim, a capacidade alcanar apenas o plexo,evitando estruturas circunjacentes como a pleura (uma das complicaes do uso das agulhas rombas de ferro nasanestesias antigas era a perfurao da cpula pleural e consequente pneumotrax). O bloqueio mais atualizado o dotipo interescalnica, na qual, conseguiria atingir a poro dos troncos do plexo braquial. Outro fato ainda a seradicionado de que, a dosagem utilizada no inicio do bloqueio do plexo era de xilocana 2%; depois se viu que podiautilizar adrenalina associado xilocana. Quando se faz associao destas duas drogas, permite-se avaliar o aumentodo limiar de dose permissvel da xilocana, diminuindo uma possibilidade de toxicidade sistmica. Desta forma, houveuma melhora da segurana da anestesia, uma vez que descobriu efeitos de frmacos adjuvantes. Para a abordagem do plexo braquial, no se fazia necessrio a utilizao de agulhas trifacetadas, ou seja,cortantes. Comeou a se utilizar agulhas que lesassem o mnimo possvel a estrutura nervosa. A agulha noapresentava boa transfixao da pele. Nos dias de hoje ainda existem os aparelhos de ultra-sonografia (US) eestimuladores de nervo perifrico (ENP) acoplados s agulhas no intuito de aproximar a agulha das estruturas-alvo coma maior segurana possvel. Pode-se ainda utilizar a agulha acoplada ao Doppler, que determina a proximidade daagulha com os vasos sanguneos (uma das principais complicaes da anestesia de plexo a perfurao vascular ecom consequente introduo sistmica do anestsico). A utilizao da associao entre US e Doppler durante oprocedimento anestsico dado de acordo com a necessidade de diminuir os nveis de complicaes durante oprocedimento, uma vez que, implicar em processos penais e processos do conselho.SELEO DOS PACIENTES A caracterizao dos pacientes que sero submetidos aos procedimentos anestsicos durante procedimentoscirrgicos ambulatoriais dada de acordo com alguns parmetros: Caractersticas prprias e fatores relacionados ao paciente. Exige estabelecimento de conduta criteriosa na seleo dos pacientes 1
2. Arlindo Ugulino Netto ANESTESIOLOGIA MEDICINA P5 2009.2 Escolha nos procedimentos, dos frmacos e tcnicas anestsicas Fluxograma da unidade ambulatorial Critrios x Desvantagens Os seguintes parmetros devem ser avaliados quanto seleo dos pacientes: Pacientes estado fsico ASA I e II Pacientes estado fsico Asa III estvel (IIIa) podem ser englobados como pacientes ambulatoriais. Pacientes ASA IIIb devem avaliar a relao custo x benefcio devido a tendncia de eles poderem converter uma simples cirurgia ambulatorial em cirurgia hospitalar. Avaliao de patologias pr-existentes (complicaes cardiovasculares, pulmonar ou neurolgica) Procedimentos cirrgicos no devem passar dos 90 minutos de durao. Cirurgias acima de 2h devem ser convertidas em procedimento hospitalar. Extremo da idade Complicaes cardiovasculares, pulmonares e neurolgicas. Estes pacientes devem ter uma monitorizao especial, o que no deve ser feito em ambiente ambulatorial. Paciente diabtico: deve-se avaliar se o mesmo insulino-dependente ou no e se faz uso de medicamentos (hipoglicemiante orais). Mandatoriamente, deve-se medir os nveis de glicose antes e depois da cirurgia. Se for paciente insulino-dependente, requer uma monitorizao mais efetiva, devendo, portanto, ser excluso de procedimentos ambulatoriais e incluso em hospitalares. Avaliao de repercusses orgnicas sistmica de pacientes diabticos: aterosclerose, hipertenso arterial, cardiopatia (coronariopatia), miocardiopatia, neuropatia autonmica e nefropatia. Cuidados especiais com o sistema pulmonar: hiper-reatividade das vias areas, asma, bronquite crnica e enfisema. A maioria deve fazer uso de corticide-terapia antes da cirurgia para minimizar possibilidade de broncoespasmo e um eventual prolongamento tempo de internao. Crianas com fatores limitantes anestesia ambulatorial: com histria de prematuridade, com idade menor que seis meses, histria de S.A.R. (sndrome da angstia respiratria), ou com cardiopatia congnita e disritmias cardacas. A partir da perfeita sintonia do anestesiologista, do cirurgio e eventualmente do clnico, e observando-se ascondies de segurana e o fluxograma da unidade ambulatorial, deve-se proceder seleo de pacientes,procedimentos, frmacos e tcnicas anestsicas. Existe consenso sobre a incluso de pacientes com estado fsico ASA Ie II no esquema de atendimento ambulatorial, restando o ato cirrgico como fator limitante. Todavia, h discussoquanto aos pacientes nos extremos de idade ou com estado fsico ASA III. Poucos so os trabalhos que mostram aevoluo e as complicaes perioperatrias em pacientes com estado fsico ASA III em regime ambulatorial. Algunsautores relatam que doenas preexistentes contriburam para alguma complicao cardiovascular, pulmonar ouneurolgica. A maioria dos eventos ocorreu em 48 horas aps o ato anestsico-cirrgico, mostrando relao com adoena e a idade avanada. Outros dados demonstram que as maiores complicaes, como infarto do miocrdio, dficitdo sistema nervoso central e embolia pulmonar, ocorridos at 30 dias de ps-operatrio, tiveram incidncia menor emcomparao com a populao geral de idosos que no se submeteu a cirurgia ambulatorial. Os autores atribuem isso adequada seleo e preparo pr-operatro dos pacientes submetidos a anestesia e cirurgia ambulatorial com rigorosaobservao dos critrios de excluso. Na realidade, os estudos epidemiolgicos mostram que a cirurgia ambulatorial no precisa ficar restrita apacientes jovens e saudveis. Os pacientes idosos e com estado fsico ASA III podem ser enquadrados no esquemaambulatorial, desde que as doenas sistmicas preexistentes sejam adequadamente controladas no perodo pr-operatrio. Deve-se levar em conta tambm o carter invasivo da cirurgia e as condies para os cuidados ps-operatrios no lar, especialmente em pessoas com baixo nvel socioeconrnico. Aos pacientes com estado fsico ASAIII, com grave doena preexistente, no se lhes pode assegurar a sua liberao dentro da rotina ambulatorial, devendo-se sempre prever a possibilidade de permanncia no hospital. Alguns autores ainda descrevem que a classificao daASA III subdividida em ASA IIIa e ASA IIIb, em que a primeira significa que o paciente apresenta mais de umapatologia sistmica que no repercute em uma incapacidade por parte do paciente. Se estiver em quadro estvel,apresentar uma prescrio para que possa ser realizado o procedimento cirrgico ambulatorial. Em critrios literrios,deve-se proceder a realizao de cirurgia ambulatorial somente em pacientes ASA I e ASA II, porm, na literatura maismoderna, se executa ainda a adio do grupo dos pacientes ASA IIIa, que so os que apresentam patologia estvel,como sendo eleitos para a cirurgia ambulatorial. Em casos de pacientes que apresentem patologias pr-existentes,incluem-se: complicaes cardiovasculares, pulmonares e neurolgicas, dever observar se poder implicar emcomplicaes transoperatrias. Os procedimentos cirrgicos ambulatoriais s devem ocorrer at 90 minutos de durao.Todas as anestesias gerais no devem ser ultrapassadas alm dos 45 minutos. Em casos de pacientes com extremosde idade (pr-maturos e idosos), deve-se atentar s condies de sade, pois, so os que mais apresentam tendnciade que ocorram processos mrbidos ps-operatorio. A liberao do paciente para cirurgia ambulatorial depende de uma eficiente avaliao pr-operatria que incluihistria, exame fsico e exames laboratoriais relevantes. Ao liberar um paciente com importante doena preexistentepara cirurgia ambulatorial, necessrio saber se ele est nas melhores condies para submeter-se ao procedimento 2 3. Arlindo Ugulino Netto ANESTESIOLOGIA MEDICINA P5 2009.2proposto, se sua doena est controlada, se possvel realizar uma tcnica anestsica com mnimo impacto sobre oorganismo e quais os cuidados pr e ps-operatrios que devem ser seguidos para que ele realmente se beneficie dotratamento em regime ambulatorial. As doenas cardiovasculares (isquemia, infarto do miocrdio. valvopatias,hipertenso arterial), as doenas respiratrias e o diabete melito, por sua freqncia e morbimortalidade, merecemateno especial. Est demonstrado que o infarto do miocrdio perioperatrio est associado a fenmenos isqumicospr-operatrios em pacientes com doena da artria coronria. Episdios de isquemia no perioperatrio ocorrem com amesma freqncia que em pacientes com padro anginoso. Ao se detectar o fenmeno isqumico necessrio manter opaciente em observao mais prolongada no perodo ps-operatrio. Se houver mudanas no traadoeletrocardiogrfico ou episdios isqumicos prolongados, que exijam interveno, o paciente deve passar a noite nohospital. As causas mais frequentes de isquemia coronariana no perioperatrio so a hipertenso arterial e a taquicardia.Nestes casos, o uso de -bloqueadores adrenrgico tem demonstrado reduo do fenmeno isqumico. O uso denitroglicerina tem-se mostrado eficiente no tratamento de isquemia coronariana. No entanto, o uso profiltico controverso. Parece que a sua eficcia tem relao direta com a tcnica anestsica empregada. A liberao de pacientes com leses valvares cardacas depende da localizao da leso, da sua gravidade e doestado funcional dos ventrculos. Uma histria de insuficincia cardaca est associada a leses graves. Pacientes com hipertenso arterial apresentam alto risco de isquemia coronariana e infarto do rniocrdio. Ascomplicaes esto diretamente relacionadas ao grau de alteraes orgnicas que a hipertenso causou. Assim, ahipertrofia ventricular esquerda aparece como principal indicador de aumento da morbidade cardiovascular. O comportamento da presso arterial varivel nos pacientes hipertensos. Muitos mantm uma presso arterialnormal durante o sono (natural ou induzido) e apresentam hipertenso arterial quando acordados. O estresse pr-operatro freqentemente aumenta a presso arterial, muitas vezes para nveis perigosos. Contudo, ela retoma aosseus nveis normais ou habituais aps a sada do paciente do ambiente hospitalar. Alguns pacientes, mesmo em tratamento, mantm nveis pressricos acima do normal, e a reduo em 20% dapresso diastlica pode resultar em isquemia tecidual. Uma investigao adequada do comportamento pressricodesses pacientes deve ser realizada. O adiamento da cirurgia e uma avaliao minuciosa so recomendveis sempreque a presso diastlica for igual ou superior a 110mmHg. Com relao aos pacientes diabticos, existem, em princpio, dois aspectos que devem ser considerados: o usode hipoglicemiantes e a manifestao sistmica da doena. Quanto ao uso de hipoglicemiantes orais ou insulina, perfeitamente possvel programar o ato anestsico-cirrgico ambulatorial, geralmente de pequeno porte, sem interferir no atual esquema de tratamento. O grande problema do paciente diabtico a repercusso orgnica da doena, como aterosclerose,coronariopatia, hipertenso arterial, miocardiopatia, neuropatia autonmica e nefropatia. Sua seleo para cirurgiaambulatorial depende do grau de comprometimento orgnico que ele apresenta. A neuropatia autorimica cominstabilidade hemodinmica, hipotenso postural e sncope contra-indica procedimentos em regime ambulatorial. Quanto s doenas respiratrias, exigem cuidados especiais aquelas que se manifestam por hiper-reatividadedas vias areas, como asma, bronquite crnica e enfisema. necessrio que o paciente esteja na melhor de suascondies ventilatrias. Sabe-se que mesmo com os devidos cuidados na indicao da tcnica anestsica e na suaexecuo, existe possibilidade de desenvolvimento de broncoespasmo que certamente prolongar o tempo depermanncia hospitalar, implicando, algumas vezes, internao. Com relao s crianas, existem alguns fatores que limitam sua seleo para a anestesia ambulatorial. Dentreeles destacam-se os seguintes: a) prematuridade, ou seja, idade conceptual (gestacional + ps-natal) de at 45semanas; b) idade inferior a seis meses, com histria de irmos com morte sbita na infncia; c) sndrome da angstiarespiratria, cujos sintomas tenham desaparecido h menos de seis meses da data da cirurgia; d) cardiopatiacongnita e disritmias cardacas; e) doenas neuromusculares. Os pacientes prematuros podem apresentar apnia ps-operatria, situao difcil que exige vigilnciaconstante. Estudos mostram que lactentes pr-termo com idade inferior a 10 semanas freqentemente apresentamepisdios de apnia at 12 horas aps a anestesia. Outros autores mostram aumento da incidncia de apnia ps-operatria em lactentes pr-termo com menos de 46 semanas de idade ps-conceptual. A intubao traqueal no estrelacionada com maior morbidade, mas a hipotermia aumenta a incidncia de apnia. Assim sendo, recomenda-se aobservao da ventilao pelo perodo de 12 a 24 horas no ps-operatrio. Os lactentes com histria de prematuridade, displasia broncopulmonar, apnia ou respirao irregular durante ainduo anestsica so aqueles com maior risco de desenvolver complicaes respiratrias no perodo ps-operatrio. Alm das situaes que foram mais detalhadas, essencial ressaltar que toda doena e dados da histriafamiliar devem ser investigados para que se conheam suas complicaes, as quais podem ser um fator limitante narealizao do procedimento ambulatorial. Dentre as complicaes cardiovascular, pulmonar e neurolgica, deve-se atentar de que pacientes com estasdadas complicaes devem ser monitorizados durante o procedimento cirrgico e aps a cirurgia e, para isto, no sepode realizar em regime ambulatorial. Pacientes que fazem uso de medicamentos de atividade neurolgica devem seracompanhados para que no ocorra distrbios neurolgicos ps-cirrgicos. Nos casos de pacientes diabticos, deve-seperceber de que se tratam de insulino-dependentes ou no. Pacientes que fazem uso de hipoglicemiantes devem sermonitorizados e, queles que utilizam insulina devem ser alocados em procedimento hospitalar, excluindo-o do 3 4. Arlindo Ugulino Netto ANESTESIOLOGIA MEDICINA P5 2009.2procedimento ambulatorial. Os pacientes diabticos apresentam uma srie de desordens sistmica, pois, alm dahiperglicemia apresentam problemas secundrios (neuropatia, cardiopatia, nefropatia, aterosclerose). Os pacientesdiabticos tm que ser monitorizados ao extremo e, quando puder, encaminhar ao servio hospitalar.VANTAGENS E DESVANTAGENS DO PROCESSO ANESTSICO EM CIRURGIA AMBULATORIALGraas observao e ao estudo de suas vantagens e limitaes, a anestesia ambulatorial teve um grandeimpulso e hoje representa, para muitas instituies, a maior parte de suas atividades. Contudo, ao se tratar dasvantagens e desvantagens da anestesia ambulatorial, deve-se considerar alguns fatores ligados ao paciente e outrosligados unidade de atendimento ambulatorial.VANTAGENS As principais vantagens que os procedimentos ambulatoriais fornecem so: Permitem breve retorno ao lar Oferecem maior conforto ao paciente e ao acompanhante Permitem, em alguns casos, retorno precoce ao trabalho tanto do paciente quanto dos acompanhantes Oferecem menor risco de infeco hospitalar Liberam leitos hospitalares Permitem maior rotatividade do centro cirrgico Diminuem o custo para o hospital Melhoram a relao mdico-paciente A maior vantagem de se realizar os procedimentos ambulatoriais o breve retorno ao lar. Foi demonstrandocientificamente que, as pessoas quando esto em seu convvio familiar apresentam uma melhoria significativa na partepsicolgica e na recuperao. O conforto domiciliar sempre ser melhor do que o conforto do ambiente hospitalar, sendooutro fator concebido por ser uma vantagem. O paciente volta mais precocemente s suas atividades habituais e, estaincluso, permite (do ponto de vista psicolgico) uma melhor recuperao efetiva. Outro fator a ser acrescentando, nomenos importante, a menor incidncia de risco de infeco hospitalar, pois, o paciente apresentar pouco contato comoutros pacientes. No entanto, necessrio considerar que, na dependncia das condies socioeconmicas dopaciente, o retorno sua residncia pode no significar melhor cuidado, menor risco de infeco, menor custo ou maisconforto. Nos dias atuais, um dos maiores problemas da rede hospitalar (sobretudo, hospitais vinculados ao SUS) a faltade leitos hospitalares. Sendo assim, procedimentos ambulatoriais determinam uma taxa menor de durao dehospitalizao e liberam leitos e associam ainda uma maior rotatividade do centro cirrgico. Do ponto de vistaadministrativo-hospitalar, o custeamento diminudo na vigncia de procedimentos mais rpidos. Alguns autores aindaintitulam a melhoria da relao mdico-paciente na vigncia deste tipo de anestesia. A unidade ambulatorial, seja ela autnoma, anexada ao hospital ou integrada atividade interna dele, deveobedecer a todas as normas de segurana e s resolues do Conselho Federal de Medicina que regulamentam amatria. Com relao ao custo para o paciente, ele pode ser bastante reduzido se for calculado com base no custo realdo fluxograma da unidade ambulatorial e do procedimento, sem inseri-lo no custo geral do hospital. importante ressaltar tambm que a devida orientao ao paciente, com relao ao procedimento e aoscuidados pr e ps-operatrios, propicia uma melhor relao mdico-paciente. A fim de proporcionar um bom fluxo pelaunidade ambulatorial, no atrasando o incio das cirurgias, desejvel que o paciente seja avaliado nos dias que aprecedem (1 a 7 dias) e, para isso, necessrio que o anestesiologista atenda o paciente em local apropriado(consultrio), seja no prprio hospital ou fora dele. Este contato certamente melhora a relao mdico-paciente,aumentando o grau de confiana e, conseqentemente, diminuindo o estresse.DESVANTAGENS Por outro lado, a anestesia ambulatorial tambm apresenta algumas desvantagens. Por exemplo, estando opaciente distante do ambiente hospitalar, perdem-se alguns controles relativos evoluo ps-operatria, como dor,hemorragia, inflamao, infeco, nuseas, vmitos e febre. A reviso obrigatria, em alguns casos, do curativocirrgico 24 horas aps a realizao da cirurgia tambm fora o paciente a se deslocar at o consultrio do mdico. Outro aspecto a ser considerado a perda total de controle sobre os pacientes, com relao sua atividadefsica e intelectual, aps a alta. Dentre as principais desvantagens na utilizao de uma abordagem cirrgica ambulatorial, destacam-se: Distncia do ambiente hospitalar Controle rigoroso (dor, hemorragias, inflamaes, infeco, nusea, vmitos e febre) Reviso obrigatria (curativo cirrgico) 24h aps a realizao da cirurgia deslocamento consultrio mdico/unidade ambulatorial Perda total de controle sobre os pacientes com relao a sua atividade fsica e intelectual, aps a alta 4 5. Arlindo Ugulino Netto ANESTESIOLOGIA MEDICINA P5 2009.2REQUISIO DE EXAMES E CRITRIO DE SELEOEXAMES COMPLEMENTARES Esto inclusos, geralmente, nos regimes ambulatrias os pacientes ASA I, ASA II e, raramente, os ASA III (adepender de suas condies clnicas, avaliando as relaes custo-benefcio). Este deve ter toda a ateno possvel paraevitar a converso do evento ambulatorial para um de cunho hospitalar. Muito dificilmente quase nunca os pacientesASA IV e ASA V sero submetidos a procedimentos ambulatoriais. No passado, os exames pr-operatrios eramrealizados de modo padronizado, e muitos deles eramsolicitados com o objetivo de detectar tambm doenasassociadas e no diagnosticadas. Hoje, a tendncia arealizao de exames somente nas seguintes situaes: (a)presena de dados positivos da histria clnica ou examefsico; (b) necessidade de valores pr-operatros de algunsexames que possam sofrer alteraes durante a realizaodo ato anestsico-cirrgico ou de procedimentosdiagnsticos ou teraputicos; c) condio especfica quepossa incluir o paciente em grupo de risco, mesmo semdado positivo de histria clnica ou exame fsico. Assimsendo, os exames complementares s devem sersolicitados quando forem necessrios. Na verdade, a realizao rotineira de uma bateria deexame pr-operatrios no supre a falta de uma avaliaopr-operatria bem-realizada e s aumenta custos, sembenefcio para o paciente e, muitas vezes, sem modificaodo planejamento anestsico- cirrgico. De fato, um pacientecom estado fsico ASA I, sem antecedente mrbido, a sersubmetido a uma cirurgia de pequeno porte ou a umprocedimento diagnstico, com mnimo trauma, a rigor nonecessita de exames complementares. No entanto, existeum temor com relao a problemas legais frente a umincidente, acidente ou complicao, de modo que se admiteuma rotina baseada no estado fsico do paciente. Um aspecto a ser considerado na rotina proposta que no se est levando em conta o tipo de procedimento aoqual o paciente vai ser submetido. Considerando que somente so liberados para cirurgia pacientes com estado fsicoASA I, ASA II e ASA III, que tenham suas doenas compensadas, essa rotina proposta pode ser revista de acordo comas condies clnicas do paciente e com o tipo de procedimento. Assim, em pacientes com estado fsico ASA I, averificao do hematcrito e da hemoglobina em pessoas jovens e saudveis, o eletrocardiograma em indivduos at 60anos, a dosagem da creatinina e, principalmente, a radiografia de trax podem ser questionados. Alguns estudos tmmostrado que a radiografia de trax no apresenta utilidade na identificao de doenas pulmonares oucardiovasculares em pacientes clinicamente normais. Nos pacientes com estado fsico ASA II, os exames complementares diagnsticos para verificar o estado real dadoena, sua evoluo ou a repercusso da teraputica atual so mais importantes do que os exames rotineiros.CRITRIOS DE SELEONos critrios de incluso para a anestesia ambulatorial consequente ao ato operatrio ambulatorial, temos: Presena de acompanhante adulto Exista uma fcil comunicao com a unidade ambulatorial Fcil locomoo at a unidade ambulatorial Condies de cumprir os cuidados ps-operatrio Nvel intelectual adequado Os pacientes com estado fsico ASA I podem ser liberados para regime ambulatorial. Deve-se atentar paraa existncia de prdromos de afeces agudas, mesmo que leves, especialmente respiratrias. Os pacientes com estado fsico ASA II tambm podem ser liberados, com as mesmas recomendaesanteriores e com a certeza de que a doena est realmente sob controle e de que o ato anestsico-cirrgico no vai interferir com ela. Os pacientes com estado fsico ASA III s podem ser liberados se o procedimento anestsico-cirrgico forde pequeno impacto para o organismo, se suas doenas estiverem controladas e se realmente houverbenefcio para o paciente. Alguns fatores determinam a seleo de pacientes para o regime ambulatorial. Esses fatores podem serclassificados em gerais e especficos, como a idade e o estado fsico. A presena de acompanhante adulto, 5 6. Arlindo Ugulino Netto ANESTESIOLOGIA MEDICINA P5 2009.2responsvel e idneo imprescindvel. No caso de crianas, recomendam-se dois acompanhantes. Alm disso, aconselhvel que a pessoa que acompanha o paciente no dia da consulta seja a mesma a acompanh-lo no dia doprocedimento. A fcil comunicao com a unidade ambulatorial e a fcil locomoo at ela so importantes para oscasos de complicaes ou para simples esclarecimentos de dvidas no perodo ps-operatrio. O paciente tambm deve apresentar condies para cumprir todos os cuidados ps-operatrios, a fim de queno haja complicaes. Assim, o nvel intelectual e as condies socioeconmicas do paciente so importantes. Oprimeiro, para entender e cumprir corretamente as instrues pr e ps-operatrias que o procedimento exige, e osegundo, para que se tenha acesso a material e medicamentos necessrios ao tratamento. Dentro da multiplicidade de fatores que envolvem o procedimento, a recusa do paciente tambm um aspectoque deve ser considerado. Os critrios especficos como idade e estado fsico, j abordados, evidenciam que aprematuridade e a concomitncia de algumas doenas aumentam o risco. A coexistncia de doenas respiratriasassociadas a doenas cardiovasculares constitui um grande fator limitante para o regime ambulatorial. Considerando-se que para procedimentos minimamente invasivos a grande varivel o paciente, pode-seestabelecer critrios de incluso e excluso no regime ambulatorial de acordo com o estado fsico.SELEO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS Desde a primeira publicao abrangente sobre anestesia ambulatorial em nosso meio at hoje, a lista de procedimentos que podem ser realizados em regime ambulatorial aumentou muito, sendo que vrios fatores contriburam para isso. Realmente, o surgimento de novos equipamentos, monitores adequados e novos frmacos melhorou muito a segurana do ato anestsico, a ponto de hoje a anestesia no ser um alto fator limitante para realizao de procedimentos cirrgicos, diagnsticos e teraputicos em regime ambulatorial. A adequao de frmacos e tcnicas, a seleo de pacientes, a disponibilidade de monitores e um ambiente propcio, somados qualificao profissional do pessoal que atende o paciente, permitem que o ato anestsico seja realizado com segurana e qualidade. Outro aspecto importante a evoluo dos conceitos em anestesiologia, que inclui a programao otimizada do alvio da dor no perodo ps-operatrio. O surgimento de novas substncias e de condutas rotineiras com essa finalidade tambm contribuiu para incluir muitos procedimentos em regime de curta permanncia hospitalar. A evoluo dos equipamentos permite hoje a realizao de procedimentos cirrgicos e diagnsticos minimamente invasivos, com conseqente diminuio da morbidade. Os cuidados do pessoal que atende o paciente e a responsabilidade por sua liberao para casa, onde ficar aos prprios cuidados, exigem um bom relacionamento da equipe anestsico-cirrgica e uma perfeita adequao dos hospitais para o cumprimento do fluxograma e das exigncias relativas s normas de segurana. A extenso do procedimento um fator importante envolvido na sua liberao para o regime ambulatorial.Assim, o procedimento deve ser minimamente invasivo. O conceito de procedimento minimamente invasivo surgiu com odesenvolvimento de equipamentos e tcnicas que permitiram sua realizao com mnimo trauma local e para oorganismo como um todo. Exemplos disso so algumas vdeo-cirurgias, nas quais o acesso feito por pequenasincises, havendo mnima manipulao dos tecidos. Outros exemplos so as endoscopias e o diagnstico por imagens,como a tomografia computadorizada e a ressonncia nuclear magntica Admitia-se que, para procedimentos de curta permanncia hospitalar, o tempo no deveria ultrapassar 90minutos. De fato, caso se pretenda incluir o tempo de admisso e preparo e o tempo de recuperao ps-anestsca otempo de 90 minutos para realizao do procedimento cirrgico ou diagnstico seria ideal. No entanto, se no houverimplicao de maior trauma, perda sangnea, modificao de tcnicas ou maior cuidado ps-operatrio, o tempopoder ser prolongado, e a alta hospitalar vai depender da recuperao plena do paciente. Um exemplo disso otratamento dentrio (restauraes mltiplas), que pode demandar tempo com mnimo trauma. Esta condio especialmente importante em pacientes com retardo mental, como crianas portadoras da sndrome de Down, que sesubmetem a tratamento dentrio sob anestesia geral em uma nica sesso. Essa situao deve ser considerada mesmonaquelas crianas portadoras dessa sndrome que se submeteram a programas de estimulao precoce e que soacompanhadas por um esquema multidisciplinar (ou seja, que esto perfeitamente integradas sociedade), poiscertamente elas sero mais beneficiadas com o retorno ao lar do que se ficarem no ambiente agressivo e estranho deum quarto hospitalar. De qualquer forma, necessrio verificar por que o tempo se prolongou. Se o prolongamento dotempo deveu-se a incidente, 6 7. Arlindo Ugulino Netto ANESTESIOLOGIA MEDICINA P5 2009.2 A presena de dor forte no controlvel com analgsicos no-opiides um dos fatores mais importantes eque limita a alta do paciente. Quando for necessrio o uso de opiides, sedao ou outras formas mais complexas parao alivio da dor, o paciente deve ficar internado. A rapidez de um procedimento no significa necessariamente que eleprovoque dor menos intensa. Um exemplo disso a manipulao de joelho operado e que no apresenta movimento deflexo adequado por fibrose e aderncia. O movimento de flexo forada na tentativa de desfazer as aderncias extremamente doloroso tanto durante como aps o procedimento. Nesses pacientes, tambm desejvel instituirtratamento fisioterpico aps a manipulao e manter o joelho em flexo. Assim, necessrio programar um esquemade analgesia, que nem sempre pode ser obtido com analgsicos comuns e em regime ambulatorial. Na seleo de umacirurgia para o regime ambulatorial, indispensvel saber se a dor no perodo ps-operatrio pode ser controlada comanalgsicos no-opiides e, de preferncia, por via oral. A possibilidade de hemorragia outro fator limitante importante na seleo de cirurgias ambulatoriais. Umagrande hemorragia durante a cirurgia e a possibilidade de sangramento no perodo ps-operatrio exige vigilnciacontinuada e controles rigorosos, implicando permanncia hospitalar. Um exemplo tpico dessa situao aadenoamigdalectomia, cirurgia muito frequente em crianas, que apresenta risco potencial de hemorragia tanto no transcomo no ps-operatrio imediato. Mesmo em uma situao em que a recuperao foi rpida, a realimentao foiprecoce e o controle da dor esteja timo, a observao deve continuar na recuperao 2 da unidade ambulatorial. A drenagem de pequenos abscessos em pacientes afebris pode ser realizada em regime ambulatorial apsadequada observao do estado geral do paciente. No entanto, situaes que envolvam observao continuada dosfenmenos flogsticos, administrao de antibiticos por via venosa, hidratao e troca freqente de / curativos exigemmaior tempo de permanncia hospitalar. a verdade, no se trata apenas de drenar o abscesso, mas cuidar do estadofsico do paciente. Um bom exemplo so os abscessos periamigdalianos que causam febre, dor, impedem a adequadaalimentao e levam invariavelmente prostrao.CIRURGIAS QUE PODEM SER REALIZADAS EM AMBIENTE AMBULATORIAL Em quase todas as especialidades cirrgicas existem procedimentos que podem ser realizados em regimeambulatorial. Cirurgias de pequeno e mdio portes realizadas em crianas, por cirurgies peditricos, ou porespecialistas, constituem um campo frtil para incluso no regime ambulatorial. A maioria das cirurgias oftalmolgicasso realizadas em regime ambulatorial. As caractersticas dos procedimentos e o carter minimamente invasivo tm feitoproliferar as clnicas autnomas, voltadas inteiramente para o atendimento desses pacientes. Ficam excludas doesquema as cirurgias vitreorretinianas, especialmente em diabticos, as orbitotomias. Cirurgias peditricas: bipsia de linfonodos; cistos e fstulas cervicais; colocao e remoo de cateteres; extirpao de tumores superficiais; hemangiomas; hrnia inguinal; hrnia umbilical; hidrocele; hipospdia; postectomia; remoo de corpo estranho; testculo inguinal; toro testicular. Cirurgias oftalmolgicas: bipsia (esclera, ris e conjuntiva), blefarorrafia definitiva, capsulotomia, ciclodiatermia, cirurgia antiglaucomatosa, coloboma (com plstica), criocicloterapia, discisso da catarata secundria, epicanto, epilao, estrabismo, eviscerao com/sem implante, exrese de tumor escleral, facectomia com/sem implante de lente intra-ocular, fechamento de pontos lacrimais, fototrabeculoplastia (laser), implante secundrio de lente intra-ocular, injeo retrobulbar, iridectomia, paracentese, ptose palpebral, recobrimento conjuntival, remoo de hifema, simblfaro, sutura da conjuntiva, tasorrafia, transplante conjuntival, xantelasma. Cirurgias otorrinolaringolgicas: abscessos, adenoidectomia, adenoamigdalectomia, antrotomia maxilar intranasal, bipsia de hipofaringe, cisto nasoalveolar e globular, corpo estranho de faringe, epistaxe (tamponamento ntero-posterior), fstula oroantral, fenotomia lingual ou labial, polipectomia nasal, sinquias nasais, timpanotomia exploradora, tumor benigno de faringe e lngua, tumor benigno intranasal, etc. Cirurgias ortopdicas: abertura de bainha tendinosa, alongamento do tendo, amputao de dedo, resseco de aponeurose plantar, artroscopia para diagnstico, bipsia de msculo, bipsia ssea, bursectomia, cisto sinovial, dedo em gatilho, dedo em martelo, encurtamento de tendo, luxao de joelho, miorrafia, osteotomia ou resseco de ossos do p, rotura do tendo de Aquiles, sndrome do tnel do carpo, tenorrafia, tenotomia, etc. Cirurgias ginecolgicas: abscessos de mama, bipsias (colo uterino, endomtrio, mama, vagina, vulva), cerclagem uterina, curetagem uterina, dilatao do colo uterino, exrese de cisto vaginal, exrese de plipo uterino, exrese de ndulo de mama, extirpao de mamilo, histeroscopia cirrgica, inciso e drenagem da glndula de Bartholin, marsupializao da glndula de Bartholin, perineoplastia anterior, etc. Cirurgias urolgicas: abcessos periuretral, amputao peniana parcial, clculo (extirpao por endoscopia), cistoscopia, cistostomia, dilatao uretral, doena de Peyronie, drenagem de abscesso, espematocelectomia, hidrocelectomia, orquidectomia, orquiopexia, postectomia, varicolcele, etc. Cirurgias gerais e proctolgicas: abscessos (anais, isquiorretais e de parede), bipsias, cisto sacrococcgeo, dilatao anal, estenose anal, hemorroidectomia, hrnia inguinal, herniorrafia umbilical, trombose hemorroidria, tumor anorretal. Cirurgias plsticas: exrese de cicatriz, exrese de nervos e hemangiomas, incluso de prtese de silicone, lopoaspirao, mamoplastia, orelha em abano, plpebras, ptose palpebral, rinoplastia sem fratura, etc. Procedimentos odontolgicos: apicectomia, extrao dentria, gengivectomia, restauraes. Procedimentos teraputicos no-cirrgicos: bloqueio de nervos perifricos, bloqueio do gnglio estrelado, 7 8. Arlindo Ugulino Netto ANESTESIOLOGIA MEDICINA P5 2009.2bloqueio simptico lombar, bloqueio neuroltico, eletroconvulsoterapia, litotripsia, psicoterapia com hipnticos,radioterapia.ANESTESIOLOGIA NA CIRURGIA AMBULATORIAL__ANESTSICOS LOCAISOs anestsicos locais so agentes especialmente teis para a anestesia ambulatorial. A proparacana, alidocana, a bupivacana e a ropivacana so os mais utilizados na prtica anestesiolgica. A proparacana utilizada naforma de colrio, sendo empregada para analgesia da crnea e da conjuntiva ocular. Apresenta curto tempo de ao epor esse motivo utilizada apenas para procedimentos pequenos e rpidos. A lidocana empregada por todas as viase tem apresentao variada em forma de soluo a 1 ou 5% e na forma de gel a 10% para uso tpico.A bupivacana racmica (0,25%, 0,5% e 0,75%) tem sido amplamente empregada em todos os bloqueiosanestsicos. especialmente til quando se deseja analgesia prolongada no perodo ps-operatrio. O problema dabupivacana racmica a sua cardiotoxicidade. A forma levgira menos cardiotxica, mas em concentraes at 0,5%causa menos bloqueio motor do que a forma racmica. A mistura enantiomrica (S75-R25) de bupivacana tem efeitoanalgsico potente, com bloqueio motor e menor cardiotoxicidade.A ropivacana menos cardiotxica do que a bupivacana e, por esse motivo, vem sendo mais empregada. Elacausa vasoconstrio, propriedade esta que pode ser til em vrios tipos de bloqueios. O seu tempo de aoprolongado tambm vantajoso para a analgesia ps-operatria.ANESTESIA VENOSA TOTAL Considerando a farmacocintica dos agentes venosos, especialmente o propofol e os opiides (rernfentanl,alfentanil, ferizal e sufentanl), a anestesia venosa total pode ser empregada pacientes em regime ambulatorial. Ohipntico de escolha o propofol pela possibilidade de manuteno em infuso contnua sem efeito cumulativo. A doseinicial recomendada de 1 a 5 mg/kg, e a dose de manuteno de 75 a 200 ug-kgL/min. A anestesia venosa totalenvolve necessariamente o uso combinado de analgsicos potentes, como remifentanil, alfentanil, tanil e sufentanil. As caractersticas antiemticas do propofol podem diminuir as nuseas e os vmitos provocados pelos opiides.Alm do rpido espertar, a analgesia no ps-operatrio imediato, conferida pelos opiides, pode ser de grande valia,dependendo do procedimento utilizado. Quando necessrio, os bloqueadores neuromusculares podem ser empregadosem infuso contnua, sendo que nesta ltima opo a monitorizao da funo neuromuscular deve ser realizada.BLOQUEADOR NEUROMUSCULARTodos os bloqueadores neuromusculares, de ao curta ou intermediria, sempre que necessrio, podem serempregados como adjuvantes da anestesia ambulatorial.A succinilcolina tem como inconvenincia a presena de miofasciculaes, que levam dor muscular no perodops-operatrio. Este fato particularmente importante nos pacientes ambulatoriais que no ficam acamados por muitotempo. A incidncia e o grau de miofasciculaes podem ser diminudos por induo anestsica adequada ou por pr-curarizao com um bloqueador neuromuscular adespolarizante (priming dose).O mivacrio um bloqueador neuromuscular de curta durao que pode ser til como adjuvante em anestesiaambulatorial. Seu inconveniente a liberao de histamina, que dependem da dose e da velocidade de injeo.ANESTESIA INALATRIA Todos os agentes anestsicos inalatrios podem ser empregados em anestesia ambulatorial. As diferenas nostempos de recuperao no influenciam a alta hospitalar. O xido nitroso, por seu rpido equilbrio no organismo e porpossuir a concentrao alveolar mnima dos agentes halogenados amplamente utilizado em anestesia ambulatorial.Neste aspecto, existe um fato importante com relao associao de xido nitroso e sevoflurano. Alguns estudos tmdemonstrado que o xido nitroso aumenta incidncia de nuseas e vmitos no perodo ps-operatrio. Assunto controverso, visto que o xido nitroso sempre administrado em associao com outros agentes. O halotano, pelo seu baixo custo, odor no irritante ainda muito empregado em anestesia peditricaambulatorial. Comparado ao isoflurano, apresenta menor incidncia de tosse e Iaringoespasmo, tanto na induo comona recuperao ps-anestsica. No entanto, a incidncia maior quando comparado sevoflurano. O halotano temapresentado bons resultados na anestesia ambulatorial em pacientes com grave hiper-reatividade das vias areas. umanestsico potente que deprime rapidamente a ventilao, diminui a presso arterial e a freqncia cardaca, e podeprovocar disritmias cardacas, especialmente na presena de catecolaminas (endgena ou exgena) ou quando existehipercarbia. O sevoflurano um anestsico inalatrio que vem gradativamente ocupando o lugar do halotano na anestesiaambulatorial peditrica, bem como na induo inalatria em adultos. Apresenta induo e recuperao rpidas, com boaestabilidade cardiovascular. Tem odor menos desagradvel, no irritante para as vias areas, e apresenta menorincidncia de laringoespasmo e tosse quando em plano superficial. Tambm tem pequena incidncia de nuseas evmitos no ps-operatrio. Vrios estudos tm comparado o emprego do halotano e do sevoflurano em cirurgia ambulatorial. Algunsautores no encontram diferenas entre o tempo de induo do halotano e do sevoflurano; outros, todavia, identificam8 9. Arlindo Ugulino Netto ANESTESIOLOGIA MEDICINA P5 2009.2induo mais rpida com o sevoflurano. A velocidade de administrao do anestsico e a adio do xido nitrosopodem ter influenciado esses resultados. Em crianas o acrscimo de 60% de xido nitroso diminui a concentraoalveolar mnima do halotano. Na criana com mais de seis meses, a concentrao alveolar mnima do sevoflurano emoxignio (100%) 2,5%, e a do halotano, 0,9%. Assim, a induo com concentraes iguais produzir resultadosdiferentes, sendo necessria a comparao com mltiplos da concentrao alveolar mnima. Os tempos de emergncia, de resposta ao comando e de orientao so significativamente menores com osevoflurano do que com o halotano. O rpido despertar leva precocemente percepo da dor, com conseqenteagitao no perodo ps-operatrio imediato. Os problemas relativos ao sevoflurano so seu alto custo, o pouco tempo de que se dispe para a intubaotraqueal (o paciente sai rapidamente do plano anestsico) e a ausncia de analgesia ps-operatria. A injeo depropofol (1 mg/kg) ou de lidocana (1 mg/kg) melhora o tempo e as condies para a intubao traqueal. A associaocom bloqueios no apenas proporciona analgesia ps-operatria, mas tambm despertar tranqilo, diminuio daconcentrao para manuteno da anestesia e conseqente diminuio de consumo e custo. Na realidade, sempre quese utiliza algum anestsico inalatrio, deve-se empregar uma forma de analgesia ps-operatria, j que o tempo deanalgesia aps a cirurgia conferido por esses agentes curto e, na maioria das vezes, ineficaz, causando agitao nospacientes. O isoflurano mostra tambm boa estabilidade cardiovascular, pouco metabolizado e tem baixa incidncia dedisritmias cardacas. Apresenta tempo de despertar mais prolongado do que os outros agentes inalatrios, o que noinviabiliza seu uso em anestesia ambulatorial. No entanto, seu cheiro forte, pungente e a irritabilidade para as viasareas limitam seu emprego na induo inalatria pura, especialmente em crianas. O enflurano o mais potente depressor do miocrdio, no eficaz para induo inalatria pura, necessitandosempre de substncias adjuvantes para induo e manuteno da anestesia, um halogenado que pode ser utilizadoem pacientes ambulatoriais associado ao xido nitroso e a agentes venosos quando a opo for uma tcnica deanestesia balanceada, com induo por via venosa.BLOQUEIOS REGIONAIS Muitos estudos tm demonstrado uma significativa diminuio da incidncia de cefalia ps-raquanestesia como uso de agulhas de fino calibre o que tem possibilitado seu uso em anestesia ambulatorial. Alguns estudos mostramuma incidncia de cefalia de 1 a 2%, em sua maioria leve ou moderada. Considerando esses aspectos, a agulha decalibre 27G parece ser a melhor escolha para a prtica da raquianestesia ambulatorial, especialmente em pacientesjovens, reservando as agulhas de calibre 25G para os pacientes acima de 60 anos, nos quais sabidamente a incidnciade cefalia menor, mesmo com agulhas de maior calibre. Alguns autores defendem o uso da agulha de Quincke, preconizando a puno com o bisel paralelo s fibras dadura-mter, entendendo com isso que o orifcio possa ser menor. Outros preconizam o emprego da agulha Whitacre,que possui bisel em ponta de lpis. Alguns artigos mostram que no existe diferena significativa da incidncia decefalia com o uso das duas agulhas. Os pacientes em regime ambulatorial devem ser orientados para a ocorrncia de cefalia, devendo retomar aohospital para serem examinados e para que a conduta teraputica seja instituda. Um estudo mostrou que pacientescom cefalia grave, para a qual foi indicado tampo sangneo peridural (injeo de 10 mL de sangue autlogo),permaneceram em repouso por quatro horas e tiveram remisso total dos sintomas, podendo deambular aps esseperodo. A anestesia subaracnidea tem vrias vantagens: uma tcnica simples, demanda menor dose de anestsicolocal, de fcil controle, tem baixo custo, apresenta curto tempo de latncia, produz bom relaxamento muscular, requerpequeno volume de soluo, causa baixa incidncia de nuseas e vmitos, e tem menor taxa de morbidade. Tanto alidocana como a bupivacana tm sido empregadas para o bloqueio subaracnideo. A lidocana hiperbrica a 5% deveser diluda em lquido cefalorraquidiano, evitando com isso a injeo concentrada, que pode causar a sndrome dacauda eqina. Solues a 1,5% ou 2%, com glicose ou sem ela, tm sido empregadas com bons resultados, sendo que asformas hiperbricas tm mostrado mais rpida reverso do bloqueio, fato que tambm observado com a bupivacana. O tempo de permanncia hospitalar varia com o tempo necessrio para a reverso dos bloqueios motor esimptico. Contudo, mesmo o paciente que recebeu lidocana, a qual apresenta rpida reverso, deve ser observado eficar em repouso pelo tempo mnimo de quatro horas. A anestesia subaracnidea tem como desvantagens a ausnciade analgesia ps-operatria e a cefalia. Quando possvel, a infiltrao local da ferida operatria, com bupivacana ouropivacana, poder oferecer analgesia ps-operatria. A anestesia peridural pode ser realizada em regime ambulatorial. Em relao raquianestesa, apresenta maiortempo de latncia, menor relaxamento muscular com baixas concentraes de soluo anestsica e maiores volumes edose de anestsico local. Seu problema a possibilidade de perfurao acidental da dura-mter, quando ento opaciente deve ficar internado, em repouso e convenientemente hidratado. O emprego de tamposangneo peridural profiltico controverso, at porque nem todos apresentam cefalia ps-puno da dura-mter.Outro problema o tempo de permanncia hospitalar, pois a reverso do bloqueio, especialmente com solues debupivacana e ropivacana, irregular, dificultando uma previso de alta. Por esse motivo, a preferncia recai sobre alidocana, devendo-se salientar que a analgesia ps-operatria tambm ficar prejudicada. A anestesia peridural sacra em associao com anestesia geral ou sedao por via venosa, est indicadaespecialmente em crianas, para cirurgias ortopdicas, urolgicas e abdominais superficiais. O bloqueio motor 9 10. Arlindo Ugulino Netto ANESTESIOLOGIA MEDICINA P5 2009.2prolongado e a reteno urinria aumentam o tempo de permanncia na unidade ambulatorial. Assim, seu uso recomendado com baixas concentraes de anestsico local.BLOQUEIOS PERIFRICOSObservadas as indicaes, as contra-indicaes e as caractersticas tcnicas, todos os bloqueios perifricospodem ser realizados em pacientes de regime ambulatorial.Os bloqueios do plexo braquial pelas vias interescalnica, perivascular subclvia ou perivascular axilar tmindicao nas cirurgias de membros superiores. Uma adequada avaliao da regio a ser operada indica a melhor via.Quando a dor no um importante sintoma de grave complicao ps-operatria, os anestsicos de longa duraopodem ser utilizados. O paciente deve ser instrudo quanto provvel durao da analgesia e principalmente dobloqueio motor, para que no fique angustiado no perodo ps-operatrio. Quando a indicao for o uso de anestsicoslocais de curta durao, deve-se instituir analgesia sistmica para o ps- operatrio imediato, especialmente nascirurgias ortopdicas, freqentemente muito dolorosas.Se no for possvel aliviar a dor ou se o procedimento necessitar de observao constante, a internao deveser providenciada. A anestesia venosa regional voltou a ganhar grande impulso com o aumento dos procedimentos emregime ambulatorial. Ela tem como vantagem um baixo ndice de complicaes e como desvantagem a ausncia deanalgesia ps-operatria, que aparece dentro de 20 minutos aps da soltura do garrote.Este problema pode ser contornado se, ao final da cirurgia, a ferida operatria for infiltrada entre os pontos dasutura. Bloqueios de nervos perifricos especficos da regio operada tambm podem ajudar a contornar o problema.TCNICAS ANESTSICAS COMBINADASAs associaes de tcnicas de anestesia condutiva com a anestesia venosa, ou inalatria, ou ambas, constituemboas indicaes em muitos procedimentos ambulatoriais.A analgesia de base conferida pelos bloqueios anestsicos, pela infiltrao da ferida operatria, ou tpica, emcaso de mucosas, alm de propiciar diminuio do consumo de agentes venosos e inalatrios, confere analgesia noperodo ps-operatrio imediato. Assim, possvel manter a anestesia de modo uniforme, proporcionar um despertartranqilo, o que se constitui em um fator importante na evoluo ps-operatria.A anestesia infiltrativa, a tpica e os bloqueios de nervos perifricos no retardam a alta da unidadeambulatorial. No entanto, os bloqueios subaracnideo e peridural determinam o tempo de permanncia na unidade, vistoque os agentes venosos e inalatrios, administrados em baixas concentraes, no o prolongariam.RECUPERAO DA A NESTESIAO termo recuperao anestsica significa voltar ao estado pr-anestsico. No entanto, para a recuperao bem-sucedida de pacientes que se submetem a anestesia ambulatorial. interessam tanto a recuperao fsica como avelocidade e a suavidade com que ela se processa. Assim sendo, na prtica da anestesia ambulatorial. Oanestesioiogista deve ter uma viso diferente quanto ao planejamento anestsico, objetivando cumprir duas metas:segurana e conforto para o paciente, e recuperao da anestesia com alta para casa no menor tempo possvel. Otempo de alta de quatro horas aps o trmino da operao tem sido preconizado como ideal.Efeitos colaterais como sonolncia, mal-estar, escotomas, confuso, nuseas, vmitos, dor muscular e cefalia,que podem ser considerados aceitveis nos pacientes internados, no so bem aceitos nos procedimentosambulatoriais. Nem todos os efeitos colaterais so efeitos residuais dos frmacos. A cirurgia tambm pode provocaralteraes funcionais que podem retardar o processo de alta hospitalar.ESTGIOS DA RECUPERAONos procedimentos realizados sob anestesia geral, o anestesiologista deve considerar quatro estgios derecuperao.O estgio I ocorre na sala de operao, alguns minutos aps o final da cirurgia. Tal estgio caracterizado pelodespertar do paciente, devendo este responder a comandos verbais, ser capaz de manter as vias areas desobstrudas,ter as funes hemodinmicas e respiratrias estveis e manter a saturao da hemoglobina pelo oxignio (Sp02)normal, com administrao ou no oxignio suplementar. Satisfeitos esses critrios, o paciente ser encaminhado para asala de recuperao ps-anestsica.O estgio II (recuperao precoce ou imediata) se inicia quando o paciente est acordado e alerta, podendocomunicar-se com a enfermagem da sala de recuperao ps-anestsica. Suas funes vitais esto prximas s doperodo pr-operatrio, as vias areas esto prvias, os reflexos de proteo (tosse e deglutio) esto normais, a Sp02est normal (ar ambiente) e os efeitos colaterais so mnimos (sonolncia, tontura, dor, nuseas, vmitos esangramento). 10 11. Arlindo Ugulino Netto ANESTESIOLOGIA MEDICINA P5 2009.2Ao final da recuperao precoce, o paciente est aptopara ter alta da sala de recuperao ps-anestsica, podendoser encaminhado para a ala ambulatorial, onde ficar maisconfortvel, ocasio em que o acompanhante pode participar darecuperao. O paciente pode ter alta da sala de recuperaops-anestsica assim que os critrios clnicos sejam alcanados.No caso de pequenos procedimentos com anestesia geral,cirurgias com anestesia local mais monitorizao, alguns tipos debloqueios perifrico, estando os critrios clnicos j preenchidosna sala de operao, o paciente pode ser transferido diretamentepara a ala ambulatorial sem passar pela sala de recuperaops-anestsica.O estgio III inicia na ala ambulatorial e termina quandoo paciente est apto a se levantar e andar sem ajuda. Os efeitoscolaterais devem estar ausentes e a realimentao, j institudacom sucesso. No fim desse perodo, o paciente pode ter alta paracasa, desde que acompanhado de um adulto.A deciso da alta deve ser tomada quando os pacientespreencherem os critrios de alta estabelecidos pelos mdicosresponsveis pela unidade ambulatorial. Cada hospital devedesenvolver seus prprios critrios baseados nos hbitos locais,de modo a manter a segurana do paciente. O estgio IV(recuperao completa) demanda mais tempo e completa emcasa. Nesta fase, o organismo elimina os resdus anestsicos.As funes psicolgicas e psicomotoras voltam ao padronormal, podendo o paciente retomar s suas atividades diriasnormais.CRITRIOS DE A LTA H OSPITALAROs critrios de alta devem ser observados e rigorosamente cumpridos. Entre os critrios gerais, necessrioavaliar a recuperao fsica e a recuperao da psicomotricidade, verificar a ocorrncia de complicaes e a prescriode medicamentos para o perodo ps-operatrio e orientar adequadamente o paciente ou seu responsvel.So cuidados para a alta hospitalar: Sinais vitais estveis por pelo menos 1 hora. Ausncia de sinais de depresso respiratria. Boa orientao no tempo e no espao; o paciente aceita bem a administrao de lquidos, est apto a urinar, a se vestir e andar sem ajuda. O paciente no deve apresentar dor excessiva, nuseas e vmitos de difcil controle, ou sangramentos. A alta deve ser dada pelo anestesiologista ou pelo cirurgio, ou por pessoas por eles designadas. Deve-se fornecer instrues por escrito para o perodo ps-operatrio, incluindo um local e pessoa para contato. O paciente deve estar acompanhado por um adulto responsvel e permanecer em sua companhia em casa.Os critrios para uma alta hospitalar segura aps procedimento ambulatorial: 1. Sinais vitais estveis, incluindo temperatura, pulso, respirao e presso arterial: os sinais vitais devem estar estveis por pelo menos uma hora e ser condizentes com a idade e os nveis pr-operatrios. 2. Capacidade para deglutio e tosse: o paciente deve mostrar-se apto a ingerir lquidos e tossir. 3. Capacidade de andar e realizar movimentos condizentes com a sua idade e capacidade mental. 4. Mnimas nuseas, vmitos ou tonturas. 5. Ausncia de sofrimento respiratrio: o paciente no apresenta sinais de rudos, obstruo, estridor, retraes ou tosse produtiva. 6. Paciente alerta e orientado: o paciente est ciente do lugar onde se encontra, do que est acontecendo e deseja voltar para casa.NDICE DE ALDRETE-KROULIKA tabela de Aldrete e Kroulik um guia extremamente til na avaliao da recuperao fsica. Ao se atingir 9 ou10 pontos nessa tabela, deve-se proceder a avaliao final com o paciente em posio sentada ou em p, verificando-seas condies cardio-circulatrias e ventilatrias. Em 1991, Chung et al criaram uma tabela para avaliar a recuperaofsica de pacientes submetidos a cirurgia em regime ambulatorial. Com uma pontuao maior que ou igual a 9, opaciente tem condies de receber alta. 11 12. Arlindo Ugulino Netto ANESTESIOLOGIA MEDICINA P5 2009.2ASPECTOS LEGAISOs aspectos legais da cirurgia ambulatorial no que se diz respeito aos aspectos anestsicos est intrnseca resoluo CFM 1409/09, publicada no dirio oficial da unio em 14.junho/1994. Foi demonstrado que, esta resoluonada mais seria do que uma adio da CFM 1363/93. O ambiente cirrgico ambulatorial dever ser o mesmo dohospitalar e, dever realizar sempre o ato no intuito de pensar que possam ocorrer complicaes durante o atooperatrio.RESOLUO CFM 1409/94 Dirio Oficial da Unio em 14 de junho de 1994. Inserida a resoluo CFM 1363/93 + uso de AL (anestsicos locais em regime ambulatrio) + critrios de seleo + critrios de alta dos pacientes Comisso de normas tcnicas da S.B.A. Obrigatrio o conhecimento por parte dos anestesiologista, como a sua prtica utilizando os critrios de incluso x alta do paciente em regime ambulatorial. 12