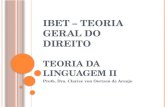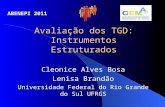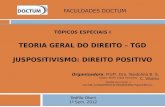Apostila-TGD
-
Upload
pedro-pacheco -
Category
Documents
-
view
87 -
download
3
Transcript of Apostila-TGD

UNIDADE 01
Introdução à Ciência do Direito: denominação, caráter propedêutico, enciclopédico e
epistemológico. O conhecimento científico: conceito, características, fundamentação filosófica.
I – TEORIA GERAL DO DIREITO versus INTRODUÇÃO À CIENCIA DO DIREITO
1 – DENOMINAÇÃO
A Teoria Geral do Direito é ramo do conhecimento que estuda a realidade
jurídica, buscando seus elementos na Filosofia do Direito e nas ciências jurídicas
auxiliares. Mas, para os fins aqui propostos TGD tem o mesmo sentido de Introdução à
Ciência do Direito, Introdução ao Estudo do Direito, ou Introdução ao Direito.
Segundo Maria Helena Diniz “a Introdução à Ciência do Direito é uma matéria,
ou um sistema de conhecimentos, que tem por escopo fornecer uma noção global ou
panorâmica da ciência que trata do fenômeno jurídico, propiciando uma compreensão
de conceitos jurídicos comuns a todas as disciplinas do currículo do curso de direito e
introduzindo o estudante e o jurista na terminologia técnico-jurídica.”
Pela Portaria 1.886/94, do antigo Ministério da Educação e do Desporto, a
terminologia indicada é Introdução ao Direito, mas isso a nomenclatura dessa disciplina
introdutória tem ficado ao critério das instituições de ensino.
Seguimos a orientação da Prof.ª Maria Helena Diniz que utiliza a terminologia
Introdução à Ciência do Direito.
2 – CARATER PROPEDÊUTICO
A Introdução à Ciência do Direito tem um caráter propedêutico ou preparatório,
porque dá ao estudante que ingressa na faculdade de Direito uma noção geral sobre a
ciência jurídica, servindo de ponte entre o ensino médio e a graduação.
3 – CARÁTER ENCICLOPÉDICO
1

A Introdução à Ciência do Direito tem um caráter enciclopédico, porque trata dos
diversos ramos do direito e de ciências afins como a Filosofia, a Sociologia e a História.
4 – CARÁTER EPISTEMOLÓGICO
A Introdução à Ciência do Direito não é uma ciência, mas tem um caráter
epistemológico, porque apresenta conceitos científicos sobre o Direito.
II – O CONHECIMENTO CIENTÍFICO
1 – CONCEITO DE CIÊNCIA
Do latim scientia, que vem do vocábulo scire, que significa saber. Por isso, no
sentido vulgar (comum) ciência quer dizer conhecimento.
O conhecimento vulgar não tem caráter científico, por não obedecer a um
método ou sistemática. São as percepções cotidianas obtidas sem estudo
sistematizado dos objetos. Ex: saber que a chuva cai etc.. Também é chamado de
conhecimento empírico.
Já o conhecimento científico é metódico, sistematizado, verdadeiro,
fundamentado e limitado a um determinado objeto, que se chama de objeto
cognoscível.
Segundo a prof.ª Maria Helena Diniz, o conhecimento científico ou ciência é um
complexo de enunciados verdadeiros, rigorosamente fundados e demonstrados, com
sentido limitado, dirigido a um determinado objeto.
2 – CARACTERÍSTICAS
Metódico. O método é a direção ordenada do pensamento na elaboração da
ciência. É a garantia de veracidade de um conhecimento.
Sistemático. O caráter sistemático consiste na organização pensamento.
Verdadeiro. O caráter verdadeiro é a certeza do saber científico.
Fundamentado. A fundamentação é a justificação e demonstração do resultado.
2

Limitado. O conhecimento científico é limitado a um objeto determinado.
3 – FUNDAMENTAÇÃO FILOSÓFICA
A Filosofia é o amor pelo saber.
Todas as ciências estão em estreito contato com a Filosofia.
A epistemologia é a base filosófica da ciência, porque contém as linhas
norteadoras do saber científico, por explicar, de modo crítico, seu objeto, seu método e
seus pressupostos.
3

UNIDADE 02
Ciência jurídica: problemas epistemológicos, objeto e definição. Ciência jurídica e ciências
afins.
I - CIÊNCIA JURÍDICA: PROBLEMAS EPISTEMOLÓGICOS, OBJETO E DEFINIÇÃO
1. PRINCIPAIS PROBLEMAS EPISTEMOLÓGICOS
Considerando as características do conhecimento científico já estudadas,
podemos afirmar que os principais problemas epistemológicos da ciência jurídica são:
a) as considerações sobre seu caráter científico;
b) a especificidade de seu método;
c) a determinação de seu objeto;
d) a dificuldade em distinguir a ciência jurídica de outras ciências que tem
como objeto de estudo fenômenos jurídicos;
A prof. Maria Hena Diniz cita outros que consideramos de menor importância.
Para os adeptos do ceticismo científico-jurídico, o direito seria insuscetível de
conhecimento de ordem sistemática, porque seu objeto modifica-se no tempo e no
espaço.
Apesar das dificuldades acima apontadas, prevalece que a Jurisprudência é
uma ciência, por ser um conhecimento metódico, sistemático, demonstrado e dirigido a
um objeto determinado. Seu objeto seria separado dos demais fenômenos por
abstração.
2. OBJETO
O objeto da ciência jurídica é o direito, na acepção de ordenamento jurídico.
Segundo Miguel Reale, enquanto o termo “direito” se refere ao objeto, a
expressão “Direito” é sinônima de “Jurisprudência”, “ciência do direito” ou “ciência
jurídica”.
4

3 – DEFINIÇÃO
No direito romano, a ciência jurídica era conhecida como Jurisprudência. Para
os romanos, Jurisprudência era o conhecimento das coisas divinas e humanas, do
justo e injusto. Abrangia não só problemas de justiça, mas também outras questões
humanas e até mesmo divinas.
Hoje, a ciência jurídica tem um sentido menos abrangente, mas ainda é correto
utilizar-se a expressão Jurisprudência, como sinônimo, assim como ciência do direito.
Segundo Maria Helena Diniz, a ciência do direito tem um sentido amplo e um
sentido estrito.
Em sentido amplo a ciência do direito é “qualquer estudo metódico, sistemático e
fundamentado dirigido ao direito”. Nesse sentido, abrange todas as disciplinas jurídicas,
como a sociologia jurídica, a história do direito, a teoria geral do direito, a filosofia do
direito etc..
Na acepção estrita, a ciência do direito “consiste, genericamente, no
pensamento tecnológico que busca expor, metódica, sistemática e fundamentadamente
as normas vigentes de determinado ordenamento jurídico positivado no espaço e no
tempo, e estudar os problemas relativos à sua interpretação e aplicação procurando
apresentar soluções viáveis para os possíveis conflitos, orientando como devem
ocorrer os procedimentos que objetivam decidir questões conflitivas”. Nesse sentido, o
Direito também é conhecido como dogmática jurídica.
II - CIÊNCIA JURÍDICA E CIÊNCIAS AFINS
1 – CIÊNCIA JURÍDICA
Nas diversas classificações das ciências podemos dizer que o Direito integra a
categoria das ciências morais (Aristóteles), ciências culturais, ciências do espírito
(Wilhelm Dilthey), ciências humanas e ciências sociais (Augusto Conte e Hans Kelsen).
Qual a diferencia do Direito para outras ciências que estudam os fenômenos
jurídicos?
Para Kelsen, a diferença está no caráter normativo do Direito.
Enquanto as demais ciências sociais seriam causais, porque se ocupam do 5

comportamento humano como ele é, o Direito se preocupa com o “dever ser”.
A ciência jurídica, portanto, é uma ciência social normativa.
2 – TEORIA GERAL DO DIREITO
É uma ciência que se ocupa com a realidade jurídica, situando-se entre a
filosofia do direito, e a ciência do direito. Sua proximidade da filosofia do direito se dá
em razão dos temas que considera e da generalidade com que os trata. E sua relação
com a ciência do direito é por tratar da experiência a partir do direito positivo.
3 – LÓGICA JURÍDICA
É a ciência das leis e das operações formais do pensamento jurídico ou a
reflexão critica sobre a validade do pensamento jurídico, indicando como o intelecto
deve agir no estudo do direito, na interpretação, na integração, na elaboração e na
aplicação jurídicas.
Desdobra-se em analítica jurídica, que abrange a lógica deôntica relativa às
proposições normativas; a segunda, e em dialética jurídica, que dá sentido de
desenvolvimento ao Direito.
O princípio lógico é um dos princípios informativos do Direito (princípios
informativos: lógico, jurídico, político e econômico).
4 – CIBERNÉTICA JURÍDICA
É possível falar em cibernética jurídica? Há uma cibernética aplicável ao Direito?
A doutrina cita como exemplos: a) o processo eletrônico nos tribunais; b) os
sistemas de processamentos de dados utilizados pela Receita Federal (Serpro), pelo
Ministério da Fazenda (Siafi), pelo Congresso Nacional (Prodasen) e pelos tribunais; c)
o centro de cibernética jurídica criado pelo TACrimSP (julgar modelos).
A cibernética jurídica estuda o papel das máquinas e recursos tecnológicos na
atividade do operador do direito, especialmente na formação dos atos e termos
processuais, na seleção de normas jurídicas, na atualização de dados bibliográficos e
6

jurisprudenciais e, até mesmo, na classificação e comparação de provas.
5 – DIREITO COMPARADO
É o ramo da ciência que estuda, comparativamente, o direito positivo, bem como
os motivos e o modo como o direito se desenvolveu nos diversos países, com o intuito
de uniformizá-lo e orientar a reforma legislativa do direito nacional.
O estudo dos grandes sistemas jurídicos é um estudo de direito comparado.
Por que nos Estados Unidos um juiz não precisa fundamentar suas decisões,
tanto como deve um magistrado no Brasil ou na Europa continental?
Por que no Brasil adotamos o princípio da substanciação da causa de pedir e na
Itália, adota-se o princípio da individualização quanto à causa de pedir, elemento da
ação.
Por que adotamos o sistema de jurisdição única e a França não?
6 – PSICOLOGIA FORENSE
A psicologia forense estuda os fenômenos mentais juridicamente relevantes,
facilitando o trabalho do legislador e dos operadores do direito.
É um ramo do conhecimento que subsidia várias disciplinas jurídicas,
especialmente, o direito penal e o direito civil, em questões como imputabilidade,
capacidade civil, guarda, tutela de menores e curatela de interditos.
7 – SOCIOLOGIA JURÍDICA
É a ciência que, por meio de técnicas de pesquisa empírica, visa estudar
relações recíprocas existentes entre a realidade social e o Direito.
8 – HISTÓRIA DO DIREITO
É o ramo do conhecimento que estuda, cronologicamente, o direito como fato
social, salientando as causas de suas mutações, a evolução de suas fontes e o
7

desenvolvimento jurídico de um certo povo, mostrando sua projeção temporal em
conexão com as teorias em que se baseiam esses processos modificativos.
9 – POLÍTICA JURÍDICA
Segundo Maria H. Diniz, é a ciência da organização do Estado que procura
estudar as relações entre autoridade e cidadãos e as formas e meios jurídicos
adequados à consecução dos fins da comunidade por meio da ação estatal.
8

UNIDADE 03
As escolas científicas: o jusnaturalismo: considerações gerais e classificação; a escola
exegética: considerações gerais e crítica ao exegetismo; o historicismo.
I – O JUSNATURALISMO
1 – Considerações gerais
O Jusnaturalismo, ou escola do Direito natural, é o pensamento científico que
entende o Direito como um fenômeno natural, inerente à condição humana, por razões
ontológicas e teleológicas, mas nunca como um fenômeno histórico ou cultural.
Deita raízes na Antiguidade, guando não se concebia qualquer distinção entre
Direito e Moral, atravessou toda a Idade Média e tem defensores mesmo nos tempos
modernos.
2 – Classificação
A) Jusnaturalismo objetivo e material
Concebia o direito natural como o conjunto de normas ou princípios morais
imutáveis, resultantes da natureza das coisas e do homem, apreendidos
imediatamente, pela inteligência humana como verdadeiros.
Dava ao Direito um fundamento teleológico, porque o associava à inteligência
humana e à vontade divina.
Foi a concepção que prevaleceu durante toda a Idade Média.
Tem como expoente Tomás de Aquino, que pertencia a uma corrente filosófica
conhecida como Escolástica.
B) Jusnaturalismo subjetivo e formal
Desenvolveu-se a partir do século XVII, devido ao processo de secularização da
9

vida.
Nessa etapa, o jusnaturalismo abandonou suas raízes teleológicas e passou a
buscar fundamento na razão humana, ou seja, em aspectos ontológicos do homem.
Dentre os adeptos do jusnaturalismo subjetivo, uns entendiam a natureza do ser
humano como genuinamente social (Locke, Grotius e Pufendorf) e outros acreditavam
que o homem seria individualista (Rousseau, Hobbes e Spinoza).
II – A ESCOLA EXEGÉTICA
1 – Considerações gerais
Para a escola exegética, o direito reduzia-se às leis. A lei seria a única fonte do
Direito.
Os adeptos dessa corrente entendiam que o trabalho do julgador resumia-se à
aplicação mecânica das leis, sendo dispensada até mesmo sua interpretação, para que
isso não resultasse em criação ou reforma do direito, deturpando a vontade do
legislador.
Todavia, não se pode dizer que os exegéticos negavam o jusnaturalismo. Eles
apenas acreditavam que o direito natural poderia ser positivado nas leis.
O surgimento dessa escola foi uma conseqüência da afirmação dos ideais
liberais do século XIX, advindos do iluminismo, dos processos revolucionários que
derrubaram os regimes absolutistas e do surgimento do capitalismo industrial e da
consolidação das instituições parlamentares pela legitimação popular.
Foi na França onde essa escola mais ganhou adeptos, onde praticamente todos
os grandes juristas da época a seguiam. Entre eles estão Proudhon, Bugnet, Laurent e
Marcadé.
Na Alemanha, a escola exegética recebeu o nome de pandectismo e na
Inglaterra, ficou conhecida como escola analítica.
Com o tempo, essa escola passou a admitir a interpretação histórica, como
forma de se encontrar o espírito das leis, cumprindo a vontade de seu criador.
Mais adiante, também se passou a admitir a interpretação lógico-sistêmica, com
o fim de dirimir aparentes contradições nos textos legislativos.
10

2 – Crítica ao exegetismo
“A revolta dos fatos contra os códigos” (Gaston Morand)
Surgiram várias correntes utilitaristas, teleológicas e sociológistas do direito.
III – HISTORICISMO JURÍDICO
Entendia que o direito, longe de ser uma criação arbitrária da vontade estatal,
era produto da consciência popular, em determinadas condições de tempo e lugar, da
qual o costume é a manifestação mais autêntica, livre e direta.
O direito era resultado da longa evolução histórica da consciência coletiva.
Seu maior representante foi jurista alemão Friedrich Carl von Savigny.
A idéia central do pensamento historicista de Savigny era a oposição à escola
exegética, que compreendia o direito a partir das codificações. Entendia que o
legislador não cria o direito, mas apenas o traduz em normas escritas.
Segundo Savigny, uma lei não tinha o condão de inserir ou retirar o direito dos
cérebros. Por isso, as normas jurídicas só teriam valor se fiéis ao espírito do direito
consuetudinário.
As leis seriam apenas uma forma de externar o direito.
Além de Savigny, também eram adeptos dessa escola, Gustav Hugo e Georg
Friedrich Puchta.
11

UNIDADE 04
As escolas científicas: o positivismo: considerações gerais, subdivisão; o normativismo; o
culturalismo: considerações gerais, o tridimensionalismo jurídico.
I – POSITIVISMO JURÍDICO
1. Considerações gerais
O positivismo é uma corrente que buscou se distanciar do jusnaturalismo, para
reconhecer como ciência jurídica somente o direito positivo vigente na sociedade.
O termo “positivismo” designa tanto o positivismo sociológico ou sociologismo
jurídico, como o positivismo jurídico estrito.
2. Subdivisão
A) Positivismo sociológico ou sociologismo jurídico
O positivismo sociológico ou sociologismo jurídico considera a ciência jurídica,
ora como ciência positiva da norma, ora como sociologia ou psicologia jurídica, pois
entende que o Direito é uma ciência oriunda da Sociologia.
Segundo os críticos dessa corrente, o positivismo sociológico não conseguiu se
desprender dos valores morais do jusnaturalismo, sendo informado pelo direito natural.
Os principais representantes dessa corrente foram Augusto Comte e Durkheim.
B) O positivismo jurídico estrito
É a corrente do positivismo que prega a amoralização completa do direito,
excluindo da ciência jurídica qualquer base moral ou de direito natural.
Seus principais defensores foram Rudolf von Ihering (amoralização psicossocial:
interesse geral e força social), Georg Jellinek (amoralização político-estatal: soberania)
e Hans Kelsen (amoralização lógico-técnica: direito positivo como sistema normativo)
12

II – NORMATIVISMO JURÍDICO OU RACIONALISMO DOGMÁTIVO
O normativismo jurídico ou racionalismo dogmático é uma construção de Hans
Kelsen que consistiu na expressão máxima do positivismo jurídico estrito.
Trata-se de uma corrente de pensamento que submeteu a ciência jurídica a uma
dupla depuração, retirando de seu âmbito a análise de aspectos fáticos e valorativos,
em busca da pureza metódica para a ciência jurídica.
Para fazer essa depuração, Kelsen se utilizou do dualismo neokantiano do “ser”
e do “dever ser”, sendo este a expressão da normatividade do direito, objeto da
investigação jurídica. Assim, a ciência do direito seria puramente normativa.
Contrapõe-se às concepções que identificam no Direito, fatos e valores, como o
jusnaturalismo, o historicismo, o culturalismo e o próprio positivismo sociológico.
Surgiu como conseqüência da nova ordem mundial marcada pela primeira
guerra mundial, pela crise do capitalismo na década de 1930 e a ascensão de regimes
fundados em novas doutrinas político-sociais, como o socialismo, o nazismo, o
fascismo etc., onde a construção jurídica era muito influenciada pela valoração política.
Segundo Kelsen, a estrutura lógica da ordem jurídica é piramidal, pois a ciência
jurídica estabelece uma hierarquia, de modo que a norma de escalão inferior se
harmonize com a que lhe for imediatamente superior, que lhe dá validade e assim
sucessivamente, até alcançar a norma hipotética fundamental.
A norma hipotética fundamental seria um pressuposto gnosiológico, ou seja, um
precedente lógico do conhecimento, posta pelo jurista para tornar possível a pesquisa
jurídico-científica. Não é uma norma positiva. Ela é pensada pelo jurista.
Depois da norma hipotética vem a norma básica, que é a Constituição do Estado
e depois as demais normas, organizadas em um sistema piramidal.
III – CULTURALISMO JURÍDICO
1. Considerações gerais
O culturalismo jurídico concebe o direito como um objeto criado pelo homem,
13

dotado de um sentido de conteúdo valorativo, pertencente ao campo da cultura.
Cultura é tudo que o homem acrescenta às coisas, com a intenção de
aperfeiçoá-las. É a natureza transformada ou ordenada pela pessoa humana.
O culturalismo jurídico enfatiza os valores do direito, sendo que alguns desses
valores assumem maior importância sob o influxo de conteúdos ideológicos, de acordo
com a problemática social de cada tempo e lugar.
Subdivide-se em teoria cultural objetiva e que entende que o substrato do direito
é um objeto físico, mundano e objetivo; e teoria egológica ou subjetiva, para a qual o
objeto do direito seria a conduta humana, objeto cultural egológico. A primeira corrente
tem como principais defensores Recaséns Siches e Miguel Reale; a segunda tem como
principal defensor Carlos Cossio.
2. O tridimensionalismo jurídico
Segundo Miguel Reale, a estrutura do direito é tridimensional, visto como
elemento normativo, que disciplina os comportamentos individuais e coletivos,
pressupondo sempre uma situação de fato, referida a determinados valores.
O direito é a integração entre fato, valor e norma, que estão em constante
atração polar, não havendo como separar o fato da conduta, nem o valor ou finalidade
a que a conduta está relacionada, nem a norma que incide sobre ela.
A teoria da tridimensionalidade do direito rejeita todas as concepções
setorizadas do direito, por entender não ser possível estudar o Direito sem considerar o
aspecto fático e valorativo.
14

UNIDADE 05
Natureza e Cultura. O “ser” e o “dever ser”. Direito e Moral: Teoria do mínimo ético, características comuns e distinção entre normas jurídicas e normas morais. Sanção e coação.
I – NATUREZA E CULTURA
A realidade natural e a realidade cultural. É a diferença entre o dado e o
construído.
Cultura é tudo que o homem acrescenta às coisas, com a intenção de
aperfeiçoá-las. É a natureza transformada ou ordenada pela pessoa humana.
Há uma transformação do dado em construído, a partir da idéia de valor. Ex: a
construção de bens e utensílios em geral.
A cultura está diretamente relacionada à idéia de valor e a fins. Daí seu caráter
axiológico e teleológico.
Daí a distinção entre o “ser” e o “dever ser”. O primeiro está ligado à realidade
natural e o segundo à realidade cultural, à idéia de valor.
II – DIREITO E MORAL
1 – Ética e moral
A moral é o conjunto de preceitos e normas que a generalidade dos indivíduos
de uma comunidade aceitam como adequados ou válidos.
A ética é a reflexão teórica sobre os princípios que regem as diversas morais
assumidas por pessoas de grupos e comunidades diferentes da nossa.
2 – Direito e moral
A) Teoria do mínimo ético
Consiste idéia de que o direito tutela apenas o mínimo de moral considerado
15

indispensável à existência social. Haveria uma intersecção entre Direito e moral.
A crítica que se faz é que o Direito não tutela apenas valores morais, mas
também normas amorais e até imorais. Exemplos: prazos processuais e sociedades
empresária (um dos sócios trabalha mais, embora tenha o mesmo capital social).
B) Características comuns entre normas jurídicas e normas morais
As normas jurídicas e morais têm em comum suas bases éticas e a
imperatividade, pois ambas constituem normas de comportamento, ou seja, impõem
deveres.
C) Distinção entre normas jurídicas e normas morais
A norma jurídica é dotada das seguintes características:
a) Bilateralidade: criam relações jurídicas entre duas ou mais pessoas.
b) Atributividade: autoriza uma das partes a exigir o cumprimento da norma.
c) Coercibilidade: permite o emprego da força, ou coação em potencial.
d) Heteronomia: imposta por terceiro, o Estado.
A norma moral tem as seguintes características:
a) Unilateralidade
b) Autonomia
III – SANÇÃO E COAÇÃO
A) Coação
No sentido comum, coação quer dizer violência. Para o Direito Civil (art. 151),
coação é um vício de vontade que causa a anulabilidade do ato jurídico.
16

Na acepção que nos interessa, a coação é um atributo do Direito (norma
jurídica), consistente no uso organizado da força, para fazer com que se cumpram as
normas jurídicas.
As normas morais não são dotadas de coação.
B) Sanção
Tanto as normas morais como as normas jurídicas são dotadas de sanção.
A sanção decorrente do descumprimento da norma moral tem uma vertente
individual e outra coletiva. A sanção individual equivale ao arrependimento, remorso
etc... A sanção coletiva consiste nas formas de repulsa social ao infrator da norma
moral. Mas numa e noutra, a sanção moral não está associada à coação.
Já a sanção resultante do descumprimento da norma jurídica caracteriza-se por
sua organização e predeterminação e sua aplicação é privativa do Estado.
A sanção jurídica pode, assim, ser conceituada como a parte da norma jurídica
que determina uma punição a seu infrator.
No começo, valiam as vinganças coletivas e privadas. Depois outras formas de
sanção como os duelos, a lei do talião, as ordálias etc. Depois, a sanção tornou-se um
monopólio estatal que é exercido por meio da função jurisdicional do Estado.
17

UNIDADE 06
Fontes do Direito: noções gerais. Fontes materiais. Fontes formais estatais, não-estatais e
supra-estatais.
I – FONTES DO DIREITO
1 - Noções Gerais
Fonte em sentido comum é o lugar de onde brota água.
Aplicável ao Direito, fonte jurídica diz respeito ao nascedouro do direito.
2 – Classificação
A classificação tradicional divide as fontes do direito em materiais e formais.
Fontes materiais ou reais são aquelas que apontam para sua gênese, são fontes
de produção. São os fatos sociais, éticos, históricos, políticos etc., determinantes dos
valores tutelados pela ordem jurídica.
São as fontes materiais que informam a elaboração das normas jurídicas.
As fontes formais são os meios de manifestação do direito, sendo, portanto,
fontes de cognição. Quem quiser conhecer o direito, deve buscá-lo nas fontes formais.
Subdividem-se em estatais e não estatais.
II – FONTES FORMAIS ESTATAIS
1 – Legislação (ver art. 59 CF)
São as normas jurídicas de caráter geral oriundas do poder legiferante do
Estado.
Podem ser primárias, como as normas constitucionais, as leis ordinárias etc.., ou
secundárias como os decretos regulamentares, as instruções normativas etc..
18

As espécies legislativas estão previstas no art. 59 da Constituição Federal.
O processo legislativo inclui:
a) iniciativa;
b) discussão;
c) deliberação ou votação;
d) sanção ou veto;
e) promulgação;
f) publicação.
3 – Convenções internacionais
Como regra, criam normas gerais para disciplinar as relações entre os Estados.
O tratados ou convenções internacionais têm força de lei, ou norma
constitucional se versar sobre direitos humanos e aprovado com quórum qualificado
(art. 5º CF)
3 - Jurisprudência
Jurisprudência é o conjunto de decisões uniformes e constantes dos tribunais,
resultantes da aplicação de normas a casos idênticos ou semelhantes, sendo uma
norma geral aplicável a todas as hipóteses similares, enquanto não houver modificação
na lei ou na orientação dos tribunais.
Hoje, a jurisprudência é uma importante fonte do direito, por conta da súmula
vinculante (art. 102, § 2º da CF).
A jurisprudência constitui, portanto, um costume judiciário que se forma pela
prática dos tribunais.
Além de subsidiar a solução de processos judiciais, a jurisprudência também
influencia a produção legislativa. Ex: a decisão do TSE sobre fidelidade partidária.
III – FONTES FORMAIS NÃO ESTATAIS
19

1 – Costume
O costume é a forma de expressão do direito decorrente da prática reiterada e
constante de certo ato, com a convicção de sua necessidade jurídica.
O costume é fonte subsidiária ou supletiva, pois completa a lei, preenchendo
lacunas do direito.
Ver art. 4º da LICC.
O costume comercial prova-se pela certidão da Junta Comercial.
No âmbito do direito civil, o juiz pode aplicar o costume notório ou de seu
conhecimento; se não o conhecer, deve exigir de quem o alega sua prova (art. 337 do
CPC).
“Art. 337. A parte, que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o juiz.”
Três são as espécies de costume: o secundum legem (na lei), o praeter legem
(supre lacunas da lei) e o contra legem (contra a lei).
2 – Doutrina
É a atividade científico-jurídica, desenvolvida pelos estudiosos do direito,
consistente na análise, sistematização e interpretação das normas jurídicas.
A doutrina teve sua origem nas responsa prudentium do Império Romano, mas o
problema teórico da doutrina como fonte só apareceu no século XIX.
Segundo a prof. Maria Helena, a doutrina é uma forma de expressão do direito
consuetudinário, resultante da prática reiterada de juristas sobre certo assunto, cujos
pensamentos são aceitos pelos seus contemporâneos.
Exerce grande influência sobre o processo legislativo. Ex: teoria da imprevisão.
3 – O negócio jurídico
Resulta da atividade negocial e consiste em norma jurídica particular e
20

individual, que vincula apenas os participantes da relação jurídica.
A norma jurídica negocial não goza de autonomia, pois só será jurídica em
combinação com norma geral que estabelece sanções.
4 – Convenções de grupos sociais
Os grupos sociais, como igrejas, clubes, sindicatos etc., também têm o poder de
estabelecer suas próprias ordenações jurídicas, desde que de acordo com a ordenação
da sociedade. Exemplos: estatutos, decisões assembleares etc..
21

UNIDADE 07
Norma jurídica: noções gerais, elementos essenciais e classificação. Validade e eficácia da
norma jurídica.
1 – NOÇÕES GERAIS
Gênese: A norma jurídica surge de um ato decisório do poder que se sujeita à
prudência objetiva, exigida pelo conjunto das circunstâncias fático-axiológicas em que
se encontram os respectivos destinatários.
Conceito: Segundo Maria Helena Diniz, a norma jurídica é um objeto cultural
egológico, tendo por substrato regular a conduta humana em interferência
intersubjetiva, e, por sentido, a tentativa de realizar a justiça.
2 – ELEMENTOS ESSENCIAIS DA NORMA JURÍDICA
A) Imperatividade: é a essência genérica da norma de direito, no sentido de que
seu escopo é dirigir o comportamento humano. A norma jurídica é imperativa, ou
prescritiva, porque impõe um dever, situando-se no âmbito da normatividade ética.
B) Autorizamento (atributividade): característica da norma que autoriza uma das
partes a exigir da outra seu cumprimento. É o que Miguel Reale chama de
bilateralidade atributiva.
3 – CLASSIFICAÇÃO DAS NORMAS JURÍDICAS
A) Quanto à imperatividade
a) impositivas – são normas de natureza cogente ou de ordem pública, as quais
tutelam interesse geral. Ex: art. 3º do CC (capacidade).
b) dispositivas – são normas que tutelam interesses particulares, dos quais as
partes podem dispor. Ex: art. 1640 do CC (regime de bens).
B) Quanto ao autorizamento
22

a) mais que perfeitas – cujo descumprimento acarreta a nulidade do ato e
sanção ao infrator. Ex: Bigamia (arts. 1548, II, co CC e 235 do CP)
b) perfeitas - cujo descumprimento acarreta apenas a nulidade do ato. Ex: art.
1647 CC (alienação de bens imóveis sem autorização do cônjuge).
c) menos que perfeitas – cujo descumprimento acarreta apenas sacão ao
infrator. Ex: art. 1523, I CC (casamento de viúvo sem inventário)
d) imperfeitas – cujo descumprimento não acarreta nenhuma conseqüência.
C) Quanto à hierarquia
a) normas constitucionais
b) leis, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções
d) decretos regulamentares
e) normas internas
f) normas individuais
D) Quanto à natureza de suas disposições
a) substantivas – de direito material, que criam, modificam ou extinguem relação
jurídica.
b) adjetivas – normas de direito processual.
E) Quanto à sua aplicação
a) de eficácia absoluta – são normas insuscetíveis de alteração. Ex: art. 60, § 4º
CF.
b) de eficácia plena – têm aplicabilidade imediata e dispensam regulamentação.
Ex: art. 14, § 2º CF (alistamento)
c) de eficácia relativa restringível - têm aplicabilidade imediata, mas admitem
regulamentação ulterior. Ex: art. 5º, XII CF (interceptação telefônica).
d) de eficácia relativa complementável – dependem de leis complementares. Ex:
art. 146 CF (disposições gerais em matéria tributária)
F) Quanto ao poder de autonomia legislativa
23

a) nacionais e locais – conforme vigorarem em todo o território nacional ou parte
dele.
b) federais, estaduais e municipais – conforme editadas pela União, Estados e
Municípios.
G) Quanto à sistematização
a) codificadas – corpo orgânico de normas sobre determinado ramo do direito.
Ex: Código Civil, Código Penal etc..
b) consolidadas – conjunto de leis esparsas sobre determinado assunto. Ex:
CLT.
c) esparsas ou extravagantes – leis específicas editadas isoladamente. Ex: Lei
do inquilinato.
4 – VALIDADE DA NORMA JURÍDICA
4.1 - Validade formal ou vigência
É a própria vigência da norma, decorrente da observância dos tramites
constitucionais para o processo de elaboração. É uma qualidade da norma Jurídica que
expressa uma relação entre normas. Exige a presença dos seguintes requisitos:
a) órgão competente;
b) competência em razão da matéria
c) observância do procedimento estabelecido na Constituição.
Merece destaque a disciplina da vigência da lei no tempo (arts. 1º e 2º da LICC),
e no especo (arts. 8º e 9º da LICC).
A) Âmbito temporal da validade ou vigência da lei no tempo:
a) Conceito: O âmbito temporal de validade constitui o período durante o qual a
norma tem vigência. Vigência temporal é, portanto, o período em que a norma tem
atuação no ordenamento jurídico.
24

b) Início da vigência da lei: Salvo estipulação em contrário, a lei entra em vigor,
no Brasil, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após sua publicação, e no exterior,
após três meses de publicada (art. 1º, § 1º da Lei de Introdução do Código Civil).
c) Vacatio legis: É o intervalo entre a data da publicação da lei e o início de sua
vigência.
d) Revogação: é a perda da vigência da lei em razão da superveniência de lei
nova.
Pode ser total ou parcial, tácita ou expressa:
Ab-rogação – supressão total da norma anterior;
Derrogação – torna sem efeito apenas uma parte da lei anterior;
Expressa - quando o legislador declara extinta a lei velha;
Tácita – quando houver incompatibilidade entre a lei velha e a nova,
prevalecendo esta (art. 2º, § 1º da Lei de Introdução do Código Civil).
B) Âmbito especial da validade ou vigência da lei no espaço:
O âmbito espacial de validade diz respeito ao espaço, ou seja, o lugar no qual a
lei vigora.
Pelo princípio da territorialidade, a lei se aplica no território do Estado que a
promulgou.
De acordo com o princípio da extraterritorialidade os Estados permitem que,
em seu território, se apliquem, em certas hipóteses, normas estrangeiras.
O Brasil adotou o princípio da territorialidade moderada, pelo qual se aplica a
lei brasileira em nosso território, incluindo, porém o território ficto, como embaixadas,
consulados, embarcações públicas onde quer que se encontrem e embarcações
privadas nacionais em alto mar, bem como embarcações privadas estrangeiras em
nosso mar territorial. O mesmo se aplica às aeronaves.
Ver arts. 7º, 8º e 9º, 10, 12, 17 da Lei de Introdução do Código Civil.
4.2 - Validade fática ou eficácia
Validade fática ou eficácia é uma qualidade da norma que se refere à sua
adequação social, ou seja, é a aptidão da norma de produzir efeitos concretos, por
25

estar em correspondência com o interesse da coletividade.
4.3 - Validade ética.
É a justiça contida na norma, como seu fundamento axiológico.
26

UNIDADE 08
O Direito positivo: noções gerais. Direito objetivo e Direito subjetivo. Direito público e Direito privado. Divisão geral do Direito positivo.
I – DIREITO POSITIVO
1 – NOÇÕES GERAIS
Ao longo de nossos estudos vimos que o direito ora tem sentido de norma, ora
de autorização ou permissão, ora de qualidade de justo.
Isso revela a dificuldade de se atribuir um único sentido para o direito, tornando
necessária sua decomposição analítica em vários conceitos.
Vimos que em sentido amplo a ciência do direito é “qualquer estudo metódico,
sistemático e fundamentado dirigido ao direito”. Na acepção estrita, a ciência do direito
“consiste no pensamento técnico que busca expor de forma metódica, sistemática e
fundamentadamente as normas vigentes de determinado ordenamento jurídico
positivado, bem como estudar os problemas relativos a sua interpretação e aplicação,
procurando apresentar soluções viáveis para os possíveis conflitos e orientando como
devem ocorrer os procedimentos que objetivam decidir questões conflitivas”.
O direito positivo é justamente esse conjunto de normas referido no conceito de
direito em sentido estrito.
Segundo a Prof.ª Maria Helena Diniz, o direito positivo é o conjunto de normas
estabelecidas pelo poder político que se impõem e regulam a vida social de um dado
povo em determinada época.
Para o prof. Miguel Reale, o direito positivo é a ordenação heterônoma das
relações sociais baseada numa integração normativa de fatos e valores.
2 – DIREITO OBJETIVO E DIREITO SUBJETIVO
2.1 – Direito Objetivo
Segundo a Prof.ª Maria Helena Diniz, direito objetivo é o complexo de normas
27

jurídicas que regem o comportamento humano, prescrevendo uma sanção no caso de
violação.
2.2 – Direito Subjetivo
É a permissão atribuída pela norma de se exercer o direito nela previsto.
O caráter subjetivo decorre do fato de que a norma se destina às partes na
relação jurídica, instituindo em favor das mesmas direitos e obrigações e, por
conseqüência, a possibilidade de qualquer delas exigir o cumprimento da norma
jurídica violada.
O direito subjetivo subdivide-se em:
a) direito subjetivo comum da existência, que consiste na possibilidade de
exercício do direito, sem que haja violação da norma. Ex: direito de usar um bem que
lhe pertence (art. 1.228, primeira parte, CC).
b) direito subjetivo de defender direitos, que consiste na autorização de fazer
cessar a ilegalidade, pressupondo o descumprimento da norma (art. 1.228, segunda
parte, CC).
3. DIREITO PÚBLICO E DIREITO PRIVADO
3.1. NOÇÕES GERAIS
A clássica divisão do direito em público e privado é oriunda do direito romano.
Para os romanos, o direito público era aquele concernente ao estado dos
negócios romanos; o direito privado, o que disciplinava os interesses particulares.
Esse critério da utilidade ou interesse é falho, porque não se pode afirmar, com
segurança, se o interesse protegido é do Estado ou dos indivíduos, pois nenhuma
norma atinge apenas o interesse do Estado ou o do particular. Ex: casamento, meio
ambiente etc..
Teorias: a) interesse predominante; b) da forma da relação jurídica
(subordinação ou coordenação); c) dos atos de império. O critério mais adotado reúne
todas essas características.
28

Conceito da Prof.ª Maria Helena Diniz (fls. 278).
3.2. DIVISÃO GERAL DO DIREITO POSITIVO
A) DIREITO PUBLICO INTERNO
a) Constitucional: Visa regulamentar a estrutura básica do Estado,
disciplinando a sua organização ao tratar da divisão de poderes, das funções e limites
de seus órgãos e das relações entre governantes e governados, ao limitar suas ações.
b) Administrativo: Disciplina o exercício de atos administrativos praticados por
quaisquer dos poderes estatais, com o escopo de atingir fins sociais e políticos ao
regulamentar a atuação governamental, a execução dos serviços públicos, a ação do
Estado no campo econômico, a administração dos bens públicos e o poder de polícia.
c) Tributário: Consiste no conjunto de normas que correspondam, direta ou
indiretamente, à instituição, arrecadação e fiscalização de tributos.
d) Financeiro: Rege a despesa e a receita públicas.
e) Processual: Rege a atividade do Poder Judiciário e dos que a ele requerem
ou perante ele litigam, correspondendo à função estatal de distribuir a justiça.
f) Penal: Constitui um complexo de normas que definem crimes e
contravenções, estabelecendo penas, com as quais o Estado mantém a integridade da
ordem jurídica, mediante sua função preventiva e repressiva.
g) Previdenciário: Conjunto de normas reativas as contribuições para o seguro
social e aos benefícios dele decorrentes.
B) DIREITO PÚBLICO EXTERNO
29

a) Direito internacional público: Consiste no conjunto de normas
consuetudinárias e convencionais que regem as relações, diretas ou indiretas, entre
Estados e organismos internacionais.
b) Direito internacional privado: Regulamenta as relações do Estado com
cidadãos pertencentes a outros Estados, dando soluções para os conflitos de leis no
espaço. Segundo Maria H. Diniz, trata-se, na verdade, de ramo do direito público
interno.
C) DIREITO PRIVADO
a) Civil: Rege as relações obrigacionais, patrimoniais e familiares que se
formam entre indivíduos encarados como tais, ou seja, enquanto membros da
sociedade.
b) Empresarial: Disciplina a atividade negocial do empresário e de qualquer
pessoa, física ou jurídica, destinada a fins de natureza econômica, desde que habitual
e dirigida à produção de resultados patrimoniais.
c) Trabalho: Regulamenta as relações entre empregador e empregado,
abrangendo normas, princípios e instituições relativas à organização do trabalho e da
produção e à condição social do trabalhador assalariado.
d) Consumidor: Disciplina as relações existentes entre fornecedor e
consumidor.
Há uma tendência de publicização do direito privado.
30




![Tgd-300[1] Ibutg Manual](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5571f43449795947648f2acd/tgd-3001-ibutg-manual.jpg)